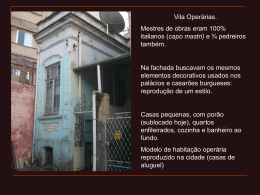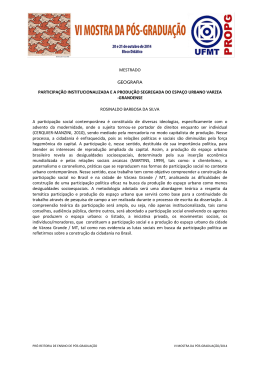LIVROS
HISTÓRIAS AMERÍNDIAS
História dos índios no Brasil. Manuela Carneiro da
Cunha, org. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal de Cultura/Fapesp, 1992, 611
pp. (mapas, ilustrações, índices).
Eduardo Viveiros de Castro
Anthropology must choose between
being history and being nothing.
(S. Maitland, 1911)
L'histoire mène à tout, mais à
condition d'en sortir.
(C. Lévi-Strauss, 1962)
Nestes termos um pouco drásticos, este "tudo ou
nada" tão frequente na reflexão sobre as relações
entre história e antropologia, não há dúvida que nos
encontramos em uma fase "tudo". A antropologia
está tomada por uma profunda cliofilia, para não
dizer cliomania; a palavra "história" pulula substantiva, adjetiva e adverbialmente nos textos antropológicos recentes, servindo para qualquer coisa: des-de
invectivar e/ou desconstruir a antropologia "préhistórica" e seus ingênuos ou maliciosos praticantes,
até determinar e qualificar o objeto, o sujeito, o tema,
as condições, as limitações e as aspirações do novo e
sofisticado conhecimento que se pretende. Enfim, a
história está em toda parte, em companhia, aliás, de
outras figuras da moda: a prática, a estraté-gia, o
poder, a retórica, a heteroglossia, a reflexivi-dade, a
crise da autoridade etnográfica, o "fim das grandes
narrativas"...
22
NOVOS ESTUDOS N.° 36
Crer-se-ia que este é um fenômeno novo, como
se os antropólogos, despertos de seu sono funcionalista ou estruturalista, tivessem só agora descoberto o
caminho das pedras apontado por Maitland (um
historiador), ao perceberem que o sonho de constituir uma ciência natural da sociedade ou do espírito
humano dava em nada. A história levaria, afinal, a
tudo — e não haveria como ou por que sair dela.
Ora, a história tem sido uma preocupação e um
valor constantes da antropologia. Muitos e eminentes foram os antropólogos que se viram obrigados a
deitar pelo menos uma falação intitulada "História e
Etnologia", "Antropologia e História" ou algo no
gênero (pois se trata efetivamente de um gênero):
Boas, Rivers, Kroeber, Evans-Pritchard, Lévi-Strauss,
Sahlins... Vários destes, e seus epígonos, socorreram-se da grande partilha de Dilthey (que hoje volta a
sevir de mito epistemológico maior para algumas
correntes antropológicas) e se puseram ao lado do
espiritual e do histórico. Mesmo Lévi-Strauss, visto
como inimigo público número um da história,
dedicou-se em várias ocasiões à tarefa de definir as
relações teóricas e empíricas entre as duas disciplinas e os respectivos objetos. Ele é, na verdade, o
antropólogo talvez mais obcecado com a história;
mas sua recusa em fazer da historicidade "o último
refúgio de um humanismo transcendental" — bem
como um certo pendor para as fórmulas lapidares —
custou-lhe alguns dissabores críticos.
Mas há sem dúvida algo de novo, na fase cliófila
atual. Não se trata apenas de um retorno do pêndu-lo,
e da volta a uma metafísica da história; disto, ao
menos, o estruturalismo teria nos livrado. É verdade
que por vezes parece que não: ao se constatar o
caráter quase obrigatório de um insulto ritual a Lévi-
LIVROS
Strauss toda vez que se vai falar hoje da história de
povos não ocidentais (ver por exemplo a coletânea
organizada por Jonathan Hill, Rethinking history and
myth, University of Illinois Press, 1988; ou
recordem-se os trabalhos mais ambiciosos de J.
Fabian, R. Rosaldo), fica-se com a impressão de que
a antropologia, tendo afinal introjetado o decreto
hegeliano que recusava o Espírito aos povos "sem
história", vê-se compelida a provar a qualquer custo
que eles "têm história"; às vezes (como na teoria do
Sistema Mundial) acaba-se concluindo que eles a
têm às próprias custas, o que não era bem o que se
queria provar.
A novidade certamente não passa por aí, e
poucos são os antropólogos contemporâneos que
souberam tirar algo de realmente estimulante desta
revalorização da história (Sahlins é o exemplo mais
notável). Ela me parece residir antes no fato de que a
atual historicização da antropologia deve-se em larga
medida a uma prévia, e já não tão recente,
antropologização da história. É porque esta soube se
renovar pela assimilação dos métodos, temas e
problemas da antropologia, estendendo seu olhar
para dimensões das sociedades ocidentais antes
consideradas como imóveis ou insignificantes — a
"cultura popular", as "classes subalternas", a "vida
privada" —, que o diálogo entre as duas disciplinas
tornou-se incontornável. Evans-Pritchard, depois de
citar aprovativamente o aforismo de Maitland, invertia-o: "history must choose between being social
anthropology or being nothing". Se o contraste
entre os povos "infantis" dispondo apenas da "etnografia" e os povos maduros dignos da história (para
evocarmos uma famosa passagem de Varnhagen)
torna-se hoje sem nenhum sentido, é porque antropologia e história descobrem que têm o mesmo
objeto. Trata-se, mais que de qualquer outra coisa,
de desdramatizar a questão: se o humano, bororo ou
francês, só se revela na história, não é preciso, como
diria Paul Veyne, entrar em transe por causa disso.
É tal desdramatização que se pode constatar na
coletânea organizada por Manuela Carneiro da Cunha, sobre a história dos povos ameríndios que
vivem ou viveram no Brasil e regiões adjacentes. O
ano passado foi muito rico editorialmente para a
etnologia sul-americana: com esta, tivemos três
coletâneas publicadas no Brasil (Lux Vidal, org.
Grafismo indígena. São Paulo: Nobel/Edusp; Grupioni, L. org. Índios no Brasil. São Paulo: Secretaria
Municipal de Cultura); no exterior, um número
especial (n° 122-124) da revista L'Homme foi dedicado à história indígena da América espanhola, e
outro, sobre a etnologia da Amazônia, está no prelo
(n° 125-128), assim como uma coletânea sobre a
memória indígena (Monod, A. et alii, orgs. Mémoire
de la tradition. Paris: Université de Paris X —
Nanterre); no Brasil, acaba de sair mais uma compilação de ensaios etnológicos e históricos (Coelho, V.
P., org. Karl von den Steinen: um século de antropologia no Xingu. São Paulo: Edusp/Fapesp, 1993) e
outra se prepara (Viveiros de Castro, E. & M.
Carneiro da Cunha, orgs. Amazônia: etnologia e
história indígena. São Paulo: Núcleo de História
Indígena/Usp). Parte desta efervescência (e da prevalência do recorte histórico no que se publicou em
etnologia ameríndia) se deve a razões mercadológicas — notadamente o V Centenário da invasão da
América, agora rebatizada, numa mistura de cinismo
e irenismo, "o encontro" das sociedades européias e
americanas...; ela exprime mais profundamente,
entretanto, o enorme ímpeto recente da etnologia,
da história indígena e da arqueologia sul-americanas, que a partir de meados dos anos 70 começaram
a repensar seus métodos e objetivos. O volume
organizado por Manuela Carneiro da Cunha é um
exemplo de tal dinamismo. Ele deriva de um trabalho de pesquisa que esta antropóloga vem realizando há vários anos, associada a alunos e colegas no
Brasil e no exterior, e que já nos deu livros importantes (Carneiro da Cunha, M. Antropologia do
Brasil: mito, história, etnicidade. São Paulo: Brasiliense/Edusp, 1986; idem, org. Os direitos do índio,
ensaios e documentos. São Paulo: Brasiliense/CPISP, 1987; Farage, N. As muralhas dos sertões: os
povos indígenas no rio Branco e a colonização. Rio
de Janeiro: Paz e Terra/Anpocs, 1991) bem como
uma excelente coletânea de ensaios que complementam os reunidos na atual (Revista de Antropologia, nº 30-32, 1987-89).
Dentro desta produção abundante, que vai aos
poucos retirando o americanismo de seu lugar
marginal relativamente à mainline antropológica
(tributária de uma etnografia centrada na África,
Ásia e Oceania), a História dos índios no Brasil
merece um lugar de destaque. Em primeiro lugar —
vale sublinhá-lo, em uma paisagem editorial de
grande indigência estética —, por se tratar de obra
admiravelmente bem apresentada, luxuosa mesmo,
mas sem nenhum traço de mau gosto: uma impressão impecável, um projeto gráfico soberbo, mateJULHO DE 1993
23
LIVROS
riais iconográficos ricos e bem escolhidos. Em segundo lugar, e sobretudo, pela qualidade dos materiais reunidos, que nos dão uma visão ampla e
atualizada da dinâmica indígena pré- e pós-colombiana das chamadas "terras baixas" da América do
Sul, e particularmente do Brasil.
Não se busque aqui nenhuma unidade metodológica ou teórica: trata-se de 25 ensaios, alguns
deles de dimensões quase monográficas, escritos
por profissionais de diversa origem e formação
(geneticistas, arqueólogos, lingüistas, antropólogos,
historiadores), versando sobre temas variados em
seu escopo, recorte e estilo. Alguns oferecem-nos
um balanço do "estado da arte" disciplinar ou
regional (artigos sobre a biologia do homem americano, a classificação das línguas sul-americanas);
outros sumarizam períodos da história pós-colombiana do ponto de vista das relações jurídico-administrativas entre a etnia invasora e os povos indígenas
(três excelentes ensaios sobre a política e a legislação indigenistas na colônia, reinado e república);
alguns tratam de sociedades extintas antes ou logo
após a chegada dos europeus (o "cacicado" de
Marajó, os povos da várzea do Amazonas); a
maioria traça panoramas históricos densos de povos
singu-lares (os grupos de língua pano, os Xavante,
os Mura, os Kampa, os Botocudo, os Tupinambá, os
Guarani, os Kayapó); outros examinam sistemas
regionais e conjuntos linguístico-culturais, com ênfases mais ou menos etnológicas, históricas, arqueológicas (a Alta Amazônia peruana e equatoriana, o
rio Negro, os povos de língua pano, o rio Branco, o
Alto Xingu, o Madeira-Tapajós, o Chaco, Goiás, o
Nordeste brasileiro)... Acrescente-se a isto uma
copiosa bibliografia, uma análise da museologia e
um índice das coleções etnográficas existentes, um
inventário da legislação indigenista de 1500 a 1800,
e pode-se prever que a História dos índios no Brasil
será doravante uma obra de referência essencial,
vindo sob vários aspectos substituir o que se podia
achar no venerável Handbook of South American
Indians (1943-48), até agora o único guia geral para
a etnologia, a arqueologia e a história indígena do
continente. Se ainda não temos uma verdadeira
"nova síntese" da história pré- e/ou pós-colombiana
dos índios brasileiros (a síntese pré-histórica panamericana de Betty Meggers está obsoleta, os sobrevôos históricos de John Hemming são úteis mas
superficiais), esta coletânea é uma contribuição
valiosa nesta direção.
24
NOVOS ESTUDOS N.° 36
O grande valor da História dos índios no Brasil, entretanto, não está tanto do lado desta síntese
futura, mas precisamente na variedade e na especificidade das contribuições que reúne, que nos permitem apreciar os avanços realizados no conhecimento das realidades ameríndias, avaliar as questões atualmente colocadas por especialidades como
a biologia humana, a lingüística e a arqueologia, e sobretudo assistir à demonstração serena
(desdramatizada, como disse — isto é, sem nenhum longo mea culpa sobre o tradicional pecado
antropológico de sincronismo explícito, ou qualquer anúncio grandiloqüente da historicidade ameríndia) de que se sabe, se deve e se pode saber
muitíssimo mais sobre a história das populações
ameríndias do que registram nossos livros de história do Brasil. Eu diria mesmo que esta coletânea
deve ser lida antes de mais nada pelos historiadores do Brasil: é a eles que ela poderá dar uma idéia
da complexidade, variedade e permanência de uma
quantidade de situações etnográficas e históricas específicas, experimentadas por setores diferenciados da população do país. Penso que esta
amostra de múltiplas histórias locais (pontuada por
algumas análises globais, como nos ensaios sobre
as línguas ameríndias ou as legislações indigenistas) deve ser considerada em seu aporte à história
geral do país: se nossa história não é apenas a
crônica da classe dominante, não pode ser também
apenas aquela da etnia dominante.
Outra coisa que esta coletânea permite constatar é a mudança experimentada pela comunidade
antropológica americanista quanto ao interesse pela
história dos povos que estuda, e à competência de
que se armou para torná-lo operativo. É verdade
que a etnologia praticada no Brasil sempre se
distinguiu por uma sensibilidade especial a esta
dimensão — recordem-se os trabalhos pioneiros de
Curt Nimuendaju, Florestan Fernandes ou Darcy
Ribeiro, ou a quantidade de bons estudos do "contato interétnico" que reconstruíam os determinantes
históricos das situações estudadas...; mas o que se
vê hoje é de outra ordem. Assim, reata-se de um
lado um diálogo há muito rompido entre a etnografia de povos contemporâneos e disciplinas como a
arqueologia e a lingüística histórica; de outro lado,
os etnólogos deixaram de se contentar com referências superficiais a fontes secundárias ou terciárias,
quando empreendem a contextualização histórica
de seu objeto, debruçando-se sobre materiais de
LIVROS
arquivo muito mais abundantes que se imaginava;
em seguida, o conhecimento obtido pela pesquisa
etnográfica de campo — que, no caso dos povos
indígenas brasileiros, somente a partir dos anos 70
atingiu um grau de sofisticação e profundidade
comparável ao que se fazia em outras partes do
mundo — tem sido aplicado mais sistematicamente
sobre as fontes históricas, preenchendo lacunas e
avançando hipóteses capazes de dar substância
sociológica a informações vagas e contraditórias.
Finalmente, a maior competência lingüística
alcançada pela nova geração de etnólogos tem
permitido a exploração mais sistemática de domínios como a tradição oral dos povos indígenas, fonte
essencial para a construção de uma história indígena que se preocupa em transcender uma perspecti-va
puramente externalista e que se abre para uma
autêntica etno-história.
Entendamo-nos sobre esta última noção. "Etnohistória" é palavra que se aplica hoje de modo algo
indiscriminado, tendo mesmo sido incorporada por
certas correntes de investigação da história do Brasil,
onde é empregada como uma espécie de sinônimo
de história social, ou de história das mentalidades,
ou de história das classes subalternas, ou, enfim, de
história antropológica — isto é, de uma história
atenta às questões e objetos tradicio-nais da
antropologia, agora aplicados, com grande sucesso, a
fenômenos e dimensões da sociedade brasileira
tradicionalmente ignorados pela história política ou
econômica.
Em antropologia, etno-história é conceito que se
costuma reservar a uma dimensão (principal mas
não exclusivamente discursiva ou conceitual) das
sociedades que estudamos, não do fazer antropológico. Em primeiro lugar, diz-se etno-história como
se diz etnogeografia ou etnoastronomia, isto é, estáse falando de etno-historiografia ("etno-historiologia" seria mais apropriado, no caso de povos ágrafos): do saber desta ou daquela sociedade a respei-to
de sua inscrição na temporalidade, dos métodos que
usa para ordenar e preencher a série temporal
(narrativas tipologicamente diferenciadas sobre o
passado, marcadores linguístico-retóricos evidenciais ou citacionais, crônicas genealógicas, cronologias e calendários, mitologias, relíquias e troféus...),
dos eventos que retém e elabora, daqueles que
ignora ou oculta. Pode-se também dar um conteúdo
etno-histórico a certas instituições que codificam a
reprodução social de uma perspectiva simultanea-
mente sincrônica e diacrônica: sistemas de classes
de idade, ciclos onomásticos ou matrimoniais, genealogias...
Pode-se dizer ainda "etno-história" do que seria
melhor chamar de etnofilosofia da história, isto é,
aquelas concepções (explícitas ou implícitas) mais
abstratas ou gerais sobre as propriedades da série
temporal: tratamento do evento por dispositivos
conceituais de explicação e classificação, distinções
entre "tempo mítico" e "tempo histórico", orientação para a origem ou o fim da história, gêneses,
ciclos e escatologias cósmicas... Podem-se, finalmente, definir como etno-históricas aquelas investigações que procuram elucidar os modos pelos quais
as sociedades indígenas administram ideológica e
praticamente o contato com a sociedade ocidental
(mitos de origem dos brancos, reelaboração das
identidades étnicas, reorganizações da base materi-al
e do sistema político...), isto é, o modo pelo qual as
estruturas sócio-cosmológicas nativas — historicamente determinadas — experimentam e respondem ao contato com a nossa história. Mas ou isto
está, a rigor, contido nas acepções anteriores do
termo, ou então trata-se simplesmente de investigações etnológicas sensíveis à dimensão diacrônica das
sociedades-objeto, e em particular à história destas
sociedades após o choque com o "Ocidente".
Trocando em miúdos: "história indígena" possuiria um sentido possessivo (quando é uma "metadisciplina", uma etno-história no sentido próprio) e
um sentido exclusivamente genitivo — ou, como
diriam alguns antropólogos, inspirando-se na distinção entre os níveis fonêmico e fonético da língua,
um sentido "êmico" e um sentido "ético" —, cujo
cruzamento é um problema, não uma evidência.
Haveria ainda uma acepção última para este
termo de "etno-história", que até certo ponto engloba o objeto das anteriores e transcende a oposição
um tanto escolástica entre história e etno-história,
historiografia e etno-historiografia. Trata-se de uma
investigação que procura estabelecer os regimes de
historicidade característicos de diferentes sociedades, os modos concretos de estar no tempo de cada
forma sócio-cultural, e que são tributários de seu
modo de produção e reprodução, de sua estrutura
morfológica, de sua cosmologia, sua filosofia da
história e de sua "cultura" em sentido mais amplo. É
destes regimes diferenciais de historicidade que
falava Lévi-Strauss ao propor a muito vituperada
noção de "história fria" — empiricamente questioJULHO DE 1993
25
LIVROS
nável em vários casos, mas muito longe de ser
teoricamente absurda.
A História dos índios no Brasil não é nem
pretendeu ser uma "etno-história dos índios no
Brasil", em qualquer das acepções acima. Vários dos
autores que contribuíram para o volume destacaram-se por estudos sobre etno-história, ou trabalharam na interface entre história e etno-história (citem-se por exemplo M. Menéndez, R. Wright, Nádia
Farage, ou ainda a organizadora do volume, que há
tempos escreveu comigo um trabalho sobre as
propriedades "crônicas" do sistema guerreiro tupinambá e suas implicações para o regime de historicidade deste povo). No presente livro, apenas o
artigo de B. Franchetto tematiza especificamente
narrativas e concepções indígenas (kuikúro) do
contato histórico com os brancos; os ensaios de R.
Wright, C. Fausto e T. Turner trazem entretanto
elementos valiosos para se pensarem as condições
estruturais e ideológicas muito diferenciadas das
respostas indígenas à invasão ocidental; outros,
como os de F.-M. Renard-Casevitz, de A.-C. Taylor,
de N. Farage e P. Santilli, esboçam panoramas e
periodizações complexas de grandes áreas da Amazônia, onde se podem divisar os modos sucessivos
de ajustamento dos povos nativos aos desafios que
lhes foram sendo lançados pelas sociedades nacionais envolventes. Em muitos casos, por outro lado —
e isto é tanto mais inevitável quanto os povos
estudados foram exterminados ou assimilados, ou
não foram ainda objeto de uma investigação centrada especificamente na etno-história —, o que temos
são boas descrições "de fora", baseadas em fontes
documentais brancas, dos efeitos (demográficos,
políticos, territoriais, econômicos) do "contato" sobre diferentes grupos ameríndios (A. Porro, M.
Amoroso, M. Karasch, B. Dantas et alii). Para vários
destes povos, aliás, pode-se infelizmente inverter o
juízo arrogante de Varnhagen: para eles não há mais
etnografia, apenas história. Em outros casos, os
autores optaram por oferecer uma espécie de introdução etnográfica e histórico-arqueológica geral,
capaz de organizar uma massa confusa de etnônimos, topônimos e sucessos históricos sedimentados
na literatura: vejam-se as úteis paisagens esboçadas
por P. Erikson para os Pano ou S.M. de Carvalho
para o Chaco. A organização e avaliação das fontes
disponíveis para cada caso é outra tarefa indispensável, de que se desincumbem com rigor os trabalhos, por exemplo, de J. Monteiro, R. Wright, M.H.
26
NOVOS ESTUDOS N.° 36
Paraíso. Finalmente, os balanços da legislação e
política indigenistas (B. Perrone-Moisés, M. Carneiro da Cunha, A.C. de Souza Lima) permitem complexificar consideravelmente a história das relações
político-administrativas entre o Estado, colonial ou
nacional, e os povos indígenas, desmontando de
passagem vários mitos historiográficos e hagiográficos. Trata-se, em suma, de uma coletânea de história
indígena do Brasil e adjacências, vista tanto do
ponto de vista geral (ensaios de síntese arqueológica, lingüística, político-administrativa) quanto daquele de diversas situações específicas. Com isto,
ele estabelece as bases para qualquer estudo etnológico ou histórico, sincrônico ou diacrônico, externalista ou internalista, das regiões e povos aqui
tratados.
Há alguns reparos menores a fazer — para
manter as convenções do gênero... F. Salzano, em
seu balanço sobre os desenvolvimentos que os
métodos da genética de populações, da antropologia física e da paleoepidemiologia estão permitindo,
no retraçar a história biológica dos povos ameríndios, reporta uma investigação sobre as diferenças
entre os sistemas genéticos de "quatro populações
em três tribos Tupi: Asurini (duas localidades), Urubu-Kaapor e Parakanã [...] os Asurini dessas duas
localidades (Trocará e Koatinemo) diferiam tanto
entre si quanto com relação às populações das outras
duas tribos [...]" (p. 34). Ora, o etnônimo "Asurini",
de origem estrangeira (juruna), é aplicado pela
Funai a duas sociedades que nada têm a ver uma
com a outra, ou antes, que só têm em comum o fato
de falarem línguas tupi-guarani (diferentes entre si)
e viverem no interflúvio Xingu-Tocantins; na
verdade, os "Asurini" do Trocará são historicamente
muito mais próximos dos Parakanã que dos "Asurini" do Koatinemo. A confusão de nomes fez o
pesquisador achar que eles deveriam ser o mesmo
grupo, e portanto concluir que a heterogeneidade
genética era particularmente significativa. (Vê-se
aqui a necessidade perene de trabalhos de elucidação crítica dos etnônimos presentes na documentação, como o feito por P. Erikson na História dos
índios...) No excelente artigo de Greg Urban sobre a
história lingüística do continente, o título pode se
prestar a equívoco; e a classificação da família de
línguas tupi-guarani pareceu-me problemática: não
sei que critérios foram usados para se distinguirem
os subgrupos "dialetais" chamados (de modo que se
presta à confusão com as sociedades epônimas) de
LIVROS
"Tapirapé", "Tenetehara" e "Tupi-Guarani". Urban
dá ainda os Xakriabá, grupo Jê Central, como extintos (p. 90), o que não corresponde à realidade — é
possível que a língua original do grupo não seja
mais falada, mas há uma considerável população
indígena no norte de Minas que se identifica por
este etnônimo, vivendo concentrada em uma
reserva; trata-se indubitavelmente dos Xakriabá
históricos.
E há um destaque a fazer, dentro de um
conjunto de estudos de tão alta qualidade. Trata-se
do ensaio de Terence Turner sobre a história dos
Kayapó. Turner dá um exemplo da riqueza de
perspectivas que o conhecimento etnográfico detalhado — e teoricamente sofisticado — pode gerar
sobre a história de uma sociedade ameríndia. O
exame da articulação complexa entre a estrutura
social kayapó e as condições históricas criadas pelo
"contato" transcende com sucesso o dilema entre
uma perspectiva puramente culturalista ou "cosmologista" que, ao tomar uma formação sociocultural
como sistema fechado e equilibrado de princípios
extratemporais, obriga-se a tomar a mudança social
como algo degenerativo ou teoricamente inexplicável, e uma perspectiva sociologista que vê a mudança social como resultado exclusivo de determinações externas à sociedade ameríndia, como fruto de
uma mecânica histórica inteiramente explicável pelas características da sociedade nacional (a lógica do
capitalismo, as frentes de expansão...). O ensaio de
Turner testemunha uma mudança importante no
fazer etnológico contemporâneo: o surgimento de
uma perspectiva mais integrada sobre as sociedades
indígenas, que procura dissolver certas antinomias
tradicionais: ecologia ou cultura, história ou etnografia, sociologia do contato ou análise de mônadas
ideológicas. Assiste-se hoje a um esforço para diminuir a distância entre os especialistas em sociedades
fortemente articuladas aos sistemas nacionais (que
praticam uma sociologia histórica essencialmente
externalista) e aqueles voltados para sociedades
"tradicionais" (que preferem as abordagens internalistas e sincrônicas de recorte culturalista). Ele é a
condição fundamental para que superemos definitivamente esta falsa contrariedade entre sociedades
"aculturadas", objetos de uma sociologia do contato
e de uma história documental, versus sociedades
"puras", objeto de uma indagação culturalista e de
uma "etno-história".
Além da sóbria introdução de Manuela Carneiro
da Cunha, que diz melhor do que se poderia resumir
aqui a que vem este livro, a primeira seção do
volume ("Fontes da história indígena") é a de apelo
mais geral. Ela é a mais abrangente e polêmica,
indicando as linhas atuais de investigação da préhistória biológica, lingüística e cultural americanas,
merecendo por isto uma discussão mais extensa.
Creio que se pode divisar um amplo movimento de revisão das idéias aceitas sobre a América précolombiana, e conseqüentemente sobre o impacto da
invasão européia, que vem tomando conta do
americanismo desde alguns anos atrás.
Em primeiro lugar, assiste-se a um recuo das
datações arqueológicas para a chegada do Homo
sapiens no continente americano. Este fenômeno de
recuo das datações paleoantropológicas é mundial,
mas particularmente evidente no caso das Américas,
e sobretudo da América do Sul. Ainda bastante
controvertida, mas caminhando para a aceitação
geral, uma data de 50 mil anos BP [antes do presente
— N.R.] vem substituir o limite tradicional de 12 mil
anos para os sinais de presença humana no atual
território brasileiro. Ao lado desta maior antigüidade do homem americano, começam a surgir evidências de que a Beríngia não teria sido a única via de
acesso ao continente, sugerindo assim pelo menos
uma leva de migrantes transpacíficos. No presente
volume, deve-se consultar o artigo de Niède Guidon, que expõe a questão a partir dos achados
arqueológicos no sertão do Piauí.
Assiste-se também a um aumento considerável (e também ainda sujeito a controvérsia) das
estimativas da população americana em 1492. Passou-se de algo na casa dos 9 milhões para algo
entre 60 e 100 milhões (total das Américas); para
as terras baixas da América do Sul, foi-se de 1
milhão para 8,5 milhões. A famosa escola de demografia histórica de Berkeley é a responsável por
estes cálculos mais recentes, que indicariam ser a
América mais populosa que a Europa (do Atlântico
aos Urais) à época da invasão. Isto, naturalmente,
significa que o impacto demográfico da chegada dos
europeus foi muitíssimo mais forte que o tradicionalmente aceito: fala-se mesmo hoje em algo
como 90% de depopulação, entre o efetivo de
1492 e o nadir demográfico (localizado por volta
JULHO DE 1993
27
LIVROS
de 1650). Como recorda M. Carneiro da Cunha em
sua introdução, estes cálculos desmentem a imagem de um continente quase vazio à espera do
excedente populacional europeu: a América foi
invadida e despovoada, não "descoberta".
A reavaliação do impacto demográfico, e portanto da densidade populacional da América, é
crucial para o caso da região amazônica. O aumento
das estimativas de população convergem com várias
investigações pedológicas e botânicas na Amazônia,
que, além de desmentirem o mito da uniformidade
ecológica da região, abalam a imagem da "mata
virgem". Assim, sabia-se já há bastante tempo que
há uma grande diferença ecológica entre as regiões
aluviais da calha de certos rios (especialmente o
Amazonas), que recebem os sedimentos andinos e
se prestam a culturas de sementes (milho, leguminosas), e as regiões de interflúvio, de solos mais
pobres e mais apropriados aos tubérculos (mandioca); sabe-se mais recentemente que tal distinção não é
tão nítida, e que diversas zonas ribeirinhas fora da
várzea amazônica são capazes de sustentar uma
população numerosa; outrossim, o interflúvio ou
"terra firme" não é homogêneo, e os solos da
Amazônia são razoavelmente variados. Sobretudo,
hoje se tende a sustentar (isto também ainda está em
discussão) que boa parte da cobertura vegetal amazônica, em sua distribuição e composição específicas, é o fruto de milênios de intervenção humana; a
maioria das plantas úteis da região proliferou diferencialmente em função das técnicas indígenas de
aproveitamento do território; porções consideráveis
do solo amazônico são antropogênicas (estes solos
antropogênicos costumam ser escolhidos pelas populações indígenas atuais, por sua fertilidade — a
ocupação humana produzindo assim a ocupação
humana), indicando uma ocupação intensa e muito
antiga. Isto que chamamos "natureza" seria portanto
parte e resultado de uma longa história cultural.
A reavaliação do choque demográfico associase também diretamente a uma reconsideração do
impacto organizacional da conquista sobre os povos indígenas, e portanto sobre a paisagem sóciopolítica da América pré-colombiana. A imagem
tradicional da América indígena opõe radicalmente
dois tipos sócio-políticos: as "grande civilizações"
dos Andes e da Mesoamérica e as tribos ou bandos
igualitários de agricultores itinerantes ou caçadores-coletores do resto do continente. Na verdade,
já há bastante tempo os antropólogos e arqueólo28
NOVOS ESTUDOS N.° 36
gos distinguem uma muito maior variedade de
configurações. Para ficarmos apenas na América
do Sul, distinguiam-se, além das civilizações das
terras altas: as formações sociais complexas das
áreas sub-andina e caribenha da América do Sul
(os "cadeados" chibcha e aruaque da região "circuncaraíba"); os caçadores-horticultores da costa
atlântica e da floresta tropical; e os "marginais",
povos supostamente "primitivos" ou "involuídos",
nômades e não agrícolas, do Brasil Central, do
Chaco e da Patagônia. Entretanto, mantinha-se o
contraste maior entre as civilizações do planalto
andino (e da costa árida do Peru e do Equador) e
as sociedades das terras baixas orientais. Os Andes
apareciam como o grande foco de difusão dos
eventuais traços "avançados" encontrados fora do
planalto. Esta visão do "desenvolvimento cultural"
do continente foi consolidada no Handbook 0f
South American Indians, enciclopédia guiada pelas classificações geográfico-culturais da escola difusionista norte-americana e, mais imediatamente,
pelas teorias materialistas e neo-evolucionistas de
Julian Steward, seu organizador.
A arqueologia amazônica dos anos 50 e 60
tendeu a reforçar esta visão dos Andes como pólo de
alta cultura, e das terras baixas como região imprópria para o desenvolvimento de sociedades complexas. O materialismo cultural norte-americano propôs uma série de teorias limitativas para explicar o
que entendia como baixo desenvolvimento sóciopolítico das terras baixas: primeiro, falou-se na
pequena capacidade de suporte agrícola dos solos
amazônicos (Betty Meggers); em seguida, quando
esta hipótese foi abalada (por um célebre artigo de
Robert Carneiro), passou-se a considerar a disponibilidade de proteína animal como o fator limitante
(M. Harris, E. Ross, D. Gross). Esta teoria recebeu
uma quantidade de desmentidos etnográficos (S.
Beckerman, J. Lizot, P. Descola, entre outros), e as
teorias limitativas conhecem hoje um certo declínio.
Mas foi das fileiras da tradição neo-evolucionista —
et pour cause — que veio a crítica de maior impacto
à idéia da Amazônia como região hostil à civilização.
Trata-se da teoria que a arqueóloga Anna Roosevelt
vem propagando sobre as sociedades da várzea
amazônica, e em particular sobre a "fase marajoara"
— uma formação social que existiu na ilha de Marajó
entre 400 e 1300 AD. Deve-se ler com atenção o que
esta pesquisadora escreveu na História dos índios
no Brasil; suas idéias prometem causar ainda mais
LIVROS
barulho que o que já estão fazendo nos meios
especializados.
Em síntese, Roosevelt se opõe à visão difundida
por Betty Meggers e Clifford Evans sobre as
socieda-des pré-colombianas da calha amazônica.
Estes arqueólogos, defrontados com a complexidade
evi-dente das formações que deixaram os famosos
complexos cerâmicos do baixo Amazonas (Santarém, Marajó etc.) — e com as abundantes descrições
dos primeiros exploradores, sobre o tamanho e a
riqueza das sociedades que encontraram na várzea
do grande rio (ver o ensaio de A. Porro) —,
procuraram salvar a teoria de que a região não
poderia sustentar e sobretudo gerar uma sociedade
estratificada e politicamente complexa, atribuindo
tais restos a uma influência, ou mesmo migração, das
terras altas andinas. Estes migrantes do planalto
teriam decaído nas terras baixas: a extinção da
sociedade (ou sociedades) que deixou a cerâmica
marajoara seria fruto da pobreza do ambiente amazônico. Note-se que Betty Meggers foi um dos
primeiros estudiosos a popularizar a oposição entre a
várzea e a terra firme, e a aceitar a maior complexidade econômica e morfológica dos grupos da
várzea; mas ela insistiu em que esta região ecológica
não poderia sustentar um nível de complexidade
social maior que o então atingido pelos Omágua ou
Tapajós do século XVI.
Anna Roosevelt, desenvolvendo (e modificando) teses propostas há bastante tempo pelo brilhante arqueólogo Donald Lathrap — o primeiro estudioso a propor a várzea como berço de sociedades
complexas e foco original de dispersão cultural —,
propõe essencialmente que: (1) a várzea amazônica
foi capaz de sustentar populações muito numerosas e
densas, graças ao cultivo intensivo do milho e à
proteína animal obtida nos piscosos rios de várzea;
(2) o milho não teria sido difundido a partir dos
Andes e/ou da Mesoamérica em direção à Amazônia, mas pode ter sido domesticado independentemente nesta última região; (3) os Andes não foram
um fator de difusão cultural para a Amazônia, mas o
contrário — embora as sociedades da calha
amazônica só tenham atingido um nível de complexidade elevado bem depois das sociedades andinas, certos traços culturais panamericanos decisivos
(cerâmica, sedentarismo, agricultura) surgiram primeiro ali; (4) as sociedades da calha amazônica, e
em particular aquela associada à "fase marajoara" —
muito mais sofisticada que os povos históricos do
tipo Tapajós ou Omágua —, eram cacicados complexos ou mesmo pequenos estados, exibindo estratificação social, manufaturas especializadas, sistema tributário, sacerdotes, culto de ancestrais, e
toda a parafernália que se costuma associar a uma
"civilização hidráulica" (os restos arqueológicos
sugerem "grandes trabalhos" de sabor witffogeliano); (5) estas sociedades são autóctones, nada
devendo aos Andes.
Indo mais adiante, a autora sustenta a idéia de
que as sociedades indígenas amazônicas atualmente
existentes, isto é, aquelas descritas pela etnografia
moderna, são "remanescentes geograficamente marginais dos povos que sobreviveram à dizimação
ocorrida nas várzeas durante a conquista européia"
(História dos índios no Brasil, p. 57); neste processo
degenerativo, elas teriam involuído até um nível
arcaico, anterior ao da formação das civilizações
fluviais (pp. 57, 70, 82). A indigência tecnológica e
sócio-política das sociedades indígenas atuais — a
autora repete o juízo clássico de Steward, Meggers
e Lathrap, bem como aquele sobre a pobreza
agrícola dos solos do interflúvio — não seria assim
inerente à Amazônia, mas resultado da conquista
européia. Ruptura radical entre os ricos cacicados
dos comedores de milho e peixe da várzea e os
pobres bandos atuais de comedores de caça e
farinha de mandioca... Ruptura radical entre arqueologia e etnografia, portanto: é preciso evitar o que
ela chama de "projeção etnográfica", que lê o
glorioso passado da Amazônia através da simplicidade regressiva da situação indígena atual.
Algumas das idéias acima foram propostas
segundo caminhos próprios, outras são interdependentes; associadas todas, entretanto, elas desenham
um panorama nítido: alta antigüidade do povoamento; densidade populacional elevada; alto grau
de antropização do ambiente; grande complexidade sócio-política da Amazônia indígena. Em suma:
a América não era um "novo mundo", quase virgem
e quase despovoado, ocupado por um punhado de
selvagens mal-sedentarizados (sempre com as intrigantes exceções mesoamericanas e andinas); era um
mundo antigo, populoso e complexo, paralelo
ao velho mundo de onde enxamearam os euroJULHO DE 1993
29
LIVROS
peus. O impacto quantitativo e qualitativo da invasão e colonização, portanto, foi incomparavelmente
maior que o já admitido pela má consciência ocidental. O passivo político da "descoberta" aumenta
ainda mais.
O que dizer de tudo isto? A validade científica
de quase todos os pontos acima ainda é mais ou
menos controvertida. Pessoalmente, inclino-me a
aceitar as novas estimativas demográficas e as hipóteses sobre um ponderável componente antrópico
nos ecossistemas das terras baixas; tenho certa
desconfiança (que admito preconceituosa, pois pouco entendo do assunto) frente a recuos muito
dramáticos nas datações da chegada do homem nas
Américas; e tenho muitas reservas quanto a vários
aspectos da reconstrução das sociedades da várzea
por A. Roosevelt, e sobretudo quanto às conclusões
que dali ela pretende tirar para a paisagem etnográfica contemporânea.
O sentido ideológico global desta revisão da
história ameríndia é claro, mas ambíguo: se a maior
culpabilização do "Ocidente" é historicamente justa,
a conseqüente maior vitimização das populações
indígenas pode caucionar uma visão degeneracionista perigosa dos grupos atuais, que, sobre revestir
velhos mitos antropológicos com uma nova roupagem, nega aos povos indígenas contemporâneos a
capacidade de agência histórica. Há de fato uma
tendência geral, na antropologia americana de corte
cultural-materialista, a se imputar qualquer aspecto
problemático das sociedades ameríndias — isto é,
via de regra irredutível a considerações práticoadaptativas e/ou "politicamente incorreto" segundo
os cânones atuais, como a guerra (ver por exemplo
Ferguson, B. "Blood of the Leviathan: Western
contact and warfare in Amazonia". American Ethnologist, 17 (2): 237-57) — aos efeitos avassaladores
do "Ocidente". Apesar de seu radicalismo bempensan-te, este tipo de explicação termina por ver os
ameríndios como joguetes passivos da lógica inexorável do Estado e do Capital, como o seriam, do
outro lado, da razão ecológica: entre a história e a
natureza, desaparece a sociedade. Parece que é
sempre preciso explicar por que os ameríndios das
terras baixas não "evoluíram": antes se acreditava
que eles jamais o fizeram, por conta do ambiente
hostil; hoje se crê que evoluíram sim, mas que
decaíram por obra e desgraça da praga ocidental.
Não é o caso de embarcar aqui numa análise
detalhada da contribuição de A. Roosevelt à história
/n
30
NOVOS ESTUDOS N.° 36
cultural da América do Sul (vejam-se as críticas
avançadas por C. Fausto na p. 388 da coletânea, que
subscrevo integralmente). Diga-se que suas pesquisas são valiosíssimas, tecnicamente sofisticadas, trazendo um sopro de ar fresco para a arqueologia
amazônica, e que suas especulações sócio-políticas,
por questionáveis que sejam, são pelo menos mais
interessantes que a seriação de cacos de cerâmica ou
o mero estabelecimento de datações. A origem local
das sociedades de várzea do pré-histórico tardio
parece admissível, embora a influência dos
cacicados da costa caribenha não possa ser descartada. Já a idéia de que os índios da terra firme
amazônica (mas também os da costa atlântica, e os
do Brasil Central?) seriam "remanescentes marginais" de grandes civilizações do passado (antigamente eram os Andes — quando não os fenícios ou
egípcios... —, agora são a várzea e Marajó) pareceme inteiramente distorcida ou mesmo completamente falsa, além de poder desembocar em uma
posição absurda: a de que as sociedades ameríndias
atuais, sendo "não representativas" do passado da
América, são descartáveis. Esta é uma típica "perversão arqueológica", bem mais grave que a tal da
"projeção etnográfica" de que fala A. Roosevelt.
Projeção, aliás, que ela só denuncia quando a
etnografia não ecoa sua reconstrução arqueológica,
mas que não se peja de empregar, de maneira
antropologicamente bastante ingênua, quando se
trata de preencher as inumeráveis lacunas que todo
sítio arqueológico deixa ao arbítrio da fantasia dos
cientistas (ver, a propósito, seu livro mais recente,
Moundbuilders of the Amazon, Academic Press,
1991).
Não há dúvida que a Amazônia, em particular
as várzeas do seu rio principal, abrigava à época da
invasão européia populações numerosas, e que esta
região mostra maior capacidade de suporte agrícola
para a cultura de sementes; há ainda vários indícios
documentais de que os sistemas sociais da região
mostravam maior centralização e hierarquização que a maioria dos sistemas ameríndios contemporâneos. Não há dúvida que a várzea foi
despovoada por epidemias, descimentos missionários e predação de escravos, e que pelo menos
alguns grupos atuais devem ser remanescentes destes povos, que fugiram do furacão da conquista
internando-se nas matas de terra firme ou buscando
o alto curso dos afluentes do Amazonas. Está igualmente claro que vários povos atuais vivendo em
nnnn
LIVROS
condições de nomadismo e dependentes da caça e
coleta não são representantes de um estado prime-vo
pré-agrícola, mas foram forçados a abandonar a
horticultura e a vida sedentária devido a pressões
territoriais externas (brancas ou indígenas) — Sirionó, Hetá, Guajá, Aché —; assim como está claro,
aliás, que atividades como a guerra aumentaram de
intensidade e/ou mudaram de sentido como efeito da
invasão (o ensaio de Terence Turner neste volume
analisa em profundidade a questão para os Kayapó).
Mas é falso supor que as regiões distantes da várzea
fossem despovoadas antes da invasão, como se
houvesse um tropismo irresistível de qual-quer povo
em relação a áreas mais férteis — em abstrato, e
desprezando qualquer consideração dos regimes de
produção e reprodução sócio-cultural destas
populações —, ou que os povos que porven-tura
habitavam a terra firme ao tempo do floresci-mento
das sociedades da várzea fossem todos "mar-ginais"
alijados do paraíso fluvial pelos ocupantes desta
região; ou, finalmente, que os Tupinambá só
começaram a fazer a guerra por causa dos portugueses e franceses...
Há, de início, vários problemas empíricos para
esta hipótese. O trabalho de reconstrução lingüísti-ca
apresentado por Greg Urban neste volume, por
exemplo, vai de encontro às teses (de Lathrap, entre
outros) de que alguns grandes grupos lingüísticos
atuais — Aruaque e Tupi — teriam se originado no
médio Amazonas. Urban sugere convincentemente
que os focos de dispersão dos troncos lingüísticos
das terras baixas são precisamente áreas periféricas:
as cabeceiras ocidentais do Amazonas (os Aruaque),
o alto interflúvio Madeira-Xingu (os Tupi), o altiplano do escudo da Guiana (os Caribe); o planalto
oriental brasileiro, entre o Tocantins e o São Francisco (os Macro-Jê). Se este é de fato o caso — e as
estimativas glotocronológicas de Urban devem ser
confrontadas às datações de Roosevelt —, então
vários dos registros arqueológicos da várzea remetem a populações de línguas extintas, que teriam sido
invadidas e destruídas por "bárbaros" de tecno-logia
inferior vindos precisamente da antivárzea. De
qualquer modo, não há por que supor que todos os
proto-Tupi, proto-Aruaque e proto-Caribe saíram em
massa das cabeceiras em direção à várzea. Certos
sucessos históricos também ficam um pouco
misteriosos, se se adota de modo generalizado a
hipótese de civilizações poderosas da várzea mantendo à distância os grupos "marginais". Por exem-
plo, como teriam os Tupinambá conseguido se
impor no médio Amazonas? Os Tupinambá da rica
várzea de Tupinambarana chegaram à região pouco
depois de 1500, saindo da costa atlântica nordeste,
atravessando boa parte da Amazônia meridional, até
vir submeter as populações (provavelmente caribe
e aruaque) da várzea. Considerando-se que os Tupi
da costa atlântica não possuíam nada de semelhante
a um "cacicado" (ver Fausto, neste volume), e que
dificilmente o efetivo populacional dos migrantes
seria maior que o dos povos estabelecidos na várzea
(e que à época ainda não haviam sofrido o colapso
demográfico) — Acuña diz claramente que não era
—, fica a questão. O destino da sociedade marajoara
de Roosevelt não é menos misterioso: por que teria
ela desaparecido por volta de 1300? Os Aruã (de
língua aruaque) que se achavam em Marajó na
época dos primeiros registros europeus (século
XVII) teriam suplantado este poderoso mini-Estado?
A sociedade aruã nem de longe exibia a complexidade sócio-política imputada por Roosevelt aos
marajoaras de duzentos anos antes. Lévi-Strauss
comparou a América indígena a "un Moyen âge
auquel aurait manqué sa Rome: masse confuse, ellemême issue d'un vieux syncrétisme dont la texture
fut sans doute très lâche, et au sein duquel subsistèrent çà et là [...] des foyers de haute civilisation et des
peuples barbares, des tendances centralisatrices et
des forces de morcellement" (Le cru et le cuit, p. 16).
Bem, eis que, nestes tempos em que se retorna
ao afro-egiptocentrismo e se fala em "Black Athena", os arqueólogos da Amazônia põem-se a querer
dar uma "Red Rome" marajoara para os ameríndios... Continuo preferindo a paisagem esboçada
por Lévi-Strauss.
Entendamo-nos mais uma vez. O impacto demográfico, político, econômico da invasão européia
foi profundíssimo. Não é preciso recorrer aos cacicados (seja lá o que isto signifique precisamente) da
várzea para atestar isto; os estudos reunidos na
História dos índios no Brasil dão testemunho de
uma paisagem global para as terras baixas muito
diferente da atual, onde prevalece um perfil sociológico insular, composto de pequenas mônadas
sócioculturais, etnicamente congeladas e cortadas
de qualquer contato sistemático com suas congêneres. O mundo ameríndio pré-colombiano era um
tecido mais ou menos denso, mas sem falhas, em
estado de fluxo constante, composto de gigantescos
sistemas regionais que articulavam regiões tão disJULHO DE 1993
31
LIVROS
tantes como a montaña peruana e a bacia do
Orinoco, os Andes e o litoral de São Paulo. Fragmentos destes vastos complexos de troca comercial e
cultural, matrimonial e guerreira, podem-se ver ainda
hoje no rio Negro, no Alto Xingu, na Amazô-nia
sub-andina ou no escudo da Guiana. O congelamento e o isolamento das etnias é um fenômeno
sociológico e cognitivo pós-colombiano; a multiplicação de etnônimos nas crônicas e relatórios antigos
é fruto de uma incompreensão total da dinâmica
étnica e política do socius ameríndio, incompreensão baseada em um conceito inadequado de sociedade, substantivista e "nacional-territorialista", incapaz de dar conta da natureza relativa e relacional das
categorias étnicas, políticas e sociais indígenas. Mas
por isto mesmo, qualquer distinção radical — ecológica, étnica e sócio-política — entre cacicados da
várzea e bandos ou tribos igualitárias da terra firme é
injustificada. Se não é mais possível tomar a
Amazônia como sítio exclusivo de caçadores-horticultores organizados em pequenos bandos igualitários e aguerridos (seja por uma limitação extrínseca e
negativa de tipo ecológico, ao modo de Steward, seja
por uma limitação intrínseca e positiva de tipo
ontológico, ao modo de Pierre Clastres — que
sempre raciocinou a partir da vulgata do Handbook,
e de sua experiência de campo com os caçadores
Aché), tampouco se pode cair no exagero oposto,
postulando a natureza vestigial, degenerativa e
marginal dos grupos da terra firme. Assim como a
oposição entre várzea e interflúvio (ou entre a várzea
dos rios de água branca e o habitat ribeirinho das
regiões menos afortunadas) deve ser qualificada e
modalizada, assim também deve-se evitar qual-quer
contraste drástico, a partir das tipologias evolucionistas de níveis sócio-políticos de complexidade, entre a Amazônia e o Brasil Central; os Jê, ao que
se saiba, jamais andaram pela várzea, e sua complexidade sociológica (que não é do tipo caro aos
evolucionistas, é verdade, pois nada tem a ver com
centralização, tecnologia e coisas do gênero) demonstrou há bastante tempo a inanidade das classificações do Handbook. É claro, a sofisticação sociológica dos Jê já foi interpretada (por Lévi-Strauss
inclusive) nos termos de uma regressão arcaizante,
ou, para dizê-lo mais diretamente, os Jê foram vistos
como Inca decaídos. Mas, a menos que se consiga
provar que os Inca saíram do sertão da Bahia, esta
hipótese não é muito verossímil (bem, se afinal os
Azteca vieram do deserto do Arizona...).
32
NOVOS ESTUDOS N.° 36
A idéia de um tropismo de tipo "sumério"
(agricultura intensiva, grandes trabalhos, realeza
divina, casta sacerdotal etc.) para as sociedades da
América tropical encontra outro obstáculo no caso
dos Tupinambá da costa brasileira: tínhamos aqui
populações muito numerosas, ocupando uma região extensa e fértil em recursos de todo tipo (os
manguezais e enseadas litorâneas, o vale do Paraí-ba,
o planalto paulistano, o Recôncavo baiano).
Entretanto, e apesar de várias tentativas baseadas no
raciocínio analógico e no wishful thinking para dar
aos Tamoio, Tupiniquim e Caeté uma organização
em províncias, com régulos e potentados, os cronistas do litoral quinhentista — ao contrário daqueles
que andaram pelo Amazonas — não registram nada
nem vagamente semelhante a tal situação (ver, mais
uma vez, o artigo de Carlos Fausto). O caso dos
Guarani do Paraguai é por certo mais complicado
(ver o artigo de John Monteiro), mas as evidências
são ambíguas. Pode-se sempre argumentar, para o
caso da costa brasileira, que não se encontrava aqui a
indispensável limitação de áreas férteis, aguilhão
capaz de gerar a centralização encontrada na mais
restrita área de várzea do Amazonas (a hipótese de
R. Carneiro para os Andes, que Roosevelt adapta
para os cacicados da várzea). Mas aqui entramos no
terreno da casuística: pois se alguns autores argumentam ao contrário que a costa apresentava sim
limitações ecológicas — e tentam deduzir daí a
necessidade dos (inexistentes) cacicados...
Em suma: se, como observei, está cada vez mais
difícil supor uma essência da natureza tropical como
barreira ao desenvolvimento sócio-político (entendido sempre em termos eurocêntricos: grãos, manufaturas, chefes, sacerdotes, escravos..., e visto sempre como um movimento natural e portanto positivo), ou uma essência da sociedade ameríndia que
segregaria deliberadamente anticorpos contra o vírus do Estado (como queria a leitura libertária,
simultaneamente setecentista e "soixante-huitarde",
que Clastres fez do Handbook) — isto certamente
Lathrap e Roosevelt, entre outros, provaram —, e se
ao contrário é de fato preciso ver a invasão européia
como um fator poderosíssimo de desagregação demográfica e sóciocultural, não basta por isto simplesmente inverter os sinais, mantendo-se o mesmo
determinismo ecológico pedestre e o mesmo evolucionismo (ou involucionismo) produtivista ingênuo.
Remeto aqui o leitor ao minucioso estudo de
Philippe Descola (La nature domestique: symbolis-
LIVROS
me et praxis dans l'écologie des Achuar. Maison des
Sciences de l'Homme, 1986), sobre os Jívaro Achuar
do Equador. Descola põe em evidência um regime
econômico que sustenta a população jívaro (territorialmente atomizada e politicamente acéfala — se
posso usar esta expressão para caçadores de cabeça...) em condições nutricionalmente luxuosas, ao
mesmo tempo que se caracteriza por uma radical subexploração dos recursos, fundada em razões sociais e
culturais, não em limitações ecológicas. Ora, os
Achuar ocupam habitats tanto interfluviais como
aluviais; nestes últimos, não se verifica nenhum predomínio do cultivo do milho ou de leguminosas sobre o da mandioca, ao contrário da
sequência irresistível suposta por A. Roosevelt;
tampouco se verifica nenhuma pressão dos moradores da terra firme sobre os moradores ribeirinhos,
nem qualquer diferença política ou cultural entre as
duas regiões. Acrescente-se que os Jívaro não são
uma pequena etnia impotente, mantida longe do
maná aluvial por povos mais poderosos, indígenas
ou europeus: eles contam cerca de 80 mil pessoas,
e são um dos povos de maior fama guerreira do
continente (ver o ensaio de A.-C. Taylor na História
dos índios...). Cito a conclusão de Descola: "Si,
malgré tous les atouts dont ils disposaient, les
Achuar riverains n'ont pas fait le choix du développement de leur base matérielle, c'est donc peutêtre parce que le schème symbolique qui organise
leur usage de la nature n'était pas suffisamment
flexible pour pouvoir absorber la réorientation des
rapports sociaux que ce choix aurait engendrée. [...]
Au rebours du déterminisme technologique sommaire dont sont souvent imprégnées les théories
évolutionnistes, on pourrait ici postuler que la
transformation par une société de sa base matérielle
est conditionnée par une mutation préalable des
formes d'organisation sociale qui servent d'armature
idéelle au mode matériel de produire" (op. cit., p.
405).
O que nos deixa diante da questão de saber, de
um lado, que mutação extratecnológica teria ensejado o surgimento das sociedades centralizadas da
várzea pré-histórica, e de saber, de outro, quão
diferentes realmente de grupos como os Jívaro ou os
Tupinambá foram os Omágua, Tapajós, e os misteriosos marajoaras.
Eduardo Viveiros de Castro é pesquisador do Museu Nacional da UFRJ.
-
JULHO DE 1993
33
Download