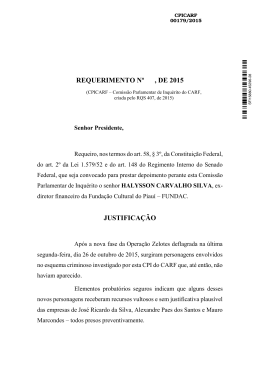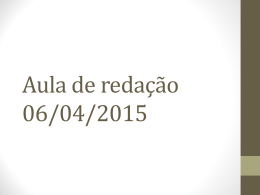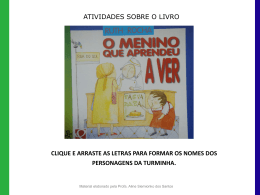“O meio bebeu o fim, como o mata-borrão bebe a tinta” 1 Notas sobre O céu sobre os ombros e Avenida Brasília Formosa André Brasil e Cláudia Mesquita Logo em seu início, antes dos créditos de abertura, O céu sobre os ombros (2010), de Sérgio Borges, apresenta os três personagens do filme, em seus deslocamentos de ônibus pela cidade. O dedo acompanhando as palavras, Lwei tenta ler o livro, apesar da trepidação. Murari olha pela janela, sonolento. Pensativa, Everlyn cheira uma flor amarela. Lá fora, a cidade passa, borrada pelo deslocamento. Os gestos, em primeiro plano, sugerem uma cena, pedem um desdobramento narrativo. Tentamos, então, constituir um espaço comum para os personagens. Eles fazem a mesma viagem? Partilham o mesmo espaço e o mesmo tempo? A hipótese, porém, é logo desfeita pelo plano da terceira personagem que, ao contrário dos dois primeiros, viaja à noite. A unidade de tempo e de espaço não se consuma. Após o título – apresentado de maneira sóbria – uma panorâmica mostra o espaço urbano, situando – ainda genericamente – estas vidas que, no prólogo, nos foram apresentadas em deslocamento: um emaranhado de prédios, a metrópole condensada em um só plano. Não se identifica precisamente o lugar, o seu nome não é explicitado, mas temos a sugestão de um contexto: a cidade grande (que sabemos ser Belo Horizonte) em suas características genéricas: super-população, anonimato, verticalização… Reencontramos Murari assentado no sofá, imóvel, som do rap ao fundo. Em close, ele olha fixamente para a câmera, neste que é um dos raros momento de reflexividade no filme. O corte seco, na imagem e no áudio, poderia nos levar a outro personagem, em montagem paralela. Mas ainda não. Em leve desconcerto (pois as cenas se sucedem, sem que seu encadeamento temporal seja facilitado), continuamos a acompanhar Murari: ele se apronta para sair, faz sua oração, no quintal de casa. Deixa a chave na casa da tia, se despede de um e de outro, que estão fora de campo. A solidão do personagem é 1 Emprestamos a frase de Sartre (1968: 116), em análise da obra de Kafka. Agradecemos a Nuno Manna por essa e outras inspiradoras referências, que apreendemos no diálogo com seu trabalho de Mestrado no Programa de PósGraduação em Comunicação Social da UFMG, em fase de finalização. levemente “roçada” por essa sugestão de vizinhança. Ele corre, para, depois, aparecer na cozinha do restaurante, um de seus locais de trabalho: faz massa, frita pastel. Estamos agora na casa de Lwei, nu frente à janela da cozinha, a fumar um cigarro. Ele se banha. Conversa com alguém ao telefone, sugere – ao falar sobre uma terceira pessoa – um suicídio. Se esforça para retirar algumas moedas de um cofre e, agora, joga xadrez no centro da cidade. Everlyn também está sozinha: toma banho, hidrata a pele, se demora na maquiagem. Almoça em um bar, aparentemente próximo a sua casa, onde, de volta, lê um texto, de tom romântico-erótico. Nada parece unir os personagens, a não ser o interesse do filme pelas vidas, que performam, em “tom menor”, fragmentos do cotidiano. A abertura de Avenida Brasília Formosa, de Gabriel Mascaro, parece seguir um desenho semelhante. Não estamos diante de personagens que viajam solitários para destinos diferentes, mas em lugares que se tornam mais e mais delineados com os percursos de Fábio, Débora, Pirambu e Cauan, os personagens privilegiados no filme. O primeiro plano logo nos apresenta – não sem alguma opacidade – a fachada de casas, tijolos à vista, tendo ao fundo uma mescla sonora de músicas e vozes de crianças. Somos, então, levados para dentro, onde o menino Cauan, focalizado bem de perto, brinca com outras crianças, esparramado no chão da sala. A partir daí, a montagem recolhe as situações cotidianas que, se ainda não configuram uma cena comum, se avizinham no filme: a cabelereira e manicure Débora faz a barba de um cliente; o pescador remenda a rede diante dos blocos de um conjunto residencial; ainda no conjunto, a bicicleta com uma caixa de som anuncia a reunião dos moradores (ficamos sabendo que ali moram as comunidades removidas das áreas de risco de Brasília Teimosa, Vila Vintém e Poeirão); o corte seco nos leva ao garçom que atende no restaurante movimentado, sob o olhar à distância da câmera. As cenas se sucedem até que somos, aqui também, apresentados à imagem da cidade: mas, nesse caso, ela tem a escala de um bairro, cujo horizonte se caracteriza pelas duas torres, extremamente altas, que cortam verticalmente Recife. O início de um e de outro filme antecipa e condensa o que será a tônica de ambos, algo que, em uma primeira abordagem, os aproximaria. Trata-se, antes de tudo, de um trabalho da imanência – os filmes se produzem em estreita contiguidade com o mundo: por meio da duração dos planos, de uma fotografia e de uma montagem, em certa medida, discretas, a forma destes filmes se abre às formas sensíveis do mundo; mundo e filme parecem contíguos, como se desdobrassem um do outro, um no outro. Dito de outro modo, percebe-se ali certa modéstia da forma (não há, antecipemos logo, nenhum tom pejorativo nessa afirmação), que se mostra disponível ao mundo, se modula por ele e o modula, em mútuo e imanente engendramento. Poderíamos associar tal modéstia à “magreza estética” ou ao “estilo pobre”, expressões adotadas por Bernardet na leitura de alguns curtas documentais brasileiros dos anos 1970 (2003). Ele o faz em diálogo com a idéia de “poesia menos”, cunhada por Haroldo de Campos em sua análise do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos – cuja estética seria “dobrada pela pobreza da matéria, no nível do referente” (2003, p. 126-127). Nesses curtas (como Tarumã, 1975, de Aloysio Raulino, M. Kuperman, G. Lisboa e M. Quinto), haveria um esforço em reduzir formas pronunciadas de expressão, de maneira a valorizar os personagens e suas falas, como que buscando contaminação entre a linguagem do filme e a experiência dos sujeitos filmados. No caso dos dois filmes contemporâneos, não se trata de abrir tempo e espaço para que “fale” o outro de classe (pela via da entrevista), como se dá em Tarumã, mas de uma produção da cena – que lança mão, nos dois casos, de procedimentos de encenação que dialogam, de modo peculiar, com a metodologia ficcional – em estreita interseção com o espaço-tempo dos sujeitos filmados. Esta “modéstia”, a nosso ver, se produz assim a partir de três recusas, de três reservas: primeiramente, não se percebe, nestes filmes, qualquer acirramento formal por meio do qual a obra possa se apresentar em – marcada – descontinuidade com o mundo. A forma dos filmes não é exatamente “problemática”: ela não se caracteriza nem por um gesto de experimentação plástica, nem por algo como uma construção alegórica ou reflexiva. Ela se desdobra do real, ganha seus relevos, sem se apresentar descontínua em relação a ele e sem por ele se deixar transtornar ou transbordar. Trata-se, portanto de uma forma, repetimos, disponível e, ao mesmo tempo, contida (ainda que se possam apontar, como o faz Cezar Migliorin (2010), certos elementos melodramáticos em O Céu sobre os ombros). Diríamos, em seguida, que nenhum dos dois filmes se marca fortemente pelo gesto crítico: ambos evitam o distanciamento e o julgamento, não endereçando ao mundo vivido - às situações vivenciadas pelos personagens ou às estruturas sociais – um olhar crítico, ou, ao menos, um olhar explicitamente crítico. Trata-se antes de acompanhar os personagens, compondo uma rede de situações cotidianas, que, proposta ao espectador, o convoca e o faz hesitar. Por fim, como terceira recusa, evita-se o gesto de ficcionalização demasiada: os filmes não se pautam por um roteiro fechado a priori e a cena que criam é rarefeita, esboçada, difusa, reticular. Se estes filmes narram, ou se eles ficcionalizam as vidas que ali performam, o fazem por meio de vínculos frágeis entre episódios cotidianos, que aparecem de modo segmentado, entrecortado, “fatiado”. Por isso, é com dificuldade que o espectador comporá uma unidade dramática, buscando relações entre os personagens e conexões entre o presente, a sugestão de um passado ou de um futuro desejado. Tempo do padecer Eis então uma hipótese inicial, que diz respeito à temporalidade construída pelas obras: a ênfase sobre o presente os relaciona. Nos dois casos, não há didatismo na apresentação do tempo narrado. Não há um claro recorte temporal como condição do método (quando se acompanha, por exemplo, um tempo bem demarcado da vida de alguns personagens, indicado na montagem), nem ênfase sobre o passado a partir de rememorações (via entrevistas ou qualquer outra estratégia retórica). Abrem-se janelas para o mundo de alguns personagens, de quem podemos dizer que acompanhamos fatias de tempo, o presente, “tempo do agir e do padecer” (Ricouer, 1994: 110)2, da experiência cotidiana, que não é “ponte” para a mudança dramática ou o final redentor – é intervalo que se dilata, meio que bebe o fim, 2 Ricoeur se refere aqui ao ato de leitura, momento de refiguração do texto, que se torna obra em sua interação com o leitor, na terceira etapa do processo de mimese (“mimese III”, segundo seus termos): “a narrativa tem seu sentido pleno quando é restituída ao tempo do agir e do padecer em mimese III” (1994: 110). Não sem risco, nos valemos da expressão para caracterizar o tempo narrativo dos filmes, sem desconsiderar que o contato com o espectador é também momento fundamental no acontecer dessas obras. como no dizer de Sartre sobre a obra de Kafka. Já começamos com as vidas em pleno curso de trajetos e gestos cotidianos. Os finais não indicam conclusões, mas um continuar que se desdobra para além do tempo do narrado. A temporalidade não faz moldura, e nessas narrativas sem funcionalidade, em que o percurso não é meio para um desfecho, não há sombra de teleologia narrativa (quando a finalidade justifica e dá sentido às etapas do percurso). As vidas se desdobram no presente, em seus vínculos esgarçados com o passado e o futuro. Uma espécie de “estar sendo” é, assim, apresentado, de maneira segmentada, em cenas que privilegiam a duração dos planos: camadas do cotidiano selecionadas deliberadamente e aproximadas pela montagem. Essa temporalidade que se apresenta – em outra metáfora – como “decantação” na superfície do presente, parece traduzir, na escritura dos filmes, a própria experiência dos personagens na cidade: desdobrando suas vidas no presente, ou melhor, desdobrando-se em um cotidiano duro, árduo, vivem em um espaço de experiência alargado, cujo horizonte de expectativa (Koselleck, 2006) se mostra exíguo. Sabemos que recorrer às categorias de Reinhart Koselleck não se faz sem reducionismo, afinal é histórica sua amplitude. O espaço de experiência se constitui do passado atual, experienciado concretamente por alguém. Fundem-se, na experiência, formas racionais e inconscientes de comportamento, a experiência de cada um e as experiências alheias que se conservam e se atualizam de maneira descontínua, não mensurável. A metáfora espacial para dizer da experiência ressalta, assim, um sentido de aglomeração, estratificação de tempos simultaneamente presentes. Na imagem de Christian Méier (citado por Koselleck, 2006), a experiência se manifesta como o olho mágico de uma máquina de lavar: vez ou outra, esta ou aquela peça colorida de roupa salta na cuba e logo desaparece na confusão de tempos e situações. O horizonte de expectativas, por sua vez, é o futuro presente na forma de uma projeção, de um prognóstico, de um desejo. “Horizonte quer dizer aquela linha por trás da qual se abre no futuro um novo espaço de experiência, mas um espaço que ainda não pode ser contemplado.” (Koselleck, 2006, p.311) Dialogando com esta perspectiva, pensamos que nestes filmes as cidades apareceriam então como espaço – superfície estratificada (ou decantada) de tempos e experiências, na qual, vez ou outra, vislumbra-se um episódio de vida; e como horizonte – a projeção do desejo, do futuro, nas ações no presente. Algo que nos leva a perguntar: que expectativas, que desejos movem os personagens? Qual sua amplitude, sua abertura? Trata-se, reiteramos, de um espaço de experiência denso, que não é vivido sem sofrimento, apresentado sob a forma de segmentos descontínuos, de forte ancoragem no presente. É também no presente que se concentram as expectativas de um horizonte exíguo, escasso de possibilidades. Assim, o cotidiano aparece como lugar de um desejo difuso que se insinua em meio ao “se virar” do cotidiano. Cintilação e trançado Mas, se até aí os filmes se assemelham, ao nos atentar para sua escritura particular, veremos que esse desdobrar-se do presente dos personagens no presente do filme se manifesta, em um e outro, de maneira bastante distinta. A começar pela própria construção temporal. Em O céu sobre os ombros, ela não é didática. Se os três personagens centrais partilham a mesma narrativa, que conecta suas perspectivas na montagem, é difícil inseri-los em alguma lógica – temporal ou espacial – emoldurante. Como vimos, o prólogo antecipa a centralidade dos três personagens, apresentados em deslocamentos de ônibus, atravessando a cidade. A partir daí, o filme pinça episódios cotidianos das três vidas, alternadamente, em planos mais e mais fixos, que são aproximados na montagem. A moldura é tão fluida, que a conexão entre Lwei, Murari e Everlyn, gesto deliberado da montagem, resta como um dos desafios ao espectador: se a narrativa se constitui no entrelaçar dessas três perspectivas singulares, na sucessão de diferenças, que desenho de conjunto aí se produz? Haverá a sugestão de uma identidade, de uma “concordância-discordante” (Ricouer, 1995), na montagem paralela de segmentos individuais, em que a solidão e o padecer dos personagens resplandece? Assim como não há preocupação em naturalizar o tempo narrativo (para que o dominemos como “etapas” de um dia ou percurso), o filme não reforça a travessia de um espaço urbano comum, desenhado a partir dos deslocamentos dos personagens, como vemos em Avenida Brasília Formosa. Há claro privilégio a cenas internas, ao espaço privado dos personagens, quase sempre solitários. É difícil encontrar aqui imagens “típicas” ou significativas, que cifrem didaticamente a condição social ou cultural de cada personagem. Em primeiro lugar, pois é miúdo o que se mostra: são vivências cotidianas cuja forma “dissolve as estruturas e desfaz as formas” (Blanchot, citado por Guimarães, 2010: 191). Apanhados desvestidos dos papéis desempenhados nas interações, no espaço da casa e no tempo do cotidiano, os personagens se desdobram, não cabem em lugares prévios, estabelecidos ou programados, talvez sequer caibam em si mesmos... nenhum dos três poderia ser representativo de algo, pois sua singularidade no anonimato – seu desdobrar de um papel a outro – resiste vigorosamente a representações sociais já dadas. Voltemos ao segundo segmento do filme, após o prólogo. Mostrado em plano de conjunto, Lwei fuma lentamente, o corpo negro, nu, de pé, dobrado sobre si, pendendo para o chão. Na situação seguinte, ele se banha, corpo quase todo fora de campo; em quadro, dois copos com bebidas diferentes (água e cerveja? cachaça e cerveja?), que a mão do personagem manipula sobre o vaso do banheiro. Em seguida, seu corpo está em quadro, abraçando-se sob a água do chuveiro. A duração desses planos e o que eles expõem dilatam e adensam o que poderia ser somente um “sumário” (série de planos a condensar os “preparativos” para alguma coisa), valorizando o “em si” de uma situação banal mas irredutível, indecifrável. O banho não é resumo. É escorrer de tempo presente; novamente, “tempo do padecer”. Em sua sucessão de dias e noites, Avenida Brasília Formosa sugere uma temporalidade mais reconhecível: talvez três dias e três noites na vida dos quatro principais personagens (possivelmente sexta-feira, sábado e domingo, já que há praia e outros usos do tempo livre). As vivências cotidianas de Débora, Fábio, Cauan e Pirambu são embaralhadas na montagem, e suas perspectivas às vezes se interceptam, se resvalam (Fábio em alguns momentos divide a cena com Débora ou com Cauan). Mas, desse embaralhar de vivências no tempo, o filme não chega a um desenho pedagógico de conjunto, que tenha a forma de um argumento ou explicação sobre a realidade por eles compartilhada (que o título, nome da avenida que mudou a face da localidade onde moravam, sintetiza). Os grandes reordenamentos, em função das mudanças urbanísticas, já se deram, e o filme prefere deliberadamente a rotina ao drama: pequenos afazeres, conversas e deslocamentos. Essa abertura de significados e a recusa da moldura é notável na maneira como imagens de arquivo de Brasília Teimosa e a evocação de um passado comum são trabalhados. A história da localidade e seu passado recente aparecem tematizados em algumas conversas e nos arquivos do videomaker e garçom Fábio, que procura cenas que gravou no videocassete de casa. A História não emoldura os espaços e o personagem, ao contrário: os arquivos são literalmente manipuladas por Fábio em cena (correr a imagem, parar, voltar etc.) Os vestígios do passado, assim, aparecem como fragmentos manipuláveis, não como evidências de um macro-processo que explica, enquadra ou faz o personagem (e a comunidade) serem o que são. Como é na conversa, desde dentro da banalidade da cena cotidiana (a família do pescador Pirambu jantando e conversando depois da janta) que surgem comentários sobre o lugar que ecoam representações sociais, lugares comuns e contestações dos preconceitos (“ele diz que isso aqui é um chiqueiro, ele queria ter um chiqueiro desses”); bem como diferenças entre o passado e o presente, a partir de um comentário prático que leva em consideração a história recente e as mudanças sofridas (“nunca mais eu dormi direito”, diz uma mulher a Pirambu, referindo-se à mudança para o Conjunto Residencial Cordeiro, para onde alguns moradores de Brasília Teimosa foram removidos – “lá na favela eu dormia um pouco mais”). A evidência de que essas vidas fazem vizinhança e foram marcadas por um processo comum compartilhado (a reurbanização de Brasília Teimosa com a construção da avenida que dá título ao filme) as conecta sem produzir ou reiterar rígidos enquadres. O passado não explica tudo, não se faz repositório de sentidos, e sua presença em cena é tácita, não retórica. A diferença entre os dois filmes “rebate” no modo como o presente é montado em um e outro. Há, em ambos, o forte apelo à montagem interna aos planos. Em O Céu sobre os ombros, o plano fulgura, cintila, e essa cintilação dura, permanece: vemos, na duração dos planos, a performance – e mesmo a transformação – dos personagens. Ali, vão-se condensando gestos cotidianos, que se desdobram de si mesmos e em si mesmos, desvinculados, muitas vezes, de uma narrativa exterior ao plano: as orações de Murari; a escrita de Everlyn, seu rosto diante do ventilador; a apreensão de Murari em meio à explosão da torcida; o monólogo, em tons confessionais, de Everlyn deitada na cama, a luz da cidade oscilando sobre seu rosto; o encontro afetuoso entre Lwei e o filho; o longo travelling de Murari, a descer de skate uma avenida da cidade, à noite. Várias destas cenas – algumas enfatizadas pela música pop – soariam melodramáticas não fosse certa “austeridade” da tomada, sua duração em planos fixos e a atenção da câmera – em modo observacional – aos gestos e aos afetos. Geralmente, é de forma distanciada e fixa que a câmera observa a cena e a maior parte das imagens, como já mencionado, é feita nos espaços internos, no trabalho e em casa. Há assim certa irredutibilidade dos planos que não conectam, mas fulguram a solitude dos personagens: “grãos anônimos na poeira do visível”, diria Deleuze (1992, p.134). Entre um plano e outro, o cotidiano aparece segmentado, descontínuo, e os personagens se desdobram, como outros de si mesmos. Cortes descontínuos entre planos na montagem acentuam este “desdobrar-se”, que substitui o “continuar” de uma montagem clássica de ações individuais. Em Brasília, também notamos estratégias de montagem interna aos planos: elas são menos cintilações do que composições. Seja em seus enquadramentos rigorosos ou em seus desenquadres a fotografia revela uma composição de contrastes e contradições. Lembremos do plano geral que apresenta o deslocamento de barco de Pirambu e outros pescadores, com as “torres gêmeas” em quadro; ou da câmera em movimento que expõe, na cena em que Debora e Cauan dividem o espaço da praia numa manhã de sol, vários espigões em construção, um ao lado do outro, tendo pipas em primeiro plano – ambos parecem cifrar sinteticamente a especulação imobiliária e a verticalização do Recife, que aparecem, contudo, a partir da composição interna ao plano (cuja apresentação se conecta, antes de tudo, às vivências presentes dos personagens centrais). Mas os dois filmes diferem ainda na maneira como relacionam os planos. À cintilação, que, monadicamente, encerra-se em si mesma, na autonomia de cada plano, Brasília Formosa contrapõe os traçados, os trançados. Como bem apontou Migliorin (2010), o filme compõe, por polinização, uma rede de relações e circulações que guardam em comum o terreno disperso, mas denso, do cotidiano. A noção de rede poderia ser convocada aqui em seu duplo sentido: de um lado, a “rede” do filme (sua escritura) pesca, recolhe eventos e situações cotidianas, dos mais “robustos” aos mais “miúdos”, dos pregnantes de sentido aos insignificantes. De outro, ela articula e conecta, por vizinhança, personagens, eventos e situações, sem submetê-los a uma ordem narrativa coesa, mas produzindo interseções, encontros fortuitos, vínculos precários. Os personagens são acompanhados menos em planos fixos do que em seu deslocamento pela cidade, e vão traçando percursos, fazendo ligações que, apesar de frágeis, se inscrevem no filme compondo, repetimos, uma vizinhança (mesmo que uns tenham permanecido no bairro e outros tenham se mudado para o distante conjunto residencial). Os sujeitos, diria ainda Deleuze (1992, p.134), são “lugares móveis num murmúrio anônimo”. Elemento decisivo na composição dessa “vizinhança” é a trilha sonora, que urde na montagem um campo “sensível” a relacionar tacitamente os personagens e espaços percorridos. Mesmo que múltipla e inconstante, essa mistura sonora intensa (em que o silêncio quase não tem vez) produz conexões entre planos externos e cenas internas, entre espaços descontínuos (do salão de beleza na Brasília Teimosa ao pátio no Conjunto Residencial Cordeiro), como que sugerindo laços entre o “dentro” e o “fora” (a rua como espaço de trocas intensas, em contiguidade com o “dentro de casa”). A inconstância desta rica trilha é manifestamente trabalhada nos travellings (não apenas visuais, mas sonoros) que acompanham Débora e Fábio (sobretudo Fábio) em seus deslocamentos pela cidade. Estamos diante de uma “moldura” que não é retórica, mas visual e sonora: a entrada do Conjunto Residencial Cordeiro, à noite, de onde vemos alguém sair de bicicleta, silenciosamente. Percebemos que é Pirambu. Seu percurso pela cidade quase vazia é longo – vai da madrugada ao amanhecer –, o que indica a distância entre sua nova residência (o conjunto para onde foi removido) e o local de trabalho (no caso, o Rio Capibaribe). Ele percorre a cidade – sua trama de cruzamentos, luzes, fios, pontos de ônibus e cartazes –, atravessa o rio de barco e, no bairro, vai refazendo sua rotina: compra o pão, o refrigerante e o maço de cigarro; conversa ao telefone público, brinca com o bêbado, em uma cena que parece se repetir... Não há como não nos lembrar, aqui, da sequência de Murari em seu skate. Trata-se também de um belo travelling, espécie de enlace sensível entre o personagem e a cidade: na cena anterior, Murari assiste – indiferente – a um filme na televisão. Em um corte brusco – ressaltado pela música – vemos o personagem descer de skate, à noite, a avenida vazia, o vento sobre o rosto. Outro corte e ele picha a palavra “amor” em um muro. A sequência é interrompida e permanece irredutível: Murari e a avenida, o vento, a música. Nenhum encontro, nenhuma tentativa de vínculo que não este percurso sensível pela avenida vazia de carros e de pessoas. Outro é o percurso de Pirambu: ele se desloca da casa ao trabalho, liga o bairro distante àquele próximo a sua rotina de pescador. Aos poucos, e de forma gradual, o trajeto vai-se povoando de breves encontros. O percurso do pescador faz vizinhança: esta não é exatamente geográfica, nem propriamente sócio-econômica. Como diria Michel de Certeau, aquele que percorre a cidade “constitui com relação à sua posição, um próximo e um distante, um cá e um lá” (1994, p. 178). Continua o autor: “Pelo fato de os advérbios cá e lá serem precisamente, na comunicação verbal, os indicadores da instância locutora, (...) deve-se acrescentar que essa localização (cá-lá) necessariamente implicada pelo ato de andar e indicativa de uma apropriação presente do espaço por um ‘eu’ tem igualmente por função implantar o outro relativo a esse ‘eu’ e instaurar assim uma articulação conjuntiva e disjuntiva de lugares.” (p. 178) É assim que, enquanto se traçam os percursos dos personagens pela cidade, eles tramam a cidade e, ao mesmo tempo, tornam-se outros, se abrem às alteridades que ela propõe. A despeito de seu desenho segmentado, refratário ao didatismo, a montagem de Brasília Formosa preserva o traçado – breve e descontínuo – dos personagens pelo espaço, deixa-nos perceber como essa rede constitui a cidade na mesma medida em que a torna constituinte dos sujeitos. Em suma, nos diz Certeau, o ser se exerce em práticas de espaço, em “maneiras de passar ao outro” (1994, p. 190). Liminaridade Seja como padecimento – o céu sobre os ombros -, seja como algum pertencimento – a cidade sob os pés -, nestas obras, os personagens encenam seu processo de tornar-se outro, o modo como se “desidentificam” de si mesmos. Também esse processo é não teleológico – aí também o meio bebe o fim, em um contínuo desdobrar-se. Como vimos, em ambos os filmes o horizonte de expectativas dos personagens se apresenta menos como projeto (aposta utópica, transcendência) do que como permanente “se virar” no presente (em reiterada imanência). Seu espaço de experiência, contudo, não pode ser identificado ao espaço liso do capitalismo avançado de consumo: se a vida dos personagens não pode ser explicada ou narrada por meio de uma cadeia causal coerente, não se trata, por outro lado, de subjetividades fluidas, cujas “identidades” possíveis seriam tão numerosas quanto o são as ofertas e as demandas do consumo. Se os personagens parecem assumir papéis diversos, tantas vezes, desconcertando nossas categorias a priori, as passagens de um a outro não são nem coerentes nem fluentes. Elas não se fazem sem dúvidas, hesitações, sem angustia ou algum sofrimento. A imanência na qual os personagens vivem não é plana e se constitui asperamente, tanto pelas aflições da alma, quanto pela gravidade dos corpos. A presença dos corpos – nus, seminus – é uma constante em O céu sobre os ombros. Como vimos, a nudez não aparece como preparação mas como espécie de condição dos corpos. Algo que ressalta sua presença performática – um corpo se expõe e, ao se expor, se transforma, transformando também a cena de sua exposição –, assim como sua condição, digamos, liminar. Ao abordar a liminaridade da personagem de Je, tu, il, elle, filme de Chantal Ackerman, Ivone Margulies (2010) retoma a formulação antropológica (p. 41-42): em fase liminar, os indivíduos que atravessam ritos de passagem são desnudados, perdem suas características individuais e se preparam para assumir o novo papel social. Lembremos da definição clássica de Victor Turner, para quem as entidades liminares são representadas como se nada possuíssem. “Podem estar disfarçadas de monstros, usar apenas uma tira de pano como vestimenta ou aparecer simplesmente nuas, para demonstrar que, como seres liminares, não possuem “status”, propriedade, insígnias, roupa mundana indicativa de classe ou papel social, posição em um sistema de parentesco, em suma, nada que as possa distinguir de seus colegas neófitos ou em processo de iniciação” (TURNER, 1974, p. 117-118). Ainda para Turner, as entidades liminares se caracterizam por um misto de “submissão e santidade”, e parecem situadas dentro e fora do tempo, dentro e fora da estrutura social profana. Algo que – ressalvadas as diferenças em relação ao contexto de estudo do autor – se aproxima da experiência dos personagens no filme: no cotidiano – e não em um momento ritualístico separado da vida social –, eles parecem viver uma espécie de padecimento, em uma experiência liminar, de borda, situada, simultaneamente, dentro e fora do tempo, dentro e fora das estruturas sociais. No filme de Sérgio Borges essa liminaridade dos sujeitos se figura como transformação lenta, densa, angustiada (também porque ensimesmada) – mas, sim, em alguns momentos, também leve e desenvolta – no interior do plano fixo que dura. Em Brasília Formosa é difícil dissociar essa liminaridade da rede de situações e de relações cotidianas (como se o cotidiano fosse, ele próprio, um espaço liminar). Como diria Margulies, nesse caso, “a mobilidade é privilegiada em detrimento da finalidade”. De casa ao trabalho, do espaço doméstico aos espaços públicos, trata-se de um deslocamento não teleológico, mas não desprovido de lastro. Aqui também essa transformação se dá de forma lenta, lastreada pela experiência na cidade, esta que – motivo do filme – também passa por intensas alterações. Mas, nesse caso, os personagens parecem, mais frequentemente, convocar o outro, parecem consentir sua presença, e, por isso, o presente faz rede; na forma deste consentimento, o singular sugere – ainda que precariamente – um comum.3 Não sem algum esquematismo, arriscaríamos a dizer que, no caso de O céu sobre os ombros, esse desdobrar-se dos personagens – sua liminaridade – volta-se prioritariamente para dentro, em um engendrar-se da subjetividade de si mesma, em si mesma; no caso de Avenida Brasília Formosa trata-se antes de uma alienação, a subjetividade abre-se para fora, aliena-se de si mesma. A maneira como a religião aparece na vida de dois personagens é reveladora: Murari é hare-krishna e em 3 Há aqui ecos da formulação de Agamben (2009), em seu breve ensaio sobre a amizade. Esta, ele nos diz, é um tornarse outro do mesmo, uma “des-subjetivação no coração da sensação mais íntima de si”. A amizade é um “comsentimento do puro fato de ser”. (p.92). Podemos pensar também, com Nancy (2004), em um com-partilhamento, um comparecimento. Como escreve o filósofo, o ser é sempre em-comum, ou seja, ele é na medida em que se partilha, se expõe ao outro. A partilha é, aqui, passagem de um a outro. vários momentos do dia ele faz suas orações, canta seus mantras. Se as orações são constantes e presentes na vida do personagem, elas aparecem no filme sempre de maneira discreta, contida, murmurada. Mesmo na sequência em que aparece no templo, a entoar o mantra junto a outros companheiros, os gestos sugerem uma busca pessoal, no limite, solitária. Já Fábio é evangélico. Além de garçom e videomaker, ele dança nos cultos da igreja. Antes da apresentação, ensaia a coreografia, junto a uma criança que tenta, não sem algum desajeito, acompanhar os movimentos. Ainda não sabemos exatamente do que se trata. Ao final do filme, Fábio reaparece, agora no culto, acompanhado pelos músicos, vestido com uma roupa amarela, em uma coreografia carregada de dramaticidade. Ao contrário da oração quase silenciosa de Murari, a dança de Fábio transborda a cena. Seja em sua figuração contida ou coreográfica, a religião aparece nos dois filmes como um espaço de liminaridade: por um lado, ela não está separada da vida dos personagens, participa dela como outras atividades (o trabalho, o lazer...); de outro, a religião reaparece aí como uma experiência algo inusitada, como um “papel”, à primeira vista, inesperado, pouco congruente com os demais papéis sociais que exercem4. Essa experiência liminar dos sujeitos não pode ser medida pelo relógio, ela não é sequer mensurável. Como dirá ainda Victor Turner (citado por Margulies, 2010), trata-se de um tempo no qual “qualquer coisa pode, e mesmo deve, acontecer.” Em suas diferentes faturas, os dois filmes se aproximam no modo como figuram essa liminaridade, suas incongruências: eles procuram se manter no diapasão do cotidiano: qualquer coisa pode acontecer, mas nada acontece; nada parece acontecer, mas muito acontece aos personagens. Se esse “muito” aparece como “pouco” (nessa “poética do menos”), se esses acontecimentos não aparecem como revelação, é porque, como nos diz César 4 O céu sobre os ombros e, especialmente, Avenida Brasília Formosa põem em cena manifestações e práticas sensíveis, pelos personagens, sem julgamento, exotização ou hierarquia temática: o pagode, a dança de Fábio na igreja, as moças cantando na praia, o brega romântico dançado no bar. Como as outras práticas, a religião aparece em meio à cena cotidiana, sem excessiva ênfase: mais um “desdobrar-se”. Isso reforça, a nosso ver, a recusa dos dois filmes em se colocar à distância das vidas que apresentam. Muito presente na “pauta” temática do cinema brasileiro desde os anos 1960, a religiosidade dos pobres foi, não raramente, tratada com exterioridade crítica. Mesmo em ficções recentes, comparecem retratos de personagens “crentes” saturados de preconceitos e caracterizações negativas. Pela operações que buscamos aqui identificar, esses dois filmes evitam que seus personagens – e sua religiosidade – apareçam como “outro da urbanidade respeitável”, como escreveu Cezar Migliorin. Guimarães, o cotidiano “não guarda segredo algum, nada pode revelar, pois nada esconde” (2010, p. 190). Referências bibliográficas AGAMBEN, Giorgio. O amigo. In: Agamben, G. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó, SC: Argos, 2009. BERNARDET, Jean-Claude. Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Cia. das Letras, 2003. CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. 1. Artes do fazer. Petrópolis: Ed. Vozes, 2003. DELEUZE, Gilles. Um retrato de Foucault. In: Deleuze, G. Conversações. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992. GUIMARÃES, César. Comum, ordinário, popular: figuras da alteridade no documentário brasileiro contemporâneo. In: Migliorin, C. (Org.) Ensaios no real – o documentário brasileiro hoje. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2010. KOSELLECK. Reinhart. “Espaço de experiência” e “horizonte de expectativa”: duas categorias históricas. In: Koselleck, R. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. MARGULIES, Ivone. O índex corroído: liminaridade em Je tu il elle. In: Revista Devires, v. 7, n. 1, Belo Horizonte, UFMG, 2010. MIGLIORIN, Cezar. Escritas da cidade em Avenida Brasília Formosa e O céu sobre os ombros. In: XX Encontro da Compós, 2011, Porto Alegre. Anais do XX Encontro da Compós. Disponível em: www.compos.org.br. Acesso em: 29 set.2011. SARTRE, Jean-Paul. Aminadab, ou do fantástico considerado como uma linguagem. In: Sartre, J.P. Situações I. São Paulo: Publicações Europa-América, 1968. RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa. Tomo I. Campinas: Papirus, 1994. _____________. Tempo e Narrativa. Tomo II. Campinas: Papirus, 1995 . TURNER, Victor. O Processo Ritual: estrutura e anti-estrutura. Petrópolis: Vozes, 1974.
Download