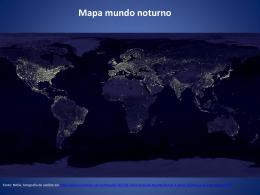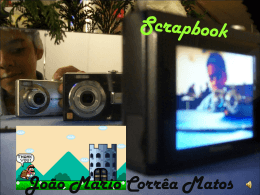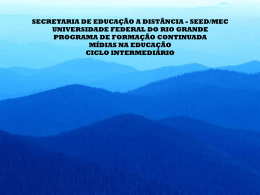1˚ Fórum Latino-americano de Fotografia de São Paulo Entrevista Miguel Rio Branco Iatã Cannabrava: Nosso entrevistado é Miguel Rio Branco, artista plástico, fotógrafo, cineasta, transita sem problema nenhum nestas diversas áreas de expressão. O universo de Miguel Rio Branco é o ser humano, a dor, a paixão e a vida. E isso ele traduz através da cor. O vermelho é uma das cores fundamentais no seu trabalho, e a importância que a cor e as texturas têm em sua obra vêm de sua formação como pintor. Para entrevista-lo, eu convido novamente nossa dupla dinâmica de entrevistadores oficiais do primeiro Fórum Latino-americano de Fotografia. Simonetta Persichetti, jornalista, crítica de fotografia, docente universitária. Ricardo Mendes, pesquisador, escritor e criador do site Fotoplus. E como entrevistador surpresa convido o fotógrafo, editor e curador mexicano Pablo Ortiz Monastério. Pablo foi fundador do Centro de la Imagen da Cidade do México, tem nove livros publicados e foi editor da revista Luna Córnea. Miguel Rio Branco: Eu vou falar um pouco sobre alguns aspectos do meu trabalho e vou tentar ver se a gente consegue fazer um sistema mais de entrevista do que apenas mostrar o meu trabalho e depois discutir. Tentar ter uma coisa um pouco mais dinâmica. No ano 2000 eu fiz uma exposição no Centro Helio Oiticica, no Rio de Janeiro. Era uma exposição que tinha instalação, audiovisual, pintura, fotografia, ou seja, tinha esses caminhos todos. E junto com o catálogo foi feito um CD-ROM que hoje ainda funciona nos PCs. Nos Macintosh’s isso já não funciona, porque é um dos problemas que eu acho que a gente está enfrentando hoje. As coisas são completamente perecíveis. A gente faz um CD-ROM que de repente já não vai funcionar mais. Esse CD-ROM, já mostra muito a questão do meu trabalho, inclusive usando essas novas tecnologias que não são tão confiáveis assim. A gente fez uma introdução bastante dinâmica, onde já tocando entrava o plano da exposição, que tinha várias situações. O CD-ROM foi criado com um amigo que trabalha com computador, Carlos Azambuja, que já foi fotógrafo e hoje em dia trabalha só com computador. Simonetta Persichetti: Eu já queria te fazer uma pergunta que acho que vai permear um pouco o seu trabalho, que é essa sua característica, desde sempre, de trabalhar as suas exposições, os seus livros, sempre juntando várias linguagens, várias formas. Tem a arquitetura, o espaço, o cenário, a imagem, a música... Os teus livros vêm acompanhados com DVD, onde a gente acompanha toda essa arquitetura. Eu queria que você falasse um pouco desse seu processo de criação, dessa integração que você faz entre as várias linguagens já há muito tempo, desde praticamente o início do seu trabalho até como pintor. Miguel Rio Branco: O meu início mesmo foi com o desenho, com pintura, e isso foi até 1968. Neste ano eu fiz 6 meses na Escola Superior de Desenho Industrial do Rio de Janeiro, mas era uma época que todo mundo estava mais correndo da polícia do que outra coisa. Havia a questão se o desenho industrial funcionaria no Brasil, porque a realidade brasileira era muito diferente, não se sabia da necessidade do desenho industrial no país naquela época. Então eu comecei a entrar em cinema e em fotografia ao mesmo tempo, ou seja, eu fui juntando aprendizados em geral, aprendizados que não foram adquiridos somente na escola. Aqui no Brasil teve uma época em que era trabalhando que as pessoas aprendiam, e eu faço parte dessas pessoas. Fui autodidata em pintura. Em fotografia, eu tinha feito um curso de um mês em Nova York, o que era suficiente, na verdade, pra te dar uma base para trabalhar. E a medida que o tempo foi passando eu fiquei entre a questão da pintura e da fotografia. A fotografia em cinema ficou sendo o meio principal pra mim de 1968 até 1985, praticamente, quando eu voltei a pintar também. Entre tempos, a fotografia sempre foi feita de uma forma onde a questão da montagem e a apresentação, em termos de exposição ou em termos de livro, eram sempre tão importantes quanto fazer as imagens. Hoje em dia, inclusive, as imagens eu quase não estou fazendo. A parte de estruturação fica até sendo mais interessante. Mas naquela época isso foi me formando, a montagem de cinema, a construção onde a narrativa poderia ser tradicional, que contasse alguma coisa. Então, eu acabei optando por uma questão muito mais poética, não-linear. Por isso foi uma questão de eu mesmo não ser uma pessoa linear. Eu não consigo contar uma história sem ter “flashbacks”, sem ir para frente e para trás. Ricardo Mendes: Só complementando, Miguel, você que teve próximo do cinema, tem esse DVD, outro livros também trabalhados com DVDs, eu tenho uma curiosidade. Você nunca experimentou a internet como meio, não de difusão, mas de expressão, como um outro tipo de suporte? Miguel Rio Branco: Não, ainda não. Você sabe o que acontece. Eu boto a coisa na máquina e a máquina não funciona. Ricardo Mendes: Mas nem por isso você deixou de fazer o DVD... Miguel Rio Branco: Demora, ela fica pensando. Não dá. Eu não posso confiar na questão da internet ainda porque primeiro eu não tenho a paciência pra ficar esperando que a máquina decida por mim, entendeu? A questão dos equipamentos hoje é a mesma historia. Você tem câmera de vídeo absolutamente “performante”, só que de repente ela fica pensando, né? Você já podia ter feito varias imagens, por exemplo, no caso de fazer fotografia, mas a máquina está pensando. Esta pintura que mostro agora é de Nova Iorque, de uma época que meu pai era diplomata. Ele estava em Nova York e eu estava acabando os estudos, já pintava há uns 3 anos. Foi uma época onde a minha pintura já tinha a questão das cores que vocês vão ver nas fotografias. A questão da textura, a própria eleição da construção. Isso seria uma primeira fotografia interessante, latino-americana por sinal, feita na Guatemala, ainda na época que eu pintava. Eu, depois de 1968, realmente parei de pintar porque a dinâmica da fotografia e do cinema em relação a um público maior sempre foi uma coisa mais intrigante, e não tinha aquela questão que eu estava vivendo um pouco nas artes plásticas, que eram os vernissages, uma certa arrogância, que enfim, continua até hoje. Mas a fotografia me deu uma espécie de sentimento mais autêntico. Em 1970, acho que quando eu realmente aprendi algo, foi em Itaparica, numa filmagem do Arnaldo Jabour, onde o diretor de fotografia Affonso Beato me chamou pra fazer o still do filme. A maior parte das imagens - essa que estou mostrando é uma das poucas imagens que sobraram -, numa tentativa que eu tive de morar em São Paulo em 1980, pegaram fogo. Nesses três meses que eu passei em Itaparica, eu fazia slides, fazia preto e branco, fazia fotografia 6x6, revelava e mostrava. Ou seja, havia uma edição que era mostrada à equipe das cenas da filmagem e isso já me deu essa estrutura de edição, já me fez pegar um conhecimento desse tipo de apresentação. E essas apresentações de diapositivos acabaram sendo uma base de construção. Esta imagem é em Nova York, em 1970. Eu fiquei de 1970 a 1972 praticamente fotografando nas ruas. Também fui lá para estudar no School of Visual Arts, que eu sai depois de um mês também, porque a estrutura de ensino, pra mim, não funciona. E eu acabei fotografando nas ruas, conheci vários artistas brasileiros, e acabei conhecendo o Hélio Oiticica, que foi uma pessoa cujo trabalho eu não conhecia nada. Mas ele me dava uma força, um incentivo muito forte em termos de ter uma câmera de super 8 com a qual fiz vários filmes nessa época também. Então tinha um lado que era da rua mais dura, e o lado, eu diria, dos meus filmes, que era mais positivo. No meu trabalho tem sempre uma dualidade entre sexualidade e morte, entre dor e prazer. Eu voltei pro Brasil em 1970, onde fazia mais fotografia de cinema. Fiz still de um filme apenas, o Sagarana, do Paulo Thiago, e fiz um trabalho de encomenda através da Magnum. O meu primeiro contato na Magnum, na verdade, foi em 1972, na época que Charles Harbutt era o presidente. Mas os meus interesses eram muito mais conectados com o cinema e não tanto com a fotografia. Eu fiz um trabalho que era para um audiovisual educativo, feito em Campos. Aí eu já venho para um trabalho em papel, que é relacionado a 1974 mas foi feito posteriormente, um trabalho que tem uma conexão direta com uma das imagens que eu gosto muito que é a imagem da Monalisa, que foi um trabalho numa área de meretrício perto de Brasília (em Brasília mesmo parece que não tinha meretrício). Ficava na cidade do lado, não sei se isso ainda acontece. Em 1976, fiz um trabalho em Carnaíba, que era um garimpo de esmeraldas. Este trabalho foi mostrado pela primeira vez em 1978 na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e também em uma exposição em 1979 no MASP e já tinha muito a questão da fotografia com a collage e com a construção. O trabalho era todo colado em papel carne seca. Já essa imagem foi em 1980 e eu já estava trabalhando assim, ao invés de ser na parede, o trabalho estava suspenso, criando uma espécie de pequeno labirinto. Algumas dessas peças estão sendo mostradas no Instituto Tomie Ohtake em uma exposição dos anos 1970. Essa mesma exposição foi mostrada no ano passado em um museu em Groningen, na Holanda. Ricardo Mendes: É a série Negativo sujo? Miguel Rio Branco: Isso mesmo. Foi uma exposição que usava fotografia, cinema e impressões em materiais diversos, tinha uma peça que era toda impressa em voil. Eram nove salas, tinha Entre os olhos e o deserto, que virou um livro pela Cosac Naif; tinha o filme Nada levarei quando morrer projetado em tela; Out of Nowhere, que é uma peça mostrada em Havana, em 1994. Era uma exposição bastante complexa, talvez até um pouco demais porque era muita informação. Em 1979 tem o trabalho que eu fiz durante seis meses fotografando o Maciel [área no Pelourinho, Salvador], levando retratos para as pessoas, ou seja, havia um pouco de troca. Um pouco porque eram retratos que eu fazia e o meu trabalho ficou diferente disso, apesar de várias vezes aparecerem retratos no meio do trabalho. E praticamente os nus e tudo isso foram imagens que acabaram nunca sendo mostradas em Salvador por pedidos das meninas. Eu sempre achei que fazia uma questão documental mais tradicional. Hoje em dia eu vejo que o resultado não era bem isso. Eu tinha uma leitura um pouquinho mais adiantada em termos de informação. Tinha um lado simbólico, tinha uma questão da cicatriz do lugar e das pessoas, a ponto de mostrar esse filme há uns dois anos atrás em Paris e ser um filme que tem ainda uma construção que permite que não envelheça tanto. Podia ser um pouco mais curto hoje em dia. Ricardo Mendes: Miguel, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Não querendo ir para o lado anedótico, mas eu sempre fui curioso da sua presença. Você tem sempre muitas imagens de zonas de meretrício. Como que você, o homem branco ali, classe media, se inseria ou se aproximava? Eu sempre fiquei muito curioso dessa convivência. Miguel Rio Branco: Eu não tinha. Eu comecei indo lá e fazendo retratos. Esses retratos viravam os monóculos e os monóculos eu colocava em um saquinho e as pessoas muitas vezes pediam para eu ir fazer retratos da família... Então acabou sendo um pouco o meu passaporte. Tinha esse trabalho que era puramente retratos e tinha o trabalho que acabou virando isso. Porque eu fotografei por seis meses, filmei durante três dias, no começo de 1980, e a montagem foi feita no ano de 1980 e acabou em 1981. São outros processos. Pablo Ortiz Monastério: A mi, además de preocuparme por como lo hacías, me interesa para qué lo hacías. O sea, ¿Era una búsqueda de la belleza o era por otra razón que te ibas a meter allá? Miguel Rio Branco: Yo he vivido una gran parte de mi vida hasta los años 1970 fuera de Brasil. Quando eu comecei a fotografar no Brasil eu não entendia, e continuo não entendendo, porque essa distancia e miséria é tão forte, mas ao mesmo tempo que é muito forte existe um poder de reação na vida destas pessoas. Eu tinha feito um trabalho sobre o menor de rua em 1979 para a revista GEO, passei por Salvador e conheci essa área do Maciel, no Pelourinho. E obviamente me interessou porque tinha questões além das questões das paredes, dos lugares caídos. Um lugar histórico totalmente caindo aos pedaços com a marca de tempo muito forte, tinha uma sexualidade que era um pouco uma reação contra essa questão da morte. Havia várias questões que me atraíam ali. Uma força de reação nessas mulheres que praticamente só fotografei de dia. Eu estava na época casado com a irmã do Mario Cravo Neto, a mãe do meu filho. Então eu ia lá para fotografar. E aquilo tinha um visual... primeiro que Salvador já tem uma luz absolutamente fantástica. Todos os elementos em termos de cor, de pessoas e de drama estavam ali, apesar de existir esta força de reação. Então o que me interessou foi isso, era uma questão existencial mesmo, de achar alguma coisa que pudesse me explicar um pouco. Pablo Ortiz Monastério: Y en esta misma línea, las cicatrices aparecen por todo los lados, o sea es una presencia muy grande. ¿Tu dirías que las cicatrices son bellas? Son hermosas? Me explico: sin duda alguna implican dolor, implican huellas de tiempo, de cosas pasadas, etcetera, pero está unida a estas imagens sensuales y de sexualidad una presencia de las cicatrices. ¿Que hay? ¿Belleza, dolor? Miguel Rio Branco: Eu acho que a cicatriz tem haver com a dor, mas ela tem haver sobretudo com questões que são um pouco diferentes de uma cicatriz em pessoas brancas. No africano, é também usada como uma forma de iniciação. Por exemplo, você vai no candomblé e tem uns cortes que você faz no braço que ficam marcados, que é uma maneira de você proteger seu corpo. Salvador, sendo muito africana, tem essas marcas de cicatrizes, que algumas vezes podem ser até infringidas pela própria surra. E algumas talvez sejam como uma espécie de tatuagem. Agora algumas realmente são de violência, são de tortura. Tinha uma que tinha uma cicatriz em formato de caju que tinha sido feita pela polícia com cajus quentes. O meu trabalho muitas vezes tem um lado que vem do meu inconsciente. Ele não vem de uma proposta racional. Eu vou agora fotografar isso porque vai ser interessante para as pessoas verem ou para eu explicar alguma coisa. Eu faço muitas vezes como uma questão de entender o que é esse mundo e como é que eu fico na frente dele. Isso não foi uma trabalho que foi feito como uma questão de denúncia específica, apesar de no começo ter tido um pouco disso. Era uma denuncia porque eu achava aquilo absurdo, mas nunca consegui colocar muito dessa maneira, esse filme está sendo visto mais hoje em dia do que naquela época. Pablo Ortiz Monastério: A mi me queda claro revisando tu trabajo, que he visto tantas veces, que hay un impulso intuitivo, inconsciente, que te lleva a hacer cosas. Pero luego el montaje, inevitablemente es una construcción más racional, hay múltiples opciones que tu vas construyendo que, sin dudas alguna, tendrán una parte intuitiva y una parte que no. Uno no sabe desde donde toma las decisiones, pero también es Miguel Rio Branco, racional, inteligente, culto, que ha visto todo el mundo y que ahí está metiendo… Miguel Rio Branco: Sim, as duas coisas existem. Muitas vezes no momento de fotografar, a relação com as pessoas é muito mais intuitiva do que “alemã”. É uma coisa de ter que sentir um pouco as pessoas. É uma questão da fotografia que sempre me interessou muito. Um contato mais direto, mais envolvente. Mas claro que quando eu finalizo o trabalho eu tenho que racionalizar, porque senão vira uma porcaria. Ricardo Mendes: Continuando um pouco mais na temática do Pablo, existe um elemento muito presente na sua obra, que você mesmo falou aqui, que são os animais. Principalmente a matança, que está muito próxima talvez da questão da cicatriz. Por exemplo, os cães, que estão sempre presentes. Algumas imagens de cães, como aquele cão quase esmagado, quase textura esmagada sobre o chão, sempre me atraiu profundamente. Eu fico muito curioso de como você vê essa relação com a natureza, essa presença do cão. Qual é o teu caminho em relação a isso? Miguel Rio Branco: Os cães que eu tenho feito, em geral não estão na natureza. Eles tem uma liberdade por viverem nas ruas. Se estivessem na Europa, eles estariam mortos provavelmente. O cachorro de rua representa uma relação solitária, machucada, sofrida. O cachorro até do índio é também muito sofrido, mas ele tem uma liberdade... Ricardo Mendes: Eu entendo como um representante da natureza que é um parceiro do homem nessa mesma relação de dor e sobrevivência. Essa é a minha interpretação. Miguel Rio Branco: É um pouco isso. Tem um cachorro que aparece no trabalho como um cachorro-homem, que muitas vezes aparece junto com outro homem que também está deitado. Ele é quase como um mapa da vida, da dor, do que você já passou. Nesse ponto, é obvio que existe uma riqueza de drama nessas imagens. Ricardo Mendes: A persistência da vida no cachorro. A simbologia... Miguel Rio Branco: Eu penso que eu sou cachorro também. No horóscopo chinês eu sou cachorro. Deve ser por causa disso... Ricardo Mendes: Você tem cachorro? Miguel Rio Branco: Cachoro, gato, peixe... Simonetta Persichetti: Gostaria de voltar ao que o Pablo estava falando. Saindo do lado instintivo da tua fotografia, queria falar sobre o trabalho de edição, que você já falou que tem que racionalizar. Ao mesmo tempo, os teus livros propõem quase sempre leituras múltiplas, especialmente Entre os olhos e o deserto. É uma generosidade tua com o leitor ou faz parte dessa tua angustia de não saber como encaixar esse mundo que você fotografa? Miguel Rio Branco: Não, ele se encaixa. O Entre os olhos e o deserto, na verdade, foi uma encomenda cultural para o In Site em San Diego em 1997, e resultou em um audiovisual de uns 40 minutos. É talvez o trabalho mais lírico que, inclusive, não tem tanta dor. Pode ter uma certa melancolia, mas era uma época que minhas filhas eram mais jovens e eu estava vivendo uma época menos pesada e mais positiva. Para mim, o trabalho tem muito a haver com o que você sente, não é um trabalho distante da minha vida, na verdade. Essa questão foi se multiplicando quase que como um baralho. Em um trabalho que eu fiz em 1983, Diálogos com Amaú, que eram cinco projeções que foram mostradas na XVII Bienal Internacional de São Paulo, eu estava usando um computador que tinha uns alfinetes que a partir de um programa de ritmo mudava as imagens. Tinha sempre o Amaú, que era um índio surdo e mudo que dialogava com imagens da sociedade brasileira. Já era uma maneira de criar quase um ritmo. O trabalho Entre os olhos e o deserto tem essa multiplicidade de conexões, só que não são quaisquer conexões. Aí elas estão com uma razão específica, tanto no livro quanto na projeção, têm um começo e um fim. [inicia projeção] Esta imagem foi feita em Xique-xique, no sertão da Bahia, onde tinha uma cabeça de boi no mercado e uma moça passando perto com o vestido vermelho. Tem essa dualidade da bela e a fera. Na mesma época eu estava pintando em outra parte das telas. Essa conexão entra fotografia e pintura é um vai e vem, vou para um e vou para outro, e um traz coisas para o outro. Não é apenas porque a fotografia foi pintada ou trabalhada que ela é considerada artística, só porque foi manipulada. A fotografia sozinha, sem ser manipulada, é arte também. Este é um trabalho de 1984 que se chama Blue Tango, um trabalho que tem essa conexão, é extremamente gráfico, onde a manipulação não vem em lugar nenhum, é simplesmente por justaposição. Nessa imagem é o Amaú, um índio kayapó que virou ator nesta instalação onde as projeções eram feitas em voil. Tinha uma trilha sonora, mas acabei esquecendo dela. Já este trabalho foi feito em 1983, nos Kayapós, junto com o Amaú. Nessa época eu estava como nominado na Magnum e comecei a me dar conta que meu interesse primordial, mais do que fazer trabalho sempre para revistas, era ter uma liberdade de criação que me permitiria desenvolver uma série de trabalhos mais abertos, como vídeo. A Magnum hoje em dia está de outra maneira. Existe uma renovação muito forte em termos de autor e em termos de criação artística. A questão de voltar à pintura em 1985 também tem uma conexão direta com essa experiência que eu tive nos Kayapós, tem a parte do som que eu gravei de várias danças de iniciação e a parte de realmente ter uma vida onde o stress talvez não seja tão grande e a questão profissional também não. Em 1992, eu voltei tentando fazer um trabalho diferenciado. Eu estava fotografando em 6X6 com uma outra visão. E na verdade não deu muito certo. A tribo tinha mudado muito, havia uns jovens na tribos que queriam mais dinheiro do que outra coisa. O trabalho foi para Stern Magazine naquela época. Outro trabalho bastante conhecido, Barroco, possui uma construção que parece aleatória, mas na verdade não é. Tudo está conectado, existe uma relação com a questão católica com imagens feitas em vários lugares diferentes. Para mim, usar vários lugares era mais interessante que ficar preso a um tema, enquanto no começo eu tinha trabalhado muitos temas ou achava que estava trabalhando. Estas são imagens que também viraram um livro, Silent Book, da Cosac Naif. Aqui a imagem acaba sendo sempre mais importante do que as explicações. Esse livro possui imagens feitas na Espanha, em Portugal e no Brasil, na academia Santa Rosa, pela bolsa que eu ganhei com a Fundação Vitae. Acabou que eu nunca fiz um livro realmente sobre a academia Santa Rosa. Acabou se misturando com outras questões e criando uma nova poética. Essa imagem é em Havana, em 1994. Em 2001 também passei por lá. É um trabalho ainda meio inédito, apenas publicado em um calendário da Burti. São trabalhos que tem que ser ainda colocados para fora. Existe uma outra instalação feita em Havana em 1994, onde a questão da fotografia fora do contexto também me interessou. Eu usei as fotografias da academia, fotografias de várias épocas do meu trabalho, imagens de jornais encontrados na própria academia ligando ideias de corpo e de tempo. É uma instalação chamada Out of Nowhere, que foi mostrada em vários lugares, e a última vez aqui no Brasil foi na Casa Vermelho, durante a Bienal de Curitiba. É um sistema de montagem que volta às minhas colagens de pintura, às minhas colagens do preto e branco e ao meu sistema de fazer “colchas de retalhos” com imagens significativas. Dessas imagens, várias delas podem funcionar perfeitamente de forma individual, mas talvez eu tenha um prazer maior em criar um ritmo com isso, inclusive em uma exposição que eu fiz na Galeria da Magnum em 1985. O Dennis Stock, que é um fotógrafo muito interessante e com uma sensibilidade extraordinária, me disse: “o seu problema, Miguel, é que você tenta fazer música com fotografia”. Eu não via isso como um problema, é uma questão de criar um ritmo. Acho que ele também não via como um problema, mas é que eu dou uma ênfase de colocar mais imagens. Agora vou mostrar um audiovisual sobre o livro Entre os olhos e o deserto. Esta por exemplo é uma imagem que não é quase nada. Se chama Teoria da Cor, que foi um título que um dos meus assistentes na época, Matheus Rocha Pitta, deu e eu achei ótimo. Pablo Ortiz Monastério: Yo tengo una asociación de los trípticos con una relación directa y cercana a la tradición cristiana. Es Cristo y estos otros dos que lo acompañan, en una imagen central y estas otras dos… ¿Para ti tiene esta asociación? Porque sí veo que en este libro en particular el tríptico está muy presente. Y luego tiene que ver con otra pregunta que Alexis Fabry hice otro día. Yo he visto que haces tus exposiciones cada vez más grandes, enormes y en cambio veo que tus libros están cada vez más chicos, como este último, que está divino. A mi también me gustan los libros pequeñitos, pero debe haber una razón oscura, brava, tremenda, pavorosa, perversa… Miguel Rio Branco: O livro que pode ser colocado no bolso é muito mais prático. Além do mais, eu acho que se cria com um livro pequeno uma maior intimidade com o que você está vendo. Então quando eu faço as exposições, gosto de ter espaço. Ultimamente, fiz várias exposições e são todas em espaços grandes. Em Arles, em 2005, fiz uma exposição onde o espaço da catedral se conectava muito bem com o trabalho. Existe a questão arquitetônica com a qual se começa a conectar. Cada espaço precisa ter uma adequação. Os livros de tamanho maior que fiz, o Nakta, por exemplo, que foi feito na Bienal de Curitiba em 1996, e outro livro que eu fiz 2005 na Maison Européenne de La Photographie, já são um tamanho um pouco maior, mas eu continuo gostando mais de um trabalho com um tamanho mais intimista, que você pode ver em qualquer lugar. Não precisa de uma mesa para poder apreciar as imagens. Sobre o tríptico e a questão católica: houve sim esta relação com a religião nos trípticos, onde havia uma parte colorida no meio e preto e branco dos lados. Já os significados de Entre os olhos, o deserto já não vêm mais de uma questão tão católica assim, apesar de seguir existindo. O elemento cristão presente no trabalho tem mais a ver com uma ideia ligada à dor que temos nos países latinos, não só da América Latina, mas também na Itália, Espanha, Portugal. Mas eu já fiz outros trabalhos onde tinha uma imagem colorida no meio e preto e branco dos lados. Ricardo Mendes: Eu nunca tinha visto uma montagem de Negativo Sujo e pra mim foi muito importante porque sua obra sempre tem sido marcada pela referência à pintura, ao desenho, à textura e tudo mais. E de repente me pareceu muito claro, mais que a questão do cinema ou uma tentativa de uma narrativa linear, desde um primeiro momento uma busca por uma narrativa do espaço... Miguel Rio Branco: O espaço das exposições realmente me parece essencial. Não adianta fugir do espaço que senão não se consegue fazer uma boa exposição. O livro já é outra história. Ricardo Mendes: O que eu queria apontar é que o Negativo Sujo, naquela montagem, traz a questão de uma narrativa que não é mais linear, é uma narrativa que se dá espacialmente. Me parece muito mais adequada na aproximação do que apenas ver a sua obra na relação com desenho ou a textura. Miguel Rio Branco: Acho que existe relações com várias questões. Não adianta a gente querer dizer que é só a pintura, porque é muito mais cinema, é arquitetura também... É um pouco o que eu vejo ao meu redor na vida mesmo. Eu não tenho uma formação de história da arte com referências. Minhas referências, inclusive fotográficas, sempre foram de fora. Eu passei dois anos em Nova York, entre 1970 e 1972, onde eu não vi um trabalho sequer de fotógrafo. Meu contato era com artistas plásticos e com cinema. Cinema que eu via muitas vezes na televisão à noite, filmes antigos americanos. Minhas influências são de coisas muito corriqueiras, não é intelectualizada. Quando o Pablo perguntou do tríptico católico, é uma realidade do tríptico, mas ele já virou outra coisa, não ficou somente na referência religiosa. Ricardo Mendes: O que eu queria apontar é que essa estratégia de edição está bem ligada à questão da narrativa do espaço. Uma coisa que se vê há mais de 20 anos claramente nessas suas instalações... Miguel Rio Branco: Nunca foi uma coisa extremamente consciente, mas uma coisa de sair um pouco da parede. A instalação de Diálogos com Amaú, em 1983 na Bienal de São Paulo, era uma sala com cinco telas transparentes que se podia ver o de dentro e o de fora. O espaço virava fluído. PERGUNTAS DO PÚBLICO André Cypriano: Minha curiosidade é com relação aos sentimentos que você tem hoje com o Pelourinho e se o vermelho tem alguma relação com Exu? Miguel Rio Branco: Tem relação com Exu, tem relação com sangue, tem relação com Coca-cola... E com relação ao Pelourinho de hoje, eu não conheço, faz muitos anos que eu não vou à Bahia. Imagino que não seja tão diferente, porque as coisas são renovadas, mas acabam caindo de novo. A questão do trópico, da umidade, a própria educação das pessoas. Simonetta Persichetti: Saindo um pouco de tudo, me ficou uma dúvida nessas mesas e nesses debates, principalmente quando se falou do mercado da fotografia, de como realmente a fotografia acaba sendo vista. Não sei se o problema é do galerista, do museu, do curador, do próprio artista. Como você vê o artista que se insere nesse mercado? Porque ficou uma sensação muito pessoal, e espero que completamente errada, de que a fotografia ainda é vista um pouco de lado. Miguel Rio Branco: Nos Estados Unidos tinha e ainda tem um mercado muito grande de fotografia tradicional e hoje isso está mudando, mas no sentido de que ainda existe uma diferenciação entre um fotógrafo que faz uma fotografia tradicional e o que é artista. Essa fotografia tradicional ainda não é vista exatamente como artística pelo sistema da curadoria, dos museus e por muitas galerias que ainda continuam achando que aquilo não é tão artístico assim porque não tem uma ideia conceitual primaria, mas acaba sendo colocada à frente com apoio de curadores ou pessoas que são consideradas importantes na área de artes plásticas. Os curadores na área de fotografia ainda são olhados de uma maneira inferior aos curadores de artes plásticas. Pablo Ortiz Monastério: Yo quiero volver a tu trabajo, Miguel. Yo tuve el privilegio de hacer un libro con Rio Branco hace muchos años en México. Llegó y se quedó 42 días en mi casa. Así le conocí y de verdad lo digo, fue un privilegio. Yo veo una gran diferencia. El libro se llamaba Dulce sudor amargo. El trabajo de aquellos años, a lo que he podido revisar estos días, yo tengo la impresión que te has ido alejando de la representación de la cara. Ya no hay más rostros, ya es todo segmentos. Eso implica abandonar el individuo o de que va? Miguel Rio Branco: A questão de fotografar gente chegou em um momento em que comecei a ver as marcas e os traços que a pessoa deixava. Eu conseguia mostrar uma pessoa sem mostrar a pessoa e também sentia uma necessidade de abstração em um mundo onde o retrato das pessoas são absolutamente presentes, de uma forma gigantesca, todo mundo fotografa todo mundo. E eu fico meio me sentindo sem graça. Por que será que está todo mundo fotografando e querendo ser fotografado? Uma das revistas mais vendidas se chama Caras. Todo mundo quer ser visto ou é uma predisposição a uma grande catástrofe, em que tudo que vai sobrar serão essas fotografias? Uma espécie de bomba de nêutron, onde só vai sobrar esses retratos das pessoas. Eu acho que tem uma coisa muito esquisita, muito estranha. Por que será que todo mundo fotografa gente o tempo todo? O que isso quer dizer? Acho que a humanidade as vezes pode ser representada por detalhes que não são exatamente a pessoa, o olhar dela. Pergunta do público: Você falou das fotografias na Bahia, que você começou pensando na denúncia e depois partindo para outra coisa. Me parece muito claro que você utiliza sua fotografia para se expressar, como uma relação pessoal com o mundo. É possível falar que essa fotografia te mudou ou você só estava se expressando? Miguel Rio Branco: Ela sempre muda. Você tem sempre um conhecimento que vem das imagens que você faz. Por exemplo, na estadia que tive na tribo Gorotire/Kayapó duas vezes durante quinze dias, eu fiquei gravando umas danças rituais que duravam a noite toda, e isso me mudou mais do que todas as fotografias que eu fazia. Porque trabalho de fotografia que possa mudar tem que ser diferente, com uma conexão maior com as pessoas. Eu não tenho mais fotografado gente. E você tem que, talvez, acreditar mais nas pessoas. Tem horas que eu não acredito tanto assim nas pessoas. A gente vive uma época onde as pessoas já não se juntam mais, todo mundo quer virar um profissional, ganhar dinheiro e ficar muito bem de vida. Cada um por si, Deus por todos. Então, existe a questão da fotografia com a questão humanista, como é por exemplo o caso da Susan Meiselas, e ela pode ajudar muitas pessoas. No meu caso já não funciona mais, ou seja, minha fotografia mudou com um aprendizado enorme em relação à estética, em relação à emoções minhas que eu possa transmitir a partir da fotografia ou a partir de um audiovisual. Mudou para mim nesse sentido. Eu tenho trabalhado ultimamente com projetos onde entram as árvores em sua essência, não como o Sebastião Salgado, que está fazendo um grande projeto, mas é aquela coisa da árvore ela mesma, sentir a questão da vida na natureza, que acaba sendo sempre a maneira que a gente se safa. A natureza sempre traz uma sensação mais calma para gente. A fotografia tecnológica hoje em dia me traz muito pouco. Somente está trazendo algo no momento das construções dos livros e das exposições. Mas tenho feito pouca fotografia. Os últimos trabalhos que eu fiz foi em Tóquio este ano e com aquele filme Babel, há uns dois anos atrás. Porque Tóquio talvez seja uma sociedade que me traz um pouco mais de esperança de que as pessoas possam se entender, pelo respeito que elas tem entre elas, apesar de ser uma cultura mais rígida na questão de respeito às leis (que a gente por exemplo não é....). Se a fotografia mudou a minha vida? Mudou sim no começo, mas acho que seja um conjunto de coisas. Ela sozinha não muda minha vida. Pergunta do público: Me causa curiosidad en sus presentaciones audiovisuales la selección de la música. A mi me reacciona personalmente como un poco casi explícita la música que pone, siempre muy conocidas o que casi van de alguna manera explicando las imágenes. ¿Cuáles son tus sentidos de la elección de la música? Miguel Rio Branco: A música que foi usada no filme Nada levarei, é uma música que tinha muito a ver com as que eram tocadas no próprio local, ou seja, eram utilizadas de uma maneira quase documental. Era Bartô Galeno, Roberto Carlos, eram músicas especificas usadas de uma maneira praticamente documental e com o caráter emocional que elas trazem. No caso do Entre os olhos, o deserto, eu usei Erik Satie, músicas de balé, tem guitarristas que tocam... foi o último trabalho, inclusive, onde eu usei músicas já existentes. Ultimamente, trabalho com músicos que compõem as trilhas para as instalações. É uma necessidade que eu tenho, talvez uma grande frustração minha de não ter sido músico ao invés de fotografo. Talvez eu teria aprendido mais, ao menos em relação a tocar com outras pessoas. Fotógrafo é uma pessoa muito sozinha. Para mim é muito normal por conta do cinema, onde eu vejo trilha sonora como um elemento importante. Pergunta do público: Como você produz os seus trípticos? Você disse que trabalha de uma forma bem intuitiva, então a minha pergunta é: quando você está trabalhando, você simplesmente sai coletando as imagens e depois que elas estão prontas você olha como se fosse um quebra-cabeça e monta, ou você já tem uma pré-noção do que você está buscando no momento de fotografar? Miguel Rio Branco: Eu vou fotografar em geral com uma ideia de mais ou menos o que eu vou querer, mas não na parte da construção. Isso realmente vem depois. As imagens são feitas, são coletadas, e ás vezes demoram meses até que eu trabalhe com elas. Não é feita a priori. Eu gosto muito dessa possibilidade que a fotografia dá de achar objetos, pessoas ou situações. Existe uma idéia do objeto encontrado, que é muito rica para mim. Você pode sair a um lugar, sabe mais ou menos o que vai encontrar ou acontecer, mas não sabe realmente o que pode conseguir. Somente depois de ver as imagens é que eu construo o trabalho.
Download