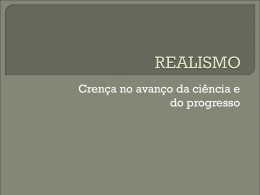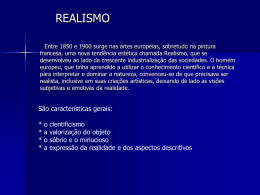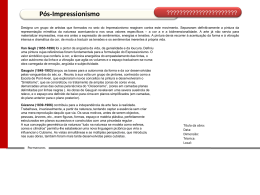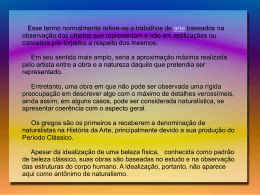FINGERMANN E OS DILEMAS DA PINTURA ATUAL Daniel Piza Artista inaugura mostra e lança livro para reclamar da falta de debate no país. A carreira de Sergio Fingermann é exemplar dos desafios que a pintura brasileira, e não só ela, enfrenta atualmente. Fingermann, 48 anos, tem um trabalho desenvolvido com integridade desde 1975, como se verá na exposição que o Instituto Moreira Salles inaugura no Rio no dia 18 ( e que vem a São Paulo em novembro), e tem um consciência crítica sobre esse trabalho e sobre a pintura em geral, como se lerá no livro que escreveu, Fragmentos de um dia extenso, editado pela Bei Comunicação para ser lançado simultaneamente à exposição. E Fingermann está incomodado com a falta de rumo e de debate no meio artístico brasileiro. “Acho que é hora de me comunicar mais diretamente”, diz Fingermann em seu ateliê na Vila Madalena, o qual pertenceu a Yolanda Mohalyi, artista de origem húngara que foi sua professora de desenho no início dos anos 70. “Sinto falta de uma interlocução maior entre a pessoas interessadas em arte aqui no Brasil”. Fingermann, que estudou em Veneza, freqüentou a escola de arte Brasil, se formou em arquitetura na USP e é professor de pintura, além de ser casado com uma psicanalista francesa, é um dos mais bem articulados artistas brasileiros. O que estará disposto a fazer agora é sair do ateliê e lançar discussões sobre arte no espaço público, rompendo o que vê como um crescente ensimesmamento do pintor brasileiro. O livro nasceu dessa reação. É como uma colagem de reflexões sobre a pintura, sobre seu campo específico, mas partindo de um princípio concreto, livre de conceitualismos que dominam a área: “A prática da pintura”, escreve, “contém um questionamento contínuo da experiência de seu fazer”. Com citações de Jorge Luís Borges e Clarice Lispector, o texto discute a “essência” da pintura como uma procura de relações incertas entre o que se olha e o que se sente, entre o reino das coisas e o reino da memória. Fingermann acredita que o papel da arte é desestabilizar o observador, tirá-lo do hábito, evocar o não dito. “O que eu vejo”, diz numa das frases aforísticas do livro, “está além daquilo que a imagem me informa”. E, adiante: “Tudo está entre o fazer e o ver” Como se pode deduzir, a pintura de Fingermann tem essa ambição, a de “recolher fragmentos” assinalando a “passagem do tempo” e vivendo, assim, num estado de dúvida – mas que não impede a ação. À primeira vista, suas telas parecem apostar demais na textura , no jogo de camadas que dão impressão de tempo, que sugerem a questão da memória. Essa crença na textura é um dos problemas da pintura contemporânea, que se aproxima demais dessa vontade de “sugerir”, que se esquece que, mesmo quando se está “além” da imagem, ela continua a ser informação, a ser um recurso para comunicar com o observador. Em Fingermann, a textura é fundamental, mas não auto-suficiente. O que dá à sua pintura o poder de captar o olhar do observador para tentar desestabilizá-lo é o uso de elementos gráficos que decorrem de sua fase figurativa, desde o período em que estudava com Mohalyi. Formas como o trapézio aberto, o triângulo vazado, a grelha, a elipse e a bifurcação permitem a Fingermann indicar ao público que seu assunto, a memória, é um momento transitivo: ele está tentando recolher mas não congelar, captar mas não fixar. Vendo seu trabalho desde os primeiros desenhos e gravuras, o espectador descobre a coerência interna, aquilo que Fingermann chama de “minha poética”. É isso que ele diz dissociar sua pintura da de outros contemporâneos, a qual considera no limite do autismo, do ascetismo, de acordo com certa teorização muito vigente nos departamentos de arte da USP. O trabalho com desenho, gravura e arquitetura deu a Fingermann um vasto instrumental, numerosas pontes de contato com a percepção visual comum. A “fatura” de suas telas é sempre convidativa e surpreendente ao mesmo tempo. O uso da cor ferrugem, por exemplo, aparece com freqüência para apontar o registro em negativo das coisas na lembrança. A superfície parece ao olhar mais rugosa, mais acidentada do que é ao tato. A harmonia das cores e a distribuição de elementos gráficos pela tela negam qualquer automatismo, qualquer sujeição ao “gestual” que, para certa corrente moderna, seria a expressão máxima do inconsciente. Fingermann sabe o que está fazendo, ainda que não faça o que já sabe; há um intervalo entre o projetado e o executado, mas ele não se perde nesse vazio. Mesmo assim, a pintura de Fingermann ainda sofre um pouco da timidez , o medo de afirmar, da perambulação pelas incertezas. Tem uma comunicação tanto sensorial como intelectual com o observador, mas é reservada demais; tende ao hermético, ao cabalístico. Fingermann está ciente disso: “É como se tivesse um véu por cima da minha pintura. Mas há uma tentativa de encantar, de causar sensações”. O problema talvez sejam as noções teóricas de Fingermann ou – o que dá na mesma- o status encurralado da pintura hoje. Quando Paul Klee disse que o que importa é a formação, mais que a forma, estava resumindo essa busca da pintura moderna pelo que não é visível, pelo que não é linear. Mas o que acontece com a pintura recente é que, nela, a formação tenta negar a forma, como se fosse impróprio – na era do audiovisual, em que cinema e TV criam visões da realidade em abundância – a partir do visível e do linear. A angústia de Fingermann é também sintoma do que critica. Sua integridade criadora, porém, encoraja novas saídas.
Download