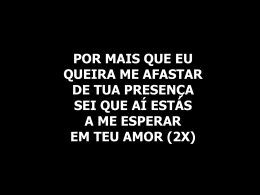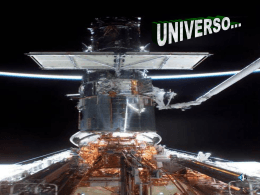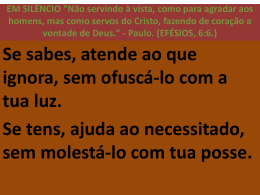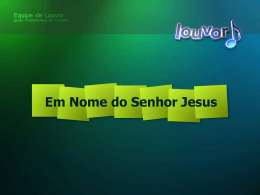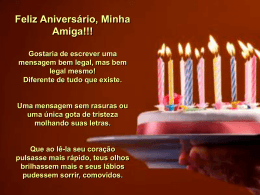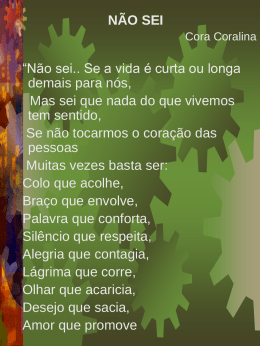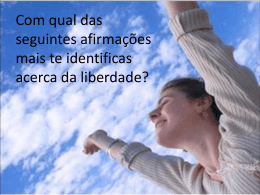Da Queda [fragmentos] Uirá dos Reis I Andei por todas as ruas possíveis, acariciei rapazes em silêncio e com o olhar, sorri futilidades plenas – mas meu peito, batucado incapaz, meu peito arremessava singelezas àquele que tenho distante agora [suas ruas são ruas opostas, pois nunca que eu o vejo, nunca que o encontro tropeçando em pedra ou madeira, chutando areia pro vento, arrancando folhas das árvores como uma criança] / àquele que me viu morrer. “Senhora”, perguntei quase apático, quase como quem dorme, perguntei: “Senhora, esse papel é seu?”. - Ó, sim, meu filho e muito obrigado. - Não há de quê. – e a paisagem era quase marrom, era como um silêncio, um tremor silencioso / a paisagem era turva e era quase marrom / era um ir e vir do nada pra lugar algum – e eu no meio – e ele no meio – e nós numa mudez de defunto no meio daquilo tudo, daquele nada potente, daquele vácuo infeliz: eu de pé naquela encruzilhada e ele deitado em meu pensamento. “Não há de quê”. E as ruas eram infinitas, eram, iam para tantos lugares e queriam e teimavam e chamavam, belas ou não, elas me chamavam, acariciando minha cegueira como quem guarda um tesouro, como quem devora a caça – carros deliquentes e sem face, esquinas com cheiro de merda, meu peito inutilizado, rapazes que me mostrariam a bunda por qualquer dinheiro, motocicletas que se arremessavam ao topo da rua que subia, bicicletas arredias e pilotos surdos: 3.000 pensamentos e nenhum caminho de volta. Era o Candeia somente quem sussurrava alguma esperança em meu ouvido, era ele quem movia o tempo, quem me ensinava que a volta era depois da curva e que uma curva não é uma espiral, era o Candeia somente – de resto? de resto era velocidade ao redor e uma sensação vazia no estômago, um frio nos dedos dos pés e das mãos e essa minha vida de vulto agitado, fantasma que não desencarna, que vive no limbo como quem vive a vida. O desespero fantasiado de força, a solidão virada em mistério, o abandono vestido de superioridade. Eu e meus dentes amarelos atravessando a rua numa velocidade tão mínima que quase inexistente [atravessando a rua com a certeza de nunca chegar]. Eu e meu lugar algum que teima, que ultrapassa minha vida, arremessando-me ao espaço. Eu, que tenho somente a certeza de estar perdido. “Não há de quê” e nenhum outro estranho me olhou nos olhos, me perguntou como vai?, nenhum outro estranho me quis como amigo, me disse bobagem, tocou minhas mãos, nenhum outro estranho além daquela senhora que não via nada ao redor – e ela não tocou minhas mãos, nem viu meu olhar sobre as lentes grossas ou mesmo sentiu meu cheiro: as ruas são sinfonias mudas quando é deserto o peito, quando a alma queda-se amuada e sem saber como fazer pra novamente se fazer de pé: Candeia, Nelson Cavaquinho, tudo misturado e meu corpo que não se mexia. Somente os faróis que me ultrapassavam me mostravam vida, movimentavam minhas retinas como alegoria morta, como paisagem borrada, somente os faróis e a velocidade das ruas. Meu corpo era continente sem hemisfério caminhando soberano sobre o asfalto escaldante da avenida. O que perfura o estômago, agora sei, está aqui dentro, e é em mim que o monstro surge para alcançar o outro, é em mim. Sem autocomiseração, sem o vitimismo cotidiano, sem o sonho de causar piedade e, assim, encontrar o amor [rosas roxas te esperam no pátio, criança], sem nada disso agora, por favor. Tomemos a razão pelas mãos e caminhemos pelas ruas como quem traz no peito a vontade da certeza e o desejo de seguir. O céu passa o dia mudando de cor, os carros sempre mudam de lugar, pessoas cruzam seu caminho miserável durante todo o dia: a movimentação é regra natural e imposta, as mudanças hão de chegar mesmo que você tenha partido já, já não esteja, já não seja, ó: Caminhar, caminhar, caminhar e não ter borda, o mundo, não ter banco de espera, não ter sombra de arvoredo, não ter pacificador de peito [as vozes são tão velozes que às vezes penso não poder suportar, ai], não ter ninho certo nem abrigo inodoro: Se assim é, se assim está, é porque peguei o caminho mais curto, talvez, ou talvez tenha eu saltado no meio do caminho, segurado em mãos erradas, abraçado os fantasmas de merda que me ridicularizam e me fazem errar e errar e errar caminhando a esmo na esperança de encontrar a mim próprio e, assim, rever os olhos famintos do rapaz que me alucina. Piso no asfalto com dor e prazer. Acaricio meus dedos dentro dos tênis e penso em remover-me do lugar de origem, mudando a paisagem, pintando de azul o marrom que me cerca, deixando pra trás a confusão robusta onde me afogo agora, sonhando com campos elíseos onde minha alma selvagem possa se deitar. Piso no asfalto tateando minha existência como quem engole pregos, como quem remove pedregulhos, como quem escava cavernas enormes ou escala os infinitos andares de Sete Cidades com mãos desnudas e só. Gostaria de me propor uma meta, mas não posso e não consigo e não o faço. Atravesso mudo a avenida e chego cego ao outro lado. Sigo caminhando [passos firmes sobre o chão] como quem flutua, voa, como quem entorpecido lança o corpo para o alto na tentativa de nunca cair. Tento rir de mim mesmo mas nada eu faço. Não enxergo o mundo, só o sinto e sei que ele me cerca, como sei que faço parte do desconhecido. “Não preciso de você” e eu gostaria de ter dito isso enquanto nos engolíamos, mas é mentira, e eu preciso, eu preciso sim. Enquanto o asfalto me confunde, enquanto as estradas me circundam, enquanto os esbarrões me mudam de lugar, vejo em minha memória o rosto deformado pela tristeza do rapaz que me alucina. Procuro suas mãos, seus dedos miúdos, fecho os olhos procurando o seu pescoço de carne triste e branca, ergo as mãos tentando alcançar suas costas, seus ombros largos e - Porra! Sai do caminho, imbecil! – alguém me grita feroz. “Desculpe”, quis dizer mas nada eu disse. Lancei meu corpo contra o muro onde fiquei por alguns instantes ainda, fitando o invisível como quem toca um cometa, beijando a fumaça dos carros velozes como quem beija a amada, sugando o tempo que corre como um mergulhador atrás de se manter vivo no fundo de um mar revoltado. Depois torno a caminhar lentamente, passos duros e pesados sobre o chão-asfalto, lentamente, sem saber aonde ir – depois: Por hora me enfio no muro. ... -...então porque diabos falar em suicídio, se o temor não é tão grande e nem é grande o seu amor por mim ou por você mesmo, porque fingir que é profundeza o que é superfície e só? - Você não entende nada. Nunca entendeu nada. - E você nunca me falou a verdade. O tempo que se leva para compreender o outro [envolto em paisagens enganadoras, confusões fincadas como mastro em rocha lunar] é o tempo que se leva para caminhar até a morte. Sustentar uma mentira por horas a fio é coisa de artífice – e por dias inteiros é coisa que só os deuses conseguem fazer. - Acontece que a confusão é criada por esse silêncio arrogante e por todas as nossas mentiras. - Não lhe devo explicações, nem você me deve explicações, nem... - Nem ninguém se deve explicações e nem é isso, nem é disso que falo agora, porra, nem é nada disso que falo. Acontece que é preciso um cuidado, caralho, somos frágeis e morremos e sofremos e ficamos tristes e fazemos mal um para o outro quando nos fudemos dessa forma, camarada. - Quem começou não fui eu. - Quem começou não fui eu também – e agora? Vamos culpar a quem? Culpar o calor incessante desta cidade, o céu que é branco e que cega, ou talvez culpar o mar por ser verde, verde escuro, verde-oliva-escuro-quase-gótico, o mar, ou talvez culpemos aquele senhor por nunca vender Hollywood nem nunca vender cachaça fiado pra nós, ou ainda podemos culpar toda a sorte de miseráveis filhos da puta que cruzaram nossos passos ao longo desse ano e do outro e de todos os outros ainda. Não vou perder tempo culpando ninguém, eu só queria entender... - Mas você nunca entende nada! Se acha sensível, etc., mas nunca sai de si, nunca toca o outro tão profundamente, nunca se despe de fato, nunca me despe também! Você nunca entende nada! Silêncio, mudez, apatia. E ele volta: - Podemos começar um jogo: Eu falo a verdade se você me fala a verdade também. O jogo do ouro: Te entrego meu ouro se tenho seu ouro nas mãos. Que tal? Minha boca muda quis pedir silêncio, mas não poderia. Então manteve-se quieta enquanto, mirando a boca gostosa do amor-algoz, meus olhos arremessavam flechas de cupido assassino em direção aos lábios que moviam-se com a costumeira fúria, com a eterna velocidade, com o cinismo constante, com o desejo latente de estar, permanecer e de fugir, partir para bem longe, vezes a meu lado, vezes tão sozinho e ele era assim e era assim que ele era sempre. Não podia compreende-lo nem queria também aceitar a distância que parecia se aproximar agora. Não queria jogar meu peito repleto de amor e de angustia contra as rochas na beira da praia. Não queria o risco de não conseguir nadar, de não sobreviver, de ficar imóvel, engolido pelas ondas incessantes, musculosas, tão maiores que meu peito e muito menos cansadas que eu. Ele sabia me ferir e esse era um jogo que ele adorava. Ele sabia atirar pedras contra mim, ele sabia arranhar meu pescoço enquanto minha boca engolia o chão, ele sabia colocar seu pé como pedra invisível em meu caminho só pra me ver cair. Ele sabia, pois aprendeu. Eu ensinei. Eu ensinei e me arrependo. Mas não queria estar sozinho, não queria deixar de tocar seus olhos e de ouvir sua voz, nem queria também deixar de sentir sua fúria, perceber seu medo, seu carinho, espanto, tudo. Não queria não tê-lo por perto, mas não sabia faze-lo ficar. O sol, espantosa bola de fogo sobre nossas cabeças, o sol mudava de lugar no céu, indicando a passagem de tempo, dizendo que o dia acabava, mostrando que o escuro rondava e nada tinha a fazer. “Irremediável a chegada do escuro”, dizia o sol enquanto se movia para o horizonte, pintando de vermelho o azul tão branco do céu lá no alto, deixando rubras as cândidas nuvens enormes, criando sombras fantásticas entre os edifícios, enegrecendo as praças com sua partida involuntária. “Irremediável, filho, irremediável”, e eu lamentei. É preciso coragem para olhar firme o céu enquanto o sol se põe. É preciso coragem de soldado para isso. Perceber que a mudança e você não são a mesma coisa, perceber que a natureza não se enluta por você chorar, perceber que o céu muda de cor e o tempo corre mesmo quando você quer paralisá-lo, mantê-lo ali onde você está. “É preciso coragem”, falei quase alto. - Quê? - Coragem, eu disse. - Sim, isso eu entendi. Mas... - Pensei que é preciso coragem para manter-se vivo mesmo afogado em adversidades. Não acha? - Se você fala de nós... - Nem sei se de nós, ou se de nós apenas, nem sei! Falo de perceber com muita dor que as coisas existem com ou sem você – e assim também são as pessoas – também elas sobrevivem a sua partida. Nelas existe a vida para além da sua – e isso às vezes dói. -... - Estar a seu lado é o que quero agora, mas não consigo, nada eu consigo fazer. -... - Parece que tudo repele quando nos fitamos, nos avistamos de longe, parece que chega o inferno, que os demônios são liberados para brincar seu carnaval quando nos aproximamos um do outro! Os demônios brincando seu carnaval fatídico enquanto o sol se põe. - E tudo às nossas custas! – falou sorrindo e brincando, olhando com olhos de enigma para frente, como eu. - É, tudo às nossas custas... – repeti quase engasgando, fingindo um pouco de alegria, tentando partilhar de seu sorriso estranho. Um silêncio gigantescamente breve até que eu disse: “Queria te dar um beijo”, ao que ele não respondeu. Se fez silêncio cansado, se fez mouquidão milenar, se fez tristeza aparente, se fez defunto no mar. Ai, a dor que o silêncio traz, a dor que me toma agora, a dor que me quebra os ossos! Acendi um cigarro e enfiei a garrafa entre os lábios como quem engole cobras. E ele não se mexeu. Gostaria de ter-me levantado, correndo, gritando como uma fera contra os grilos cantadores que azucrinavam minha vida irrompendo naquele silêncio infernal – só pra mostrar toda minha angustia, minha fúria inadequada, minha raiva masculina, meu desejo homicida de amor e de amá-lo e de ser por ele amado ad infinitum e muito mais, mas nada eu fiz, nada mesmo. Bebi uns goles enormes, fumei com sede o cigarro e mantive meus olhos no outro lado do lago. “Grilos filhos da puta!”, pensava de vez em quando. A lua começou a despontar no céu e não trouxe consigo, em seu colo, ela não trazia novidades. As nuvens desapareciam pouco a pouco e o céu ficava belo e ficava grande e estrelado. A natureza estava feliz, parecia. Brindava com alegria não sei quem por não sei quê, mas não era eu. “Grilos filhos da puta”, pensava. “E ainda esse céu que não traz em si nenhum vestígio de chuva, de trovão, de arrepio, medo, febre!”. Queria que o mundo ruísse. Queria as trevas reveladas agora para todos nós – e eu gritaria meu amor sublime para ele enquanto o chão se abria, nos daríamos as mãos, nos beijaríamos demoradamente antes de sermos sugados para baixo, cada um para o seu lado, cada um com seu enxofre, sua fogueira e seu temor, pediríamos mais tempo, tocaríamos a face um do outro em silêncio, os olhos juntos, teríamos o poder de mover a história, de guiar a humanidade para o alto e para o claro e - Preciso ir – ele me disse, tocando brevemente em meu braço. - Certo. Também me vou. - Tchau. - Até breve. - Tchau. E o céu era de grande beleza naquela noite de perda. ... O gosto do tempero na boca – nutro desde minha infância um fascínio não pelos alimentos em si, mas pela permanência do sabor em minha boca e decerto por isso até hoje não gosto de escovar os dentes, mas o gosto de tempero na boca – me deixa estático, me faz permanecer sobre este chão desconhecido, entre cheiros invisíveis e transeuntes invisíveis também. As cores que corroem minha mente agora são: marrom opaco de madeira sem verniz e velha, azul escuro quasi-nada e um róseo, róseo de parede, aquela coisa sem vida – mas o semáforo mistura tudo e brilha e pisca e sobe e desce com suas luzes que indicam um ir e vir de gente e automóveis que nada têm a me dizer. E nada eles dirão. O muro onde entro tem pontinhos de cimento que arranham minha pele mas eu não me importo: sinto os arranhões de quando em quando e continuo entrando, atravessando a parede com força atroz, vontade faminta de invisibilidade. Na maior parte do tempo sinto somente frio, um frio de febre, de dentro do corpo para a epiderme e só, como quando caminhava pelas ruas de Teresina, aquele calor seco e bom queimando meus órgãos intactos, transformando o quente num frio gostoso de febre que subia e me tomava, entorpecendo a mim e aos meus passos que, deriva constante, seguiam sem se preocupar. Penso por um segundo que “meu deus! Que horas são agora?” e depois me esqueço de pensar. Sou devorado por nuvens de areia que cintilam em minha mente ruidosa, devorado por rostos que surgem e desaparecem com velocidade e também sou devorado por minha rua da infância, lá no Rio de Janeiro, onde fui feliz e triste e onde fui criança e tive meus olhos fincados no céu / Abrupto, meus olhos se abrem, minhas mãos reverberam os movimentos do peito, tremendo num palpitar oscilante, erguendo e reerguendo o medo e a solidão. O dia tem horas demais. Estou aqui por uma eternidade e não tenho mais certeza de que eternidade falo. Talvez minutos, segundos – horas não e disso eu tenho a certeza: o céu ainda tem a mesma cor de antes agora, ainda as mesmas nuvens no céu, ainda o mesmo transeunte nervoso que me quis distante do seu caminho [ainda vejo suas costas ali seguindo adiante; carregando seus dias dentro da sacola de plástico verde que sua mão forte segura]. Decido caminhar pelas ruas, sem rumo como sempre estive, movimentar minhas veias, mostrar aos músculos que eles não são estátuas esquisitas que servem somente pra manter de pé meu corpo – sua morada. Queria abrir minha pele, dissecar meu corpo, descobrir como é meu peito, meu baço, intestino, ossos, perceber de fato como funciono e porque funciono assim, tão estranho [corpo de avalanche], tropeçando sobre mim todo o tempo, derrubando louças como quem derruba árvores, pisando em canteiros como quem bombardeia uma cidade. Queria abrir meu corpo, dissecar minha vida que é tão mais longa já do que eu esperava, do que eu pressentia, do que eu desejava, essa vida vulcânica, de lavas que repelem quem tenta se aproximar – essa é minha prisão, esse vulcão inóspito. Tem beleza sim mas causa tanto medo, sabem não poder pisar, sabem que se permanecem algo forte há de acontecer, mas o quê? ninguém sabe: não há aquele que tenha assistido a uma erupção de lavas incandescentes de dentro de um vulcão e tenha sobrevivido – e por isso todos fogem, todos temem, todos preferem desaparecer a descobrir o que há aqui, nesse vulcão-prisão que é minha vida. Devastadora e devastada, ai. Na minha solidão toco o mundo inteiro como se tocasse a mim mesmo, numa masturbação contínua e involuntária, masturbação em calvário sujo, chão de piçarra e areia, corpos defuntos se desfazendo para todos os lados, multidões de cães embriagados latindo vezes em minha direção e vezes em direção alguma, paredes flácidas que combinam peso e levitação, cortinas de cetim rasgado, corroído, podre já de tantos anos de uso. Na minha solidão faminta sinto o mundo jorrar sua porra sobre o meu cadáver. “Perversão amena”, diriam os fascistas do meu tempo e de tempos outros que já não existem e que ainda existirão. O mundo é uma bola de neve com mil olhos que testemunham seu próprio final – e eu no meio – e ele no meio – e todos no meio, cansados, sem braços ou pernas ou mãos: somente olhos e bocas proferindo sons que não guardam sentido, palavras sem forma que se desmancham num fragor sobre as rochas invisíveis que flutuam pelo ar. As ruas têm mistérios – mas como desvendá-los? As ruas têm mistérios e meus pés estão cansados – mas não consigo parar. Outra encruzilhada. Outro semáforo empoeirado piscando um destino que não me diz nada – a placa indica “por aqui” mas meu peito não ganha certeza ao lê-la. “Por aqui é por onde?” e é o que pergunto enquanto minhas pupilas dilatadas rodopiam para cima e para baixo como quem pede um descanso, um desmaio, um partir rápido e pra longe, um sumir pra não voltar. Então eu paro, confuso. Talvez meus pés se decidam e desloquem meu corpo para a esquerda ou direita ou talvez meus olhos sujos se desmanchem como os corpos no calvário imaginário e tão real, que me conduz, que me cerca, que me engole e alimenta. Alimento assassino, de venenos tumefactos, frutas velhas, carnes podres, pães mofados, queijos se virando em leite coalhado, tripas cruas e ainda com cheiro de sangue e de fezes, tudo junto e ao mesmo tempo enfiado com força em minha garganta infeliz. Assim é o meu tempo. “Se você não pode partilhar dessa porcaria que é o seu tempo, que ao menos morra de barriga cheia!”, as vozes gritam em minha cabeça fixada sobre o pescoço inútil. De nada vale meu corpo. De nada meu peito também. “De que é feita a existência?”, pensei em perguntar ao homem que passava ali, mas não o fiz. Olhei em seus olhos [uma serenidade, uma tristeza pacata, melancolia assistida], movi meu corpo para frente, mas nada eu disse. “A existência, de que é feita?”, perguntei para mim mesmo. - O que disse? - Hã? Nada, nada. Falava comigo mesmo. Ele parou dois instantes e me olhou bem nos olhos – sei pois fitei-o fazendo isso – enquanto eu baixava a cabeça com velocidade. - A existência é feita de muito – ele me respondeu. E é por isso que sofremos tanto. Sorri um sorriso idiota, os olhos fincados no chão, e disse um nada, uma merda qualquer, talvez tenha dito obrigado, nem sei. Senti sua mão em meu ombro. Fitei-o nos olhos e eles diziam nada. Pensei em pedir-lhe um beijo. “Me dá um beijo de língua?”, mas isso seria estranho. Então fiquei onde estava com ele onde não deveria estar, mas fiquei, ficamos ali. Fechei meus olhos querendo senti-lo sumir, mas nada eu senti. Se ele não parte, se sua mão não cai no chão e se ele não me diz nada [sua boca movimentava uns movimentos mudos e aquilo me dava medo] preciso partir eu mesmo, sem velocidade nem suavidade, forjando uma normalidade, uma comunhão com meu mundo, meu tempo, minha gente. Serei assim: brasileiro, morador de capital praiana, caminhando pelas ruas do centro, normalmente, normalzinho, caminhando apenas. Deixarei esse esquisito aí falando sozinho, com sua mão sobre os ombros do ar, sei lá. Vou sair. Tenho medo, porra!, vou sair. E saí. Coloquei minhas mãos nos bolsos, desviei meu ombro de sua mão ossuda e caminhei, sem olhar para trás, imaginando-o perdendo o foco na paisagem diminuta que meus passos geravam às minhas costas. Enquanto eu caminhava, minhas mãos tremiam um tremor de morte, de acidente, de lesão desesperada – meus olhos não viam nada: o mundo era uma nódoa, uma mancha imaginária incendiando minha mente que rodopiava e rodopiava num sem-fim de confusões. Ai, meu tempo de miséria, minha vida arrebatada, minha existência louca, minha alma estrábica, minhas mãos desesperadas, minhas costas sem afeto, minha lâmina na boca, minha língua estrangulada. Ai, os dias aturdidos que, parece, para sempre serão meus. “É por isso que em mim o monstro mora”, pensei sem muita surpresa. “É por isso que minha vida é lava espessa, é por isso que tateio o corpo amado como quem tem pregos nos dedos e é por isso que beijo sua boca como quem vai a um enterro”. Não sei amar nem saberia. Sei vislumbrar, imaginar, fingir, forjar, mas a vida real me é inimiga. Tudo o que for real será terrível para mim. Tal qual para o meu tempo. Por isso os templos hedonistas e os deuses e os jogos de computadores têm tanta força e importância, por isso meu tempo me entrega como grande loteria a tolice acumulada, por isso o gosto de merda na boca do meu tempo, por isso o cheiro de lixo devora as cidades do real nesse tempo de nada, tempo de merda esse, tempo de lugar algum! Por isso sentimos como se uma esfinge sagrada adentrasse nosso corpo pelo ânus, pelo cu, com muita velocidade, por isso as atrocidades são expostas com real normalidade, por isso carregamos como emblema a saudade e a solidão. Não vou sequer flertar com este tempo, é o que gostaria. Quero que ele passe, quero que ele morra: Nego o meu tempo agora como um suicida nega sua vida. Nego meu tempo agora como o inferno nega o seu oposto. Nego meu tempo agora como sempre negarei a cruz. Nego meu tempo agora como o rapaz que me alucina nega o meu amor. O meu amor, que tenho, tenho sim, mas não sei dar nem ofertar, não sei viver o meu amor, ai / Meu amor é como veia aberta: implode o corpo, mas nunca chega ao outro e, parece, nunca chegará. Meus pés alcançam uma velocidade como se procurassem alçar vôo para o infinito, como se nos calcanhares eles tivessem asas, como se meu corpo fosse pluma solta entre os prédios da cidade. Rodopio muitas vezes, giro o corpo em torno de mim mesmo para um lado e para outro, sigo as cores que minha mente vê – arremesso minha existência contra tudo e contra todos enquanto ninguém me vê: tenho agora cor nenhuma, sou espaço alucinado sem tempo de volta ou de ida e não sei o que será, o que serei, o que virá depois de agora, dessa confusão robusta, confissão desesperada, eu não sei. Quando percebo, estou sentado no chão, calçada úmida e larga, e eu sentado sem nenhuma cerimônia olhando os outros passarem. O dia tem horas demais, mas agora a hora é outra. Muitos infinitos se passaram, eternidades muitas se passaram e eu aqui, sentado, o mundo girando ao redor, barulhos velozes, crianças com seus parentes, mulheres solitárias, homens que não dizem nada, olhos e bocas e pernas e bundas e muitas roupas de marca: Tantas eternidades e o que mudou foi somente a hora, que agora é outra / Vejo o sol se pôr – sem beleza, entre os prédios mesmo, sem beleza alguma – da calçada eu vejo o sol se pôr. ... Ele me acorda: - ... dormindo? - Hum... Não, não. Que foi? – meus olhos estão fechados. - Preciso ir. - Tá bom. Deixa a porta aberta. Fecho depois. Beijo. - Tchau – e seu vulto atravessava a porta e a outra porta e tocava o asfalto com os pés. Seu vulto queria tudo que não fosse eu, mesmo que não soubesse me dizer adeus. “Tchau” e sempre um “Tchau” e nunca um “Beijo” – às vezes um “Falou” mas nunca um “Beijo”, nunca mais. Demoro a entender os processos alheios pois sou entupido de mim. Demoro a sanar-me também. Não posso conduzir a orquestra e sempre me jogam de fraque a frente da desafinada orquestra e é sempre assim, esse jogo interminável, desleal e sem sentido. “Tchau”. A porta batendo suave. O dia começando torto. A boca com gosto de espasmo. As roupas jogadas no chão. Lavei meu rosto mergulhado na pia como se ela fosse uma banheira gigante, uma piscina olímpica, um oceano, uma cachoeira enorme, um lavabo imperial. Acariciei minha face com a água entre os dedos pedindo carinho a mim mesmo e depois caminhei pela casa, ouvindo a vida do lado de fora, renitente, matinal, alvoroçada. “A vida do lado de fora”, pensei, acendendo um cigarro. Nunca me lembro de comer assim que acordo, mas sempre que ele dorme aqui me lembro de fumar um cigarro ou dois. Depois vou catando meus cacos, minhas roupas, meus discos, depois vou me recompondo, me distribuindo, me arrumando, ao longo da manhã. “A vida do lado de fora”. Aqui dentro o silêncio era grande, era como uma morte, essa solidão sem fim. O que havia acontecido que fez de nós esse silêncio, essa dor, essa violência contida adornada por cores insossas, eu não sei. O que sabia, e o que sei, é que agora assim nós éramos – agora assim: sem cor. Queria tomar dez comprimidos de qualquer remédio, mas não tinha nada em casa nem dinheiro pra comprar. Queria falar com alguém mas na verdade queria era falar com ele, com ele somente – aos outros eu dava o silêncio que ele me dava, me entregava impune, aquele silêncio que era violência e mais nada. “De onde tiramos tanta brutalidade?”, pensava repetidas vezes e a resposta não chegava. “De onde, de onde?” e caminhava pela casa como se limpasse o chão, buscando a resposta nos móveis, no espelho da sala, na pia, na privada, na geladeira vazia, mas nada me respondia. Limpando a casa mantive a manhã inteira aquele diálogo esquizofrênico com a mobília do lugar: passei pela manhã e cheguei na tarde iluminada. O dia lá fora era lindo, como sempre é aqui – folhas verdes, crianças a caminho de casa ou da escola, pipas coloridas no céu dessas férias, vizinhos ouvindo o rádio e cantando junto, automóveis – sempre eles, automóveis – que rugiam com potência, indicando mesmo algum tipo de vida lá fora. Mas dentro dessas paredes onde meu corpo teimava nada mais tinha cor. O que havia de sublime aqui já tinha atravessado as portas, já caminhava sobre o asfalto da cidade lá de fora, já errava com seus passos de silêncio e de volúpia pelas ruas cintilantes da cidade iluminada. Eu não: permanecia no mesmo lugar, com minha dor intacta, pulsante, minha dor silenciosa, minha dor tão companheira nesses dias miseráveis que teimavam em existir. “Hoje não saio de casa!”, falei alto para o espelho como se desse uma ordem a um vassalo invisível. “Ouviu bem? Hoje não saio e pronto!”. Me permitia a fantasia, pois me fazia sentir melhor. Ouvir meus gritos, minhas ordens enlouquecidas – “É melhor limpar os pés antes de varrer a casa!” – me fazia esquecer o silêncio que me engolia e engolia novamente. Passei a brincar comigo virando-me em dois, em duzentos, em trezentos e cinquenta! Lembrei de Mário de Andrade e então comecei a ler poemas em voz alta e também a aplaudir minha leitura, a vaiar, a pedir versos – improvisos da loucura para amansar a mesma. Descobri uma garrafa de cachaça pela metade, já velha, e então pus-me a beber e a brincar comigo mesmo. Cantei canções soluçantes, reli poemas da infância, escrevi asneiras toscas em pedaços de papel, datilografei seis cartas, lavei a louça e o banheiro, fiquei nu, troquei de roupa, me masturbei várias vezes, até quedar-me, cansado. Chorei por algumas horas, depois gritei sorridente – “Um demente! Um demente! Você é mesmo um demente!”, eu gritava para mim. “Um demente! Um demente!”, e me enchia de orgulho de mim mesmo, por saber-me e compreender-me, pessoa estranha que sou, e por ter o peito aberto a ponto de gostar de mim. “Obrigado”, disse chorando ao espelho. “Obrigado mesmo, viu?”, falei, trêmulo [a voz enrouquecida ecoando sozinha pela sala até a cozinha]. Abracei o meu reflexo querendo em mim o outro. Fingi sentir minhas mãos querendo o toque do outro. Celebrei minha vida louca fingindo ouvir as palavras saídas da boca do outro – e depois caí no chão, de costas, como um soldado morto num front de merda qualquer. Senti dor em minhas costas, em minha cabeça assanhada, em meus braços da ancinho, em minhas pernas de idiota e depois dormi por horas, até chegar madrugada. Na manhã seguinte parti para o centro da cidade em busca de um paraíso, algo novo, uma luz que arrebatasse, um veneno que cortasse a pele astuciosa, o peito aveludado. Caminhei por todas as ruas novamente, toquei com os olhos mil pessoas, mil mulheres, mil rapazes e mil senhoras de olhares tristonhos. Caminhando loucamente percebi um olhar cruzando o território de minhas retinas. Retribuí o olhar silencioso e depois retribuí o sorriso silencioso também. Sua pele parecia gemer – era um rapaz bonito, que me entregou um papel. “Daqui a algumas horas”, ele disse. Eu disse que tudo bem. Fiquei parado observando ele desaparecer na miríade faminta que compõe as ruas. E caminhei. Caminhei, fazendo passar o tempo, rolar as horas, uma após a outra, em passos largos, velozmente. Depois de horas, enquanto olhava cego as vitrines, percebi um reflexo imóvel fincado atrás de mim. Olhei e era ele, o rapaz do papel e do sorriso e do olhar. Ele pegou em minha mão e me guiou para um lugar desconhecido – subimos uma escadaria de degraus pequenos, uns cinco lances até a porta de ferro onde ele bateu e bateu. Depois de alguns minutos [silêncio desgovernado] abriram para nós a porta. “É ele?”, o anão que havia nos atendido perguntou. O rapaz então lhe respondeu que sim com um gesto mudo e o anão olhou para mim e sorriu. Me guiou, suas mãos em minhas mãos, me guiou para uma sala um pouco mais acima, outros lances da mesma escada esquisita, de degraus pequenos e amarelos. - É aqui que você fica – ele me disse. - E faço o que? – perguntei, gaguejando, com medo, mas curioso e sedento por descobrir. E então? Eu faço o que. - Tem um papel naquela mesa, ao lado do microfone. Só precisa ler o que está escrito no papel. O microfone está ligado, portanto não digamos improvisos, somente o que o papel mostrar. - Certo. - Boa sorte – ele me disse, com um sorriso aberto na boca bonita, gigante, de dentes fortes e beges – ele me disse, enquanto batia na minha bunda com um certo carinho, uma intimidade camarada que estranhamente me tranquilizou. Tudo era escuro lá embaixo e nada eu podia ver, mas sabia algo existir, pois ouvia um murmurinho repleto de pecado e medo, um pulsar de luxúria e de amamentação, “algo entre a libertação e a praga”, eu pensava, “algo entre o desejo de viver e de morrer”. Mesmo não podendo ver, minha curiosidade convulsiva entortava minhas retinas para lá e para cá [nos outros lá embaixo, eu suspeitava, os olhos se moviam lentamente buscando nas silhuetas uma resposta, um messias, um milhão, um oceano – os olhos são como plumas – a suavidade das retinas elásticas. As mãos que tateiam o ar escuro como quem procura a caça, as mãos querem sucumbir, mas o corpo não desarma a arma amarga que é o pouco coração: oco, imensidão vazia, deserto nunca aprazível, silêncio e solidão]. As luzes acenderam. Era um teatro velho e imundo, uma platéia atenta. Ruídos de garganta tensa e a hora de eu entrar, ler o texto no papel. - “Queridos” – e eu lia gaguejando, tropeçando nas palavras – “Nossas almas guardam treze mil sabores, e aqui vivenciaremos alguns deles, enroscaremos nossas existências umas nas outras, seremos mais que carne ou pó. As portas estão trancadas agora e...” - Cale a boca, ô seu idiota! - Vá se fuder, imbecil! – e todas as vozes da audiência começaram a me xingar. Por alguns instantes eu não soube o que fazer e por isso nada fiz. Fiquei imóvel ouvindo as vozes, imaginando “quem serão os donos dessas bocas que me xingam? Eles andam pelas ruas, talvez até tropecem em mim ou me ajudem num momento de pânico ou não sei, sei lá!” – e eu não sabia de nada. Resolvi então ler rapidamente o que estava por vir e gritei “Entre o primeiro ator!” e o anão entrou. Enfiado numa calcinha vermelha ele girava num monociclo, espartilho colorido, os braços abertos em cruz, sorrindo aquele belo sorriso gigante de dentes fortes e beges, ele se movia de uma ponta a outra do palco e assim, rodopiando velozmente, assim ele ficou por horas. Seu rosto se transfigurava. No seu sorriso agora havia somente a tontura, o corpo boiando sobre os pedais do monociclo – os braços sempre em cruz. A música era uma canção de cinco notas, tocada por um trombone invisível que ressoava e ressoava e ressoava naquele sem fim de horas onde o anão se encontrava. Ele mudava de cor, ficava amarelo, estranho, parecia querer desmaiar – a platéia queria mais. Quanto mais fraco ele ia ficando, mais tonto, mais sem cor, mais a platéia urrava, pedia, queria, aplaudia, gostava. Por fim, o anão queria desistir. Começou a pedir ajuda – “Não, porra!” e “Fica, seu filho da puta!” eram os gritos mais constantes diante de seu pedido. Meu medo, por sua vez, crescia e crescia e crescia: mais turvo e mais turvo ainda era como tudo ficava ao redor de mim. Minhas mãos tremiam e meu peito realmente se desesperava. Minha voz saía pouca, as palavras se despedaçavam no ar. Quando enfim tentamos substituir o ator anão por outro, ouvimos as vozes de “nunca!” e também de “vá à merda, cidadão!”. Quando o ator, exausto, exaurido do esforço físico, nos pediu chorando que o tirássemos dali ouvimos um tiro e o ator caiu no chão. Pás gigantes o removeram do palco e passaram velozmente panos pelo chão, deixando o tablado intacto. Fiquei tomado por sentimento indizível e fiquei mudo e minha pele parecia já não existir: derretia, grudava na mesa, no microfone, no chão. Até que, pendurado por grossas correntes cravadas em seus mamilos, eis que surge um novo ator. “Comediante! Comediante! Queremos o comediante!”, a platéia urrava insensível enquanto as luzes piscavam poucas sobre o palco entre as cortinas rasgadas e a débil fumaça de gelo seco. Flechas rompiam o corpo franzino do ator principiante que logo foi retirado. Eu pedia nervoso que “mais paciência, tenham calma, ele virá!” mas a minha vozfantasma não era ouvida lá embaixo. Algumas cadeiras voaram para além do palco e em mim que, sobre suas cabeças, nada pude fazer. “Que entre o comediante!”, minha voz amplificada berrou tão desesperada quanto louca para baixo. A platéia fez silêncio. Ninguém moveu braço ou perna. “Deve ser a grande estrela”, era o que eu pensava. Percebi então que esperavam o tal comediante como quem espera um mágico, um sábio, um revelador de casos, de mistérios suntuosos, um maestro da beleza, cheio de sabedoria; esperavam com ardor a presença do Ministro. “Que entre o comediante!”, repeti mais satisfeito. Uma música canhestra, cinco palmos de fumaça, uma luz vermelha ao fundo, outra branca sobre o microfone e o ator que, grande como um rinoceronte, abancou-se lá no meio do palco absurdo de frente aos urubus famintos e disse, sereno: “Podem me matar agora. Antes de morder essas algemas que arrancam o sangue de meus braços desejo pedir que me matem”. E a platéia aplaudia numa histeria quase infantil diante daquele homem. “Quem vem cá chutar-me os fundos?”, e um moço mui hermoso subiu e fez o favor. Tambores na hora do chute. A platéia ia abaixo. “Quem vem cá cuspir-me a cara?” e um outro, seminu, fez as vezes de soldado e cuspiu-lhe as faces largas, boca aberta, bochechas que escorriam como lavas, olhos vermelhos que clamavam por torpor. “Quem vem cá fuder-me duro?”, e uma moça loira e branca disse “Eu vou! Mas antes preciso que diga a mim e aos outros todos onde mora o seu pudor”. O ator-rinoceronte diante daquele silêncio [gente babando na espera, dedos que se retorciam avidamente] pensou por mais de um instante e disse: “Quando era faminto e leal não havia quem olhasse em meus olhos e quando queria um olhar pedia rolando no chão. Agora não tenho pudores – como nunca tive amores – mas também agora desconheço a solidão”. Então a dama felpuda arrancou sua saia colorida, tirou do ator sua calça, deu-lhe um soco na cara borrada e enfiou seu grande membro entre as pernas e por trás. A platéia delirava, gritando faminta por “mais!” e também por “mata ele! Queremos saber como é!”. O ator, profissional que era, pedia gritando “Enfia mais rápido, moça!” enquanto seus olhos lambiam o chão. O palco, estrutura velha, caibros corroídos, chão de cera e nojo, o palco era seu lar e sua redenção. “Enfia mais rápido! Mais rápido, porra!”. Um homem mascarado e sem nenhuma peça de roupa sobre o corpo subiu ao palco enquanto ele berrava suas ordens à dama que o fodia – “Enfia esse caralho com força e depressa!” – e começou a chutar-lhe a cara. Já com os pés vermelhos e sem proferir palavra, o Homem Nu pediu a moça que se retirasse, o que ela fez de pronto. Então pegou o ator pelos pés, algemou seus pés e estendeu-os por duas grossas correntes que pendiam do teto. A cara vermelha de sangue. Parecia caído de um prédio, de um automóvel veloz. E gemia. A platéia num delírio de felicidade arremessava coisas sobre o palco – cadeiras, cigarros acesos, rosas com espinhos, cusparadas verdes – enquanto ele, suspenso pelos pés, sorria um sorriso tonto, lunático, repleto de luxúria. Cada vez mais alto, ele gemia transgressões incompreensíveis; começou a bater com os punhos em sua própria face. Gemendo e sorrindo e chorando, ele começou a morder as algemas que mantinham seus punhos juntos. Como quem deseja roer o metal ele se pôs a morder ferozmente as algemas e também suas mãos prisioneiras. Os dentes rangiam, a boca sangrava mais e mais. Uns dentes quebraram e ele cuspiu os pedaços sobre a platéia que retribuiu com aplausos e gritos de “muito foda!” e “perfeito, perfeito assim!”. Tentando arrancar as algemas com os dentes o ator-rinoceronte rodopiava no ar, gritava palavras que não existiam, saídas de sua demência, expunha a língua vermelha como quem deseja o mundo e expunha as mãos trêmulas de dor e de coragem. Depois de horas tentando e tentando e tentando o comediante começou a parecer repetitivo àqueles que o consumiam. Cada vez mais pessoas iam embora, cansadas mas satisfeitas, com aquele sorriso na face que o prazer proporciona aos que o sentem. Aos pares e depois aos montes eles iam deixando o lugar. A música parou. A fumaça de gelo seco já não existia e algumas luzes foram apagadas, mas o ator-rinoceronte, o Comandante D’Alegria, o Ministro da Felicidade, o Grande Mago da Luxúria e da Demência, ele permanecia em seu posto, de ponta-cabeça no ar, gemendo e sorrindo e chorando, reclinando eternamente de um lado a outro como quem procura a si, rodopiando sozinho entre as fezes que escorriam e juntavam-se ao sangue que cobria sua face. Sem saber como, de noite já, eu não estava mais lá. Caminhava pelas ruas, pelas mesmas e infinitas ruas. Ainda ouvia os gritos, os sussurros, os gemidos, ainda eu via as cadeiras voadoras e as cusparadas verdes e os xingamentos inúteis. Nada eu pude compreender. Acendi um cigarro e segui em direção a casa. “Encontrar o rapaz que me alucina”, era tudo o que eu pensava. ... -...e enquanto eu corria, eles na minha cola, enquanto eu corria a vida parecia louca, parecia interminável, a vida, sentia-me com a potência de um búfalo desgovernado, um ganso gritando pro ar [queria que você tivesse me visto ali!], eles com as mãos estendidas e os pés no meu encalço! Mas fui como o vento e fui veloz e fui possante como um touro faminto diante de um pano vermelho! - Não deve ter sido fácil. – e seus olhos miravam o infinito como se lá eu me encontrasse. Meu ritmo mudou. Meu coração era frio agora. As unhas assassinas do rapaz que me alucina estavam ainda fincadas em mim. O céu virava-se em verde e a grama era cinza e azul. As águas dos oceanos todos me levavam para longe e para perto e nunca me deixavam, nunca!, nunca elas paravam de afogar-me, aturdir-me, aliciar-me. Sentia-me molestado e sem afeto naquele instante cortante. - Seus olhos – eu disse, mirando-o avidamente. - Que tem meus olhos? - Seus olhos mudaram de cor. - Meus olhos mudaram de cor? – e aquele sorriso de nada na cara bisonha do amado. - Sim. Agora as pupilas são tão grandes que tudo é negro em seus olhos, tudo é escuro e pavor. Seus olhos são tristeza e ódio agora. - Agora e ontem e sempre. - Mas já vi o vermelho e o branco em seus olhos também. Já vi a dúvida em você e também já vi o amor – falei. -...agora e ontem e sempre... – repetia tomado por um tédio e por uma infelicidade que lhe eram comuns diante de mim /e as paredes de todos os prédios pareciam querer ruir, oscilavam demagogas para um lado e para outro, sem afeto nem sabedoria. As paredes de todos os prédios guardavam em suas entranhas, em suas ferragens malditas, elas guardavam ruídos que agora se apresentavam ao mundo que me digeria. Agudos e graves tão inconstantes, vezes num trêmulo louco e vezes numa retidão atroz; notas dissonantes voavam para todos os lados no ar, tomando a cidade com pressa, com força, como um tétano volátil, sobrevoando minha cabeça louca, buscando pousar em meus ombros – e meu peito, que era mais que febre e angústia, meu peito se entornava sobre si próprio enquanto meu corpo cavalgava imaginário entre os meus rins, sobre meu coração leviano, meu corpo seguia cavalgando, escorrendo em meu sangue espesso qual malte, esbarrava agoniado em meu nervo radial, minha horta, minha artéria putrefacta, minhas glândulas todas, minha boca, minha língua, minha uretra, meu reto de mistério e medo. Meu corpo me invadia como se alma ele fosse, transformando a mim e a minha vida numa gruta ensandecida, num deserto ao avesso, caverna sem mamíferos a beira de um mar sem fim. - Não adianta. – eu disse quase em silêncio. - O que? – ele perguntou, de soslaio, apontando como arma os seus olhos para mim. - Não adianta. Nada. O frio nunca passa. O frio nunca vai passar. O vento bate as portas, arromba as fechaduras, apavora as crianças e os velhos das calçadas. Ai, o frio nunca passa e nem nunca vai passar! - Agora os olhos que mudam são os seus e não os meus. - Decerto que sim, posto que o fogo me toma. O fogo e a dúvida e o medo movimentam minha mente para o claro e para o escuro e não sei o que sentir ou o que fazer agora, por hora, meu caro, eu não sei. Depois de algum silêncio ele acendeu um cigarro e o pôs em minha boca. Agradeci e voltamos ao silêncio original – fumaça no ar. Nossos olhos vítreos acumulavam derrotas e nossos dedos tremiam, clamavam por “Vitória! Vitória! Ó, vitória!” – nossos ombros reclamavam. O ar havia se tornado mais leve naqueles instantes seguintes. O silêncio já não trazia consigo o peso do chumbo ou do aço ou o peso das paredes de concreto armado: o silêncio era silêncio apenas, sem facetas, naqueles instantes aprazíveis que chegavam para aquecer o frio que se instaurou em nossas veias, tamanha era a nossa solidão. Quis abraçá-lo, dizer carinhos, bobagens, mas a coragem era pouca. “O que aquele silêncio queria dizer?”, depois pensei, solitário. “Talvez a paz ou talvez” – e bem provável – “ou talvez somente a morte mesmo, o esgotamento último, como saber?”, pensava solitário caminhando pelas ruas enquanto o mundo girava. “As casas têm muros altos, cercas elétricas, cães, maridos ensoberbados, tevês que vomitam gente e vomitam quasi-gente também [tipos que regrediram e fincaram-se como heróis na história derrotista do pensamento humano], crianças que passam o dia flutuando tontas, tocando com os pés o teto de seus quartos e também de suas salas, meninas invisíveis a espreitar rapazes que tocam a si com a mesma fragilidade que tocam o seu camarada / As casas são um amontoado de farpas e poeira e desejos infindáveis / As casas são fauna atordoada, floresta enlutada, carnaval de trás pra frente, circo matando palhaços / As casas são mistério e medo”, assim meu peito pensava. - Precisamos respirar – ele falou [e as cores eram fortes, as paredes se curvavam para um lado e para outro, o chão era de esponja e seus lábios se moviam lentamente]. Precisamos respirar antes de tudo ruir. - É. Precisamos compreender pra onde nos leva o limbo. - Eu tenho medo... - Eu e você. - É: Eu e você – ele repetiu tal-qual. Não sei por quanto tempo mais ficamos ali, mudos, naquela posição, o olhar horizontal espiando o nada com afinco e com paixão. Não sei por quanto tempo ainda nossos corpos mantiveram-se inertes, por quantas horas, por quantos dias / e de repente o sol desponta sobre mim, em minha cama, invadindo com velocidade a janela aberta – O sono acaba – Ele me acorda: -... dormindo? - Hum... Não, não. Que foi? – meus olhos estão fechados. - Preciso ir. - Tá bom. Deixa a porta aberta. Fecho depois. Beijo. - Tchau – e sempre um “Tchau” e nunca um “Beijo”... - Precisamos compreender pra onde nos leva o limbo! – gritei sonolento enquanto a porta fechava. Enquanto a manhã passava, meu corpo sentia frio e tremia e girava em torno de si sobre o colchão. O mesmo vazio na mesma manhã. A dor era a mesma também. Elizete Cardoso poderia ser real agora para gritar em meus ouvidos a força que era dela e que eu não tinha, nunca tive em mim. Uma vontade de desistir, de descansar, desencarnar suavemente e depressa. Caminhava pela casa tateando os móveis como se fossem eles mamilos, lábios, pernas, pêlos, coxas, nádegas, unhas, narizes, como se o mogno e o aço guardassem em si um afago, um carinho, um calor, uma pulsação febril, algum tipo de vida que soprasse [respire fundo, criança] em mim, pra mim, assim... Meus olhos caminhavam nervosos sobre o mundo e minhas mãos não tinham lar. Entrei na despensa e lá fiquei por muito tempo. Pensei em nada, cantei baixinho canções, para ver se apaziguava o peito, tremi como as palhas dos coqueiros tremem no céu marítimo de qualquer praia, qualquer mar. Sussurrei no ouvido do escuro meus indizíveis segredos, rosnei asneiras para as paredes da despensa, tateando-as levemente. Bati em meu rosto cinco vezes com os punhos cerrados. Peguei a panela de pressão e esfreguei-a em meu corpo, até empurra-la com força contra minha pele, contra meu corpo franzino, minha vida de toco de árvore queimando na caatinga, minha existência medíocre, meu ser que nada valia e que nada valerá. Durante horas gemi e tremi e chorei dentro da despensa. Acendi cigarros e fumei-os e bebi toda bebida que encontrei na tentativa de achar a morte, mas não é fácil encontra-la quando se quer encontra-la – então nada eu achei. Ai, meu peito inconstante, meu coração leviano, minha vida-maremoto, meu corpo de paralisia e escárnio, minha libido de veludo e medo, meu desejo de entrega e desdém, ai, meus dias inúteis e sem fim – queria acabar com aquilo, com aquela merda toda, aquela merda, isso tudo aqui, que teimava e teimava e teimava e era em mim! Pensei em rezar, mas que reza eu sabia?! Misturava Pai Nosso com Ave Maria – e os dentes tremiam, a língua enrolava, os lábios pareciam feitos de gesso, as articulações todas, a garganta moribunda, a fala atabalhoada, as letras que não saíam. Então cantei Billie Holiday. Deitado no chão com a cabeça entre as pernas, cantei Billie Holiday e salvei minha vida. Lembrei que quis ser padre na infância, quis ser padre e quis ser maestro e quis ser traficante também. Na infância. Usei minha roupa de padre para me vestir de Morte no carnaval – e era boa aquela infância! Minha máscara de Clóvis em meu corpo de menina e aquela roupa de padre cobrindo a nudez curumim. Querubim de pernas abertas aqui e ali, era eu, roubando o tempo dos homens, fingindo entregar o meu. Querubim de pernas abertas e peito sem soluções. “Se me mato um dia, me mato enforcado” e isso era uma promessa antiga, da época de escola ainda. Promessa que eu me fazia sempre, todos os dias, sempre em silêncio. O problema agora era o mesmo da época do colégio: Não há nunca uma corda potente ao redor de mim, perto de mim, assim, em mãos, fácil de dar um nó, de pendurar nalgum armador de rede, ritualisticamente, seriamente, santificadamente, o corpo trôpego de demência e de prazer. Um banquinho pequeno até que há agora, aqui perto de mim, só tirar as panelas de cima dele e, bam!, tenho um banquinho pra jogar pra trás na hora de não mais respirar. Tudo bem, tudo bem, mas a corda? Sempre o mesmo problema de falta de grana. Não posso ir num mercado e pedir “me dá um pedaço de corda que quero morrer, por favor?”. Decerto eles vão querer que eu pague. “O que você vai fazer com ela não me interessa, mas ela custa tanto”, eles dirão, eu sei. Prendi meus joelhos junto a meu peito, segurei meus braços com a força cega de minhas mãos, enfiei minha cabeça entre meu corpo todo [o queixo em meu peito] e prendi o ar para ver o quanto era possível antes de morrer ou desmaiar. Prendi o ar naquela posição e contei os segundos. Em dois minutos eu já me tremia, me debatia, ainda prendendo o ar, mas sem me deixar sair. Súbito, respirei. Demente, rindo e com medo do escuro ao mesmo tempo, abri a porta tropeçando nas bolinhas coloridas que flutuavam pela casa, me arrastando, respirando fundo, de quatro, segui até o forno, onde deitei minha cabeça atordoada. Acendi o forno já dentro dele, sem rituais, somente mesmo uma vontade, uma vontade veloz de morrer. O fogo começava a esquentar minha cabeça, os pêlos ao redor de meu rosto pareciam queimar. Lembrei-me que não havia música ali. Levantei-me, os cílios fora do lugar, as sobrancelhas menores do que costumavam ser, as orelhas queimadas. Enquanto procurava um disco apropriado – querendo respeitar-me, inventando rituais – lembrei que não acendiam o fogo: abriam o gás e morriam de inalar aquela porra: ninguém se fritava. Meu rosto já estava um pouco queimado do calor e eu sentia muitas dores. Encontrei um disco e, após um esforço que só os cegos conhecem, me olhei no espelho e comecei a chorar. Tentei tocar minha face, mas não pude. Caminhava cego, o cheiro de cílios fritos no ar. Me arremessei sobre as coisas, sobre a mesa, sobre a estante de livros, joguei-me no chão aos prantos, gritando com medo de mim. Queria ser outra pessoa, queria não estar ali, queria não ter-me visto, queria um veneno pra ratos, queria estar morto já. Enfim chegou o desmaio. Tensão no peito demente. Os sons de uma explosão e depois o silêncio. O silêncio sem cor. O mundo como um alfinete onde eu cabia, e ficava confortável, ali, naquele alfinete de bronze que era o mundo comprimido que me abrigava, circense. Depois, era madruga, quando acordei com um peso em meus músculos todos, os olhos grudados ainda – doía senti-los, te-los, doía ser eu, ali, naquele chão lamacento que eu não saberia limpar. Estendi meus braços e pensei tocar o teto. Sorri. Pensei flutuar – ouvia uma canção estranha, algo que eu não entendia, num crescendo instantâneo, dominante, que devorava meus tímpanos aturdidos, como um fragor de automóveis, um acidente veloz: Maria Bethânea arranhada na vitrola e era minha vida que girava ali. Lembrei do forno ligado e também da asneira que eu havia começado sem forças pra terminar. Minha cabeça girava, aguda [como doía!], e minhas pernas tremiam sem conseguir sustentar o peso de toneladas que minha vida carregava como se levasse um mar, uma duna de areia branca e preta, uma falésia gigante, um rochedo sob as ondas, um milharal bem distante, uma floresta daninha, arranhacéus natimortos, estradas embrutecidas, ruelas de medo e nojo sobre os ombros de minha vida. Enfim passou o desmaio. Tensão no peito demente. A vitrola rouca e gaga, os gemidos na minha face – minha carne era pouca e minha pele era menor ainda. Amores não guardo no peito somente: se não me deixam marcas, assim, com mãos de lâminas rápidas, me fazem deixa-las em mim próprio, desenhar em mim o medo, como um container de dor, um alicerce isolado, servindo de nada nunca, uma besta horrorizada com suas cruezas mortais – um asno que, aos pinotes, chuta a si mesmo no vento, assassinando a si próprio como se fosse ele um outro, bicando a própria carne no oposto de uma águia, esperando a morte vã, lamentando o vão da vida, que leva a lugar algum. Tentando me-ver-não-vendo, olhei enjaulado o espelho, querendo-me livre e claro e mais alto e bem mais silencioso também. A vitrola gaga e rouca repetia a minha vida. Três frases e nada mais. “E nesse dia então / Vai dar na primeira edição / Cenas de sangue no bar da Avenida São João”, e foi assim todo o dia. Não toquei na vitrola, não troquei o disco, não troquei as roupas. Olhava minhas mãos e nada eu conseguia pensar. Olhava minhas pernas [ainda trêmulas] e nada eu conseguia pensar – o espelho eu quebrei, por nada eu querer pensar. II O ronco em uníssono de todos os motores indicava que os soldados voltavam para casa do trabalho, bem como indicava que o contingente de medíocres ao meu redor era crescente, mas lá estava ele, taciturno como um jabuti, caminhando em minha direção, os olhos para o chão e sem me ver, sem perceber que eu o notava, o apanhava, o agarrava, para estrangular minha vontade. “Quando ele chega peço um beijo e se ele me diz não lhe mostro a faca na mochila e sei bem que lutaremos e depois nós choraremos, pois somos frágeis e inúteis”. Mas era como um remédio aquela paisagem tarja-preta se movendo em minha direção. Não há ternura que caiba naquele ser, mas como eu o amo. Ele tem tanto medo. Ele quer salvar o mundo escondendo-o de si e ele quer salvar a si escondendo-se do mundo. E como seus olhos brilham um brilho fosco, uma alucinação imberbe, como aqueles olhos de catástrofe cantam canções sincopadas e infelizes. A cada passo uma nota de piano se espalha pelo chão – ele pensa ser guitarra elétrica, mas é piano mesmo, notas graves e agudas simultâneas pelo chão – e eu tento decifra-las, ergue-las a cada instante, eu tento apalpa-las, senti-las, ouvi-las silenciosamente e cuidadosamente (o ronco dos motores ajuda a compor a sinfonia barrocancestralautista daquele que caminha em minha direção). “O lobo do homem é o medo. O medo é o lobo do homem – e não há mais nada que se possa dizer sobre isso!”. A miragem branca de cabelos negros, a miragem é miúda e quase frágil, mas supõe em si uma violência espanhola, uma revolta ameríndia (os olhos têm a cor da noite) e uma beleza sem fim. A miragem fala para cima e para baixo e tenta xingar em silêncio. A miragem abre portas com os dedos e nunca toca as bordas do corpo outro sem soluçar ou tremer. A miragem não sabe de si. E se esconde. A miragem tem medo do alvo e a miragem tem medo da flecha – A miragem não sabe de si. E se esconde. No meu silêncio as palavras são muitas: cuidado, desejo, ametista. Carreta, barganha, oceano. Moroso, medonho, amado. Soberba, futuro, engano. No meu silêncio as palavras são muitas e o que posso expressar é nada. Nem vulto de gozo, nem pá, cova rasa, retrato de parede, nada. Da miragem me ficam os olhos, o toque nervoso, a voz intranqüila, os passos certeiros para lugar algum – e suas mentiras. Tantas mentiras que a mim sobrou apenas o direito de estar confuso e permanecer confuso e errar, errar, errar nos passos e nas previsões. Subi em caminhões pensando subir em dunas e desci aos infernos a procura da miragem (anjo lascivo), meu rapaz assustador. O que me fica da miragem é nada agora que a paisagem revoltosa me toma com desdém: “O passado é aquilo que não devemos tornar a ver e, mesmo que queiramos tateá-lo por demência, insistência, arrogância ou afeto arrebatado, ele permanecerá passado, inerte diante de nosso tato, nosso cheiro ou nossa dor”, foi o que ele me disse em silêncio enquanto se aproximava atravessando os ruídos automobilísticos da hora imaculada. Nada ao redor de mim traz a força da dor que eu tenho. Nada ao redor de mim traz consigo o silêncio que é meu. Nada ao redor de mim me empresta a absurda e mentirosa força que seus olhos têm. Nada. “O passado é aquilo”, etc. – e as nuvens pairando sobre mim. Vê-lo é quase como toca-lo. Senti-lo é quase como um inferno. Sabe-lo é quase como um tesouro. Perde-lo é quase como um machado fincado em meu peito sem brandura, em minha epiderme amarga, em minha vida absurda. Sei que, como ele em mim, permaneço dentro dele. Ecôo também. Mas sei que, diferente de mim, ele não tem a coragem de dizer: “Eu volto”, ou “Estou aqui de novo – e é por ti”, nem mesmo se o peito pedisse. Sei que as horas passam rápido no continente que é só dele, ao passo que no meu continente as horas são elásticas e os dias reverberam para sempre. Fosse onde estou uma praia, a calçada seria areia, o asfalto seria água. As ondas seriam os transeuntes e os automóveis polissílabos que cruzam a estrada de um lado a outro como um cão sem lar. Somente eu permaneço, somente eu grudo no chão e permaneço, grudado na calçada úmida, vigiando a velocidade que tonteia como se nela existisse a beleza, como se ela fosse dama prenhe ou um rapazola. Porra nenhuma: essa velocidade é tudo menos bela, tudo menos cativante. Se continuo vigiando-a (olhos para frente, fixos nos vultos circulares) é porque estou vazio e nada mesmo me resta. A cidade é um cemitério que se movimenta, que se autodigere e se autoflagela – e não há capital, essa ou outra, que não seja de lixo feita, de profunda tristeza e banal alegria, não há essa capital que não seja um mero ser ruminante disforme e sem cor. Que outro lugar então? Eu não saberia dizer. Mas esse decerto não é / (lembrei que quando criança bolava grandes cenas musicais enquanto seguia minha mãe caminhando pelas ruas ou dentro dos ônibus passando a roleta e todos, todos dançavam comigo e cantavam e como era bom! Agora não. Assim, agora, criança do meu tamanho é gente débil e velha pensado reter no peito a leve esperança da infância que um dia existiu e que não existe mais. Lembrei também de quando assaltaram minha casa com um revólver na cabeça do meu irmão / e sem mistério, sem vontade de mudança, a vida mudou, brutal, cruel, descarrilou. Sem aviso prévio a vida jogava sobre nós seus dedos mofados de veludo antigo. Sem aviso prévio minha vida descobria novos gostos, novos sabores e eu não saberia dizer se gostava deles ou não. Sem aviso prévio minha meninice se virava em mágoa e meu pai me chicoteava com suas palavras de horror, sua infelicidade catastrófica, suas mãos adultas e dementes sobre o meu destino – que não era meu, agora eu sabia, e nada eu poderia fazer. Partimos mudos, de mudança, para longe, em busca de um outro mar). Era como um remédio a visão dele atravessando a rua, as mãos sendo jogadas para frente e para trás, os olhos carregando aquela tensão para baixo, em direção ao chão, os pés desacelerados tropeçando a cada passo, era um presente, era quase uma alucinação. Pensei: “Meu deus, porque ele não me ama? Trago em mim tantas promessas de proteção e insanidade... Porque ele não ama, meu deus – se podes me responder...” – e o dia era um dia qualquer, com horas que escorriam, celofanes. E eu hoje as acariciava. Elas passavam devagar sobre mim. / Pedi calma ao meu peito e criei paisagens fugidias. Precisava de paz. Paz, silêncio, mimetismo, harmonia – nada abrasador, nada, nada que rompesse com essa falsa calmaria que eu pintava ao meu redor (eu a queria). Queria cores plácidas, formas delicadas, um mundo de aquarela (minha vida é à óleo e isso pesa). Quebrei quase todos os meus discos, mantendo intactos somente os inofensivos. Acendi dez cigarros de uma vez e os posicionei como incensos pela casa. Tranquei as janelas e portas, amontoei minhas roupas ao lado do fogão e deitei-me no corredor, entre a sala e o banheiro, respirando fundo, catando o turvo do ar, mastigando a fumaça espessa como se beijasse a relva. Meus olhos fechados pintavam as desejadas aquarelas e minhas mãos espalmadas flutuavam torpes. Não poderia ser guache – nem acrílico poderia, pois não queria o deslumbre feiticeiro de Chico da Silva pelo ar, ao redor de mim: Aquarela. Como uma dona de casa pintando seu jardim de flores de muitas cores com afeto e entusiasmo, com delicadeza e amor. Pintar o tolo da vida – ou a tolice de mi vida – como quem inventa um mundo – era o que eu queria. Óleo não, pois a constância dessa fórmula me leva a lugares por onde nunca eu não desejo ir. Pus-me a pintar sorrisos infantis em minha face, numa cara que não era minha, mas que seria e poderia ser. Num desejo louco de reinventar-me deitei sobre o frio do chão e me pintei e desenhei (olhos que rodopiavam fechados pelo ar) tão estimulado pela miséria e vontade de viver que as cores eram mesmo amenas e os traços eram finos e certeiros. Por trás de mim muitas cores, emotivas, solidárias, amorosas, delicadas. Meu rosto eu pintava de ouro e pintava de claridade singela. Meu peito não tinha cor: transparência imaginária. Minhas pernas eram leves e meus pés mais flutuavam que tocavam o chão, enquanto minhas mãos removiam os excessos de tinta, aqui e ali, com a delicadeza e a bondade que lhes era, hoje, agora, tão fortemente peculiar. “Tarde demais”, meu peito me dizia, mas eu não prestava atenção. Cantava uma canção qualquer buscando falar mais alto que meu peito, calar sua voz com palavras de alento e respiração sublime enquanto os cigarros queimavam. Alimentei os patos todos, limpei meus pés e subi as escadas de volta a cozinha da casa. Ninguém na cozinha, ninguém na sala. Apertei um cigarro sem filtro e me despi para curtir deitado no chão o teto da casa: Caibros infinitos criavam desenhos geométricos, cruzando aquele chão suspenso, de telhas de barro marrom. Queria caminhar ali, me equilibrar astuto sobre os caibros, brincando de cair-cair. Ergui minhas pernas, fechei um dos olhos e movimentei meus pés no ar como se fosse possível o desejo de dançar ponta-cabeça, girando fantasma, pisando no teto engraçado, avistando o chão como seu céu, olhando para baixo como quem olha as estrelas. Então segui por estradas desenhadas em minha mente. Ruas que eram bonitas, com casas e árvores e flores nos jardins das casas, pessoas que me cumprimentavam sorridentes enquanto passavam por mim, crianças que não traziam o medo no olhar – e como era bom o mundo ali entre os caibros, como era divertida minha alva fantasia, meu particular mundinho, meus caminhos inventados, como era tênue, terna, a vida; como eram saborosas as frutas e como era fresco o ar naquele mundo-falsete de ponta-cabeça e flutuação. Tenho certeza que meus lábios sorriam sorrisos de leveza abstrata, de satisfação endoidecida, imaginação exata. Tenho certeza, pois meu peito bate mais rápido quando sorri minha boca (vozes infantis em minha cabeça alta!), quando movimento meu corpo inteiro sem mover-me um dedo, pois gosto do mundo de dentro, gosto de observar o mundo que invento, de sentir os seres, viver os instantes do mundo que é meu, onde eu caibo. Onde a tirania do outro não me alcança, onde o medo do outro não existe, onde o inferno do outro não queima ou sufoca, nem a mim nem ao outro. Mas às vezes sinto-me só nesse mundo imaginário – sempre menos só que no mundo exterior, de cheiros cortantes e barbárie plena, mas às vezes sinto-me só nesse mundo imaginário – então invento parceiros, amigos, amores, amantes, invento sons, ruas, dunas, invento mares azuis, invento céus onde eu possa voar e ondas que me mergulhem. Invento pescadores e invento o que pescar. Invento sorrisos cúmplices, invento alegria muita, invento minhas ruas calmas, paredes de azulejos, invento soldados nus, retiro o lixo das calçadas, liberto o mundo do mal, amamento cem mil crias e danço no pôr-do-sol. Um inventor que inventa as coisas para dentro. Um inventor que não deseja a utilidade das coisas, só mesmo dos sentimentos. Um inventor que se esconde dentro de si por não saber como ser estando do lado de fora. Um inventor que inventa porque é preciso. Um inventor que inventa porque não sabe remar, não sabe viver a vida, não sabe ser fácil ou pequeno, nem sabe ser mais do que é. Um inventor doidivanas que saboreia as mentiras sentindo o cheiro da farsa e as vive com delicada esperteza (vontade de sabedoria) e iluminada solidão. ... Ele tinha os olhos turvos e repletos de apatia. Suas retinas miravam o chão sem fúria ou delicadeza – grandiosa inércia – e suas palmas salivavam de suor – seus passos duros. E seu corpo passou por mim, cruzou meu caminho como se me atravessasse – as sirenes ao redor. Meu coração era velocidade atroz e meu corpo era uma estátua. O mundo girou de um lado a outro e os dedos do rapaz – os dedos, os dedos sim – eram facas luminosas transbordando o sangue em mim. O céu era escuro e a chuva era pingo duro sobre meus ombros de musgo. Queria saboreá-lo, queria sabe-lo, atá-lo, queria queimar sua neve, derreter seu gelo inteiro, engolir o seu veneno clamando por deuses eternos, amor-tempestade que não deixa leve mas tampouco mata, ó!, sentir sua fúria arrebatada em mim, e eu dizendo sim, sim, sim, sim, sim, ó!, sim-sim, ó! mas nada me acontecia e nem nada eu faria para que a paisagem fosse outra agora, para que a chuva que fazia dos bueiros piscinas constantes deixasse de existir – nem nada eu poderia fazer. O mundo tem mais vida que eu. A cidade tem mais gente que eu. As fazendas têm mais gado que eu. O mar tem mais peixes, as casas mais latas, os corpos mais sangue, as bocas mais dentes, as ruas mais carros – e então? Quem paga a conta pelo meu desespero agora? Quem tira de minha existência esse câncer e essa faca sem que nada me aconteça agora? / e vi suas costas sumindo na multidão. Vi seus desejos gerando fumaça ao redor. Vi suas vontades me dizendo não e vi suas retinas olhando pro chão. “Teu peito é só meu”, falei para mim (a mão sob a blusa). III Sorvendo com candura o orvalho de sua boca. Absorto (pó e musgo) diante de seus olhos de altar. Ai, rapaz, que morbidez fedida a que me engole agora. Que vulnerabilidade tacanha e volúvel é sua vida e como eu a quero e como eu a preciso e como eu gostaria de querer o oposto do que pode me dar! Mas não. Permaneço tateando a paisagem que era sua, tomando-a como minha, já que a minha eu não sei onde ficou. Na verdade desconheço tudo o que está ao meu redor. Desconheço sua pisada marinha de fantasma, desconheço minhas costas moribundas, sua cabecinha rala, bem como desconheço esse troço (troça! troça!) que reside aqui em meu peito e que clama por você. Em nossas cabeças doentes giramos como em espirais, carregando sobre os ombros (em nossas cabeças doentes) cada um suas demências, um punhado em cada uma, e também os cemitérios e seus defuntos. Em que residência noturna te verei novamente, rapaz? Em que boteco ou puteiro te colocarei as mãos. Em que quarto enfumaçado nos olharemos nos olhos novamente – eu com aquele olhar de fracasso que você odeia e você com aquela culpa nos olhos, revoltada e revoltante que tanto te consome e quanto. Lembrando daquela: “17/10/05 – Idiota. Saudades. O vento engole o quintal. Onde estão as luvas que eu deixava sobre o móvel homicida antes de queimarmos velas? E onde o teu cheiro foi guardado quando de mim você foi levado (por si próprio) para longe e nunca mais? E porque das últimas vezes tínhamos nos olhos a confusão robusta, quando nos esbarrávamos pelas ruas venenosas da cidade furta-cor? Meu silêncio é seu, mas é sua também minha voz. E onde eu resido em ti? O que queres de mim que não o que eu possa lhe dar? Cordialmente, ***.” e o mundo era pequeno demais e as chaves não abriam portas e os tremores eram constantes e o sonho de ser dragado para dentro do rapaz de pernas maliciosas era de uma presença infernal. E então me veio um bilhete, dias depois: “Seu sorriso não me diz nada” e eu chorei. Abri as duas mãos e soltei-as brutamente sobre meus peitos seguidas vezes, sem gritar, em silêncio. Depois é que gritei – e as vozes me diziam: “Exorciza esse amor que tanto te fere essa porra de peito minúsculo! Tira de ti estas vestes internas que fazem de ti alguém tão horripilante y tosco! Arranca para fora de si essa porta emperrada que não te deixa caminhar para adiante! Renega o que sente agora e grita mil vezes o seu próprio nome!” e eu gritava, esmurrando minha face e todo o resto, esfregando minhas nádegas sobre o chão frio de cimento, esmagando minha existência como a um inseto, buscando destruir o passado como no poema antigo, fazendo liberto o caminho para um tempo que ainda não chegou e que, espero, um dia virá - dejá Vu: enquanto escrevo essas linhas, tenho a nítida impressão de já tê-lo feito. Jamais saberei, no entanto. Bem: a carta para o espelho: “Soldado. O tempo é curto demais e a guerra é grande, como toda guerra é, e é inútil como todas são. Morreremos todos após mil deserções e cinqüenta corpos nus boiando em lagos e esgotos-campanários, frutos de nossa imaginação. Te quero bem, mas te quero morto. Te quero amarrado e seguro pero bem longe de mim. Saúdo sua presença com o fogo e retalho os entraves com as tesouras que, assim, me salvarão”. O inverno é longo. O mar é morno. As dunas só sabem subir e descer, indefinidamente. Meus pés acariciam a areia da praia de minha cabeça e meus dedos são como algas alongadas que, circulares, movimentam-se pacificamente para tantos lados quanto for possível. No meu peito tem você. Tem você, que é a cara do meu tempo (luxúria e lixo, desejo e inércia, rompante e morte), “Mas eu te amo”, me lembro dessa frase na carta: “Mas eu te amo” e não sei o que foi dito após. Perdendo o controle: - Atire para o alto! Atire em minha direção! - Seu ritmo louco me alimenta a alma inerte e seus olhos de verniz detonam em mim toda a sorte de guerras e mentiras. - Somos destrutivos, acho, e acho que pra isso não há o remédio nem a cura. - Veja! Atiro para o alto! - Agora me alcança, criança, vá! e nossos sorrisos tomavam o mundo, nossos corpos circulavam pelo ar numa meninice linda e perigosa. Demenciados pelo desejo e pelo desejo de morte, nós seguíamos, cientes de que a rota e a colisão caminham juntas quando juntos nós estamos. E o adeus não existia. Decerto que o silêncio nos tomava com muita constância e, sim, o medo também muito nos visitava naqueles dias de glória e contínua rouquidão. - Me empresta teu cigarro – os dois deitados, olhando o céu do quarto. - Aqui. - ... - ... - Agora podemos nos beijar – e a dança era língua e era dente de dentro pra fora, num salto e num arremesso, mansidão ludibriada, selva cá dentro do peito. E éramos eu e você, Pirilampo Vadio, naqueles dias de glória endiabrada, de paixão embriagada, de lamentos similares e desejos soluçantes, éramos eu e você. As horas passam como se o tempo caminhasse para trás e para frente, tão eternamente que o passado é presente e o futuro já não está – e talvez seja assim: talvez seja nesse ir e vir marítimo que o tempo transforma o frescor das horas numa cilada iridescente e por isso o medo de sentir o peito transmutado por um desejo animal te faça recuar e vir. Busco a solução nos soluços noturnos, nas lágrimas nucleares, os olhos tal como são. Reconheço sua bruxaria, mas não sei me livrar dela. Olho-me no espelho e finjo não me importar, gritando para mim mesmo. E digo: “Nada disso no fundo me importa! De resto, quero saborear a vida, esfregar meu lodo em tudo, minha nódoa errante em cada centímetro de espaço. Quero saciar minha sede engolindo água – e que essa seja vida fresca e só! Dou de ombros a cada misticismo que teime em me tocar, às suas pilhérias malucas, à minha sandice soterrada, pois não me importo! Não reconheço o que possa me importar nessas vontades lunares, nessas falsas salvações, nessas bostas milenares, não-não! Sei que fugir do presente é tudo o que teimamos fazer e sei que esses artifícios nos ajudam na jornada, mas sei também que é do presente que gosto. É nele que fico pleno (a saudade mata aos montes e o futuro é aquilo que posso apenas temer), pois é no presente que recrio o passado, destruindo as horas fugidias, e também é aqui que monto o que o futuro será, Meu Bruxo”. As horas flácidas agarram meus pés e eu flutuo, engolido pela inconstância das paisagens: - Toque em minha mão. - Sim. - Acaricie cada falange e, para cada uma delas, me conte um segredo. / e foi assim durante um ano. ... Uirá dos Reis
Download