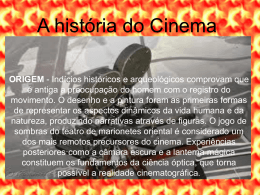Cinema independente no Brasil: anos 1940-501 Luís Alberto Rocha Melo Formas de produção independente: sistemas e modelos Na história tradicional do cinema brasileiro, aponta-se o advento dos grandes estúdios paulistas (Vera Cruz, Maristela, Multifilmes) como o fato mais marcante ocorrido na passagem dos anos 1940-50. São Paulo assume, com isso, inegável protagonismo no movimento de cultura cinematográfica daquela época. Ao mesmo tempo, o cinema que se faz contemporaneamente no Rio de Janeiro será quase sempre identificado à produção das chanchadas, isto é, das comédias musicais populares – carnavalescas ou não –, sobretudo as produzidas pela Atlântida, com astros como Oscarito, Grande Otelo, Eliana e Anselmo Duarte. Em contraposição a esses dois núcleos – os estúdios paulistas e as chanchadas carnavalescas – haveria um terceiro grupo, o dos independentes, composto por realizadores e críticos ligados em sua maior parte ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), com forte atuação em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os independentes foram bastante ativos na organização das mesas-redondas da Associação Paulista de Cinema (1951) e dos Congressos Nacionais do Cinema Brasileiro (1952-53), além de realizarem alguns filmes emblemáticos, tais como O saci (Rodolfo Nanni, 1953), Alameda da Saudade, 113 (Carlos Ortiz, 1953), Agulha no palheiro (Alex Viany, 1953), Rio, 40 graus (Nelson Pereira dos Santos, 1955) e O grande momento (Roberto Santos, 1959), entre outros. Os independentes questionaram, no calor da hora, o modelo “industrial” importado pelos grandes estúdios paulistas, associando tal modelo, direta ou indiretamente, à ação imperialista do cinema estrangeiro – notadamente o norte-americano –, em um processo conjunto de dominação econômica e cultural. Por outro lado, defendiam a procura por uma forma “brasileira” e “realista” de fazer cinema, essencialmente popular e comunicativa, expressa sobretudo pelo “conteúdo”, isto é, pelos temas e histórias levados à tela, compreendendo aí aspectos culturais e sociais, tais como o folclore, a música popular, o campo, a favela, o universo do trabalhador e do “homem comum” etc. Um cinema verdadeiramente independente significaria, assim, um compromisso ético e estético a partir do qual a realização de filmes no Brasil fizesse parte de um sentido maior de reflexão em torno das condições sociais, econômicas e culturais do próprio país, donde a crença de que tais filmes imbuídos desse espírito progressista certamente encontrariam diálogo com o público. Essa leitura histórica é de grande valia para estabelecer as origens ideológicas de um “cinema moderno” no Brasil, consubstanciado pelo movimento do Cinema Novo. Contudo, ela não é suficiente quando se busca entender o que significava falar em “produção independente” no meio cinematográfico brasileiro naquele período. Em termos bastante amplos, é possível datar o final dos anos 1940 como o momento em que surge no Brasil, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, o debate sobre a produção independente de filmes de longametragem de ficção. O termo independente deve ser entendido aqui no interior das disputas políticas travadas no meio cinematográfico, isto é, entre produtores, distribuidores e exibidores. O contexto em que se dão essas disputas caracteriza-se pela marginalidade do setor da produção de filmes, que não encontra em seu próprio mercado espaço suficiente para fazer retornar seu investimento, e pela intermediação do Estado visando a compensar a presença excessiva do produto estrangeiro, sem contudo atingir o gargalo da distribuição e da exibição, setores tradicionalmente dominados pelas majors. Inicialmente sob o governo do general Eurico 1 Este artigo resume uma série de ideias desenvolvidas na minha tese de doutorado intitulada “Cinema independente”: produção, distribuição e exibição no Rio de Janeiro (1948-1954), defendida em 2011 no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, Niterói (Rio de Janeiro). 1035 Gaspar Dutra (1946-50) e depois durante o segundo governo de Getúlio Vargas (1951-54), o Estado vai ser um importante agente ideológico e mediador nessa relação conflituosa entre produtores e exibidores, sobretudo através dos sucessivos decretos e leis de obrigatoriedade de exibição do longa-metragem brasileiro nos cinemas. De 1948 a 1954, o meio cinematográfico vai conhecer uma intensa batalha pela afirmação política da classe dos produtores, ocasião em que o termo “independente” vai adquirir inegável peso político, sobretudo a partir da atuação do veterano técnico de som, produtor e diretor Moacyr Fenelon. Um dos fundadores da Atlântida – Empresa Cinematográfica do Brasil S. A., Fenelon lá permaneceu de 1941 até 1947, como produtor e diretor. Após desligar-se do cargo de diretor-superintendente da Atlântida, constituiu no ano seguinte sua própria produtora, a Cine-Produções Fenelon. A partir de então, passou a assumir publicamente, em diversas entrevistas concedidas à imprensa, o discurso e o rótulo de “produtor independente”, conferindo ao termo uma evidente carga ideológica. Entre 1948-49, a Cine-Produções Fenelon realizou cinco filmes em associação com os estúdios Cinédia em São Cristóvão, de propriedade de Adhemar Gonzaga: Obrigado, doutor (Moacyr Fenelon, 1948), Poeira de estrelas (Moacyr Fenelon, 1948), Estou aí? (Cajado Filho, 1949), O homem que passa (Moacyr Fenelon, 1949) e ...Todos por um! (Cajado Filho, 1949). Em 1950, Fenelon associou-se ao empresário de comunicações e político Rubens Berardo Carneiro da Cunha, com quem fundou a Flama - Produtora Cinematográfica Ltda., sediada no bairro das Laranjeiras. Lá dirigiu e produziu, entre outros filmes, o melodrama Milagre de amor (1951), a comédia Tudo azul (1952) e o longa de estreia de Alex Viany, Agulha no palheiro (1953). O que Moacyr Fenelon entendia por “produtor independente” diferia em alguns pontos das ideias defendidas pelo grupo dos críticos e realizadores ligados ao PCB (Carlos Ortiz, Alex Viany, Nelson Pereira dos Santos, Rodolfo Nanni, Galileu Garcia, Salomão Scliar etc.). Para Fenelon, ser independente significava antes de mais nada defender publicamente um perfil diferenciado de profissional integrado ao mercado de trabalho – ou, para usar as expressões correntes, de um “produtor avulso” inserido na “indústria”. A idéia de autonomia ou de independência ajudava a legitimar uma estratégia competitiva de abertura e delimitação de espaços específicos no interior de um exíguo mercado de trabalho. Definir-se como “independente” era afirmar-se a um só tempo como profissional técnico, homem de idéias e produtor executivo. No período que estamos abordando, Moacyr Fenelon soube como ninguém encarnar esse perfil. Afora Moacyr Fenelon e o grupo ligado ao PCB, alguns outros poucos realizadores contemporâneos também fizeram uso ou refletiram mais detidamente sobre a produção independente, embora de maneira incipiente: é o caso de Luiz de Barros e de Silveira Sampaio. Cronistas e repórteres especializados como o veterano Pedro Lima e os jovens Manoel Jorge, Joaquim Menezes, Luiz Alípio de Barros e Costa Cotrim, entre outros, também farão uso esporádico mas estratégico da expressão “produtor independente”, conferindo à mesma um caráter de diferenciação em relação ao cinema “empresarial”, isto é, de estúdio: “independentes” seriam os produtores “avulsos”, sem estúdios, que através de diversos expedientes conseguiam levantar recursos para produzir. Assim, para esses realizadores e cronistas, falar em “independência” era fundamentalmente pensar em termos de relações de produção, não importando a questão conteudística e ideológica dos filmes: tanto um produtor de chanchadas quanto um diretor de filmes dramáticos poderiam ser considerados “independentes”. No cinema brasileiro dos anos 1940-50 era frequente a associação entre donos de estúdios e produtores autônomos. Vejamos o caso do acordo entre a Cine-Produções Fenelon e a Cinédia, firmado em 1948: ele segue exatamente o modelo da produção associada, de resto usual desde os anos 1930. Os cinco filmes coproduzidos por Gonzaga e Fenelon correspondiam a uma estratégia de mercado bem delimitada: dois dramas, uma comédia musical, dois carnavalescos. A estrutura da Cinédia era o que possibilitava a Fenelon 1036 elaborar um programa de ação, planejando um total de títulos a serem realizados em sequência, dentro de uma outra estratégia de fundamental importância para a sobrevivência do produtor independente: a produção planificada. A Cinédia cobria para Fenelon grande parte dos custos de produção: funcionários, parte da equipe técnica e dos operários do estúdio; equipamentos, carpintaria e cenários; palcos de filmagem, montagem e laboratório. Era responsabilidade de Fenelon, por sua vez, pagar a equipe técnica principal (fotógrafo, montador, cenógrafo etc.) e providenciar todo o material sensível para as filmagens. Esses gastos, no entanto, não cobriam a totalidade dos orçamentos. Atores e atrizes principais e secundários; maestros, músicos, cantores e cantoras; bailarinos e coreógrafos; direitos autorais para os compositores; móveis e objetos de cena; transporte, alimentação e hospedagem para filmagens fora do Rio de Janeiro; figurino e material cenográfico, além do eventual aluguel de espaços para filmagem fora dos estúdios e demais gastos extras – todos esses itens demandavam recursos que estavam fora do alcance tanto do estúdio quanto do produtor autônomo. O principal mecanismo utilizado para contornar ou cobrir esses outros gastos – integralmente ou ao menos em parte – era o chamado sistema de cotas, algo muito próximo do que hoje ocorre com projetos realizados a partir do sistema de crowdfunding via redes sociais na internet. Aliás, as cotas de participação, vale dizer, não se restringiam aos independentes: era de uso generalizado, mesmo por empresas como Atlântida, Cinédia e Flama. Tratava-se de um acordo estritamente privado: produtores, estúdios, equipe e demais cotistas eram investidores particulares de risco, sem quaisquer bases de garantia caso a iniciativa fracassasse. Evidentemente, a integralização de um orçamento por meio de cotas exigia um trabalho de convencimento desses possíveis sócios. Em geral, os produtores trabalhavam com agentes ou corretores encarregados de “vender” as cotas de participação, o que demandava manter um mínimo e constante círculo de relações profissionais ou de amizade com os “capitalistas”, ou seja, industriais, comerciantes, ou mesmo – o que era bem mais raro – pessoas ricas que simplesmente se mostravam interessadas em investir no cinema. No caso da Atlântida, por exemplo, era relativamente fácil vender cotas de participação: bastava que os comediantes Grande Otelo ou Oscarito, mantidos sob contratos de exclusividade, encabeçassem o elenco. Mas que garantias semelhantes poderia oferecer um produtor independente descapitalizado? Entende-se assim a estratégia de Moacyr Fenelon ao contratar nomes conhecidos do grande público (como Rodolfo Mayer e Lourdinha Bittencourt) e investir no gênero carnavalesco e no melodrama. Isso tudo para não falar da associação com a Cinédia, marca que avalizaria qualquer iniciativa e que tinha em seu currículo êxitos de bilheteria como Alô...! Alô...! Carnaval! (Adhemar Gonzaga, 1936) e O ébrio (Gilda de Abreu, 1946). O sistema de cotas (incluindo aí a própria lógica da associação entre um produtor autônomo e um estúdio) não era, portanto, apenas uma alternativa de financiamento, e sim o único recurso possível para o produtor independente. Evidentemente, isso interferia, informava e na maior parte dos casos acabava por orientar a escolha de temas, atores e gêneros, determinando, assim, o próprio tratamento estético a ser dado a cada filme. Produção, distribuição e exibição: o “circuito independente” Em 1946, Luiz Severiano Ribeiro Júnior era um jovem empresário de 34 anos que controlava 60 das 120 salas do Rio de Janeiro. Como vice-presidente da Companhia Brasileira de Cinemas (com seus seis circuitos de exibição) e da Empresa L. S. Ribeiro, atuava no Norte, Nordeste e Sudeste – Belém, Fortaleza, Recife, Petrópolis, Niterói, Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Belo Horizonte –, programando mais de 400 dos cerca de dois mil cinemas em território nacional. A posição de maior exibidor do país decorria de uma política agressiva de arrendamentos e aquisições de salas, iniciada já nos anos 1920 por Severiano Ribeiro pai. Por outro lado, 1037 sua liderança no mercado exibidor nacional logo atraiu os interesses das distribuidoras norte-americanas (Fox, Warner, Columbia etc.), que passaram a manter com Ribeiro estreitas e duradouras ligações, alimentando o seu vasto circuito de salas e ocupando, consequentemente, a maior fatia do mercado interno. Nos anos 1940, Ribeiro Júnior ampliou o campo de atuação da exibição para outros setores da atividade cinematográfica, incluindo serviços de laboratório e publicidade (Laboratório e Gráfica São Luiz), distribuição (União Cinematográfica Brasileira) e produção de filmes (em outubro de 1947, torna-se o acionista majoritário da Atlântida). Nada disso por acaso: o investimento no ramo da indústria se deu justamente quando o decreto nº 20.493, de 24 de janeiro de 1946, obrigou os cinemas lançadores em todo o território nacional a exibirem anualmente no mínimo três filmes brasileiros de longa-metragem (um longa por quadrimestre), classificados como de “boa qualidade”. Além disso, o decreto reiterava que o preço mínimo da locação de um filme deveria ser de 50% da renda da bilheteria. A atuação centralizadora de Luiz Severiano Ribeiro Júnior na produção de filmes criará um forte laço entre os setores da produção e da exibição no Rio de Janeiro. A segunda metade da década de 1940 verá Ribeiro Júnior ligado a diversas iniciativas de produção, participando como cotista de alguns filmes e realizando sucessivos adiantamentos sobre a previsão de renda de outros tantos. Foi essa última modalidade de atuação, por sinal, que o permitiu adquirir, em 1947, a maior parte das ações da Atlântida, empresa da qual logo se tornou credor e, em seguida, diretor-presidente. A influência de Ribeiro Júnior era praticamente incontornável. Para se ter uma ideia, mesmo após tornar-se “independente” Moacyr Fenelon acabou tendo de negociar com a UCB (União Cinematográfica Brasileira) a distribuição dos dois primeiros filmes da Cine-Produções Fenelon/ Cinédia, Obrigado, doutor e Poeira de estrelas, além de exibi-los nos cinemas do novo dono da Atlântida. Por outro lado, as batalhas contra o “truste” de Severiano Ribeiro (sobretudo nos anos 1948-49) fizeram da figura desse empresário uma espécie de símbolo contra o qual os produtores independentes deveriam se insurgir politicamente. A eleição de Moacyr Fenelon, em 30 de maio de 1952, para a presidência do Sindicato das Empresas Cinematográficas do Rio de Janeiro é um exemplo concreto desse antagonismo: de um lado, concorria a chapa A, do “grupo Severiano Ribeiro”; de outro, a chapa B, “do grupo independente”. A chapa dos “independentes” foi a vencedora, fortalecendo Moacyr Fenelon como liderança política da classe. Os produtores independentes precisavam enfrentar não apenas a concorrência desigual do “truste” de Severiano Ribeiro como a má-vontade dos demais “exibidores independentes”. Diante de um mercado interno ocupado pelo produto estrangeiro e altamente concentrado, os produtores procuraram na interlocução com o Estado as alternativas possíveis para a inserção de seus filmes nos cinemas. Esse é o contexto em que os decretos e leis de proteção ao filme brasileiro, baseados na compulsoriedade da exibição, terminaram por “disciplinar” minimamente o mercado e criar as únicas condições de penetração do filme brasileiro nas salas exibidoras naquele período, ainda que de forma limitada e a reboque do produto estrangeiro. Esse processo obrigou a que se reconfigurassem as relações entre produtores, distribuidores e exibidores, culminando, entre os anos 195152, na formação de um “circuito independente” no Rio de Janeiro. Mas como se deu a criação desse circuito? A promulgação do decreto nº 30.179, de 19 de novembro de 1951, conhecido como a “lei dos 8 x 1”, foi decorrência de uma longa batalha entre produtores e exibidores. Em 1950, o governo atendeu aos produtores e baixou uma portaria aumentando a obrigatoriedade de três para seis longas brasileiros anuais (dois filmes por quadrimestre). No ano seguinte, também por pressão dos produtores independentes capitaneados por Moacyr Fenelon e Rubens Berardo, Vargas promulgou o decreto nº 30.179/51, estabelecendo a proporção de um filme brasileiro para cada oito estrangeiros. O dado mais interessante desse decreto é que ele não interferia propriamente nos cinemas lançadores de primeira linha – aqueles que exibiam um filme estrangeiro por semana –, mas atingia sobretudo os circuitos 1038 de segunda e terceira linhas, que exibiam vários filmes estrangeiros por semana ou mesmo por dia. Essas salas (o grosso do mercado exibidor brasileiro, se tomado em termos nacionais) é que se sentiram prejudicadas pelo decreto. Afinal, como a base de sua programação eram os chamados “programas duplos” ou a exibição de vários filmes por semana, tais salas seriam em tese obrigadas, proporcionalmente, a passar uma quantidade muito maior de filmes brasileiros. A reação dos exibidores foi obviamente violenta, e não tardaram a surgir na imprensa os protestos encabeçados pelos presidentes dos Sindicatos dos Exibidores de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, respectivamente Mansueto de Gregório, Nelson Cavalcanti Caruso e Francisco Cupello. Esses três nomes representavam por meio de seus sindicatos a maioria esmagadora dos exibidores nacionais – que se autointitulavam, por sinal, “independentes” –, com o óbvio (embora estrategicamente discreto) apoio das grandes empresas exibidoras do Rio e de São Paulo, tais como Severiano Ribeiro, Vital Ramos de Castro ou Francisco Serrador. A grita dos exibidores terá como resultado a assinatura do decreto nº 30.700, de 1952, que vai modificar a “lei dos 8 x 1”, instituindo, ao invés de um filme brasileiro por oito estrangeiros, a nova proporção de um filme brasileiro por oito programas de filmes estrangeiros. Para se ter uma ideia do que isso significava, um “programa” poderia incluir de um a dez títulos estrangeiros por dia. Essa simples mudança sem dúvida beneficiava os exibidores de segunda e de terceira linhas, os cinemas de bairro e os chamados “independentes”. Aparentemente, os produtores sairiam perdendo; mas não foi bem isso o que aconteceu. O decreto nº 30.700/52 foi o resultado de um acordo de bastidores entre produtores e exibidores independentes, forçados a sentarem na mesa para negociar uma solução para o conflito. O acordo se deu nos seguintes termos: de um lado, os produtores aceitaram mudar o critério de proporcionalidade (oito programas ao invés de oito filmes estrangeiros). Em troca, os exibidores resgatariam da sombra uma velha distribuidora criada por eles em 1946, a Unida Filmes S. A., até então apagada no mercado, transformando-a em uma distribuidora atuante, voltada exclusivamente para filmes brasileiros independentes, quer dizer, produzidos, distribuídos e exibidos sem a participação, em nenhum dos três setores, do grupo de Luiz Severiano Ribeiro. Sendo uma distribuidora de propriedade dos próprios exibidores, a Unida Filmes automaticamente passaria a contar com as salas independentes, completando o circuito de produção-distribuição-exibição. O decreto nº 30.700/52 foi, assim, vantajoso para os dois lados: para produtores como Moacyr Fenelon e Rubens Berardo, porque poderiam exibir seus filmes fora do circuito de Severiano Ribeiro – o que de fato ocorreu com as produções da Flama Tudo azul, Com o diabo no corpo (Mario Del Rio, 1952) e Agulha no palheiro; para os exibidores, porque além de conseguir alterar a lei a seu favor, ainda participariam dos lucros dos filmes por eles distribuídos e exibidos. Entre 1952-54, sob a direção dos exibidores Carlos Flack e Nelson Cavalcanti Caruso, a Unida Filmes distribuiu e coproduziu filmes de diversas produtoras independentes – Flama, Produções Watson Macedo, Brasil Vita Filmes, Cinematográfica Mauá, Castelo Filmes etc. –, que, por sua vez, eram lançados nos cinemas dos independentes Vital Ramos de Castro (circuito Plaza) e Casa Marc Ferrez (circuito Pathé-Palace), no Rio de Janeiro, além do circuito Serrador, em São Paulo. A combinação Flama-Unida Filmes-Vital Ramos de Castro, por exemplo, permitiu que Tudo azul, o maior sucesso comercial da produtora de Rubens Berardo e Moacyr Fenelon, fosse lançado em 20 cinemas no Rio e ficasse duas semanas em cartaz somente no Plaza. Além de distribuir, a Unida Filmes também entrou diretamente na produção de filmes, financiando Rua sem sol (Alex Viany, 1954) em coprodução com a Brasil Vita Filmes e a paulista Cinedistri, película lançada no circuito Pathé-Palace. Além disso, a Unida Filmes também entrou na produção e na distribuição de vários filmes de Watson Macedo, distribuiu os primeiros filmes de Roberto Farias (Rico ri à toa, 1957; No mundo da lua, 1958) e, já no período final da distribuidora, coproduziu e distribuiu Mandacaru vermelho (Nelson Pereira 1039 dos Santos, 1961). Pouco depois, em 1962, a Unida deixaria de atuar no mercado. Apesar das vantagens aparentes, o “circuito independente” de produção-distribuição-exibição criado no Rio de Janeiro se mostrou frágil e circunstancial. Uma vez reacomodados com o decreto nº 30.700/52, os interesses de produtores e exibidores voltaram a se divorciar, justamente porque não estavam ancorados em uma situação real de domínio do mercado mas, ao contrário, mantinham-se em uma faixa muito estreita de possibilidades, ditada pela própria legislação à qual os setores da produção e da exibição de comum acordo se adequaram. Quando Nelson Cavalcanti Caruso e Carlos Flack deixaram a presidência da Unida Filmes e passaram a se dedicar somente à exibição, à frente da Cinemas Unidos S.A., ambos tinham como propósito estabelecer uma “rede de associações” que ocasionou uma renovação no circuito de cinemas independentes no Rio de Janeiro. Os novos rumos desse “circuito independente” ficaram claros em junho de 1955, quando seus integrantes fecharam um acordo com a Warner Bros. para a exibição de filmes em Cinemascope, fato que foi anotado pela revista Cine-Repórter (Rio de Janeiro, 25/06/1955) como o “grande acontecimento no mundo da cinematografia carioca”. No final daquele mesmo ano, um outro acordo, desta vez com a Allied Artists, que também fornecia filmes em processo anamórfico, fortaleceu ainda mais o “circuito independente”. Assim, a partir de 1954, os cinemas Caruso, Pax, Azteca, Imperator, Coliseu e São Pedro, pertencentes ao novo “circuito independente” exibidor carioca, passaram a integrar o circuito lançador, estabelecendo forte concorrência com Luiz Severiano Ribeiro. Ao fechar o acordo com as empresas Cinemas Unidos e Azteca, em 1955, a Warner Bros. rompia uma relação comercial de 20 anos com o grupo L. S. Ribeiro. Para um realizador como Watson Macedo, que em 1952 deixara a Atlântida e se tornara produtor independente com a sua Produções Watson Macedo, essa alteração no mercado de exibição ocorrida a partir da segunda metade dos anos 1950 acabou sendo momentaneamente positiva, por conta da entrada em cena dessa nova cadeia de lançadores. Atento à nova conjuntura, o novo diretor da Unida Filmes, Mario Falaschi, lançou O petróleo é nosso (Watson Macedo, 1954), Carnaval em Marte (Watson Macedo, 1955) e Sinfonia carioca (Watson Macedo, 1955), três dos maiores sucessos de bilheteria da distribuidora, nos habituais circuitos Pathé, Presidente e São José, mas também nos cinemas Caruso, Imperator, Pax, Coliseu e São Pedro. Mesmo com grande sucesso de público, a “fórmula” Unida Filmes-Produções Watson Macedo sobreviveu apenas enquanto o gênero carnavalesco se manteve interessante, isto é, até o início dos anos 1960, sendo aos poucos rejeitado pelo novo tipo de espectador que, já por volta de 1954-55, refletia as alterações do comércio exibidor e começava a mudar o perfil social e econômico do público consumidor de filmes, ditando novos padrões culturais. Por outro lado, como foi visto, o incremento das salas “independentes” não foi senão ocasionalmente revertido para a produção e a distribuição de filmes brasileiros, já que seu intuito era atender, prioritariamente, a demanda de companhias norte-americanas como a Warner Bros. e a Allied Artists. Os independentes e o Estado Do ponto-de-vista da produção, a segunda metade da década de 1950 trouxe uma série de transformações tanto para as concepções industrialistas – representadas pelos grandes estúdios paulistas Vera Cruz, Maristela e Multifilmes – quanto no que tange ao discurso sobre a produção independente. O dado principal desse novo período que se abre nos anos 1954-55 é que a partir daquele momento a atividade da produção de filmes passou a contar efetivamente com o financiamento oficial – fosse o da Prefeitura de São Paulo, em 1955, fosse o do Banco do Estado de São Paulo, em 1956. A chamada Lei do Adicional de Renda do município de São Paulo e a Carteira de Cinema do Banespa estimularam as produções paulistas logo após a paralisação dos grandes estúdios (Vera Cruz em 1954; 1040 Maristela em 1957). Isso teve consequências decisivas para a alteração do modelo tradicional de “produção independente” até então praticado no Rio, isto é, baseado na produção associada e no sistema de cotas. Como foi visto anteriormente, esse esquema tinha como fundamento a iniciativa privada – produtores, artistas, equipe técnica, “capitalistas”, exibidores, distribuidores e donos de estúdios e laboratórios. O Estado entrava apenas como legislador e “disciplinador” do mercado de exibição. Com o início do financiamento oficial em São Paulo, aos poucos a participação dos órgãos públicos passou a substituir a do financiador privado, em um longo processo político que culminaria no atrelamento de parte significativa da produção cinematográfica ao Estado logo após a criação, em 1966, do INC (Instituto Nacional do Cinema). A partir de 1956, quando o Banco do Estado de São Paulo criou a Carteira de Cinema para filmes produzidos ou coproduzidos por empresas sediadas em São Paulo – inicialmente fixando os empréstimos em Cr$ 1 milhão e, no ano seguinte, ampliando o teto para Cr$ 2 milhões –, verificou-se uma gradual transferência da política cinematográfica do Rio de Janeiro para São Paulo. Aos poucos, os produtores paulistas passaram a ditar os novos rumos das relações entre o cinema e o Estado – nas Comissões Municipal, Estadual e Federal de Cinema e na liderança dos Grupos de Estudo e Executivo da Indústria Cinematográfica (GEIC e GEICINE) criados durante os governos desenvolvimentistas de Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Os produtores independentes sediados no Rio de Janeiro serão fortemente abalados pela total desarticulação do núcleo original hegemônico dos anos 1950. Moacyr Fenelon falece em 1953; Adhemar Gonzaga fecha a Cinédia em 1950 e se muda para São Paulo dois anos depois; Luiz de Barros mantém-se ativo na profissão, mas desarticulado politicamente; Rubens Berardo abandona o cinema e elege-se deputado estadual pelo PTB em 1954; Manoel Jorge aos poucos afasta-se do campo de batalha para dedicar-se ao funcionarismo público; entidades atuantes como a Associação do Cinema Brasileiro, a Cooperativa Cinematográfica Brasileira, o Sindicato Nacional da Indústria Cinematográfica e a Associação Brasileira dos Cronistas Cinematográficos tornam-se inexpressivas agremiações sem maior influência política. Tudo isso ao lado dos traumáticos acontecimentos precipitados pelo suicídio de Getúlio Vargas e, mais tarde, pela transferência do centro de decisões do Poder Executivo da antiga Capital Federal para Brasília. Bem outra era a atmosfera que animava São Paulo, bastando citar o caso do distribuidor-produtor Oswaldo Massaini, dono da Cinedistri. Nesse mesmo período (segunda metade dos anos 1950) a Cinedistri vai aumentar consideravelmente o volume de sua produção. Dirigidas por José Carlos Burle, Eurides Ramos, Watson Macedo, J. B. Tanko, Luiz de Barros e Victor Lima – todos realizadores sediados no Rio de Janeiro –, as comédias coproduzidas pela Cinedistri apoiavam-se na popularidade de astros como Arrelia, Dercy Gonçalves, Carequinha & Fred, Grande Otelo, Renata Fronzi, Violeta Ferraz, Catalano, Eliana, Zé Trindade, Mazzaropi e Ankito. Enquanto durou, o investimento de Massaini nas chanchadas foi uma opção bastante consciente para a capitalização de sua produtora-distribuidora. Não por acaso, a Cinedistri se tornou, nos anos 1960, numa das mais bem sucedidas empresas cinematográficas paulistas, chegando a conquistar a Palma de Ouro de melhor filme no Festival de Cannes, em 1962, com O pagador de promessas (Anselmo Duarte, 1962). Durante a segunda metade dos anos 1950, verifica-se também uma nova disposição em se discutir a figura do “produtor” – não qualquer produtor, mas aquele ideal. Ocorre que esse produtor, no Brasil, é quase inexistente: “A falta de produtores no Brasil é um dos lados mais preocupantes do cinema nacional”, afirma o cineasta Flávio Tambellini ao Diário da Noite (São Paulo, 17/03/1955). A questão poderia também ser colocada de outra forma, como o faz Cavalheiro Lima em O Tempo (São Paulo, 21/12/1954): não existem produtores porque não existe uma indústria, donde se conclui que o Estado deveria intervir nessa conjuntura desfavorável. Cavalheiro Lima receita o “remédio adequado”, que curou as indústrias cinematográficas americana e européia: “a criação do crédito cinematográfico, no Banco do Brasil, 1041 através da constituição de uma subgerência para financiamento de filmes.” Se o Estado deve se ocupar com o financiamento, o que resta para o produtor? O jovem Nelson Pereira dos Santos, que em 1957 realizava Rio, zona norte, vai oferecer um novo ponto-de-vista sobre a questão: “A parte do governo é de ordem prática, e consiste particularmente em resolver o problema da matéria-prima controlada pelo mercado negro, e medidas de fiscalização do mercado exibidor, para aumentar o lucro dos produtores. Quanto ao outro problema, de índole artística, cabe aos produtores: o autor de uma história deve ser o produtor e o diretor do seu filme, pois só numa indústria que chegou à perfeição essas três pessoas podem ser distintas. Reunidas as funções numa só pessoa, ela, pelo menos, pode fazer o que idealizou.” Eis aqui a nova palavra-chave: “autor”. O verdadeiro produtor, para Nelson Pereira dos Santos, deveria ser também o “autor” do filme, pois é este o perfil ideal daquele que trabalha em uma situação “não-industrial”. Em entrevista concedida aos jovens Cláudio Mello e Souza e Joaquim Pedro de Andrade (Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 01/11/1959), o cineasta vai afirmar que, em países onde não há uma indústria de cinema (é o caso do Brasil), a “autoria” é uma contingência ditada pela ausência de verdadeiros produtores. Contudo, essa contingência também é desejada, também se configura como uma opção, pois ela ao menos pode garantir a liberdade de criação, eventualmente com bons resultados. Daí o conceito de “autor” acabar suplantando, necessariamente, a figura do “produtor”. Sendo o principal compromisso ideológico desse novo “diretorprodutor-autor” a realização de um cinema de transformação social e cultural – “O importante é dizer alguma coisa digna do homem e urge dizer essa alguma coisa no Brasil”, afirma Nelson Pereira na entrevista de 1959 –, não é na iniciativa privada ou no mercado cinematográfico que serão obtidas as condições ideais para financiamento e continuidade da produção cinematográfica, e sim junto ao Estado, que teria o dever de abraçar o cinema como fato cultural e artístico. A noção de “cinema de autor” é, portanto, o dado ideológico realmente novo surgido na segunda metade dos anos 1950, e será nele que se baseará o discurso dos cinemanovistas a partir da década de 1960. O debate em torno da produção independente ganhará, por meio da questão do “autor”, um novo impulso. É necessário compreender, contudo, o quanto esse impulso corresponde a uma conjuntura inteiramente diversa da que se verifica no Rio de Janeiro entre os anos 1948-55. A primeira metade da década de 1950, embora marcada pela intervenção legisladora do Estado, caracterizou-se por uma atividade de caráter eminentemente privado, baseada em esquemas associativos e em cotas de participação. O surgimento dos financiamentos oficiais diretos e, com isso, o fortalecimento do protagonismo do Estado, a partir de 1955, inaugurará um novo pamatar nas relações entre o cinema brasileiro e as instâncias de poder, desarticulando os antigos sistemas de produção independente e eclipsando a figura do produtor no discurso do “cinema de autor”. Bibliografia BARRO, Máximo. José Carlos Burle: drama na chanchada. São Paulo: Imprensa Oficial, 2007. _______________. Moacyr Fenelon e a criação da Atlântida. São Paulo: SESC, 2001. BERRIEL, Carlos Eduardo Ornelas (Org). Carlos Ortiz e o cinema brasileiro na década de 50. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, 1981. GALVÃO, Maria Rita. Burguesia e cinema: o caso Vera Cruz. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira/ Embrafilme, 1981. 1042 ____________________. O desenvolvimento das ideias sobre cinema independente. Cadernos da Cinemateca: 30 anos de cinema paulista, 1950-1980, Cinemateca Brasileira, São Paulo, n. 4, p. 13-23, 1980. ___________________ & SOUZA, Carlos Roberto. Cinema brasileiro: 1930/1960. In: COSTA, João Bérnard da (org). Cinema brasileiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian/Cinemateca Portuguesa, 1987. GONZAGA, Alice. 50 anos de Cinédia. Rio de Janeiro: Record, 1987. _______________. Palácios e poeiras. 100 anos de cinemas no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Record/ Funarte, 1996. MELO, Luís Alberto Rocha. “Cinema independente”: produção, distribuição e exibição no Rio de Janeiro (1948-1954). Tese (Doutorado em Comunicação) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2011. RAMOS, José Mário Ortiz. Cinema, Estado e lutas culturais: anos 50/60/70. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. SIMIS, Anita: Estado e cinema no Brasil. São Paulo: Annablume/Fapesp, 1996. SOUZA, José Inácio de Melo. Congressos, patriotas e ilusões: subsídios para uma história dos congressos de cinema. São Paulo, 1981 (datil.). 1043
Baixar