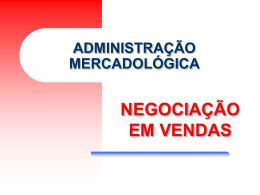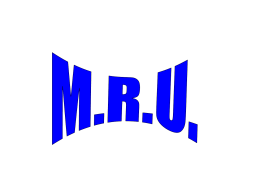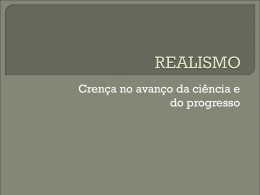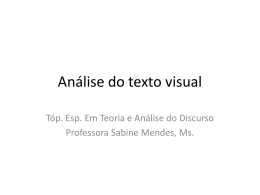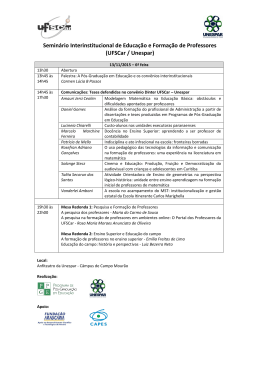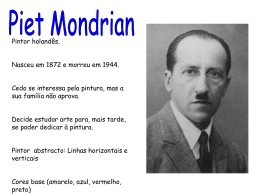237 Obras de arte múltiplas, obras de arte singulares e a hipótese do objeto físico Jean Rodrigues Siqueira * RESUMO A ideia de que as obras de arte são meros objetos físicos – posição chamada por Wollheim de “hipótese do objeto físico” – enfrenta grandes dificuldades teóricas quando se considera a natureza de gêneros artísticos como a literatura, a música, o teatro, a fotografia, o cinema, e outros mais – gêneros cujos produtos são obras múltiplas. No entanto, gêneros como a pintura e a escultura a entalhe – cujos produtos são obras singulares - parecem, em um primeiro momento, livres de inconvenientes desse tipo. Com relação às primeiras, elas dificilmente podem ser identificadas com objetos físicos uma vez que não há nenhum objeto em particular que possa ser tomado como sendo a obra. As obras de arte singulares, por sua vez, apesar de comumente serem tidas como simples objetos físicos, também parecem possuir um estatuto ontológico bem mais complexo quando examinadas com mais cuidado. Na medida em que há uma divergência de propriedades entre as obras de arte singulares e sua contraparte material, e também há entre a obra e o respectivo objeto diferenças envolvendo suas condições de identidade e permanência temporal, sua identificação revela-se igualmente difícil de ser admitida. PALAVRAS-CHAVE: hipótese do objeto físico, obras de arte múltiplas, obras de arte singulares. I Obras de arte pertencentes a gêneros como a pintura e a escultura a entalhe 1 podem ser identificadas com os materiais que as constituem? A obra “A floresta”, de Germaine Richier, * Aluno da Universidade Camilo Castelo Branco (UNICASTELO). E-mail: [email protected]. É importante distinguir entre as esculturas feitas a entalhe e as esculturas feitas a partir de moldes; apenas as primeiras podem ser consideradas obras de arte singulares. 1 Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011) 238 uma escultura entalhada em bronze atualmente presente no acervo do MAC-USP, pode ser reduzida ao pedaço de bronze para o qual apontaríamos ao falar inequivocamente da obra “A floresta”? Seria a pintura “Retirantes”, de Cândido Portinari, exatamente o mesmo objeto que as diversas camadas de tinta a óleo distribuídas sobre uma certa tela pendurada em uma das paredes do MASP? As questões que acabam de ser levantadas dizem respeito àquele que é considerado o problema fundamental da ontologia da arte, a saber, o problema de determinar que tipo de entidade são os objetos artísticos. Em particular, essas questões colocam em discussão uma possível e frequente resposta a esse problema, a qual se baseia justamente na suposição de que todas as obras de arte são objetos físicos – suposição batizada pelo filósofo da arte Richard Wollheim (1994) como “hipótese do objeto físico”. Essa concepção, embora em consonância com a visão do senso comum, goza, no entanto, de pouco prestígio entre os filósofos da arte, principalmente porque obras características de gêneros artísticos como a literatura, a música, o cinema ou a fotografia, por exemplo, ao serem passíveis de múltiplas ocorrências, dificilmente podem ser identificadas com elas, sob pena de assim violar preceitos básicos da física clássica (como o de que um mesmo objeto físico não pode existir simultaneamente em lugares diferentes do espaço). Contudo, alguns autores ainda insistem – como parece ser o caso do próprio Wolheim – que obras singulares como as pinturas ou as esculturas a entalhe podem ser compreendidas como meras coisas materiais – e é precisamente essa concepção que será aqui examinada em maior detalhe e contestada. Mas antes de explorarmos a tese de que entre as obras de arte singulares e sua contraparte material há uma relação de identidade, consideraremos primeiramente as objeções dirigidas contra sua versão mais forte, que é aquela que afirma que todas as obras de arte, tanto singulares como múltiplas, são identificáveis com algum objeto físico. Ao mesmo tempo, teremos ocasião também para esclarecer melhor a distinção entre o que até aqui foi chamado de obras de arte singulares e obras de arte múltiplas. Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011) 239 II Recentemente tive vontade de reler a novela “O túnel”, do escritor argentino Ernesto Sábato. Com essa intenção dirigi-me à estante de casa onde estava o texto que queria ler – mais precisamente uma tradução dele para o português – e após algumas horas manuseando um livro de menos de 100 páginas satisfiz meu desejo. Mas enquanto eu lia “O túnel”, isto é, enquanto segurava em minhas mãos um objeto material ao qual recorri quando quis ter acesso à novela de Sábato, incontáveis outras edições, traduzidas para os mais variados idiomas, continham a mesma obra. Assim, se naqueles momentos de leitura alguém tivesse me perguntado onde estava a obra “O túnel” e eu dissesse que ela estava em minhas mãos, algo muito estranho estaria ocorrendo: como a referida obra poderia estar nas minhas mãos e, ao mesmo tempo, em inúmeros outros lugares mundo afora? Certamente havia um livro – um objeto físico - em minhas mãos; mas a obra de arte, embora manifesta naquela sucessão de palavras impressas em várias folhas de papel encadernadas, aparentemente existia para muito além delas. Estranheza similar ocorreu enquanto escrevia este texto e em meu aparelho de som tocava o clássico “Child in time” do Deep Purple – a versão ao vivo do álbum “Made in Japan”: se a obra “Child in time” era aquela sequência de fenômenos sonoros que ouvi, o que pensar de todas suas regravações, das apresentações ao vivo não gravadas, da versão em estúdio que está no álbum “In rock”, além das possíveis ocorrências simultâneas das cópias dessa mesma faixa em diversos lugares do mundo nesse instante? O que acontece é que tanto “O túnel” como “Child in time” são obras de arte múltiplas, isto é, obras que podem estar simultaneamente presentes em lugares diferentes, seja como coisas ou como eventos. Identificar uma obra de arte múltipla com um certo objeto material ou evento é, como vimos pelos exemplos acima, no mínimo problemático, justamente porque não parece possível indicar um certo exemplar (um único exemplar) da obra como sendo a obra. Desse modo, a versão de “O túnel” que tenho em casa é apenas isso, uma versão, um exemplar de uma obra de arte que se apresenta de maneira múltipla; o exemplar é um objeto físico, mas Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011) 240 a obra, ainda que possa depender do meio material para se manifestar, não é o mesmo que ele. A fim de reforçar esse ponto, vamos supor que eu cometesse o absurdo de destruir – queimar, digamos – o meu exemplar: isso de modo algum implicaria a destruição da obra, mas apenas de uma de suas múltiplas manifestações. De modo semelhante, se eu perdesse minha cópia de “O túnel”, isso não significaria que a obra como tal estaria perdida; portanto a obra não poderia ser identificada com a minha cópia (material) da mesma. Outro raciocínio igualmente simples também poder ser aplicado para mostrar que uma obra de arte múltipla não se reduz a sua contraparte material: uma obra musical como a canção “Child in time” não pode ser identificada com uma de suas ocorrências físicas, já que uma pessoa poderia perfeitamente adorar essa música e não gostar de alguma de suas versões; ela poderia, por exemplo, não apreciar a versão ao vivo presente no álbum “Made in Japan”, ou ainda detestar a versão que se encontra no álbum “Nobody’s perfect”. Não é incomum, inclusive, um crítico musical – ou um crítico de teatro – tecer comentários negativos referente a uma certa apresentação, montagem ou interpretação de um certo espetáculo que ele próprio aprecie; isso, de modo algum, quer dizer que sua crítica está sendo dirigida à obra como tal. É claro que alguém ainda poderia insistir em defender a identidade das obras de arte múltiplas com algum objeto material, alegando, por exemplo, que as obras não são as cópias, mas sim um objeto original, ou seja, um manuscrito no caso das obras literárias, e uma partitura no caso das obras musicais. Mas essa estratégia também padece de dificuldades semelhantes ao caso das cópias que vimos acima: também os manuscritos poderiam ser destruídos ou perdidos sem que as obras fossem destruídas ou perdidas (o mesmo valendo para as partituras). Em tese, inclusive, se o original e todas as cópias de uma obra poderiam ser destruídos, ainda assim seria possível que a obra em questão existisse na memória das pessoas ou no interior de alguma tradição cultural estritamente oral – uma poesia ou canção popular, por exemplo, seria um caso bastante simples dessa possibilidade; mas nada impediria a memorização e reprodução de um romance como “Finnegan’s Wake”, de James Joyce, de uma longa suíte de rock progressivo ou mesmo de uma sinfonia de música erudita. Além disso, especificamente no caso das obras de arte musicais (obras de música erudita), a idéia de que Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011) 241 elas são, em última instância, um objeto não sonoro (uma partitura) é, no mínimo, contra intuitiva. Em virtude da existência de argumentos como os que acabam de ser arrolados, a hipótese do objeto físico, quando pensada em relação às obras de arte múltiplas, parece realmente insustentável – e assim ela tem sido entendida pela imensa maioria dos estetas e filósofos da arte contemporâneos. Entretanto, as obras de arte que são singulares, ou seja, as obras que não podem existir simultaneamente em diversos lugares do espaço, que podem ser apontadas de modo específico quando queremos indicar onde a obra se encontra, tais obras inicialmente parecem identificáveis com algum objeto material. Se alguém quisesse saber onde está a “Mona Lisa” de Leonardo Da Vinci, por exemplo, bastaria indicar-lhe o Museu do Louvre: seria lá, e apenas lá, que hoje poderíamos encontrar essa famosa pintura. Poderíamos, é claro, abrir um livro sobre pintura, quiçá um volume das célebres edições da Taschen, e mostrar uma foto da “Mona Lisa” e dizer “Veja aqui a ‘Mona Lisa’”. Mas obviamente teríamos ali apenas uma fotografia (que, enquanto gênero artístico, constitui-se de obras de arte múltiplas) e não a tela pintada por Leonardo Da Vinci há vários séculos atrás. Essa tela encontra-se em um museu específico, e se ela fosse transferida para outro museu, teríamos que considerar que não apenas a tela teria sido movida, mas a própria “Mona Lisa” (se, por outro lado, eu desse meu exemplar de “O túnel” a algum amigo, isso não significaria que a obra “O túnel” foi movida). E se alguém destruísse a “Mona Lisa”? Seria possível a obra continuar existindo, como no caso das obras múltiplas que vimos há pouco? Diferentemente das obras literárias ou musicais, a oralidade não seria suficiente para manifestar novamente a obra; até seria possível apresentar uma descrição pormenorizada das características técnicas, formais e simbólicas da pintura, mas isso seria insuficiente para resgatá-la inteiramente. Mesmo se algum pintor voltasse a reproduzi-la em uma tela, seria improvável que ele obtivesse uma cópia perfeita; além disso, seria impossível ele fazer uso dos mesmos materiais que constituíam a obra (já alguém que soubesse de cor o texto de “Finnegan’s Wake” precisaria apenas escrever novamente aquela Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011) 242 sequência de palavras que a constituía para resgatá-la2; ou simplesmente narrá-la para alguém). Essas observações parecem, então, indicar que o caso das obras de arte singulares pode garantir, ao menos parcialmente, a veracidade da “hipótese do objeto físico”. Contudo, a seguir passaremos a examinar uma série de argumentos que colocam em xeque também a ideia de que entre as obras de arte singulares e seu meio material existe uma relação de identidade. III As objeções mais comuns à “hipótese do objeto físico” no que diz respeito às obras de arte singulares baseia-se em um apelo à chamada lei de Leibniz, também conhecida como princípio da indiscernibilidade dos idênticos. Segundo esse princípio, se uma entidade a é idêntica a uma entidade b, então a e b têm exatamente as mesmas propriedades; se essas entidades apresentam ao menos uma propriedade diferente uma da outra, então essas entidades são diferentes. Assim, aqueles que – como é o meu caso –rejeitam a tese de que as obras de arte singulares identificam-se com sua contraparte material, argumentam que os objetos artísticos apresentam propriedades que não podem ser encontrados nos objetos físicos utilizados pelos artistas na criação de seus trabalhos. Obras de arte, por exemplo, apresentam diversas propriedades representacionais e muitas vezes também propriedades expressivas, algo que, aparentemente, não acontece com meros objetos físicos3. Uma tela, isto é, um mero objeto físico, não representa nada além dela mesma; já um padrão de tintas azulado disposto em sua parte superior pode estar lá representando o céu. Mesmo em uma pintura não realista 2 Um desafio interessante a essa concepção encontra-se no conto “Pierre Menard, autor de Quixote”, de Jorge Luis Borges, em que o personagem Pierre Menard reescreve o “Dom Quixote” de Cervantes palavra a palavra e então surge a discussão a respeito do estatuto ontológico desse “novo” texto. Borges, ou pelo menos seu texto, sugere que se trata de uma obra completamente diferente. O referido conto faz parte do livro de contos intitulado por Borges de “Ficções”. 3 Cabe destacar que as propriedades representacionais e expressivas das obras de arte são propriedades essenciais ou necessárias desses objetos. Assim, a tentativa de contornar essa objeção fazendo delas algo meramente contextual ou relacional tende a falhar. Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011) 243 como, por exemplo, as mais conhecidas obras de Pollock, Rohtko ou Malevich, os padrões de cores e formas, na medida em que são dotados de significado, possuem algum conteúdo representacional. Poderíamos até imaginar uma pintura que nada mais fosse do que uma tela em branco exposta em uma galeria por algum artista minimalista; mesmo assim, essa tela hipotética estaria representando algo, comportaria um significado e, portanto, seria diferente de uma tela visualmente idêntica a ela e à venda em alguma loja especializada. O mármore, como tal não possui expressividade, mas um rosto humano nele esculpido pode exprimir sofrimento ou felicidade. Pela lei de Leibniz, se a obra apresenta propriedades representacionais e sua contraparte material não, então as duas coisas não apresentam exatamente as mesmas propriedades; logo, são distintas. Da mesma maneira, críticos de arte descrevem as obras de arte como “vivas”, “em movimento”, “melancólicas”, etc., quando os objetos físicos correspondentes não possuem nenhuma dessas propriedades. A tela em que podemos encontrar a obra “O casal Arnolfini” é bidimensional, mas a obra do pintor flamenco Van Eyck apresenta uma inigualável dimensão de profundidade e tridimensionalidade. Além dessas propriedades expressivas e representacionais, que geralmente não se encontram nos objetos físicos, há outra gama de propriedades das obras de arte que estão ligadas ao impacto da obra no seio de um determinado contexto da história da arte ou a um determinado contexto social. Também essas propriedades pertencem exclusivamente à obra, mas não à sua contraparte material. “A fonte” de Marcel Duchamp, por exemplo, é uma obra irreverente, transgressora, inovadora, desafiadora, etc., sendo que nenhuma dessas propriedades poderia ser atribuída ao mero objeto material utilizado pelo escultor francês na criação de seu famoso ready-made. Mais uma vez, portanto, teríamos uma violação da lei de Leibniz. Outro caso em que teríamos uma violação dessa lei seria ao destacar a distinção – já aludida na última nota de rodapé – entre propriedades essenciais ou necessárias e propriedades não essenciais ou contingentes que um objeto pode ter. Também nesse caso encontraríamos uma discrepância entre as propriedades de uma obra de arte e as propriedades de sua contraparte material. Qualquer escultura a entalhe ou pintura é, necessariamente, um artefato, isto é, um objeto trabalhado, manipulado, alterado e, assim, criado, por um artista - Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011) 244 ou pelo menos escolhido por um artista (como ocorre com os ready-mades de Duchamp). Um bloco de mármore, um tronco de madeira ou qualquer outro material comumente empregado na criação de uma escultura, por outro lado, não podem ser considerados como artefatos. Assim, mais uma vez, as obras de arte possuiriam propriedades que os objetos materiais que habitualmente supõe-se serem o mesmo que elas não apresentariam. Outra objeção no mesmo sentido consiste em destacar o fato de que as condições de identidade que individuam os objetos físicos são diferentes daquelas que individuam as obras de artes e que, em virtude dessas condições serem distintas, um objeto não poderia ser identificado com o outro. Uma escultura entalhada em argila, por exemplo, poderia sofrer uma restauração e ainda assim consideraríamos tratar-se da mesma obra; no entanto, não poderíamos afirmar o mesmo com relação à sua contraparte material, dado que sua constituição física teria sido significativamente alterada. Analogamente, se essa escultura fosse derretida, a obra seria destruída, mas sua constituição material – aquela quantidade específica de argila – permaneceria a mesma. Desse modo, uma vez que a obra de arte (a escultura entalhada em argila) e sua contraparte material (uma certa quantidade de argila) apresentam condições de identidade distintas, a obra não poderia ser identificada ao objeto físico: o que torna a obra uma objeto artístico não é o mesmo que torna o objeto físico um objeto físico. Mas, além dessa diferença a respeito das condições de identidade dentre a obra e o objeto físico, também é possível apontar diferenças com relação às condições de persistência ou duração existente entre ambos. E, sendo as condições de duração também distintas, não há como afirmar a identidade entre as obras e os objetos físicos. Tomemos, mais uma vez, o exemplo da obra de Duchamp, “A fonte”. Antes de Duchamp se apropriar de uma certa peça de cerâmica comumente comercializada em casas de objetos para construção e decoração e transfigurá-la em arte – como diria Arthur Danto (2005) – essa peça nada mais era do que um objeto comum; portanto, nesse caso, a origem temporal do objeto físico seria bastante diferente da origem temporal da obra de arte correspondente4. 4 Uma análise baste aprofundada da disparidade de condições de persistência/duração entre as obras de arte e seus respectivos objetos físicos é desenvolvida nos trabalhos de Lucien Krukowski (1891, 1988). Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011) 245 Em virtude das razões apresentadas, a concepção segundo a qual as obras de arte singulares são idênticas a meros objetos materiais, assim como sua versão mais forte (que inclui também as obras de arte múltiplas), parece insustentável. Isso, contudo, não nos conduz à negação da existência de uma íntima relação entre as obras de arte e sua contraparte material. O que é preciso determinar é, portanto, qual relação – já que não a de identidade – existe entre uma coisa e a outra. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DANTO, Arthur. A transfiguração do lugar-comum. São Paulo: Cosac Naify, 2005. HANFLING, Oswald. “The ontology of art” in HANFLING, Oswald (ed.). Philosophical aesthetics – an introduction. Cambridge/Oxford: Blackwell, 1992, pp. 75-110. KRUKOWSKI, Lucien. “Artworks that end and objects that endure” in The Journal os aesthetics and art criticism, 40, 2, 1981, pp. 187-197. __________________. “The embodiement and duration of artworks” in The Journal os aesthetics and art criticism, 46, 3, 1988, pp. 389-297. LAMARQUE, Peter. Work and object – Explorations in the metaphysics of art. Oxford: Oxford University Press, 2010. WOLLHEIM, Richard. A arte e seus objetos. São Paulo: Martins Fontes, 1994. Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
Download