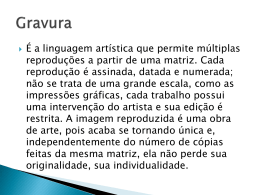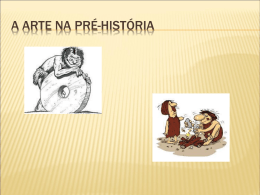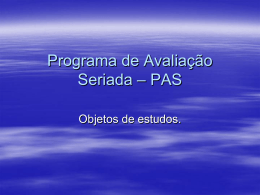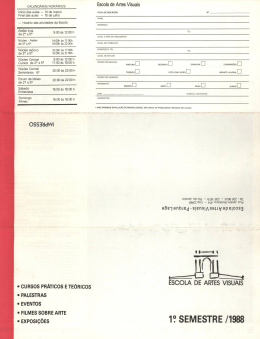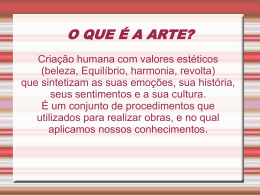CADERNOS EAV 20 09 ENCONTROS COM ARTISTAS ANNA BELLA GEIGER CARLOS ZILIO ERNESTO NETO IVENS MACHADO NELSON FELIX TUNGA Governo do Rio de Janeiro Governador Sérgio Cabral Vice-Governador Comissão de Projetos Daniel Senise George Kornis Guilherme Bueno Luiz Fernando Pezão Coordenadora do Programa Aprofundamento 2012 Secretaria de Estado de Cultura Anna Bella Geiger Secretária de Estado COORDENADORA DO PROJETO DE PESQUISA 2012 Adriana Rattes Gloria Ferreira Subsecretária de Relações Institucionais Coordenadora do Núcleo Olga Campista Subsecretária de Ação Cultural Beatriz Caiado Subsecretário de Planejamento e Gestão Mario Cunha Superintendente de Artes Eva Doris Rosental escola de artes visuais parque lage Diretora de Arte e Tecnologia Tina Velho Assistentes de Administração Carmen da Costa Souza Sergio Bastos Assistentes de Ensino Cristina de Pádula Lucas Leuzinger Estagiária Vanessa Rocha Assistente de Projetos Renan Lima Claudia Saldanha Estagiários Vitor Zenezi Assessor Branca Zuma Vitor Coimbra Assessora editorial Assessoria de Imprensa Coordenador Administrativo Biblioteca Coordenadora de Ensino Maurício Azevedo Olga Alencar Coordenadora de Projetos Supervisão técnica das Oficinas de Imagem Gráfica Clarisse Rivera Roberto Tavares Comissão de Ensino Manutenção Joanna Fatorelli Herbert Hasselmann Tania Queiroz Glória Ferreira Luiz Ernesto Moraes Maria Tornaghi Bárbara Chataignier Gerson de Araújo Freitas Homero Gomes de Moraes Iraci Laurindo de Oliveira Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais – AMEAV Presidente Paulo Albert Weyland Vieira 1º Vice-Presidente Márcio Botner 2º Vice-Presidente Guilherme Gonçalves Conselheiros Ernesto Neto Fábio Szwarcwald Captação e Gestão de Recursos Sandra Caleffi Auxiliar Contábil Luis Carlos Silva ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS Guilherme Segal Hércules Souza SecretARIA Ana Carolina Santos Natália Soares Thais de Souza EAV Rua Jardim Botânico, 414 Jardim Botânico Rio de Janeiro | RJ 22461-000 Tel | Fax: 21 3257 1800 www.eavparquelage.rj.gov.br Créditos dos Cadernos Organização Joanna Fatorelli e Tania Queiroz Assistente Vanessa Rocha Projeto Gráfico, Tratamento de Imagem e Produção Gráfica Dupla Design IMpressão ENCONTROS COM ARTISTAS Ultraset agradecimentos especiais Carlos Minc, Cristina Bahiense, Guilherme Gonçalves, Henrique de Aragão, Iole de Freitas, José Luis Alqueres, Letícia dell’Orto, Leticia Verona, Marcos Arzua Barbosa, Tanit Galdeano CARLOS ZILIO Fotografias Ambroise Tézenas, Ana Stewart, André Morin, Cesar Barreto, Eduardo Mattos, Fausto Fleury, Felipe Felizardo, Gabriela Toledo, João Mussolin, Sonia Parma, Lucia Helena Zaremba, Marco Terranova, Pat Kilgore, Pedro Oswaldo, Rubber Seabra, Sérgio Araújo, Vicente de Mello, Wilton Montenegro CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ Revisão de texto Itamar Rigueira, Lilian Zaremba, Janaisa Viscardi, Julia Scamparini, Paulo Serran, Sophie Bernard, Vanessa Rocha, Rachel Valença Transcrição Louise D.D. Gravação Bruno Marcus - TOMBA Records PROJETO DE CAPTAÇÃO Coordenação: Lucas Leuzinger Vídeo: Simone Michelin Com participação de: Aline Besouro e Lucas Ferraço Gravura: Tina Velho Multidão | Catarse: Pedro Struchiner e Rodrigo Maia Divulgação: Monocromo ANNA BELLA GEIGER C129 Cadernos EAV 2009 : encontros com artistas / organização Escola de Artes Visuais do Parque Lage ; Anna Bella Geiger ... [et al.]. ; [organização Joanna Fatorelli e Tania Queiroz] - Rio de Janeiro : EAV, 2012. ERNESTO NETO IVENS MACHADO NELSON FELIX il. ISBN 978-85-64192-06-5 1. Arte brasileira - Século XXI. 2. Arte contemporânea - Brasil. 3. Instalações (Arte). 4. Videoarte. 5. Artistas - Brasil. I. Geiger, Anna Bella, 1933-. II. Fatorelli, Joanna. III. Queiroz, Tania. IV. Escola de Artes Visuais do Parque Lage. 12-6798.CDD: 709.8 CDU: 7.038.6(81) 18.09.12 24.09.12 038948 TUNGA AP RESENTAÇÃO A Escola de Artes Visuais do Parque Lage, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura, lança os dois primeiros volumes da série Cadernos EAV: Encontros com Artistas, visando registrar e preservar o resultado dos encontros que vem promovendo, desde 2009, entre artistas consagrados e os alunos do seu Programa Fundamentação. Gratuito e semestral, o Programa é etapa inicial de formação do jovem artista, curador, crítico ou mesmo daqueles que pretendem trabalhar no campo das artes, combinando aulas de prática artística a cursos de história da arte. Uma vez por mês, nos finais de semana, a Escola promove os Encontros, exclusivos para os alunos do Programa. O resultado destes encontros vem gerando um precioso acervo, único em seu conteúdo e inovador em sua forma, que leva diretamente a palavra do artista ao público de jovens estudantes, criando um diálogo que enriquece todos os que dele participam. Ao reunir essas conversas nos Cadernos EAV, optou-se por oferecer uma leitura ágil e dinâmica, capaz de levar o leitor a partilhar da qualidade viva e espontânea que marcou aqueles momentos de troca e de experiência. Organizados em volumes anuais, os Cadernos EAV tiveram o apoio de diversos colaboradores através do crowd funding viabilizado pela plataforma virtual Multidão | Catarse. Essa nova forma de captação e a ideia de disponibilizar o conteúdo desses encontros se alinham ao perfil da Escola de Artes Visuais do Parque Lage – democrática, livre e transdisciplinar, estabelecendo um importante elo com a sociedade civil e possibilitando um espaço rico em trocas e diálogos. Agradecemos a valiosa colaboração de todos os artistas e professores que participaram dos Encontros, debatendo sobre a sua obra e seus processos de criação. CLAUDIA SALDANHA - Diretora da EAV Parque Lage AN N A BELLA GEIG ER CARLOS ZILIO ERN ESTO NETO I VEN S machado N elson Felix T U N GA 10 34 54 102 118 162 10 AN N A BELLA GEIG E R “A imagem fictícia possui sua própria verdade.” Giordano Bruno, 1591 Quando a Claudia me apresenta relacionada a uma longa trajetória, isso causa estranheza até a mim mesma. Pois penso que tanta coisa ainda está por ser feita... Eu venho trabalhando nas minhas causas, ou melhor, em defesa delas. De histórias muito longas como a que vai de 1974 a 2009, e refere-se ao meu trabalho em videoarte. E que acabaria sendo a trajetória da própria videoarte no Brasil. Claro que a videoarte não começa no Brasil. Ela começa com Wolf Vostell e Nam June Paik, em meados dos anos 60. O fato de começar a trabalhar em vídeo ainda nos anos 70 nada tem a ver com a questão da novidade do vídeo. E apesar da videoarte Flumenpont nº1, 2001/2005 Fotografia, encáustica, vidro e plástico 43 x 33 cm Foto: Rubber Seabra 12 13 C A DER N OS EAV AN N A B EL L A G EI G ER continuar atualíssima, ainda precisamos indagar: o que é a videoarte? Como categoria seria como dizer “pintura”. Não define nada. A videoarte tomou vários caminhos, assim como a pintura. No seu começo, podemos citar artistas como Nam June Paik, cujo sentido da obra é completamente diverso de um Dennis Oppenheim, que é completamente diverso de um Bill Viola, como ainda de Gary Hill, que esteve há alguns meses atrás na Oi, no Espaço Oi Futuro. A obra de alguns desses expoentes tem tudo a ver com o que alguns de nós aqui, no Rio de Janeiro, nos anos 70, pensávamos sobre o que era a videoarte, muito diverso do que tem sido feito em abordagens pseudojornalísticas ou de cunho pseudoantropológico. Há um vídeo1 de Vito Aconcci, dessa época, em que ele sai aleatoriamente pelas ruas de Nova York, seguindo um transeunte. Já havia essa maleabilidade no uso da máquina de vídeo portátil. E havia o Super 8 em cor, que eu já vinha usando desde fins dos anos 60. Primeiro filmando a família, os filhos, quando moramos em Nova York. E essa acaba sendo uma das características não só do Super 8, como do vídeo nos Estados Unidos. Por ser um pequeno objeto portátil, o seu uso era ligado, por exemplo, à mulher, no sentido de se filmarem situações domésticas. Algumas das mulheres que entram na história do feminismo na arte, principalmente nos EUA, o fazem desse modo. Porém, o começo da videoarte no Brasil (Rio de Janeiro, 1974), diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos, enfrentou dificuldades enormes entre querer pensar certos trabalhos em vídeo e ter a instrumentação necessária. No começo dos anos 70 já havia nos EUA uma pequena câmera portátil de vídeo, em p&b, não tão diferente das que existem agora. Acontece que a videoarte aqui, além de outras limitações, só era possível lidando com uma máquina Sony Portapack que pesava uns quarenta quilos. Se isso me condicionou e limitou, por outro lado me levou a indagar mais profundamente sobre suas possibilidades, sobre o conceito, a ideia a ser desenvolvida nesse suporte. Realizei dois curtas em Super 8 e os editei em 72. Para a sua edição era preciso juntar os vários trechos dos filmes. Então, adquiri uma maquininha de colar os trechinhos. Por ser tão precária, resultou depois de alguns anos na sua descolagem e consequente destruição desses filmes. Não havia onde conservá-los. Numa cinemateca? Antes de começar a trabalhar com vídeo, o Super 8 me trouxe grandes retornos, fosse pelo elemento cor ou pela maleabilidade de se sair filmando por aí. Concomitantemente, havia naquela época uma alternativa, usando a projeção de slides, e acabou criando-se um gênero, o audiovisual. No audiovisual, você, como fotógrafo ou não, o que era o meu caso, registrava as imagens em slides. 14 15 C A DER N OS EAV AN N A B EL L A G EI G ER O slide possuía a qualidade de poder ser projetado numa parede qualquer, ampliando-o, sem perder a nitidez. Isso era o próprio Mágico de Oz na época. No audiovisual havia um mecanismo que permitia introduzir, dentro do ritmo projetado das imagens, o som gravado. O Super 8 não gravava o som automaticamente. O vídeo, porém, apesar de todos os defeitos de imagem, e de ser só em p&b, ao registrar a cena, gravava automaticamente todos os sons possíveis. Até agora, quando se filma com a câmera de tv, mesmo a profissional, tudo em torno tem de ficar em silêncio para não haver interferência. No caso do audiovisual, as imagens projetadas (slides) eram perfeitas, fosse em cor ou em p&b. E podia se interferir na imagem, como fiz para a instalação Circumambulatio2 ao queimar o centro de algumas das suas imagens em celuloide. Também os apresentei, junto com o Super 8, em 73, na Expo-Projeção-Grife3, em São Paulo. ruptura. O “retorno” a uma realidade externa, figurativa, se deu pela necessidade de falar de um momento social, político, histórico, em que essas imagens vindas da mídia passam a colocar novas possibilidades para se interpretar aquele momento. Porém, nós não estávamos aqui, nos anos 60, num mesmo momento como o dos Estados Unidos, dentro de uma sociedade de consumo e de uma cultura de massa que resultaria na Arte Pop. Aqui, no final dos anos 60, surgem artistas, eu inclusive, cuja atitude crítica leva, em suas obras, a indagações de ordem conceitual. Estava acontecendo uma crise maior, no próprio discurso da arte, na própria natureza, significado e função da obra de arte. Junte-se a isso a situação política que estávamos atravessando. E que se acirrara desde1968. O uso experimental de novos meios e suportes seria denominado mais tarde de novos mídia. O artista tinha, por vezes, a necessidade de introduzir na sua obra imagens vindas da mídia publicitária, jornalística ou outra. Para uma artista como eu, que passou durante quinze anos pelo rigoroso processo formal do abstracionismo, até meados dos anos 60, e tendo já meu trabalho reconhecido, a busca de uma linguagem própria se fez dentro de uma grande Mas imaginem que havia uma atitude reacionária por parte de certa crítica jornalística e de alguns artistas da época quanto ao uso do vídeo. E de que vídeo? Por exemplo, o meu modo de pensar a linguagem da videoarte era completamente diverso do de Nam June Paik ou do de Wolf Vostell. Então, aqui, nos anos 70, a crise na arte ocorreu motivada, creio, por dois fatores: a mudança radical de paradigmas nas novas formas de representação da arte e o caráter político daquele momento. 16 17 C A DER N OS EAV AN N A B EL L A G EI G ER O Rio de Janeiro sempre foi o core, o centro mais ativo dessas investigações, também politicamente. Em 68, com a instituição do AI-5, os artistas que vinham participando das bienais dos anos 60 reuniram-se no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Vieram também alguns artistas de São Paulo e nos decidimos por um boicote. Não participaríamos mais de eventos como a Bienal de São Paulo, assim como de quaisquer outros do país, tipo salão. O boicote perdurou até 81. Procuramos com muito risco informar aos artistas internacionais, no exterior, participantes das bienais, do que estava ocorrendo aqui. Ao se estender até 81, essa situação de isolamento levaria alguns de nós a maior engajamento político no próprio trabalho. Entendia-se, porém, que não era uma questão de criar panfletos no que se referia à arte. E com isso não estou dizendo que aquele longo período nos trouxe qualquer benefício, mas a complexidade daquele momento nos levou a aprofundar ainda mais a própria obra. Penso ser um desses artistas. O Cildo também iria compreender bem aquele momento. Por sinal, ele veio dos cursos do MAM-RJ do começo dos anos 70. Cursos que o Frederico Morais e eu criamos, denominando-os de Unidade Experimental e Arte Crítica. Estávamos sendo muito visados no MAM-RJ, a ponto de eu convencer os alunos de que a experiência prática dos meus cursos só poderia ocorrer fora do perímetro urbano, em lugares ermos, praias desertas. E assim ocorria. A um dos resultados chamei de Circumambulatio. Nos anos 60, acontecera um fato importante para a arte brasileira: a oportunidade de Hélio e Lygia terem seus trabalhos criticados pelo crítico inglês Guy Brett. Era um crítico de arte interessante, escrevendo em revistas internacionais. O que se conhecia do Brasil lá fora era Tarsila, Di Cavalcanti, Portinari, e a arte abstrata do Brasil ainda era uma vanguarda quase desconhecida mesmo aqui dentro. Com o apoio desse crítico, houve crescente informação no exterior de que havia uma arte abstrata concreta e neoconcreta brasileira. Estamos em 2009 e sabemos que o caráter experimental da arte mudou muito também. O que se processou aqui, naquele longo período político entre 64 e 85, cada vez menos forneceria sentido ao artista para lidar de forma significativa na arte através de soluções apenas de caráter abstrato e formal. Surgiriam questões ligadas à crise do suporte, a interferências como o uso das mídias, à inter-relação entre arte e a apropriação pelos artistas de métodos vindos das ciências sociais, da linguística, da antropologia, etc. Aqui, pelo prolongado boicote conseguiu-se esvaziar a Bienal. Porém, o boicote ao vento nos deixou totalmente isolados culturalmente, apesar de uma intensa produção que acontecia aqui na década de 70. 18 19 C A DER N OS EAV AN N A B EL L A G EI G ER “Objetos, do modo como nós os captamos e os devolvemos em forma de arte, serão sempre um testemunho do tempo.” O pensamento acadêmico no campo das Artes Visuais iria se desenvolver na USP e a sua prática no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Uma pessoa essencial naquele momento foi o então diretor do MAC-USP, Walter Zanini, além de sua assistente Annateresa Fabris, pessoas muito incríveis. Porque, como historiadores eles poderiam ficar se dedicando apenas a Portinari, Di Cavalcanti, Tarsila, mas entenderam que precisavam apoiar naquele espaço as novas linguagens. Em 80, artistas se reúnem com Walter Zanini para pensar numa possível bienal. Isso quantos anos depois? De 69 a 81. Não imaginávamos que o isolamento perduraria por tanto tempo. O que esse isolamento iria provocar? Um quase total desconhecimento no exterior sobre o que estava acontecendo experimentalmente na obra de vários artistas daqui. Além da USP, creio que, dos anos 90 em diante, o Departamento de Arte da Universidade Federal do Rio de Janeiro vem publicando o seu pensamento teórico, assim como a revista Concinnitas da UERJ, produzida pela Sheila Cabo. Temos aqui no Rio a Glorinha Ferreira, como em São Paulo a Daria Jaremtchuk, doutora na USP, que vem dando cursos sobre arte contemporânea brasileira em universidades da França e da Espanha. Então, de alguns anos pra cá, 20 21 C A DER N OS EAV AN N A B EL L A G EI G ER brasilianistas que estudavam só Hélio e Lygia começam a indagar, com mais cuidado, sobre essa complexa passagem que resultaria numa outra produção, a dos artistas dos anos 70. É o caso de um artigo escrito por Maria Iñigo Clavo para a Revista de Occidente, de fevereiro de 2008 (nº 321), em Madri, denominado “Una vez pensé el proyecto de um país...” Vídeos de “monitor”, que são produzidos para serem mostrados independentemente, não pertencem às instalações. E nas videoinstalações os vídeos pertencem, fazem parte integrante delas. Mostrarei três vídeos, um recentíssimo e outros menos recentes. Eu falo meio brincando que precisarei esperar mais uns trinta anos até tomarem conhecimento do meu trabalho recente. Vou lhes mostrar alguns vídeos meus. Um recente e outros dois de 1976: Circa I4 e Mapas elementares 15 e 36. Objetos, do modo como nós os captamos e os devolvemos em forma de arte, serão sempre um testemunho do tempo. Circa é um termo usado para determinar uma data em torno da qual ocorreu um fato histórico, geográfico, arquitetônico, artístico, cultural ou antropológico da nossa civilização. Circa pode apresentar datas que diferem, em sua imprecisão, até em 100 anos ou mais; essas imprecisões, porém, não afetam a verdade do fato de que as tais coisas aconteceram dentro daquele período de tempo. Esse fator me interessa muito, e está bastante incluído na minha obra. É preciso entender esses dois vídeos em p&b no contexto dos anos 70. Naquela época, em Nova York, já havia gente discutindo sobre videoarte, uma discussão sobre o que era linguagem de vídeo e o que era linguagem de cinema. E havia o que chamavam de cinema expandido, também experimental. O vídeo levantava essas especificidades. Vídeos que não se teria como editar precisavam acontecer em tempo real. À minha ação subindo aquelas escadas lentamente, e num grande esforço, eu chamei de Passagens. Acho que em parte seu significado é de ordem simbólica. Aluno: Esse vídeo teve edição? É uma única tomada? Não, a filmagem foi em três tempos diversos, e não se pensava ainda na edição, pois não havia hipótese de venda. Depois foi preciso. A história da videoarte no Brasil inicia-se em 74, mas também era 22 23 C A DER N OS EAV AN N A B EL L A G EI G ER recente nos EUA. Em fevereiro de 75, alguns dos meus vídeos, como Passagens I7, Declaração em retrato I8 e Centerminal9, participaram da Video Art, primeira mostra internacional de videoarte, no Instituto de Arte Contemporânea da Filadélfia. Não havia Internet, não havia fax, não se recebiam revistas de arte, nada disso. Em Beuys, o sentido de esforço que transmite em suas ações se expressa no Eurasia12, por exemplo. Mapas elementares 1 leva três minutos e há uma diferença radical entre os meus vídeos de 74 e esses de 76. Quanto à própria compreensão em passar uma “mensagem” mais veloz e imediata. Passo a uma atuação mais parodiada em Mapas elementares 1 e 3. Ao ritmo de Carta a um amigo, música do Chico Buarque, pareço “agir” como que obedecendo às suas palavras, as da carta que ele escreveu, em cujo refrão repete por quatro vezes que “a coisa aqui está preta”. Eu já vinha utilizando cartografias de caráter geopolítico para falar da arte também nos desenhos e gravuras. Nesse museu, encontram-se O grande vidro10 e o Étant donnés11. Neste último, por um buraquinho se vê uma cena onde repousa um manequim de nu feminino. Foi o próprio Duchamp que pediu que essas obras estivessem nesse espaço. Na mostra Video Art em 75 nos EUA, não se tratava ainda de uma questão de mercado, do circuito de arte. Creio que isso também possibilitou o meu acesso a essa mostra junto a Nam June Paik, Bruce Nauman, Dennis Oppenheim, Bill Viola, alguns desses também começando a usar o vídeo naquela época. O uso do termo performance só irá aparecer no fim dos anos 80. Eu chamava de ação ao que acontecia nos meus vídeos. Esta foi uma das razões de ficar emocionada quando conheci o Beuys em 75. Desconhecia até então quase toda a sua obra, e o uso que ele fazia desse termo em sua obra. Aluno: Pois não havia Internet. Não havia ainda o videoclipe, uma criação posterior. Acho que aquilo se tornaria depois um gênero, o do videoclipe. Relacionei a letra da música e a ação neste vídeo. No próximo vídeo, Mapas elementares 3, o fundo musical é um bolero argentino daqueles mais cafonas, em que a cantora pede sorte e ajuda à Virgem Negra. Interpretei-os como sendo os mitos da América Latina: juntei as semelhanças fonéticas entre América Latina, amuleto, a mulata e a muleta, e semelhanças antropomórficas entre o formato da América do Sul e essas figurações. Por exemplo, enquanto ela canta, “Salva-me, ajuda-me”, desenho uma muleta. Quando mostraram 24 25 C A DER N OS EAV AN N A B EL L A G EI G ER esse vídeo no MoMA13, em Nova York, essa palavra precisou ser traduzida como crutch, perdendo o sentido fonético original. Em 78 apresentei esse e um outro vídeo, Local da ação14, com a videoinstalação Pão nosso de cada dia15 na antiga galeria Cândido Mendes em Ipanema, situada ainda no subsolo. Em Ideologia16, também uso esse tom irônico, quando dois jovens de uniforme escolar soletram diante de um mapa do Brasil “dra dre dri dro dru” – Quadro e “bra bre bri bro bru” – Brasil. Ele é o Rodolfo Capeto, atual diretor da Esdi. Ela é a Noni Geiger, professora da Esdi e minha filha. Eu estive na exposição do Oi Futuro e, ao assistir aos vídeos, fiz uma associação do seu trabalho com uma coisa mística, mágica. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Se tem alguma ligação e qual seria. Aluno: Você achou isso? Nas videoinstalações? Tanto na instalação, do Circa principalmente, quanto nos vídeos. No vídeo em que você faz um círculo de fogo, no vídeo em que você finca uma madeira (flecha) no centro do chão de terra e depois a retira. Aluno: Euhropa am.Lat.Bra-sil, 1995 Série Fronteiriços Foto: Rubber Seabra 26 27 C A DER N OS EAV AN N A B EL L A G EI G ER Eu acho que o que a gente transmite na obra depende muito do que cada espectador, o público capta. E a que nível. A obra, principalmente de caráter contemporâneo, oferece ou contém uma possibilidade de leitura de várias camadas de significado. É da complexidade contemporânea. Em Passagens, por exemplo, posso passar um sentimento, uma percepção no sentido mais mítico que existe na obra de arte. Que existe nessa obra. Nos anos 60 eu tinha lido todos os livros de Jung, inclusive aquele “tijolão” Psicologia e alquimia, assim como a Interpretação dos sonhos, de Freud, assim como Roger Caillois, entre outros. Pensa-se que o mito é uma coisa do passado, da qual não necessitamos, mas vários de seus aspectos continuam a se renovar no homem. Nós não existimos sem criar mitos. E esse sentido mítico se revela na obra. O ser humano busca se religar de diversos modos, procurando entender o sentido da vida. Gauguin, ao perguntar na sua tela “de onde viemos, para onde vamos?17”, não foi demagógico. Tendo abandonado Paris, mesmo com todo o ambiente de arte que já conhecia, iria para uma ilha da Polinésia, numa busca existencial. Nossas tentativas, consciente ou inconscientemente, nos sugerem caminhos, mas é preciso decifrá-los. Não da ordem das calamidades, das ameaças apocalípticas, não no sentido do calendário asteca, que diz que em 2012 vai acabar o mundo (risos). ou não, o de isolar mais do que ligar as pessoas ao criar uma nova babel de comunicações, mas tem o seu lado positivo. O de podermos compartilhar a informação através das novas mídias, e de outros modos, através de suas culturas, linguagens e plataformas. Não devemos ser maniqueístas ou aceitar teorias da conspiração sem discussão. Muito cuidado mesmo. Procuro estar atenta ao que acontece em nosso vasto mundo, a fenômenos como o da globalização, que apresenta um paradoxo, E a utopia existe. Nós não vivemos sem alguma utopia. A nossa poiésis se expressa na arte através das possíveis ferramentas de trabalho, seja o vídeo, um desenho ou uma pintura. A obra de Rembrandt nos leva a entender não só a sua pintura, mas a época em que ele viveu. Assim como, por exemplo, o sentido da organização do espaço nas telas de Vermeer. Além disso, se observarmos em Vermeer aquelas paredes com mapas, que descrevem conflitos locais, o que vinha acontecendo naquela região da Europa. A cartografia estava ali exatamente como alta tecnologia, como informação atualizada. Falando em cartografia, Anna, como é que ela aparece no seu trabalho? Além da referência que você faz sempre ao Brasil, América Latina. aluno: O meu trabalho em meados dos anos 60 deu uma guinada, primeiro 28 29 C A DER N OS EAV AN N A B EL L A G EI G ER quando passei a fazer um trabalho visceral, num modo de representação do corpo, do funcionamento de seu organismo. Porém, o contexto político da época me levaria a uma outra forma de manifestação, tornando-se uma questão vital na minha obra. com elementos topográficos da paisagem. Daí para o mapa do Brasil e da América Latina e suas semelhanças formais e possibilidades de comparações antropomórficas. Tive de lidar com o contexto da época e quis falar do nosso isolamento cultural. Mas também me interessava, no meu trabalho, experimentar, discutir outras formas de representação. Começo por aí os meus mapas. Os primeiros se apresentam como um Brasil e uma América Latina isolados, mergulhados num vazio abissal. Depois vai surgir fortemente, no meu trabalho, a necessidade de resgate de alguns de seus aspectos históricos, desde a descoberta do Brasil. Nesse sentido as videoinstalações Circa I e II lidam com esse outro tempo. Surgem nessa época as primeiras análises topográficas da paisagem criadas por computador. Ilustravam uma outra geografia. Aquilo podia não ser desenho de arte, mas era uma outra possibilidade de representação. Anteriormente, em 66, a editora Delta publicaria uma série de dez volumes sobre a geografia do Brasil. O Pedro Geiger, geógrafo, trabalhou nessa publicação. Precisavam de várias ilustrações representando desde a esfera do globo terrestre meio transparente à descrição geológica das camadas do solo, e tantas outras descrições minuciosas. Eu trabalhara muito com ilustração nos anos 50 e 60. Para o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã, para a editora Civilização Brasileira. Isso eu sabia fazer, mas com a geografia era mais difícil, porque essas ilustrações precisaram ser precisas. O que foi e continua sendo um desafio é tornar o uso da representação cartográfica significativo na minha obra. Eu não inventei a representação cartográfica. Parti de uma representação pré-existente. Então, em 69, comecei uns desenhos em tinta guache, Aluno: Em que a gravura influencia o seu trabalho hoje em dia? Olha, se você reparar, tem artistas que são essencialmente gráficos. Ser gráfico não quer dizer que você vai trabalhar só com a coisa gráfica, ou apenas em termos restritos da técnica da gravura. Outros são mais pictóricos. Não é que esta seja uma classificação que qualifique o valor desses artistas, mas existem diversas tendências, às vezes inerentes. No meu caso, o uso da gravura e do desenho vem desde os primórdios do meu trabalho, passando por várias transformações. Mas sempre tive uma atração fatal pela obra gráfica. Mesmo em alguns dos meus vídeos há várias soluções que 30 31 C A DER N OS EAV AN N A B EL L A G EI G ER “E a utopia existe. Nós não vivemos sem alguma utopia. A nossa poiésis se expressa na arte através das possíveis ferramentas de trabalho, seja o vídeo, um desenho ou uma pintura.” são gráficas. Em Passagens I, entre outras coisas, me interessava que aquelas escadas se assemelhassem a uma página de caderno pautado. A imagem bidimensional do vídeo oferecia uma qualidade de ordem gráfica. Interessava-me que os degraus por onde eu passava fossem como linhas de um grafismo bidimensional. Notem que vou sempre subindo de lado, para que a minha imagem se mantenha bidimensional. Continua meu interesse no uso da gravura, ao surgirem questões que para mim só podem ser traduzidas graficamente. O desenho também sempre vem permeando minha trajetória, assim como a gravura. Há dois anos fiz uma edição de cinco gravuras para uma editora de arte de Madri, Arte y naturaleza, e é sempre instigante para mim essa prática do uso da gravura. Acho importantíssimo na formação do artista saber muito bem diversas técnicas. Não importa se vai ser um artista só gravador ou não. E quem tem uma prensa de gravura em metal, que não se desfaça nunca dela. Tem gente que adora carro, não é? Eu adoro a minha prensa. Os recursos de que ela dispõe ficaram tão estranhamente ligados aos meus trabalhos atuais que não é necessariamente gravura o que sai da prensa. O que não gosto, porém, é do aspecto ideológico que alguns gravadores dão à gravura, relevando a dificuldade do seu fazer, de sua manipulação, atribuindo-lhe uma qualidade de linguagem. 32 33 C A DER N OS EAV AN N A B EL L A G EI G ER Notas Saiba mais 1. ACCONCI, Vito. Following Piece. Performance/ vídeo. Série Street Works IV. Nova York, 1969. http://www.annabellageiger.com 2. GEIGER, Anna Bella. Circumambulatio. Instalação / Ambiente parcial. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1972. http://www.circa2011.com.br 3. Expo-Projeção. Exposição coletiva realizada no Espaço Grife. São Paulo, 2003. ANNA Bella Geiger. Texto Fernando Cocchiarale. Rio de Janeiro: Funarte, 1978. 40 p., il. 4. GEIGER, Anna Bella. Circa I. Vídeo em cores. Duração: 30’. 2005. ANNA Bella Geiger: constelações. Apresentação Marcus de Lontra Costa; textos Fernando Cocchiarale, Mário Pedrosa, Tadeu Chiarelli, Paulo Herkenhoff, Luíza Interlenghi, Karin Stempel, Dore Ashton. Rio de Janeiro: MAM, 1996. 88 p., il. Edição bilíngue português-inglês. 5. GEIGER, Anna Bella. Mapas elementares I. Vídeo p&b. Duração: 3'. 1976. 6. GEIGER, Anna Bella. Mapas elementares III. Vídeo p&b. Duração: 3' 24''. Coleção Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. 1977. 7. GEIGER, Anna Bella. Passagens I. Vídeo p&b. Duração: 12'. 1974. 8. GEIGER, Anna Bella. Declaração em retrato I. Vídeo p&b. Duração: 7'10''. 1974. 9. GEIGER, Anna Bella. Centerminal. Vídeo p&b. Duração: 3’. 1974. 10. DUCHAMP, Marcel. O grande vidro, 1915-1923. Óleo, verniz, fios metálicos, fios de aço, pó e cacos de vidro sobre duas placas de vidro. 272,5 x 175,8 cm. Instituto de Arte Contemporânea da Filadélfia. 11. DUCHAMP, Marcel. Étant donnés, 1948-1966. Instalação. Instituto de Arte Contemporânea da Filadélfia. 12. BEUYS, Joseph. Siberian Eurasia Symphony 1963, 1966. Painel com desenho de giz, feltro, gordura, lebre e postes pintados. 183 x 230 x 50 cm. 13. Mostra individual no MoMA, Nova York, 1978. 14. GEIGER, Anna Bella. Local da ação. Vídeo p&b. Duração: 5’. 1978. 15. GEIGER, Anna Bella. Pão nosso de cada dia, 1978. Videoinstalação. Galeria Cândido Mendes, Rio de Janeiro. 16. GEIGER, Anna Bella. Ideologia, 1973 / 1983. Vídeo em cores. Duração: 1’. Coleção no MoMA, Nova York. 17. GAUGUIN, Paul. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos?, 1897-1898. Óleo sobre tela. 1,39m x 3,74m. Museu de Belas-Artes de Boston. NAVAS, Adolfo Montejo. Anna Bella Geiger: territórios, passagens, situações. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2007. 356 p., il. 34 Carlos Zilio Aluno: Como foi sua experiência como professor? Eu fui professor da Escola de Belas Artes por alguns anos. Foi uma experiência bastante difícil, porque a Escola é uma instituição secular, mas que não utilizou a experiência para se renovar. Considerando isso, tentei mudar um pouco a situação e propus a criação de uma área na pós-graduação voltada para a formação do artista. Esta é uma solução comum na universidade brasileira: quando a graduação possui resistências institucionais difíceis de superar, busca-se contornar os problemas pela pós-graduação. Mas a coisa não é tão simples assim, porque, mesmo sem querer, você fica sujeito à inércia conservadora. Foi um trabalho que, acho, ajudou a arejar um pouco a Escola, mas não ainda na dimensão Memória, 2006 Óleo e bastão de óleo sobre tela 140 x 188 cm Foto: Vicente de Mello 36 37 C A DER N OS EAV CARLOS ZI L I O em que seria preciso. Isso do ponto de vista geral. Do ponto de vista pessoal foi uma experiência boa no sentido de que travei contato com alunos interessantes. Todo professor diz isso, e é verdade: a única coisa boa de ser professor é que você é obrigado a responder ao questionamento do aluno. Isso cria uma dinâmica produtiva para você, professor, também. Aluno: Como foi a sua formação de artista? Eu fiz uma escola que se chamava Instituto de Belas Artes. Como mostrou aquele DVD1, era na Praia Vermelha, onde hoje tem um clube de militares. Era um lugar privilegiado, à beira-mar. O Instituto de Belas Artes foi depois transferido para cá (Parque Lage). É o avô desta Escola. Foi na gestão do Rubens Gerchman que o Instituto de Belas Artes se transformou em Escola de Artes Visuais. O Instituto era uma escola semelhante à Escola de Belas Artes, com maioria de professores acadêmicos e uns poucos modernos. Acho que tem a ver com vocação. Você acha que gosta de arte, gosta de fazer arte, se interessa por arte e procura um lugar no qual vai encontrar a orientação necessária. Um dos poucos professores modernos do Instituto era o Iberê Camargo. Minha convivência com ele foi muito importante para adquirir uma dimensão mais precisa do que representava ser um artista. Qual a importância da música, já que tem uma presença tão forte no DVD? Aluno: Isso é muito curioso. Durante muito tempo eu trabalhava ouvindo música. Meu ateliê tinha muita música. De um tempo pra cá isso parou, não sei por quê. Da mesma maneira espontânea que começou, de uns anos pra cá parou. Não tenho escutado muita música. Mas a música está na cabeça. Nem sempre você precisa escutar para ouvir. Realmente, durante grande parte da minha vida foi uma coisa muito intensa. Por um problema de geração, ouvia muito dois tipos de música: bossa nova e jazz. Jazz, sobretudo, beebop. Charlie Parker, Mingus, Coltrane, enfim... Eu tenho algumas manias na vida, mania de alguns artistas plásticos que me perseguem, eu sonho com eles. Hoje em dia estou mais curado disso. Em certas épocas eu ficava, ainda na fase do long-play, com o mesmo disco do João Gilberto um ano na vitrola. Long-play dava muito trabalho de mudar, eram doze ou treze faixas. Eu ficava absolutamente obsessivo. Bossa nova pra mim é muito João Gilberto. Marcou muito minha geração. Outro dia tive uma discussão – no bom sentido – com um sobrinho. Ele, com ouvido de outra geração, não sei se a mesma de vocês, dizia que achava o João Gilberto muito chato. É, pode ser. O sujeito reinventou a música popular brasileira. Conseguiu criar outra sistemática de 38 39 C A DER N OS EAV CARLOS ZI L I O “O importante politicamente da arte é ser arte. Você conseguir produzir um trabalho artístico que traga à sociedade uma inquietação que só a obra de arte pode trazer, diferente de outras formas de cultura, da ciência e da filosofia.” tempo, uma batida nova. Pouco tempo depois saiu uma crônica do Veríssimo n’O Globo falando sobre pequenas aquisições que mudam a história de determinados comportamentos humanos. Ele falava do estribo. Durante centenas de anos o homem cavalgava e o cavalo era tudo: meio de locomoção básico, força de trabalho. Cavalgava sem estribo. Até que na Idade Média criou-se o estribo, mudou toda a historia da equitação. E o João Gilberto também criou um estribo, uma batida. Bom, mas estou falando sobre música. Outro dia eu estava relendo, ou melhor, “reouvindo” uma citação que, com todos os acontecimentos recentes, me levam a citar o Hélio Oiticica dizendo que tudo o que ele fazia era música. A música tem essa coisa muito determinante na arte do século XX. Acho que ela mostrou para os artistas plásticos uma espécie de liberdade de busca, de possibilidades, sem estar ancorada numa determinação pragmática ou sem estar determinada por uma relação muito objetiva com o real. Isso foi muito caro para os artistas plásticos, muito importante na história das artes plásticas. Então, acho que a gente está sempre procurando fazer música de alguma maneira. Em algumas obras, mais diretamente, e em outras, como é meu caso, mais indiretamente. Mas estamos sempre dialogando com a música. 40 41 C A DER N OS EAV CARLOS ZI L I O Como surgiu o seu interesse em produzir textos sobre arte? Aluno: Ao longo desses anos da minha experiência com a arte deu para sentir mudanças importantes no circuito de arte brasileiro. Vocês podem achar que as coisas estão ruins, e a gente tem tudo para achar isso. Porque estamos vivendo ainda o rescaldo do incêndio da coleção do Hélio, uma coisa dramática. Mas já foi tudo muito pior. Teve uma época em que no Brasil os museus eram muito mais precários do que são, as galerias, quase inexistentes e a produção teórica, muito modesta. Hoje em dia você vai a uma livraria qualquer e tem uma ampla bibliografia sobre arte. Quando eu comecei a fazer arte, nos anos 60, você tinha uma ou outra livraria especializada, que tinha alguns livros importados, e tinha uma biblioteca do Consulado Americano chamada Thomas Jefferson, na Avenida Atlântica. A minha geração começou com uma proposta que se materializou nas exposições Opinião2 e Nova Objetividade Brasileira3, que traziam alguns elementos novos, lidando já com a crise do moderno, ao mesmo tempo em que estabelecíamos um diálogo muito intenso com a geração anterior à nossa, a da arte neoconcreta. Eles eram mais velhos, artistas mais maduros, mas criou-se um vínculo muito intenso entre as duas gerações. Por outro lado, ainda tínhamos questões que remontavam ao modernismo, à Semana de 22, como por exemplo a de pensar o que seria a arte brasileira, a antropofagia, enfim, questões que haviam sido colocadas mas ainda pouco pensadas. Neste momento, começa a haver, tanto aqui quanto nos Estados Unidos e na Europa, essa atitude dos artistas falarem sobre seu trabalho e o de seus colegas, porque eles não viam na crítica daquele momento uma resposta sobre as suas indagações. Embora na época não houvesse a globalização que há hoje e as comunicações não fossem tão rápidas, havia um sentimento comum, difuso internacionalmente, que era esse dos artistas começarem a pensar a produção. E eu comecei a fazer isso de maneira mais intensa, até porque passei quatro anos morando na França nessa época e lá me deparei muito com essa questão de museus, bibliografia, etc. Esse distanciamento, paradoxalmente, permite uma proximidade muito grande de uma maneira mais neutra, sem tantas paixões, permite um distanciamento teórico. E aí comecei a pensar o Brasil e escrevi um livro sobre isso chamado A querela do Brasil4. Quando editado, a primeira vez foi pela Funarte em 1982, o livro teve uma repercussão que, sem maior pretensão, foi importante para se repensar o modernismo brasileiro. Eu não fiz doutorado em História da Arte, sou “metido” em História da Arte. Fiz doutorado em Arte. O problema é que a história da arte no Brasil era muito empírica, baseada em fatos do tipo quem nasceu, onde nasceu, foi aluno de quem. Então, mesmo estando no 42 43 C A DER N OS EAV CARLOS ZI L I O doutorado de Arte, eu achei que poderia dar uma contribuição mais teórica. Aluno: Como você escolhe o título dos seus trabalhos? É uma questão interessante, mas deixa eu pensar melhor... Acho que não houve uma solução única ao longo do tempo para título. Titular um trabalho significa primeiro criar uma identidade mais, digamos assim, objetiva para o trabalho, mais funcional. Você consegue distinguir um trabalho do outro, no arquivo. Esse é um objetivo mais catalográfico. Mas o título pode abrir uma nova questão para a leitura da obra por meio de uma articulação entre o objeto plástico e a sua denominação de modo a produzir um outro elemento que atua na própria significação do trabalho. Ao longo do meu trabalho utilizei diferentes estratégias. Quando eu fico muito sem ideia, me utilizo da solução mais simples e coloco “Sem Título”. Aí a autonomia do espectador com relação ao trabalho é grande. Outras vezes eu faço relações um pouco mais amplas, que podem remeter a episódios e a coisas que não estão imediatamente visíveis na pintura (eu falo pintura porque sou, sobretudo, um pintor, embora não seja exclusivamente um pintor). Por exemplo: tem uma fase minha, que vai de 1992 a 2000 e pouco, muito marcada por uma monocromia e uma indagação sobre o repertório Tamanduá no outono, 2010 Tinta esmalte sobre tela 150 x 212 cm Foto: Vicente de Mello 44 45 C A DER N OS EAV CARLOS ZI L I O da pintura. Então eu pegava a tela em branco, demarcava dentro dela um espaço e dentro desse espaço eu trabalhava diversas possibilidades de ocupação com uma mesma cor, mas de maneiras sucessivamente diferentes. Essa série toda tem o título 794A0. Depois vem 794A0/1, 794A0/2, esse tipo de coisa. Você pode dizer que isso é uma denominação aparentemente catalográfica, porque tenta estabelecer uma relação estreita entre número e forma. Não. 794A0 era o segredo da porta da minha casa quando eu voltei a morar em Paris durante seis meses em 1992. Ou seja, o código para entrar na minha intimidade. possibilidades da arte. O importante politicamente da arte é ser arte. Você conseguir produzir um trabalho artístico que traga à sociedade uma inquietação que só a obra de arte pode trazer, diferente de outras formas de cultura, da ciência e da filosofia. Estou falando especificamente de artes plásticas. Tem ali uma especificidade. Eu acho que se a arte conseguir trazer essa inquietação singular à sociedade, ela está cumprindo um papel histórico, político e social. Então era uma maneira indireta de eu situar uma relação com a pintura. Se você entender o código da pintura, você tem acesso a um diálogo comigo. Você deixou de fazer uma arte mais política. Como foi isso? Aluno: A gente nunca deixa de ser político. Impossível. Você vive numa sociedade e está sempre atuando politicamente. Acho que existem diversas formas de ser político. No caso específico da arte, você pode ter no seu trabalho um vínculo político imediato. E você tem excelentes artistas que fazem isso. Mas eu acho que isso é uma das Outro dado importante com relação à arte é a possibilidade de experimentação, de investigar as suas formas de comunicação com o mundo. Evidentemente, isso está muito ligado à experiência de vida do artista e ao seu momento histórico. Vivi um momento histórico na minha juventude muito especial. Havia uma sensação nítida de que com determinadas formas de comportamento pessoal e de atuação política se transformaria o mundo. Em dez, vinte, trinta anos isso se tornaria possível. Eu me lembro que nessa época a ficção científica chamava-se 2001. Transformar o mundo significava propor um modelo mais generoso de convivência social, mais solidariedade, mais justiça social. Por outro lado havia uma ditadura militar no Brasil, e você não podia ler, não podia ver ou se expressar publicamente. A vida era censurada. Então, para minha geração e para mim pessoalmente, a arte se mostrou um veículo importante nesse combate. Até que eu vi que a arte tinha suas 46 47 C A DER N OS EAV CARLOS ZI L I O limitações nessa militância. E resolvi parar com a arte, em benefício da própria arte, e me transferir para uma prática de militante. embate com o espectador, acaba virando uma coisa homogênea, de uniformização. Então se o espectador médio, o público, tem uma visão de arte extremamente simplória e se dizem para ele que um boneco é uma obra de arte, ele vai se identificar imediatamente com aquilo. Vai ser a lógica do senso comum. “Ah, isso é arte?” Não há nenhum conflito, não há nenhum confronto, nenhum questionamento, nenhuma indagação que surja dessa relação. Isso é um problema político. Por outro lado, desde 1980 resolvi, por uma série de fatores, ser também professor. O único lugar que tinha para dar aula como artista era a Escola de Belas Artes. Na época, não havia possibilidade de lecionar lá, então eu fui para a PUC, onde criei um curso de História da Arte. Acho que era um modelo novo no Brasil e se distinguia por uma visão de história da arte baseada em padrões mais conceituais e teóricos. Procurei reunir uma equipe de professores que tinham essa concepção de história da arte. Além do debate dentro de novas bases, desenvolveu-se um trabalho significativo de pesquisas e publicações como a revista Gávea, que divulgava os trabalhos de alunos e professores, bem como de diversos autores fundamentais para o pensamento sobre arte, muitos dos quais, até então, inéditos no Brasil. Um legado concreto deste curso foi a produção de exposições que repensavam a história do modernismo brasileiro, que era calcada em Di Cavalcanti, Portinari, e nós propusemos Goeldi e Guignard como Acho que o escopo da política mudou muito. Nós achávamos que de uma maneira difícil, dura, com muito sofrimento, seria viável a transformação do mundo. O que demonstrou ser ingenuidade política. Nos anos 70, por aí, começou a haver uma revisão desse tipo de pensamento utópico. Desses grandes sistemas de pensamento que estavam por trás do pensamento utópico. E uma das possibilidades que marcaram muito a minha geração nessa revisão foi a questão da micropolítica. Esta tem uma eficácia não tão ambiciosa quanto a outra, mas uma eficácia mais direta. O que é micropolítica na minha vida hoje em dia? Primeiro, algo que demarcou a minha geração de artistas, que é a consciência da responsabilidade política com o trabalho produzido. O que você expõe, como expõe, onde expõe, como aquilo circula. Esse é um compromisso político do artista. Não deixar que seu trabalho seja diluído por um sistema de apropriações que esvazie sua densidade cultural. Esse é um dado político importante. Por que nós, por exemplo, há uns dois meses, estávamos aqui no Parque Lage, dezenas de artistas reunidos brigando por ocupação do espaço público? Porque se você começa a colocar boneco por toda a cidade, o papel da arte, que é de questionamento, de criar relação de perplexidade ou de 48 49 C A DER N OS EAV CARLOS ZI L I O “Um dia fez-se arte. Existe um gesto do homem que transforma a vida social. E esse gesto nunca parou de ser feito daí em diante porque se tornou algo vital para a sociedade.” alternativas mais pertinentes. Uma nova relação com a história da arte, um novo tipo de abordagem, produzindo diversas pesquisas que eram reunidas em catálogos-livros, e que conseguiu formar diversos profissionais que hoje atuam expandindo esses princípios. Eu tenho a pretensão de ter ajudado a tornar isso possível. Acho que foi uma militância político-cultural-profissional. Como também política foi minha inserção na Escola de Belas Artes, para a qual fiz concurso em 1994. Eu podia ter chegado lá para ser um professor como faz grande parte dos meus colegas, que cumprem seu dever pontualmente. Vão lá, dão boas aulas, corrigem as provas e pronto, terminou. Mas achei que era minha obrigação política trazer alguma inquietação àquele ambiente de tranquilidade conservadora. E coloquei uma pedra lá no caminho das pessoas. Não sei se a pedra continua lá, mas eu espero que sim. É uma outra maneira de atuar politicamente. A arte está no terreno da investigação. Acho que a característica da arte é o fato dela ter duas dimensões: uma dimensão histórica, e a outra é sua relação com o presente. Nós artistas reatualizamos no nosso ofício o gesto do primeiro homem que criou a arte. Esse primeiro homem criou a arte do nada. Imagina a humanidade: milhares de anos atrás, digamos, trinta mil anos aproximadamente, não existia arte. Um dia fez-se arte. Existe um gesto do homem que 50 51 C A DER N OS EAV CARLOS ZI L I O transforma a vida social. E esse gesto nunca parou de ser feito daí em diante porque se tornou algo vital para a sociedade. Mas ele tem duas características: carrega essa potência de ter feito do nada algo, mas ao mesmo tempo se renova porque responde a novos desafios, a uma nova realidade, a novos momentos históricos, a um novo arranjo da sociedade. Para ele se transformar, os agentes dessa transformação, que são os artistas, têm que experimentar, têm que buscar esse algo que corresponda a essa nova arrumação da sociedade. conseguir uma solução, uma resposta para você mesmo sobre aquele problema, depois não tem sentido permanecer nele. Daí os cortes internos no processo global do trabalho. O trabalho pode, em alguns momentos, comportar uma subjetividade própria, meus fantasmas pessoais, mas mesmo eles estão sintonizados em relação à obra de alguns artistas. Esses artistas vão se sucedendo como referenciais a serem problematizados, gerando essa aparente descontinuidade interna no processo geral do trabalho como uma sucessão de questionamentos que, uma vez enfrentados, se abrem para um próximo desafio. Esse DVD é de 2002. Posteriormente, em 2006, foi editado um livro sobre o conjunto do meu trabalho. O acompanhamento dessas duas iniciativas me motivou a ter uma visão mais global do meu trabalho. Se você pegar o conjunto, tem estes cortes abruptos, uma aparente descontinuidade. O eixo central que articula esse processo é pensar o que é pintura, ou, em outras palavras, pintar a pintura. Este questionamento adquiriu, com a crise da modernidade e a perda do estatuto da pintura como suporte padrão, uma nova característica destituída da certeza de que a prática pictórica trazia um sentido em si. Optar, portanto, pela pintura no final da década de 1970 impunha se relacionar com ela como um dado externo a ser problematizado. Então você vai pensando determinados problemas pictóricos até 52 53 C A DER N OS EAV CARLOS ZI L I O Notas Saiba mais 1. Carlos Zilio. Direção Mario Carneiro, Márcia de Medeiros. Produzido por Trampo televisão e cinema. Série Rioarte Vídeo – Arte Contemporânea. Rio de Janeiro: Rioarte, 2002. DVD, 24 min. http://www.carloszilio.com 2. Exposições coletivas realizadas no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 1965 e 1966. 3. Exposição coletiva realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 1967. 4. ZILIO, Carlos. A querela do Brasil: a questão da identidade da arte brasileira: a obra de Tarsila, Di cavalcanti e Portinari, 1922-1945. Rio de Janeiro: Funarte, 1982. 2. ed.: Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1997. 5. ZILIO, Carlos. Série 794AO, 1992-1998. 6. VENÂNCIO FILHO, Paulo (Org.). Carlos Zilio. São Paulo: Cosac & Nayfy, 2006. 216 p. ZILIO, Carlos. Arte e política: 1966-1976. Curadoria Vanda Mangia Klabin; textos Paulo Sérgio Duarte, Fernando Cocchiarale, Frederico Morais, Jayme Maurício, Roberto Pontual; versão em inglês Ricardo Gomes Quintana; Hélio Oiticica, Ronaldo Brito, Rosa Freire D’Aguiar. Rio de Janeiro: MAM, 1996. 71 p., il. ZILIO, Carlos. Carlos Zilio. Curadoria e texto Paulo Venâncio Filho; textos Cesar Oiticica Filho; versão em inglês Carolyn Brisset. Rio de Janeiro: Centro de Arte Hélio Oiticica, 2000. 54 p., 35 il. ZILIO, Carlos. Carlos Zilio. Organização Paulo Venâncio Filho; textos Jorge Guinle, Paulo Sérgio Duarte, Paulo Venâncio Filho, Ronaldo Brito, Wilson Coutinho, Yve-Alain Bois. São Paulo: Cosac Naify, 2006. 216 p., il. 54 ERNESTO NETO Estudei aqui. Faço escultura, mesmo quando desenho ou fotografo. Às vezes até acho que faço pintura em alguns trabalhos, mas os pintores se chateiam quando falo isso, aí prefiro dizer que faço esculturas com cores. Os pintores labutam muito para misturar as tintas e eu nunca gostei de trabalhar com essa coisa grudenta, não gosto de limpar pincel. Aos 16 anos tentei entrar na escola no MAM. Na época, não fazia ideia do que era arte, nem sabia onde ficava uma galeria. Matriculei-me no curso que tinha um fôlder, desenhado pela Fernanda Gomes, uma artista muito interessante. Ele se desdobrava todo de um quadradinho até aparecerem todos os cursos, cada um num quadradinho. No primeiro quadrado o texto dizendo: “Para desenvolver Descaminhos de Lili, 2000 Tule de poliamida e areia Dimensões variáveis Vista da instalação: Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 2000 Foto: Ana Stewart 56 57 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO o artista em potencial”. Como não era artista, só queria fazer umas esculturas, fiquei muito intimidado, com medo que tivesse um monte de artistas, e não fui. Dois anos mais tarde, depois de abandonar o curso de engenharia, no meio do segundo período, fiz o vestibular para astronomia. Eram 25 vagas e eu não passei. Acho até engraçado achar que ia passar, mas talvez fosse uma maneira de sair da engenharia, onde meus colegas gostavam de conversar sobre o funcionamento das máquinas, do micro-ondas, e eu só gostava das aulas de matemática e de física. Embora minhas notas não fossem muito boas, era maravilhoso passar aquelas seis horas numa segunda-feira estudando matemática. muito para isso. Meu pai pirou, minha mãe me dava apoio, meus irmãos achavam legal e os amigos adoravam. Aos poucos, minha mãe ficou preocupada com as finanças, com a sobrevivência, depois meus irmãos começaram a achar estranho e meus amigos acharam que eu devia viajar. Sem destino certo, fui para a Bahia, e uma namorada carioca me disse que fazia aulas de escultura em barro no Parque Lage. A minha infância inteira fiz escultura em barro, e vim para o Parque Lage ter aulas com o Jaime, no início da Geração 80. A escultura não era valorizada, porque era a época da pintura. Mas eu gostava de pegar na matéria e não queria um pincel como intermediário. Fazer arte tem relação com a vida, com o cotidiano, com o que tocamos. Caí nisso meio por acaso. Quando fiz minha primeira escultura, fiquei muito feliz e percebi que era aquilo que queria fazer da vida. Nunca tive uma certeza tão grande e tive que lutar Depois que você aparece no jornal, as coisas começam a mudar. A realidade é muito mediada pela opinião dos outros, pelos resultados. Queria fazer escultura e estava numa escola em que a pintura era totalmente dominante. Dois anos depois da primeira tentativa, voltei para o MAM e me inscrevi, porque eu já não tinha mais tempo para ter medo. Tem hora que podemos ter medo e outras não, talvez não tivesse mais medo porque amadureci a ideia. Tenho dúvida se a questão é relativa ao amadurecimento ou à falta de alternativa. Se você pode pular num abismo ou correr para o outro lado, acho que você tem uma oportunidade. Ninguém pula no abismo, se tiver outra oportunidade e, de alguma forma, talvez na minha situação emocional ou situação real, era só um curso de arte, não precisava ficar com medo das pessoas, dos artistas, até porque já comecei a achar que ia virar isso mesmo. No MAM, tinha aulas com o Moriconi. O fato é que estava fazendo esculturas e quis fazer uma conceitual. Não sabia bem o que era 58 59 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO isso, não era uma coisa tão seca como acho que é a arte conceitual. Umas coisas dos anos 70 apareciam no meu imaginário. o bloco de fórmica, a espuma e o tecido iriam apresentar o peso dessa bola e a relação desse peso com aquele ambiente. Fiz a escultura conceitual. Era um quadrado de fórmica, de 60 x 60 cm e 10 de altura, com uma bola em cima, depois o mesmo quadrado de espuma, e essa bola teria um peso que deformaria essa espuma, e o terceiro trabalho era uma estrutura de madeira pendurada com um tecido esticado e uma bola sobre esse tecido, essa bola esticaria o tecido. Primeiro, descolei o tecido na casa da minha avó, que vivia costurando. Perguntei a ela qual o tecido que esticava e ela respondeu: “jérsei”. Comprei, descolei a madeira e fiz uma bainha para entrar a escultura na madeira. Enfiei o tecido na madeira, saía farpa para todo lado, não escorregava, não tinha nada a ver. Pensei que madeira e tecido sintético não se bicam. O meu trabalho é muito sobre relacionamento, isso para mim é muito importante. Tudo na vida é relacionamento, das coisas com o espaço, da mesa com o chão e do objeto que está sobre ela, e essa mesa com esse espaço. Nunca dou uma palestra igual à outra, não preparo uma palestra, acho interessante a coisa acontecer dentro da atmosfera do momento. A situação e a pergunta alteram a resposta. Faço escultura assim, como uma coisa que altera a outra. Era isso que queria ver com a bola, o peso da bola ia deformar em relação ao recipiente que a recebia, o material da bola era constante, mas Cada artista tem uma maneira de desenvolver seu trabalho, uma relação de afeto com o trabalho, não é à toa que fui direto ao tecido e trabalho com isso até hoje. E nessa coisa do relacionamento, tem um artista que acho demais entre os modernistas, e não é o Duchamp – é o Brancusi. O Brancusi fez várias versões de O beijo1, discutiu muito a questão da base na escultura, questão que foi quase eliminada na arte contemporânea. Você faz um desenho e tem a folha em branco, você tem a sua história, tem a história da arte e tem os seus desejos e a sua própria loucura. Faz uma pintura, tem a tela em branco, faz uma escultura, tem a pedra, mas o que acontece hoje é você ter a galeria – ela passou a ser o papel em branco. Um espaço vazio para o artista ir lá e fazer o trabalho. A galeria cubo branco é uma invenção do século XX, de meados do século para cá, que domina o nosso fazer artístico. Quando se começou a falar em instalação, eu fazia escultura e faço até hoje. Vocês veem uma instalação minha – ela é uma escultura. Até entendo que alguns trabalhos possam parecer mais com uma instalação, mas são esculturas para mim quando não tendem para a pintura. Talvez seja tradicionalista, mas a arte hoje tem milhares de 60 61 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO opções que não têm nada a ver com o que faço. Você pode fazer arte de qualquer maneira e o lugar mais livre hoje é a galeria de arte. Tem gente fazendo cinema inviável no grande circuito que acaba caindo numa galeria de arte, crescendo e desenvolvendo novas linguagens, sem falar da Internet. Fui apresentado ao computador com trinta anos de idade. Existe uma renovação do relacionamento social na música e na arte através da tecnologia. Quem sabe a arte consiga sair um dia do cubo branco, da galeria, e acontecer em outros lugares. você, Geração 80?2, mas, a partir de um dado momento, comecei a achar os artistas dos anos 70 muito mais interessantes, como Tunga, Waltercio, Cildo, Antonio Manuel, Barrio, José Resende. É normal ser crítico ao trabalho anterior, é importante. Todos eles foram muito importantes pra mim, e tenho certeza de que vieram depois gerações que eram extremamente críticas ao meu trabalho também. Faço esse trabalho aqui, é só o que faço, é a minha vida, onde fui me encontrar, ocupar meu tempo. Às vezes, trabalhar significa ficar deitado na rede até se achando deprimido, é não fazer nada e depois conseguir se levantar e fazer alguma coisa. Muitas vezes não sabemos para onde ir e não adianta bater pra cá e pra lá, mas a vida e a arte são assim. Você realiza um dia uma coisa e acha que seus problemas estão todos resolvidos, até o momento em que você cai de novo no vazio e tem que recomeçar. De alguma forma, a arte é algo em que você começa, chega num momento e despenca, e se encontra novamente, como se fosse um eterno retorno. Essa escultura, a pseudoconceitual,não a fiz, e só fui perceber a importância dela na minha vida anos depois. Quando reconheci isso, percebi que, de alguma forma, já tinha feito essa escultura várias vezes, sem reparar que estava fazendo. Embora não tenha feito aquela escultura naquele momento, e quando digo aquela, digo a última parte, a de tecido, pois as outras nem comecei, a afetividade me levou para a elasticidade e a gravidade, como se as outras duas Antes falava sobre Brancusi, da passagem da base para o espaço. Vejo uma galeria como uma folha em branco. Qual é a roupa que vou colocar nessa festa? Como vou me comportar ali, quais as relações dessa galeria com o espaço em torno dela, é um lugar institucional? É um museu, uma galeria comercial, quem me convidou? Qual a relação afetiva que tenho com essa pessoa? Essa já é uma situação quando você vai expor o seu trabalho. Sobre a situação da escultura que achava conceitual, que tem muitas maneiras de se manifestar, a arte sempre tem conceitos por trás, não basta colocar emoção. Embora a Escola de Artes Visuais do Parque Lage tenha sido uma influência muito forte em minha vida, eu fui inclusive influenciado pelos principais escultores da Geração 80, Barrão, Venosa e Mauricio Bentes, estava na Como vai 62 63 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO partes fossem uma estratégia mental para chegar onde queria, a esfera pendurada na superfície de tecido deformando-a. Enfim, não a realizei naquele momento, mas tinha o material em casa. Algumas semanas depois dessa tentativa frustrada, fui ao balé do Nikolais Dance Theater, que tinha uns trabalhos de elasticidade de tecidos em relação ao corpo. Pensei que era o que queria fazer, fiquei muito impressionado e percebi isso como escultor. Por isso, quando faço um desenho, uma pintura, me vejo como escultor, penso o corpo no sentido tradicional da escultura. Me amarro nas esculturas egípcias, gregas, me formei assim, lendo a história da arte ocidental. Até três anos atrás achava que era ocidental, não sei o que ensinam nas escolas hoje em dia, mas quando era garoto, me ensinaram na escola que eu era ocidental, estudei a história da Europa e do Brasil, em paralelo. Mas há uns dois anos, descobri que não sou ocidental. Morava fora do Brasil e os ocidentais originais, os europeus, os que inventaram o Ocidente, disseram que o Brasil não era Ocidente e comecei a pesquisar esse assunto, lá mesmo, perguntando a todos e finalmente liguei para dois grandes amigos, que conhecem bem o Rio, descobri que, pelo menos para o europeu, o Brasil não é considerado Ocidente. Tudo começou quando uma estudante finlandesa me mandou umas perguntas: “Como é esse seu trabalho nesse lugar? (fiz um trabalho3 no Panteão na França, um lugar feito para ser uma igreja, com uma estrutura neoclássica que se tornou túmulo de pessoas importantes, um templo-túmulo, representante da república). E ela queria saber como duas culturas tão diferentes podiam estar em tanta sintonia no mesmo lugar? Pensei, culturas tão diferentes? E a quinta pergunta dela foi: “Como você se sente, expondo em países ocidentais”?” Estranhei a questão e, como já disse, perguntei a todo mundo. Na época morava no interior da França, em Saché, na pequena cidade onde fiz residência no ateliê do Calder, novamente cruzando meu destino, artista americano bem importante, que foi para a França em meados dos anos 20 e tinha uma ligação muito forte com o circo. Ele fazia umas esculturas figurativas incríveis de arame. Nas aulas do Moriconi, tive acesso a um livro dele, pesquisei, até me tornei bom aluno. Pela primeira vez, o cara dava um dever de casa, sugeria dois exercícios e eu trazia dez, quinze, o professor ficava feliz da vida e eu também, era um aluno exemplar. Realmente foi uma mudança radical em minha vida, eu que sempre tive dificuldade em passar de ano... Voltando à aula. Fiz essa escultura de arame. Tinha esses arames em casa, porque fiz várias esculturas com ele. Eram uns cinco milímetros, de alumínio, mole, mole de fazer qualquer coisa. No dia seguinte do balé Nikolais, foram todos à praia, domingão, eu não fui – caí num vazio, ali de repente. Essa questão da arte foi 64 65 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO “Vocês veem uma instalação minha – ela é uma escultura. Até entendo que alguns trabalhos possam parecer mais com uma instalação, mas são esculturas para mim, quando não tendem para a pintura.” quando vi aquela primeira escultura, de barro, mais tradicional, e se relaciona com os trabalhos de hoje, se olharmos com atenção. Olhar com atenção é uma questão. Essa atenção, a criança tem muito rápido. O mundo ficou completamente diferente depois que comecei a fazer arte. E o que é difícil de conceber na ideia de, de repente, começar a fazer arte, me parece não ser o ato de fazer, mas uma tomada de consciência de começar a encontrar a arte pelos cantos do mundo, uma espécie de olhar que adquirimos sobre o cotidiano. Demorei alguns meses para perceber isso, mas o mundo onde vivia e o mundo onde passei a viver se tornaram duas coisas completamente diferentes, o olhar das coisas, o espaço entre as coisas, a relação entre as coisas, entre as pessoas, para mim, tudo é escultura. Nós, aqui agora, o aglomerado de vocês, a posição de cada cadeira, a maneira como vocês estão sentados, como um está posicionado, o microfone, as duas águas em volta, o copo, os fios que se cruzam, ele aqui com headphone, tudo entrando e saindo. O que acontece quando tudo isso entra, sai, vai para outro lugar, se expande, a imagem vira som, as relações sociais, políticas, tudo para mim é passível de ser visto como uma escultura. Em tudo existe uma tridimensionalidade, seja estática ou em movimento, criando uma relação entre as coisas, entre os poderes, entre as forças envolvidas; mesmo que você entre numa questão abstrata de poder, de força, de energia, essas coisas também têm forma, 66 67 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO tempo, espaço, peso, volume, cheiro. Comecei a ver o mundo de maneira muito diferente. Tem artista que adora andar, o Tiravanija e o Francis Alÿs, por exemplo. No andar você pensa, oxigena, tem a ideia da viagem, vários escritores falam disso. Você se dá liberdade de parar de trabalhar, o artista é aquele que olha. Como desenhar modelo vivo, escorço, certas coisas quando você olha de fato e começa a botar aquilo no plano para desenhar, pode ser assustador. No nosso cotidiano, quando olhamos as pessoas ou as coisas, é o nosso cérebro que reorganiza tudo, mas se observarmos de fato o olho, a boca, o nariz, aquilo é tão presente que pode ser assustador, a realidade das formas, das cores do que é olhado, pode ser muito brutal. A terceira coisa interessante sobre o fato de ser artista é que no vazio se pode ter uma situação de começar a olhar alguma coisa e uma pipa começar a voar, ou um papel, e você começar a ver a poesia naquilo, a embarcar dentro dela. Existe essa válvula de escape, esse lugar onde você pode embarcar numa outra realidade, e pode ser simplesmente um momento trivial. A questão do desconforto é também importante, a vida é cheia de pequenos desconfortos, às vezes enormes, uma série de momentos em que aparece um vazio gigantesco. Essa situação do “entre”, não foi mais bem descrita que por Lygia Clark, cujo trabalho, a vida toda, foi em torno do entre. Acho que o meu também, embora já veja de outra forma. Essa artista, essencial na história da arte brasileira e no entendimento da passagem do modernismo para o mundo hoje, descobriu a Linha orgânica4. A definição da linha orgânica tem muito a ver com Brancusi. Com O beijo, com o entrebeijo, aquele bloco dividido, aquelas duas caras separadas que se unem. Ele fez a Avenida dos heróis, uma rua com a forma de um termômetro: no bulbo fica a Mesa do silêncio, depois o Portal do beijo e a Coluna do infinito5. Era romeno, foi para a França andando. Brancusi estudou na Escola de Belas Artes na Romênia, fez uma escultura tipo esses bonecos de plástico com os músculos aparecendo para estudo de anatomia. Ele fez uma escultura que era só musculatura, sem a pele, na época da academia dele. Ele queria ser artista e parece que a França era “o lugar”. Ele foi andando, não sei se não tinha dinheiro, nem sei se tinha trem nessa época. Desenvolvi esculturas, basicamente criando a estrutura de um cubo feita daquele arame de alumínio, só as arestas e dentro desse cubo colocava dois pedaços de tecido em estado de tensão, como se tivesse um reator, um acontecimento dentro daquele cubo, em seguida comecei a agrupar aqueles cubos e modular a posição dos tecidos, das relações e das cores. É um trabalho pictórico. Um dia o 68 69 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO Zé Maria, que dava aula ao lado, viu, curtiu e me animou. Isso que vou narrar para vocês discute essa passagem da escultura para o espaço, que é a situação dominante na cultura que vivemos hoje nas artes plásticas. Queria tirar a estrutura porque, no relacionamento daqueles elementos modulares, pensava muito no Amílcar, no Sérgio Camargo, queria eliminar a presença daquela estrutura de alumínio, e o Moriconi disse para pintar de preto que ela sumiria. Fiquei um ano pintando a estrutura de preto, claro que ela não sumiu – ficou discreta, mas ainda lá, e pintada. Para eliminar a estrutura, comecei a usar a gravidade, comecei a pendurar a estrutura para ver como se comportava no espaço. Basicamente retirei as colunas do cubo utilizando um chassi acima e abaixo do acontecimento, que finalmente evoluiu para duas placas de ferro pintadas de preto. O peso dessa placa de baixo deformava o tecido e achava que a escultura ficava numa situação de suspensão temporal, além do espaço tensorial. Um equilíbrio que me interessava muito, porque continuava estudando astronomia e a gravidade, isso me levava exatamente para o centro do problema. A ciência, assim como a história e a antropologia, me interessa – uma descrição científica para mim é quase um poema. A Mesa do silêncio6, do Brancusi, é simplesmente uma base, bem pesada, com um disco maior em baixo e um menor em cima, e acima do chão ele podia criar uma escultura, um espaço no plano para ela existir sobre o plano. Como se ele quisesse botar aquela escultura no espaço vazio, e ainda não fosse possível por uma questão cultural, talvez. As questões com que lidamos são as possibilidades culturais, sua operação de trabalhar as bases como protagonistas da obra era quase o deslocamento da escultura para o espaço, que veio em seguida, no pós-guerra. Há um livro interessante chamado A história do espaço: de Dante à Internet7. A autora fala que o espaço medieval era muito diferente, tinha o espaço dos vivos, dos mortos e das pessoas que ficavam no meio. Os vivos se comunicavam com os mortos por intermédio do padre, dando dinheiro para eles ascenderem. Para o imaginário coletivo daquela época isso era uma realidade e a pintura, que de alguma forma era conceitual, também era uma realidade. A religião ocupava um espaço na estrutura simbólica do ser humano dando sentido à vida. Assim, quando Giotto pintou pessoas tridimensionais, pela primeira vez na história, foi a primeira vez na história da humanidade que tinha a pintura naturalista, pelo menos na cultura ocidental. Ainda sobre sermos ocidentais, liguei para meus dois amigos que já estiveram aqui no Brasil e perguntei se eles achavam que o Brasil é um país ocidental. Eles disseram que não. Perguntei a um deles se era porque tem o preto, o africano, o índio; ele respondeu que sim. Perguntei sobre os EUA e disseram que lá era ocidental. Disse 70 71 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO que lá tem preto também, tem índio, mas lá não teve essa mistura... A cultura latino-americana é muito diferente da americana, talvez pela miscigenação, primeiro com o índio, depois com o negro. Minha outra amiga falou que não éramos desenvolvidos, perguntei do Japão, novamente um conflito sem resposta! Bolei uma frase, em inglês fica melhor: We are not pure, we are poor (não somos puros somos pobres), isso faz a gente ser diferente e acho maravilhoso não ser ocidental, libertador. lugar para a pureza das esculturas gregas ou aquela introspecção das esculturas egípcias, é diferente. Em artes plásticas tem todo um estudo que vem da Europa, quando estive no México pela primeira vez e vi as esculturas astecas e olmecas, fiquei chocado, inacreditável! A escultura egípcia tem a questão da função, parece que uma pirâmide que vem daqui, sai dali e vai para o céu, e tem uma coisa gasosa, preta, lembra a morte, a escuridão. A escultura grega segue um ideal de movimento, de estética, de beleza, a sociedade ideal, parecia que eles queriam que a escultura também deixasse de ser pedra. A sensação que tive quando vi essas esculturas olmecas e astecas é que eles queriam que elas fossem mais pesadas que a pedra. Acho que dá para entender um pouco a estética ocidental pela relação da figura com o fundo – a visão de horizonte expandido, a força do espaço vazio, onde o ser está isolado por grandes distâncias, até as florestas espaçadas do Chapeuzinho Vermelho. Há uma violência no trabalho que não deixa Foi muito importante para mim o entendimento da escultura desse mundo clássico e acho interessante essa relação orgânica pela dinâmica com o espaço. Há a noção do espaço como um lugar vazio e muitas vezes o espaço que a gente trabalha hoje é o espaço virtual, é o espaço contemporâneo. Quem faz um microchip para criar relações e transferir imagens, cria uma série de circunstâncias, trabalha num espaço reduzido e extremamente orgânico, uma coisa muito ligada à outra. A cada dia, a sociedade tem mais gente, as pessoas vivem em apartamentos menores, tudo é mais apertado. Cada vez mais, temos que lidar com espaço menor. Assim voltamos a Margaret e seu livro, o espaço de Giotto, apesar da figura volumétrica no entrefiguras, continuava sendo uma massa, pois o vazio ainda era um tabu, o Deus cristão estava em todo lugar. Assim o vazio não podia ser representado, passaram-se duzentos anos para se reverter esta estrutura simbólica. Na escultura do Brancusi, na Avenida dos heróis, tem essa mesa, esse espaço hipotético, a base para uma escultura pousar naquele lugar, porém ela está vazia. Os bancos dessa mesa são esferas cortadas ao meio e viradas uma para cima da outra, fazendo seis banquinhos. 72 73 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO Você continua nessa avenida e vê o Portal do beijo8, é um local que representa o beijo. Todo o relacionamento das pessoas, todos os relacionamentos seriam um beijo. O próprio relacionamento que temos aqui seria “um beijo”, porque as circunstâncias das perguntas que vocês fazem vão definir a minha resposta. E no final tem a Coluna do infinito9, como falei antes, as bases começaram a virar esculturas, as horizontais/mesas e as verticais/colunas. O que acontece nesses dois trabalhos? O trabalho começa com uma base e termina com outra base passando pelo portal, a escultura que dá origem é a mesa e a que termina é a coluna, são duas bases. Já não é mais a escultura, mas a base que virou escultura. Acho que isso tem uma perspectiva de uma entrada no espaço do cubo branco, que seria esse espaço de transição da modernidade para a pós-modernidade, porque ela talvez comece com esse espaço, mas, de alguma forma, a pós-modernidade já saiu desse espaço. Você fala que a pós-modernidade saiu do espaço para a galeria? Aluno: Acho que sim. O espaço do cubo branco se desenvolveu no final do modernismo e o começo da pós-modernidade pôde se dar pelo nascimento do cubo branco. Neste mesmo momento, nos anos 60, já tinha um monte de gente fazendo coisas fora da galeria, como o BarraBola, 1988 Barra de ferro, bola de borracha 6 peças _ 175 x 5 x 5 cm cada 1 peça _ 140 x 5 x 5 cm Vista da Instalação: Espaço Petite Galeire, Rio de Janeiro, 1988 Foto: Marco Terranova 74 75 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO Yves Klein, o Manzoni e outros artistas. Na verdade, essa entrada na galeria já acontecia, se pensarmos nas esculturas gregas, astecas, mas não tinha a menor relação com o cubo branco. O cubo branco talvez represente o ápice do modernismo. se tornando um monumento desta, que ainda é, apesar de voltar a ser igreja e alternar entre templo republicano e igreja até que a república depois de muitos anos se consolidasse finalmente. Ela é uma representante simbólica da passagem da idade medieval para a moderna, no sentido político. Outra experiência sensacional lá é o Pêndulo de Foucault. A cúpula tem 60 metros de altura e no alto tem um cabo com uma bola. A experiência, feita em outro lugar primeiro e depois levada pra lá, é a seguinte: puxamos a bola para um lado e a liberamos em movimento pendular. Se o pêndulo for voltar sempre para o mesmo lugar significa que a Terra não gira em torno de seu próprio eixo, mas, se ele, a cada movimento de vai e vem, for um pouquinho para o lado até dar uma volta completa, significa que a Terra gira em torno do próprio eixo. A teoria já existia e a experiência provou a teoria. O que tinha nessa igreja quando fui colocar o trabalho lá? Essa transação política e esse objeto da representação da coisa fundamental da modernidade, a ciência. Foi ela quem quebrou a estrutura religiosa: Descartes, Leibniz, Newton, no sentido da razão, causa e consequência. Tem um livro de um cara muito interessante chamado Bruno Latour da Editora 34, Jamais fomos modernos10, e ele fala a mesma coisa que estava pensando, ele fala do Hobbes com o Leviatã, e é o nome dessa escultura que botei lá no Panteão, era para ser uma escultura de especiarias... Aluno: Modernismo ou pós-modernismo? Modernismo, meados do século XX. Estava até falando que ele seria a passagem para a modernidade, mas o ápice pode ser a passagem ou o fim nos dois sentidos do termo. Quando fiz a escultura no Panteão, o espaço era o monumento. O Panteão foi realizado na época de Luís XV, e a igreja de Santa Genoveva foi destruída pela guerra, mas as pessoas se uniram ali e alguma coisa se salvou. Então esse rei resolveu fazer uma igreja no mesmo local. Ele queria fazer algo para o povo, mas também para mostrar poder – é uma estrutura enorme, neoclássica, uma arquitetura de poder. Essa igreja demorou uns vinte anos para ficar pronta, foi o projeto do arquiteto Soufflot, que já tinha morrido quando a obra foi inaugurada. E isso aconteceu no ano da Revolução Francesa, parece piada, ou talvez seja por isso mesmo, uma coisa impulsionando a outra. A igreja feita para o rei mostrar poder talvez fosse a determinante para destruir o poder dele. Pois rapidamente deixou de ser igreja, representante da monarquia, e passou a abrigar o corpo dos heróis da república, 76 77 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO Quando fiz essa escultura no Panteão, era o ano do Brasil na França e fui convidado pelo Festival de Outono para fazer uma escultura numa igreja chamada Salpetrière. Esse festival de arte, música, dança e teatro convida artistas todos os anos. Ocupa espaços na cidade, nas artes plásticas, e o projeto principal é o da Salpetrière, é uma igreja linda, doce, tem uma relação com a mulher, em contraste com o Panteão, extremamente masculino, no sentido bruto. O mundo é feito de homens e mulheres, é tudo uma continuidade, uma coisa termina e começa outra, meu trabalho é sobre isso. A Salpetrière é mais delicada que o Panteão, ela é parte de um hospital para onde, até o final do século XIX ou começo do XX, eram enviados os malucos, as histéricas e as putas. o Pêndulo. Ia fazer a escultura de especiarias. Acordei, cinco dias antes da reunião dos curadores com os representantes civis, com outra escultura na cabeça, toda de isopor, pendurada, com o nome Leviatã. Estava em pânico, tem um monte de gente que não gosta do meu trabalho e outros me acham folgado de chegar e fazer trabalhos grandes. Tem uma amiga e artista genial, Rosângela Rennó, que queria fazer um trabalho sobre os negativos do Carandiru. Ela queria ter acesso a esses negativos e entrou numa burocracia enorme para obter isso. Começamos a conversar de trabalho, ela reclamou dos problemas e encontrou uma solução por fazer algo que ela ama. É assim comigo também, tenho meus problemas, o que é bom, administro os problemas do meu trabalho. O projeto já estava pronto, e o trabalho anterior que ocupou o espaço era da Nan Goldin. No caso, o trabalho era sobre sua irmã, sobre sua educação religiosa e repressora, e como essa se matou. Achei tudo surreal de acontecer numa igreja. Em dezembro, apresentei os projetos aos curadores e a exposição abriu em setembro do ano seguinte. Em janeiro, recebo uma carta dizendo que os padres se juntaram e fecharam as portas, não queriam mais saber de Festival de Outono e nem de exposição nenhuma ali, pegaram o trabalho da Nan Goldin como exemplo e romperam. Passaram-se seis meses e me ofereceram o Panteão. Já tinha ido lá para conhecer Estava preocupado em fazer uma coisa muito grande com essa escultura, sabia que teria uma ressaca. Avisava que faria um monstro, uma anomalia, para a ressaca vir menor. E acordei com esse nome, Leviatã, e com essa escultura diferente, tive de correr atrás para desenhar esse projeto também. Apresentei os dois projetos e felizmente escolheram esse. O trabalho já tinha esse nome, Leviatã, o do Hobbes, no qual Leviatã é o nome do monstro monárquico, o Estado. Esse nome tem vários significados, mas para mim “perverso é aquele forno de micro-ondas todo branquinho na vitrine e o cara babando querendo comprar”. Nunca fomos modernos, voltando ao 78 79 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO livro do Latour, ele usa dois elementos para falar da modernidade e depois dizer que nunca fomos modernos – Hobbes, em Leviatã, falando da política. e a experiência Bolha de Boyle, uma experiência em que se cria um espaço num vácuo, para fazer uma experiência científica, um lugar ideal, livre de “ruído”. A experiência científica seria o significante maior da modernidade, além da república na parte política? Você cria um espaço ideal para, nesse espaço, realizar uma experiência. Acho que o cubo branco é isso, por isso comecei a pensar o cubo branco como ápice do modernismo. O modernismo se desenvolveu de certa maneira dentro da tela, com Malevitch, fazendo o branco sobre branco11, ou Mondrian, ou quando você decupa o máximo possível do espaço e traz a arte conceitual. O próprio Manzoni, com o pedestal do mundo12, ou com a merda do artista13, representa o momento em que se chegou a essa decupação total do espaço. Isso sem falar do Duchamp, que me parece mais ligado à instituição, ao valor do lugar. O mais interessante na contemporaneidade é a saída do cubo branco. espessura, fazia dois furos, de 8 mm de largura na parte de cima da placa. Primeiro fazia um furo menor de 5 mm e outro de 10 mm sobre esse furo e enfiava o tecido por esse buraquinho, dava um nó, escondido pela chapa, e o tecido esticava. Mas depois esse tecido rasgava, talvez por causa do corte, hoje até daria para fazer sem rasgar. Eu não gostava dessa questão da porquinha, dos dois buracos, achava essa finalização suja. Suja até no sentido de que tinha muitos elementos e no sentido ético também. Então fiz uma escultura. Era apenas um buraco no alto e centro de chapa de ferro de 20 por 50, por este furo passava uma corda e com um nó aparente conectava esta em equilíbrio a um gancho na parede. Tinha uma perda de sensualidade e carnalidade que era importante para mim, mas tinha um ganho conceitual. Na minha crítica à arte conceitual, o interessante é que para se apresentar o conceito tem que tirar a carne e entrar na questão do Platão. Sou antiplatônico, o que é até interessante, porque meu trabalho é muito racionalizado, tenho que calcular uma série de coisas, equilibrar, mas a carnalidade é muito importante. Então criei o sistema ABA, chapa/corda/ chapa14, eram duas chapas, cada qual com seu furo, e uma corda atravessando-as com um nó de cada lado. Variando a posição do nó, poderia colocar cada elemento de uma maneira diferente. O nó era importante, segurava aquele universo todo. Fiquei em contemplação com a escultura, a situação acontecendo no tempo Depois da escultura que fiz após o balé Nikolais, tirei as estruturas e trabalhei com a gravidade, foi como cheguei nessas esculturas da placa solta no espaço, mas achava que essas esculturas estavam com um problema. Existe uma questão ética. Como fazia essa escultura? Tinha uma placa de mais ou menos meia polegada de 80 81 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO e no espaço, e o nó segurando tudo. É extremamente poético ter o nó como elemento construtivo. E para terminar, parei de pintar, já que com essas esculturas resolvia o problema estrutural, conectava a escultura de forma independente e atuante no espaço físico e deixava o peso na carne. O tempo todo via a bolinha e cada hora em um lugar. Fui comprar uma chapa de ferro de meia polegada e não tinha na Praça da Bandeira, tive que ir a São Cristóvão, onde vi umas chapas de ferro e umas coisas inacreditáveis! Essa é a quarta coisa importante no mundo da arte, a necessidade de material faz com que você encontre coisas que não acha no cotidiano, descubra possibilidades, porque as coisas são feitas de coisas. Quando parei de estudar no MAM e voltei para o Parque Lage, para um curso de seis meses com o João Carlos Goldberg, conheci o Franklin Cassaro, que, por acaso, tinha um trabalho com meia e ferro esticado, semelhante ao que eu fazia, pintado de preto. Outro parceiro nessa época foi o Carlos Bevilacqua. Nessa época a questão da ‘ética’ se tornou muito importante. Tudo envolvido no trabalho tinha que ser apresentado, fazer uma escultura soldando tudo, qual era o sentido disso? Era a ideia de que a coisa não estava acontecendo e tinha a transparência, tanto Franklin quanto o Carlos compartilhavam esta ideia, crescemos na época da ditadura, 83/84. Em 82, nas eleições para governador, o Brizola foi eleito no Rio, era uma abertura, por mais que não tivesse se realizado ainda. A questão ética era refletida aí – ver as coisas claras, nada escuro, não ter algo hermético ou algum truque escondido. Teve uma situação do BarraBola: tinha uma bola de borracha que zanzava pela casa da minha mãe, onde morava, com o cachorro. Vi uma barra de ferro nesse lugar, linda! Comprei, e nem sabia pra quê. Um belo dia, a barra estava lá, a bola do cachorro cada dia num lugar... Peguei a tal bolinha, coloquei a barra de ferro em cima e achei que era uma escultura. Depois comprei uma barra de ferro maior e esmaguei a bolinha na parede. Era muito interessante pra mim porque tinha a obra de arte, mas, se tirasse a barra da bolinha, não tinha mais. Tinha arte, não tinha. Além disso, a bola estava esmagada, era como se a plasticidade e a dramaticidade elevassem o drama, o momentum a nossos olhos, nessa relação com o espaço pós-Brancusi que quis dizer. A mostra do BarraBola15 foi a primeira individual que fiz. De acordo com a posição, a bola se deformava e ficava diferente. Depois do ABA, queria fazer uma escultura mais orgânica, a bolinha de borracha, quando amassada, parecia que queria células, que fosse mais 82 83 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO “O mundo ficou completamente diferente depois que comecei a fazer arte.” carne. Pensando construtivamente, queria um construtivismo biológico, algo que tivesse mais a ver com o corpo. Demorei muito tempo para fazer Peso16, era pequenininha no começo. Para a exposição do BarraBola, tinha um mezanino na galeria e queria botar um tecido lá e uma barra de ferro pendurada, como se estivesse flutuando naquele vão da Petite Galerie. Fiz um teste, aproveitei um vão em forma de U largo onde ficava a cama, na verdade tinha um colchão que pendurava durante o dia para trabalhar no quarto. Estiquei o tecido com umas estacas fazendo uma quarta parede, a uns trinta centímetros do chão, e botei a barra de ferro, mas era muito agressiva com o tecido, os ângulos retos da barra tocavam com violência o tecido. Assim, retirei a barra depois de um tempo e coloquei umas bolinhas de bilha. Achei interessante, tinha a questão mais biológica. Procurava chumbo para pesca, e o Franklin Cassaro me indicou uma loja no Saara. Comprei alguns, em saquinhos de 50 g e 200 g cada. Fiquei seis meses para fazer essa escultura, colocando o peso em vários suportes, mas em nenhum deles funcionava. E um dia, no ateliê, pensei em colocar numa meia de mulher. Fiz a escultura, tinha 1,5 kg, parecia uma ova, e ela acontecia no que eu chamava de transformação de estado, primeiro quando ela está pendurada e, depois, se deixar cair reta, ela adquire outra forma. Em Colônia17 84 85 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO ela já foi jogada de uma maneira mais relaxada. A unidade desses trabalhos, os pesos, é muito importante, é a semente de tudo que fiz até hoje – fiz essas colônias e comecei a perceber que, com essa unidade, podia fazer, desenvolver vários trabalhos. Isso era muito importante no sentido de pensar como fazer a escultura, dela existir no espaço. Trabalhei a questão da população, da relação das pessoas umas com as outras, das células. que mais tarde chamei de Labioide19, de meia com cal. Era um potinho de meia cheio de cal colocado no chão, com uma boquinha para cima, o cal era fino, transpirava pelos poros da pele da meia, ficava cheio de pó em volta e uma parte do pó caía fazendo um anel em volta, naturalmente. Gosto de trabalhar com a natureza, sempre tento utilizar a natureza dos elementos, a propriedade das coisas para carregar a expressividade da obra. Mais uma vez, a escultura estava lá, sem forma definida, mas cheia de açafrão e transpirando pó e aroma. Voltei à Casa Pedro, levei cravo e outras especiarias, e fiz uma escultura de cada. Comecei a ter uma paisagem de cheiros, e o aroma pesado do açafrão variou e ficou interessante, não era mais desconfortável, era bom viver ali. A escultura tinha uns pescoços, ficava em pé ou deitada, ocupava espaço, sujava tudo, no fim era um saco com a matéria, era digamos “bonito”, mas não estava legal, não tinha identidade. Um dia peguei uma delas, enrolei a boca, levantei-a no ar e a deixei cair enquanto segurava a boca batendo-a no chão. Aquilo criou um corpo, uma explosão do pó, ampliando um campo em torno dela e, no meio desse campo odorífico, do perfume, do impacto, houve uma ação sobre ela. Entendi a escultura, ela adquiriu uma identidade. A partir daí comecei a desenvolver uma linguagem, mas, até o momento em que a joguei no chão e compreendi a linguagem dela, demoraram quatro meses. Embora com um pensamento construtivo, realmente rigoroso em relação a certas coisas, existia algo que não transitava entre mim e esse movimento. Resolvi fazer uma escultura para ser expulso de sala, quer dizer, do grupo no qual no fundo nunca fui aceito. Comecei a ler Freud e a fazer esculturas oníricas. Tirei um molde da minha cabeça, de gesso, respirando por um canudinho na bacia, – foi quando fiz M.E.D.I.T.18 (metamorfose espiritual do inconsciente topológico). Esses trabalhos fundamentais me livraram do peso de minha história, me tornei mais livre, o que é muito importante para seguir em frente, encontrei soluções e novos problemas. Um dia fui à Casa Pedro, no Saara, e mesmo já tendo estado lá, foi especial. Era um sábado de sol, e aquele cheiro, aquelas cores, me levaram a uma relação existencial. Comprei açafrão, mas em uma semana estava lá de novo. Uma vez fiz uma esculturinha, 86 87 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO Comecei a fazer uma relação com os trabalhos antigos e cheguei a essas esculturas que são as Naves, o oposto dos Puffs paffs poffs e piffs20, em relação à densidade. As Naves são totalmente etéreas, enquanto Casa Nave21, são esculturas que você pode tirar o sapato e andar sobre elas. No Nude Plasmic22, temos três gotas, uma mais branca que a outra. É quase uma situação de pintura também, existe uma poesia também no fazer, nas escolhas. O público raramente vai perceber, talvez poucos, mas isso vai fazer uma diferença quando olharem, mesmo sem que percebam a ação, a escolha – de alguma forma esta é a mágica, ter um fiozinho fazendo a conexão entre uma e outra. como se uma representasse a carne e a outra o vegetal. Comecei a achar as coisas muito limpas, puristas e sonhadoras nas naves ovaloides, de cor marfim, queria ser mais crítico, mais ácido, e fiquei com raiva de certas situações que aconteciam no meio em que convivia. As naves são esculturas atmosféricas, filtram a luz e dão volumetria ao espaço, com o verde e o rosa criei um espaço de contraste de luminosidade. Com a Blue Cave23, queria abraçar mais as pessoas por mais que você entrasse numa escultura Nave, se deitasse nela, ia dar direto com o chão, aquilo duro e frio. Fiz essa escultura para um chão quente e absorvente, coloquei umas luzes do lado de fora, acho até que ela é um pouco artificial por causa disso. Tenho uma certa dificuldade em trabalhar com eletricidade. Comecei a fazer umas esculturas equilibradas dessas (Celula Nave24), maior e com um colchão dentro. Sempre tive essa tendência ao equilíbrio, mostrar ao máximo tudo o que acontece. Comecei a trabalhar com cores complementares, verde e rosa num tom mais leve, que é meio Mangueira, mas não por este dado simbólico, e sim por serem complementares e Quando fiz a Greta gruta25 estava cansado, de certa maneira. Tinha feito um texto antirreligião para a Bienal de Veneza, em 2001, e dois meses depois houve o ataque às Torres Gêmeas durante o governo Bush, e a consequente guerra que assistimos. Queria fazer uma escultura na forma de um cubo de espuma coberto com uma espécie de veludo cinza lavado, que havia encontrado. Algo bem minimalista por fora, e o interior uma caverna vermelha, lasciva, forte e sexual, opaca, você não veria o que tem dentro. Seria para a Galeria Yvon Lambert, em Paris. Chegamos para cortar os blocos de espuma com facas, contrataram um cara para trabalhar comigo, meio negativo, ele dizia que não ia dar certo e eu só trabalhando. Ele disse que era sábado e que não teria nenhuma loja aberta, até que começou a cortar também, a querer mostrar serviço, finalmente quando já eram três da tarde, ele me disse que tinha uma loja que ficava até as cinco, que podia ter material de cortar. 88 89 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO Cheguei lá e comprei a serra de fita na qual já vinha pensando. No dia seguinte, começamos a cortar. Quando abrimos, encontramos esse corte facetado e curvo, foi muita emoção, a fita nunca corta reto, sempre em curva, e ali fizemos toda a escultura, era um cubo com vários blocos. Chamei o galerista e todo o pessoal, entramos na peça, começou a entrar transparência, elementos do meu trabalho anterior, e eu não queria botar mais o veludo, porque achei maravilhoso, tudo se encaixava com a minha história – tentei ser perverso e não consegui. Isso aqui (Garden26 e/ou Gate) foi difícil de fazer, eram quatro pessoas cortando, dois de cada lado, uma serra de fita de três metros com dois punhos, gente na escada, tipo lenhador, com pé na espuma fazendo força. Tem duas coisas que percebi: se você vira a lâmina para um lado, ela faz a curva para fora, para o outro, ela faz a curva para dentro. Fizemos esse nichozinho (House27), onde a luz entra porque no bico da parte cônica a espessura é mais fina para entrar nela e as pessoas tinham que vestir uma roupa para entrar. Além disso, estas obras, tanto a House quanto a Greta gruta, são obras que quando entramos temos uma potente pressão acústica, não ouvimos nada de fora e o som de dentro é superdenso. uma folha de tecido, gotas e ganchos na parede inteira, eu esticava o tecido nos ganchos e botava as gotas. Tinham umas meias que prendíamos no teto também para suspender, o centro era de 20 m x 10 m, nessa sala. É um curry, não é uma especiaria, é uma mistura de temperos, cada um pode fazer um curry diferente, isso é um curry impressionista, tem vários temperos, não misturados, cravo, pimenta, açafrão e cominho. Já esta aqui, não podia esticar o tecido para a parede, pois esta era tombada, não podia botar gancho nem na parede e nem no teto, mas tinham várias vigas. No avião liguei para minha mulher com esse problema, não podia fazer nada, eram três meses antes da abertura da exposição e ela me perguntou como ia resolver isso. Respondi que não sabia, mas que ia acordar no dia seguinte com uma ideia. De fato, dormi no avião e acordei com a ideia: costurar dois tecidos, um em cima e outro em baixo, conectar o tecido de cima com o de baixo e essa peça aqui que está caindo, e colocar contrapesos partindo do tecido de cima passando por um gancho S numa fita na viga e pendendo novamente para baixo. Sustentando assim o centro da peça, esse trabalho quase se chamou Arquitetura Animal, mas como achei que ela ia ficar o bicho, ficou É o Bicho. E qual a diferença deste trabalho para este outro? O outro é um céu, um horizonte. Quando fiz essas esculturas, a primeira delas é só uma gota tocando no chão e se chama O céu é a anatomia do meu corpo30. Outra que nasceu meio Outra escultura, chamada Nós pescando o tempo28, e É o Bicho!29, o trabalho principal para a Bienal de Veneza de 2001. O Nós... tem 90 91 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO ao acaso. Há vários anos queria fazer um trabalho desse tipo, um trabalho que tivesse a sensação de estar abaixo da linha d’água. Sabe essas pinturas do Dali com o mar boiando? Sempre gostei desse lance, nunca consegui fazer, porque tinha dificuldade de costurar, achava que ia tirar a pureza da obra. Um dia, me convidaram para fazer uma individual na feira de Basel pela Camargo Vilaça, isto é, num estande que não tinha teto! Assim nasceu a obra, da ausência. escultura em que apareço vestido de roupa branca envolto nela, é um tubo que fica em volta do meu corpo, tocando totalmente, e da foto cheguei aos Humanoides32. Pensei em como fazer uma roupa e anexar esse volume de isopor à roupa, não dava certo, mas tive um click em cima da hora. Pensei que, se estudo uma escultura para ser vestida, o primeiro objeto a ser pego é uma roupa para tentar juntá-la com outra. Não deu certo, e então, pensei: o que é o negativo do corpo? Assim, quando temos uma folha de tecido, temos uma relação de paisagem, quando temos duas, uma relação de bicho, animal, corpo – porque ele é fechado. Quando se tem só um tecido, ele é aberto e temos dois lados de fora, temos um horizonte, uma paisagem. No meu trabalho é importante essa continuidade entre horizonte e paisagem, a figura e o fundo. Quando falei de figura e fundo não foi à toa, penso nessa continuidade, nesse trânsito. Em muitos trabalhos, como esses das Naves, a sensação é de como se estivesse entrando em um corpo. Interesso-me pelo que acontece dentro do corpo, na paisagem que vivemos – composta por outras a que temos acesso e que enriquecem nosso mundo. Ter esse recurso estimula o meu imaginário, a minha criatividade. Na escultura do Panteão, a cúpula é dividida em quatro partes: chamo de cabeça, braços e corpo. Outra se chama Arco ventre31, uma Aluno: O espaço em volta. E o que melhor representa isso? A roupa. Uma camisa é o negativo do tronco, algo óbvio que nunca pensei. Demorei 15 minutos para chegar à conclusão da camisa. Deitei o tubo de tecido e fiz quatro buracos, para cabeça, braços e tronco. Encaixei uma camiseta, e pronto. Mas é objetivamente o negativo do corpo, temos a tendência a “figurativar” tudo, a se ver nas coisas. Na exposição33 da Artur Fidalgo, que talvez vocês tenham visto, ele queria fazer a exposição há muito e eu não tinha tempo. Fiz um trabalho, Papai e mamãe34, e quis fazer esse trabalho com essa fita que são desenhos no papel, mas queria fazê-los tridimensionais. Fiz o corte a laser, que, quando corta, deixa a margem preta dando 92 93 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO esta vibração ótica. O Artur me convidou e eu disse que não ia dar para ser naquele ano, só no outro. Um dia, em casa, tinha o lance do piano, nunca tive aula, mas toco, me divirto. Tenho os filhos, tenho a sala que não é grande, tem um monte de brinquedo espalhado, carrinho, velocípede, aquela bagunça. Um dia, as crianças estavam lá no meio daquilo e chegaram os pais, foi legal. Pelo lance da escola, ficamos amigos de vários pais, de origens diferentes, visões de mundo diferentes, tomamos cerveja, acho essa loucura da convivência em grupo de crianças e adultos muito interessante. Resolvi fazer desta relação a mostra. A ideia era trazer esta sala de convivência para a galeria. Parti de um assoalho para tirar um pouco da neutralidade do cubo branco, talvez isso já seja uma vontade de transformar o cubo branco... Fiz esses vasos tortos, que sempre quis fazer, e botei duas plantas em cada um, fiz essas mesas, os banquinhos, queria fazer uma oficinazinha, um bar, mas todo mundo tomando cerveja lá ia ser um problema, resolvi fazer um café e uma biblioteca. Ainda existe essa biblioteca, até gostaria de dar continuidade, que ela pudesse circular por aí. Tinha que fazer mesa e cadeira, então, desenhei esses móveis, que se encaixam sem prego nem nada. Tem um garoto genial que trabalha comigo, o Marcelo, que botou no computador e mandamos cortar no laser. Fiz esses móveis, foi genial a abertura, a maior loucura, piano, nego tocando... A-B-A, 1987 Corda e chapa de ferro de 15 mm 2 peças _ 100 x 20 cm cada Vista da Instalação: Atelienave, Rio de Janeiro, 1987 Foto: Gabriela Toledo Aluno: 94 95 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO E a respeito do Casamento35 no MAM? bêbado, encontrei o Agnaldo na saída e contei todo o projeto, útero, gravidez, relação mãe/filho, estrutura simbólica social e o cara adorou! No dia seguinte, no Rio, recebo uma mensagem do Agnaldo que disse que não sabia se eu estava muito bêbado, mas que a proposta da exposição era incrível, tinham adorado e queriam fazer. Tinha o problema da data, queria o salão grande e demos a sorte de um cancelamento, a exposição aconteceu 16 de dezembro e o Lito nasceu 18 de janeiro. Lili estava de oito meses, um barrigão enorme. Fiz três esculturas grandes e uma de transição, chamamos dez amigos que fizeram o papel de padrinhos para a cerimônia, desenhei a roupa de todo mundo, baseado na personalidade de cada um. O rito começava na obra Descaminhos de Lili36. Ela descia a escada, tinha um garotinho, meu afilhado Manuel, carregando um pano, numa bandeja. Eles desciam a escada, a Lili tirava os sapatos e entrava no Descaminhos... que representava o corredor em que a noiva entra, em direção ao altar, ela atravessava esses descaminhos, como se fosse a vida dela, e num desses caminhos ela encontrava o buquê, saía, seu pai a pegava pelo braço, seguiam andando envolvidos e protegidos por uma corrente circular de padrinhos que abriam caminho na multidão em direção à nave Útero capela37. Chegavam nessa nave, foi lindo, uma sorte, os deuses são muito legais, eles gostam de ver se você está legal, se você está esperto eles te ajudam, se você começa a dar uma bobeada, pensar Sim, O casamento. Muita gente acha que tem uma coisa uterina, de entrar dentro do corpo. Me interesso muito pela coisa do bebê, do espaço infantil. O próprio Picasso disse que, com 15 anos, ele pintava como Rafael e demorou 50 para pintar como uma criança, acho bem legal. Acho interessante o espaço do bebê, de um a dois anos, quando a criança tateia tudo, uma relação sensorial com o espaço das coisas, com o peso, tendo compreensão de seu próprio peso. Enfim, tudo aconteceu meio por acaso. Lili estava grávida. Agnaldo Farias era o diretor do MAM, já havia uma intenção de fazer algo, eu estava ocupado, mas a Lili ficou grávida, primeiro filho, loucura total. Liguei para ele, pensei nessa obra Casamento no MAM. A Lili foi modelo várias vezes dos meus trabalhos e pensei que ia ficar lindo ela grávida dentro de uma nave e, nesse momento, as naves eram um grande acontecimento, estavam fazendo um puta sucesso mundo afora, tem uns oito anos. Era um momento muito feliz, a Lili grávida, tinha essa relação da topologia. Não somos casados de fato, no papel, mas queríamos demarcar esse território da nossa forma. Houve um desencontro, o Agnaldo estava saindo do MAM, mas encontrei com ele numa festa no MAM de São Paulo. Ele disse para eu ligar, que ainda não tinha saído e etc., no meio da festa, os caras serviam uísque a rodo, já estava meio 96 97 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO em outras coisas, eles te puxam. Quando descola corpo e mente, dá problema, pelo menos comigo, já aconteceu várias vezes. Aqueles deuses gregos são mais humanos... Teve esse ritual e o acaso é escultor. A nave tinha o desenho, digamos, de um balão com as pontas sextavadas, um eixo vertical, mas comprido, onde a base era a entrada principal, a outra ponta o altar, acima do centro um eixo horizontal, com uma entrada em cada ponta. Antes de chegar ao SalAltar, no sentido do eixo principal, fiz duas colunas largas para levantar o chão e criar corredores. São coisas muito importantes quando você pensa num espaço vazio. Faltava um lugar para as famílias, não queríamos que as famílias ficassem dentro da nave, ali seríamos só nós e os padrinhos fazendo o ritual. Surgiu a ideia mágica: as famílias podiam entrar por debaixo da peça e ficar dentro das colunas uma para cada, assim estavam dentro da cena, mas, topologicamente, fora da nave. Mais um acaso, quando a corrente de amigos chegou com a Lili e seu pai, ela se abriu, eles seguiram em direção às entradas laterais, o Cristian me entregou a Lili e foi, por debaixo da nave, para sua CélulaColunaFamiliar, eu e Lili atravessamos o corredor em direção ao centro de acontecimentos. Os padrinhos formaram um círculo à nossa volta, nos abraçaram todos juntos e abriram o círculo novamente, um deles escreveu um poema, outro leu. O Manuel veio com a bandeja e o tecido, o desenrolaram , era um triângulo com MeiasPatas nas pontas e um TuboGota com um nó na ponta, o abriram o e colocaram em volta da gente como se fosse uma camisinha e nos enrolaram de modo que saímos abraçados os dois. Era como se estivesse rolando o ato sexual. Saímos da nave em direção a uma área onde estavam no chão: três tubos de alumínio, três ânforas de barro com arroz e um balde de poliestireno, o TecidoEscuturaPele foi desenrolado de nossos corpos e aberto, o conteúdo das ânforas foi transferido para as três MeiasPatas da Pele em torno de nós e a levantaram com os TuboEstacas de alumínio, enquanto simultaneamente botavam isopor no negativo da gota, o interior dessa, de onde estávamos saindo por baixo, como se fosse o gozo. Eu fiquei para equilibrar a obra (Depois das núpcias38) enquanto Lili foi para a EsculturaColchão Corpos, corpos, corpos...39, de onde escolhia os sacos ovas de arroz, (esculturas Peso de arroz), coordenava o movimento dos EspermatoPadrinhAmigos que faziam uma corrente, levando-os, de mão em mão, até mim com as gotas de “ArrozSêmen”, com as quais fazia uma colônia fechando o círculo em direção a Lili, eles saíam da mão dela, e chegavam na minha, até que na última, cheguei ao lado dela, peguei-a, fomos em direção à saída, jogamos para o alto os últimos SacoCélulaGotaArrozSêmem e saímos correndo, e berrando. Isso tudo foi filmado, fotografado e, quatro dias depois, a exposição abriu para o público com o filme da performance projetado na parede. 98 99 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO Anthropodino40 foi o último trabalho que fiz, foi muito difícil, precisou de muita concentração, mas fiquei muito contente. Algumas peças são interativas, onde tudo é conectado sem parafuso, prego, sem nada, tudo isso veio daquele banquinho que mostrei, do desenvolvimento que dei na escultura de sachê, do papel pluma. Esses buraquinhos existem porque tem o tecido de dentro e o de fora e, por fora, é do mesmo tecido da escultura do teto, que é mais clássica do meu trabalho. E por dentro é rosa, amarelo e verde. No outro, tem uma mescla das cores. Os buraquinhos são meias que conectam a parte de dentro com a de fora, porque ela está sendo esticada, é uma simbiose. Esse tecido fica equilibrado em pé, mas o que mais dá rigidez é a tensão do tecido. Tem um risco envolvido, também, a conexão do teto com o chão, por ser um lugar muito grande, pensei numa escala que desse conta. O teto é o mesmo sistema do trabalho da Bienal de Veneza, É o bicho (tem esse nome porque pensava, “essa escultura vai ser demais, vai ser o bicho!” Tem uma coisa animal também, mas É o bicho era mais estranho). Notas 1. BRANCUSI, Constantin. O beijo, 1ª versão, 1907. Escultura em pedra. 28 cm. Museu de Arte, Craiova. 2. Exposição coletiva que reuniu trabalhos de 123 artistas, realizada na Escola de Artes Visuais do Parque Lage - EAV/Parque Lage, Rio de Janeiro, aberta em 14 de julho de 1984. 3. NETO, Ernesto. Léviathan Thot, 2006. Instalação. Place du Panthéon – Paris. 4. CLARK, Lygia. Descoberta da linha orgânica, 1954. “O que eu quis fazer com essa experiência foi negar a relação do quadro dentro da moldura, integrando-o dentro da moldura através da cor”. 5. BRANCUSI, Constantin. Portal do beijo, Mesa do silêncio, Coluna sem fim. Conjunto escultórico, 1937-1938. Parque Targu-jiu, Romênia. 6. BRANCUSI, Constantin. Mesa do silêncio, 1938. Pedra calcária. 2.15 x 2 m. 7. WERTHEIM, Margaret. Uma história do espaço: de Dante à Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 8. BRANCUSI, Constantin. Portal do beijo, 1938. Pedra. 5.27 x 6.58 x 1.84 m. 9. BRANCUSI, Constantin. Coluna sem fim, 1938. 17 módulos de ferro fundido. 29,33 m. 10. LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1994. 11. Kazimir Malevich, Quadrado branco sobre fundo branco, 1918. Óleo sobre tela. 78,7 x 78,7 cm. MoMA, Nova York. 12. MANZONI, Piero. Base do mundo, 1961. Ferro e bronze, 82 x 100 x 100 cm. Museu de Herning, Dinamarca. 13. MANZONI, Piero. Merda d’artista, 1961. Latas etiquetadas com conteúdo não identificado. 48 x 65 x 65 mm, 0.1 kg. 14. NETO, Ernesto. A-B-A (chapa-corda-chapa), 1987. Ferro e nylon. Coleção particular. 15. NETO, Ernesto. BarraBola, 1988. Barra de ferro, bola de borracha e ar. 6 peças 175 x 5 x 5 cm cada, 1 peça 140 x 5 x 5 cm. 16. NETO, Ernesto. Peso, 1988. Meia de poliamida e esferas de chumbo. 25 x 25 x 4 cm. 100 101 C A DER N OS EAV ERN ES TO N ETO 17. NETO, Ernesto. Colônia, 1989. Esferas de chumbo e meias de poliamida. Dimensões variáveis. 34. NETO, Ernesto. Papai e mamãe. Imbuia e pau-marfim, 2005. Macho: 26 x 21 x 1,3 cm Fêmea: 24 x 18 x 1,3 cm. 18. NETO, Ernesto. M.E.D.I.T., 1993. Série de fotografias p&b. 7 peças de 65 x 55 cm cada. 35. NETO, Ernesto. O casamento – Lili, Neto e os loucos, 2000. Exposição individual. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 19. NETO, Ernesto. Labioides, 1996. Tecido de poliamida e gesso. 20. NETO, Ernesto. Piff, Paff, Puff…Puff, Poff Puff, Piff…Piff, Paff, 1997. Tule de poliamida, urucum, cúrcuma, cravo e farinha. Dimensões variáveis. 21. NETO, Ernesto. Nave casa, 1998/99. Tule de poliamida, esferas de poliestireno e areia. 300 x 884 x 488 cm. 22. NETO, Ernesto. Nave Nude Plasmic, 1999. Tule de poliamida, especiarias, areia e poliestireno. Dimensões variáveis. 23. NETO, Ernesto. Walking in Venus Blue Cave, 2001. Meia de poliamida, esferas de poliestireno, botões e luzes incandescentes. 396 x 777 x 833 cm. 24. NETO, Ernesto. Celula Nave (It Happens in the body of time, where truth dances), 2004. Tule de poliamida, meias de poliamida, tubos de alumínio, areia, bolinhas de isopor e bolas de borracha. 2000 x 400 x 475 cm. 36. NETO, Ernesto. Descaminhos de Lili, 2000. Tule de poliamida e areia. Dimensões variáveis. 37. NETO, Ernesto. Útero capela, 2000. Alumínio, esferas de poliestireno, areia e tule de poliamida. 2.000 x 1.400 x 1.600 cm. 38. NETO, Ernesto. Depois das núpcias, 2000. Tule de poliamida e tubos de alumínio. Dimensões variáveis. 39. NETO, Ernesto. Corpos, corpos, corpos, 2000. Tule de poliamida e esferas de poliestireno. 800 x 1.000 x 60 cm. 40. NETO, Ernesto. Anthropodino. Instalação interativa realizada no Park Avenue Armory, Nova York, 2009. 25. NETO, Ernesto. Greta gruta, 2002. Blocos de espuma branca. 238 x 590 x 940 m. 26. NETO, Ernesto. The Garden, 2003. Espuma de poliuretano branca. 2.77 x 7.14 x 9.9 m. 27. NETO, Ernesto. The House, 2003. Espuma de poliuretano branca. 276.9 x 353 x 553.4 cm. 28. NETO, Ernesto. We fishing the time, densidade e buracos de minhoca, 1999. Tule de poliamida, meia de poliamida, cúrcuma, pimenta-do-reino, cravo em pó e curry. 450 x 2000 x 1000. 29. NETO, Ernesto. É o bicho!, 2001. Tubos de poliamida, açafrão, cúrcuma, cravo e pimenta. 500 x 1.200 x 1.200 cm. 30. NETO, Ernesto. O céu é a anatomia do meu corpo, 1998. Tule de poliamida, tubo de poliamida e cravo em pó. 300 x 650 x 500 cm. 31. NETO, Ernesto. Arco ventre, 1999. Fotografia em cor (díptico). 99,5 x 99,5 cm cada. Saiba mais 32. NETO, Ernesto. Humanoides. Tubo de poliamida, meia de poliamida, veludo, especiaria e esferas de poliestireno. Dimensões variáveis. NETO, Ernesto. Ernesto Neto: o corpo, nu tempo. Santiago de Compostela: Centro Galego de Arte Contemporánea, 2002. 350 p. 33. NETO, Ernesto. É a vida, o espaço interior, 2007. Exposição individual. Galeria Artur Fidalgo, Rio de Janeiro. NETO, Ernesto. Naves, céus, sonhos. São Paulo: Galeria Camargo Vilaça, 1999. 60 p. NETO, Ernesto. Ernesto Neto: Leviatan Thot. Paris: Regard, 2006. 103 p. 102 IV ENS M ACHA DO Texto gentilmente cedido pela historiadora e crítica de arte Marisa Flórido. Publicado originalmente no catálogo da Exposição “Ivens Machado”, realizada de 11 de dezembro de 2011 a 25 de fevereiro de 2012, na Casa França-Brasil, Rio de Janeiro. Gêneses. Destroços encenam corpos rudes, agrupando eventos. Persigo estas composições, espantalhos tranquilizadores, mundos que não sabem o silêncio. Gritam. Seres ásperos tramam e transmutam-se, pedindo abrigo. Representam gestos insensatos. Guardiães. Imagens protetoras e protegidas, filhos impossíveis. Fragmentos. Habitam e nascem em mim. Alegres. Ivens Machado – Rio de Janeiro, outubro de 2001. Sem título, 2011 Terra, toras de eucalipto e aeromodelo Vista da Instalação: Casa França-Brasil, Rio de Janeiro, 2011 Foto: Pat Kilgore 104 105 C A DER N OS EAV I VEN S MACHADO Entre gêneses e dissoluções O DESCONCERTO Certo estranhamento nos assombra quando adentramos o salão da Casa França-Brasil e nos deparamos com a obra de Ivens Machado. Certa inumanidade exala dos montes de terra ou das toras de madeira superpostas. De um lado, paisagens devastadas, ermas. De outro, eucaliptos, desses usuais na construção civil, que, empilhados, abrem ocos no corpo engenhosamente tramado. Releitura de uma obra do artista apresentada na Bienal de São Paulo de 2004, esses troncos empilhados nos surpreendem com o contraste poético entre a precariedade e crueza do material e a engenharia finamente elaborada. Por vezes, eles desenham uma onda no ar como se seu movimento, abruptamente suspenso, nos salvasse (ao menos por agora) da precipitação e do desastre. Esses trabalhos, do modo como estão ali reunidos, situam-se entre escultura, paisagem e arquitetura, como se estivessem no limiar dos gêneros artísticos. Inclassificáveis, portanto. Entretanto, estamos indiscutivelmente diante de uma presença, ainda que pressentidamente embrionária — como se fosse o primeiro signo sensível, a gênese de mundos e de “seres ásperos” à espera da palavra que os nomeie. E se uma dessemelhança inquietante insiste em nos assaltar é porque estamos defronte de um espelho baço, por demasiado impreciso, com toda a ambivalência sufocante do arcaico: como a physis (termo que um dia pertenceu ao vocabulário dos mistérios) antes do logos, a matéria antes da forma, o tempo antes de seu escoar, o deus antes do nome, o homem antes da face. Ao longo de sua produção, Ivens Machado vem utilizando materiais diversos, inclusive da construção civil, como cimento, pedra, azulejo, vergalhões e madeira. Constrói esculturas incomuns, de contornos ásperos e superfícies irregulares, erigidas por uma tensão desarmônica, mas surpreendentemente atraentes e gráceis. Objetos excêntricos que por vezes aludem a formas da natureza, a partes do corpo humano ou sugerem símbolos de culturas primitivas. Muitos já disseram que suas peças se assemelham a menires, dólmenes, totens.... Como monumentos consagrados a deuses improváveis, terríveis e ctônicos. Ao longo da história da arte ocidental, artistas seriam atraídos por outras formas de se relacionar com o cosmo sem a mediação de sistemas ou de um arcabouço conceitual rígido, em busca de modelos teóricos, perceptivos e especulativos que descerrassem 106 107 C A DER N OS EAV I VEN S MACHADO “Ivens Machado é o engenheiro das impurezas, o poeta dos restos, o artista dos despojos. Aquele que descobre suavidade na truculência do mundo sem precisar negá-la ou sublimála. Delicadezas (in)contidas na esterilidade.” mundos recalcados ou ignorados. Sobre formas e símbolos arcaicos, estruturas de pensamento e modos de vida tribais, se debruçariam inúmeros artistas: Gauguin e as tribos polinésias, Picasso e as máscaras africanas, os surrealistas e a prática da bricolagem, Pollock e a ritualidade dos navajos, os artistas da Land Art e os sinais de demarcação de territórios, das linhas nazcas aos símbolos paleolíticos. Mas, em Ivens Machado, é a incomparável potência simbólica do que parece – e apenas “parece” — arcaico (pois esse “parecer” guarda um infinito de incertezas e invocações) que é revista pelo artista como um catalisador de forças esparsas e vitais, brutas e secas. Daí a gravidade de uma matéria espessa, a tensão entre os materiais, entre a estrutura que os amarra e a ameaça do desmoronamento. Como se fosse necessário dissolver qualquer tipo de conforto que domesticasse a ferocidade da existência. Pois se trata disso: de expor a brutalidade e a delicadeza que determinam os acontecimentos, as coisas, os seres. As forças e poderes em conflito que geram e destroem, que protegem e ameaçam, como “espantalhos tranquilizadores”. A mesma energia que gera destrói. E vice-versa. Suas peças estão entre a reiterada gênese e a iminente dissolução, entre a palavra por nomear e o grito inarticulado, entre a violência e a sedução (da arte). 108 109 C A DER N OS EAV I VEN S MACHADO Tensões que encontramos também em seus vídeos dos anos 1970, naqueles de 2008 (exibidos no Oi Futuro) e neste inédito realizado para esta mostra. Em comum entre sua produção em vídeo e a escultórica é essa contundência que desconcerta. Em alguns de seus vídeos, homens e mulheres— como matéria inerte — se submetem passivos a uma violência sugerida, mas conduzida ao limite da realização. Como se tal choque entre opostos não apenas recusasse qualquer fusão ou unidade como afirmasse a existência como uma insuficiência que busca o outro não para completar-se em substância, mas para ser composto e metamorfoseado, violenta e silenciosamente. Dissolução, vídeo de 1974, nos oferece uma bela metáfora desse desconcerto e insuficiência, entre gênese e desastre. O artista assina seu nome à exaustão, à rarefação da tinta e à caligrafia ilegível. É preciso o apagamento de seu próprio, se submeter à violenta dissolução para acolher o outro em si. Existir não é mais que isso. Do mesmo modo, as obras nesta mostra não possuem título: “criar um título seria uma nova obra, portanto minhas obras são assim, sem título”. E como não concordar que as palavras fundam mundos, seres e obras? E que, sem sua proteção reveladora, em que natureza e natureza humana sairiam de sua cripta, o silêncio do visível, seu hermetismo e potência, irrompe em possibilidades e fissuras? O TEMPO, A DISTÂNCIA, O SORRISO Eventualmente experimentamos, diante das obras de Ivens, a sensação de que o tempo foi suspenso na evocação de certa ancestralidade. Nesta exposição, todavia, o estupor de uma atemporalidade ancestral, de um deserto não localizável, é logo desmentido por um elemento irônico e inédito em seus trabalhos: um pequeno avião, um aeromodelo que, em movimentos circulares, voa sobre as “montanhas” de terra. Se o movimento vem perturbar a prometida suspensão do tempo, o jogo de escalas e distâncias com nosso corpo finito vem nos provocar certa desorientação existencial, logo interrompida quando avistamos o pequeno avião. Um inevitável sorriso é suscitado por aquela engenhoca. Afinal é uma Land Art de gabinete, jocosa com as concepções de paisagem e com os desbravamentos épicos da arte e da cultura; desconfiada tanto do pathos sublime experimentado diante dos espetáculos da natureza (a experiência de uma desagregação perante o contraste entre a imaginação limitada e um espetáculo que a ultrapassa) como daquele provocado pelas novas tecnologias. Afinal, como a natureza, a tecnologia também seria considerada fonte de potências incontroláveis, capaz de convulsionar a face do mundo, 110 111 C A DER N OS EAV I VEN S MACHADO tanto salvá-lo quanto destruí-lo. A tecnologia não transtornaria as noções usuais de dimensão e distância, lugar e tempo? Dos aviões e satélites à televisão e às redes eletrônicas: o ambiente da existência é sacudido pela errância imagética, por um tempo eternamente atual, pela “atopia” e ubiquidade virtual. As fronteiras físicas se diluem: o que até então era superfície da matéria, os limites de um material, se transformará na interface da tela, acesso a um topos incorpóreo, em que o tato e o contato cedem lugar ao impacto televisual, em que as antigas distâncias geométricas do espaço se convertem no infinito das imagens que nos chegam pelas janelas eletrônicas. Como um deus que faz troça de seus inventos, Ivens cria mundos, altera as escalas de suas montanhas e lança um avião para contemplá-los. É como se avistássemos uma terra incógnita, anterior ao homem, mas mediada por suas tecnologias, seus pequenos brinquedos: da janela de um avião à tela da tevê, das imagens captadas pelas câmeras de segurança ao Google Earth. Entre o arcaico e os delírios da ciência, entre o não cultivado e a barbárie da civilização, entre auroras e apocalipses. ASSEPSIA NAUSEANTE Ivens Machado é o engenheiro das impurezas, o poeta dos restos, o artista dos despojos. Aquele que descobre suavidade na truculência Sem título, 2011 Terra, toras de eucalipto e aeromodelo Vista da Instalação: Casa França-Brasil, Rio de Janeiro, 2011 Foto: Pat Kilgore 112 113 C A DER N OS EAV I VEN S MACHADO do mundo sem precisar negá-la ou sublimá-la. Delicadezas (in)contidas na esterilidade. tempo e espaço, e a assepsia da arte autorreferente que reivindicava o afastamento do mundo. A grelha que sustentava a perspectiva tridimensional seria trazida à radicalidade do plano, posta na vertical para estabelecer com ele sua máxima cumplicidade. É isso que ele faz em uma das salas laterais, ocupada por painéis de azulejos em cuja superfície interfere. Uma instalação que é também uma releitura de um trabalho apresentado, em 1973, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. As superfícies quadriculadas e brancas, banhadas por uma luz fria que cega e lava o ambiente como um frigorífico, provocam atordoamento e mal-estar. A função do azulejo é a assepsia protetora e asseada que impede a passagem da umidade, a contaminação de organismos, a sujeira da vida exposta. Mas ali produz o efeito oposto: a assepsia não nos concede sensação de proteção, mas de nauseante mal-estar, de exposição incômoda, de asfixia branca. A pureza é assassina e perigosa, nos salva então a contaminação indesejada, o reverso das coisas: Ivens corta alguns azulejos e os cola expondo o avesso cinza. Cintilações espraiadas naqueles planos brancos e abstratos, desenhos salpicados nos devolvendo aragens e exibindo a vitalidade dos destroços. É inevitável a associação do quadriculado das paredes azulejadas com a grelha ortogonal da pintura, a estrutura das coordenadas de A concepção messiânica da arte de Mondrian, por exemplo, compreendia um caminho de purificação em busca de um equilíbrio universal que, uma vez realizado, exigiria o suicídio do quadro e da escultura na redenção da vida. A “opressão individual da forma singular” seria substituída “pela expressão universal do ritmo”. A arte, ao harmonizar e eliminar os conflitos da vida, seria enfim nela dissolvida. Para Mondrian, a vida era demasiado trágica, era preciso esvaziá-la do lirismo expresso no natural e que alimentava tal tragédia. Para Ivens, trata-se, ao contrário, de devolver o lirismo trágico da vida à arte. O LIRISMO TRÁGICO DA VIDA Uma videoinstalação em uma das salas laterais encerra a exposição. Como um neófito em um ritual de iniciação, atravessamos um ambiente opressivo construído com caixas de papelão de vários tamanhos e formatos. Ao final do percurso, um vídeo projetado produzido para esta exposição estende a sensação de claustrofobia experimentada na passagem pelo túnel de caixas. Como em um 114 115 C A DER N OS EAV I VEN S MACHADO filme hitchcockiano, vemos o artista protagonizar a fuga por um labirinto de corredores e escadas. Ele é perseguido por uma sombra, uma figura tão dúbia e imprecisa como suas peças escultóricas ou o Minotauro do Labirinto de Dédalo: é um travesti, esse habitante das fronteiras dos gêneros, à margem dos comportamentos socialmente aceitos. Um labirinto é uma prova de iniciação que guarda uma revelação. Um cruzamento de caminhos que anuncia e protege a existência de algo sagrado ou valioso: um centro, um lugar, uma presença cujo acesso só é concedido aos iniciados. Aquele que penetrou o labirinto, sem conhecer a priori as coordenadas de sua estrutura espacial, experimentará a errância. Vertigem e alteridade, imprevisibilidade e desvario o aguardam em suas inúmeras interseções. A reconciliação prometida entre a existência e seu significado —da vida e da morte — é um horizonte sempre fugaz, talvez irremediavelmente perdido. (O labirinto cretense não protegia um centro, mas aprisionava uma excentricidade: o Minotauro rompeu a ordem natural do universo. Condenado a vagar nos caminhos do labirinto sem conhecer a sua lógica, prisioneiro de sua alteridade, o Minotauro é a irracionalidade que irrompe no mundo e o retira de seus eixos. Uma irracionalidade a ser reprimida, deslocada do mundo para que este preserve seu fundamento e integridade.) Sem título, 2011 Azulejos e lâmpadas HQI 400w Foto: Pat Kilgore 116 117 C A DER N OS EAV I VEN S MACHADO No decorrer do vídeo, vão se desenhando geometrias e linhas de fuga: o giro circular da tesoura (relógio marcando o destino); a perseguição que realiza movimentos em profundidade ou em diagonais e verticais; as linhas traçadas pelos cabos do elevador; a grelha formada por sua porta pantográfica. Um réquiem compõe a trilha daquele encalço. O protagonista, ao fim do filme, vê-se acuado no elevador. Basta um toque do espectro que o acossa para sugerir sua morte. Mas o que a princípio nos sugere uma desintegração evocadora da morte, nada além de uma pulsão trágica e destrutiva, talvez seja a grande revelação redentora: a fatalidade é a única certeza da existência, seu inescrutável desígnio; a consciência de sua presença negativa, que só pode ser pensada como o indefinível absoluto, é a grande distinção do humano, ínfimo humano... O reverso do espelho: a Morte é a Gênese às avessas, e o homem errante e agonizante percorre a misteriosa senda que o conduz ao seu nascimento, ao processo embrionário e prodigioso em que algo se engendra e começa a existir. Saiba mais MACHADO, Ivens. Acumulações. São Paulo: Galeria Virgilio, 2006. MACHADO, Ivens. O engenheiro de fábulas. Rio de Janeiro: Ed. do Autor, 2001. 198 p. SARAIVA, Alberto; ABUJAMRA, Amir. Encontro/Desencontro. Rio de Janeiro: Oi Futuro – Contracapa Livraria, 2008. 112 p. 118 N ELSON FELIX Este texto, gentilmente cedido, resultou do encontro entre a historiadora e crítica de arte Marisa Flórido, o curador Alberto Saraiva e o artista Nelson Felix, na ocasião do lançamento do livro Concerto para encanto e anel. Espaço Oi Futuro - Flamengo, no Rio de Janeiro, durante exposição homônima de 17 de maio a 3 de julho de 2011. Alberto Saraiva : Durante três anos negociamos com Nelson Felix a realização desta exposição1: uma escultura sonoro-visual, um trabalho de imersão. Falamos de conceitos de escultura que lidam com elementos muito transparentes, muito sensíveis, mas, ao mesmo tempo, fortes e intensos como o som e a imagem. Embora só mais recentemente Nelson tenha começado a trabalhar com vídeo e fotografia, que são veículos da luz, podemos considerar que esse elemento já estava presente em sua escultura, dada a capacidade que suas peças têm de criar espaços destinados para a luz. Concerto para encanto e anel é uma obra que absorve tudo o que está no ambiente. Ela tem passagens, vãos, estágios luminosos em ângulos diversos, ou melhor, no Cavalariças, 2009-2010 Vista da Exposição: Cavalariças da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rio de Janeiro - 27 de novembro de 2009 a 21 de março de 2010 Foto: Vicente de Mello 120 121 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X seu processo de ser. E Nelson decidiu que o Oi Futuro era o lugar ideal para realizar o projeto. Ficamos felizes, porque ele é um dos nossos artistas prediletos e um dos mais importantes do cenário atual. Estamos aqui hoje para o lançamento do livro2 com Nelson Felix e Marisa Flórido, uma das críticas com texto na publicação, que tem acompanhado a obra do artista, e que vai poder nos falar um pouco desse trabalho. O livro é um livro de desenhos, um livro de projeto. A ideia de projeto, de desenho como projeto, é antiga e permanente, mas o livro também fala de aspectos muito sensíveis como a linha e o pensamento reflexivo. Eu tenho dito que o desenho é quase uma elevação, e se existe algo na arte que se equivale à filosofia, para mim é o desenho, algo que ultrapassa os limites do material. Agradeço a todos pela presença, a Marisa especialmente e ao Alberto pelo convite. Quando convidei Ronaldo Brito para participar desta conversa, havia a possibilidade de ele viajar nesta data, o que acabou ocorrendo de modo meio relâmpago. Agradeço a ele, também, pelo prazer de trabalharmos nestes cinco ou seis anos juntos. Fiz o livro com um amigo artista, mais jovem, Wanderlei Lopes. Trabalhamos no livro alguns anos, numa boa sintonia, lhe agradeço também por esta luxuosa parceria. Sua disponibilidade foi fundamental e por isso o livro consegue tatear o pensamento poético que direciona o trabalho. Esta foi uma questão que sempre orientou o livro e o estruturou com desenhos e não com discurso. Desenhos que desenvolvi quando construía o trabalho. Acho que o meu trabalho é construído por camadas de pensamentos, significados que se agregam a outros e mais outros, ora poéticos, ora teóricos. Esta soma de significados se anula, não pela negação, mas sim pelo excesso. E a perda do significado gera um oco, até esperado, que faz a obra renascer ao olhar, que a reestrutura. Sua visualidade então é calcada nestes pensamentos ligados abstratamente, que muitas vezes não se encadeiam para se evidenciar. É uma linguagem de cunho poético, solta, e ao mesmo tempo totalmente construída. Por isso, não queria que o livro fosse especificamente demonstrativo das ações do trabalho, como me propuseram. Para não amarrar esta exigência poética, senti a necessidade de outra poesia. Quando penso, penso desenhando na mente — a poesia desse processo prima por estar fluida, gráfica. E, como toda 122 123 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X poesia, pode se transformar a qualquer identificação ou definição, na maioria das vezes é o que se tateia. local onde fui não se chega no inverno, e o inverno lá dura vários meses. Tinha todo um processo, independente do processo poético, a ser resolvido, questão a questão... aduana, peso, etc. Vi que se eu começasse a amarrar muito as datas e diversas outras exigências, eu colocaria uma camisa de força e não iria realizar nada poeticamente, principalmente com a concentração necessária. Precisava de liberdade naquele momento e foi o que fiz, conversei com o Alberto e suspendemos o convite. Tempos depois, com o trabalho realizado e com esta visão, de fazer um trabalho sobre o trabalho, nos encontramos novamente. Há uma diferença entre fazer um livro definindo e o fazer abrindo o trabalho. Uma linguagem discursiva, muitas vezes, explora ponto por ponto, pausadamente, mas não tem a possibilidade de abrir um só viés e todos ao mesmo tempo. Essa convivência de um ou dois, ou todos, unidos e únicos, é de outro princípio de inteligência. Para desenhar, é necessário definir o outro pelo mesmo, com o princípio que está aqui e lá. Bem, o livro é todo o processo da colocação do Anel ao contrário. O livro e o vídeo3 me permitem anular o tempo. Como essa obra foi feita em vários anos e em vários locais, semelhante a uma ópera e seus atos, ou a um concerto e seus movimentos. Foi possível, no livro, ter quatro ou cinco anos ligados e não romper a sensação cronológica desse tempo, pois se tem uma fração de segundo na mente para percorrer esses quatro anos — uma ou duas viradas de página. Para o vídeo, Alberto Saraiva tinha me feito um convite, há uns anos atrás, mas teria que viajar provavelmente com um videomaker. Além disso, tinha questões como, em alguns lugares, só conseguiria ir em uma determinada época do ano. Na Islândia, por exemplo: no O vídeo é exatamente o contrário do livro, é um só momento do trabalho. Há dois pontos centrais no Concerto: a ideia de deslocamento, no meu percurso e da escultura, e a escultura se realizando nos dois espaços arquitetônicos. Vejo que, nesse trabalho — desde que ele começa no Museu da Vale4, aliás antes, desde o ponto de Camiri (como centro da Cruz na América) até a Cavalariças5 — tudo culmina na ação da entrada desse anel. Posso estar até sendo um pouco pragmático, mas essa ação, tanto ela em si, como teoricamente, constituiu uma performance e todo o resto é sobra. Sobras que formam a obra, mas sobras. O vídeo é isto: o momento dessa performance, sem as sobras. Tem sua própria natureza, que é diferente daquela do livro. 124 125 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X O trabalho com o vídeo tende a ser documental, é próprio da linguagem dessa mídia. Sempre gostei muito dessas coisas diretas das linguagens, mas ser documental, nesse momento, como uma obra contínua, seria ruim. Percebi no som, ali, na entrada do Anel nas vigas, a contração de todo o processo. Era música, e música criada pelo peso: uma questão primeira da escultura. O que fiz foi criar ritmo. O vídeo tem quatro projeções em quatro paredes, num espaço cúbico fechado e todo coberto de espuma, teto, chão e parede. A espuma é um material relacionado ao som, mas aqui a transformo em espaço, em escultura. E no chão, inclusive, interage, desequilibra. Uma destas projeções é a original, das outras retirei cinco, sete e onze frames, respectivamente. Isso faz com que o som de uma projeção seja levemente diferente do tempo das outras, e, com o andamento do trabalho, essa diferença cria uma música ritmada que nunca será a mesma nestes 45 dias de exposição. musicais. Para os pitagóricos, os tons emitidos pelos planetas dependiam das proporções aritméticas de suas órbitas ao redor da Terra, do mesmo modo que o comprimento das cordas de uma lira determina seus tons. Se as esferas próximas produzem tons graves, os agudos vão aparecendo na medida em que a distância aumenta. Assim, a combinação entre os sons de cada esfera, em seu perpétuo girar em torno da Terra, produziriam uma música suave, a “música das altas esferas”, harmonia cósmica apenas audível em condições muito especiais. Há algum tempo, os cientistas da NASA descobriram que os astros, de fato, cantam. Um satélite gravou tal “canto”. A atmosfera do sol emite ondas sonoras trezentas vezes mais graves do que o ouvido humano pode captar. Há uma “música das altas esferas”, sim, mas o som que se ouve é muito mais próximo de um rangido, de um atrito metálico, do que da doce melodia das liras gregas. E se classificássemos a música das altas esferas, seria, quando muito, uma espécie de heavy metal. Marisa Flórido: Gostaria de agradecer a Nelson e a Alberto pelo convite e começar contando a sensação que experimentei ao entrar na sala de exposição de Concerto para encanto e anel. Não sei se vocês sabem que os antigos gregos acreditavam que as distâncias entre os astros obedeciam às proporções de intervalos Foi da música gutural das altas esferas que me lembrei quando entrei na sala expositiva e ouvi Concerto para encanto e anel: era um rugido. O rugido das nove toneladas do imenso anel de mármore se encaixando nas vigas de ferro que se 126 127 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X deformavam em sua passagem. Pois essa videoinstalação foi concebida a partir do vídeo da montagem da exposição de Nelson no Parque Lage em 2009. Era o rugido do atrito da matéria circulando à nossa volta. E tudo circula ali (ainda mais caminhando sobre aquele chão instável): o som circula, as imagens circulam, Nelson circulou pelo mundo... Como a Terra, que gira ao redor do Sol. Mas, ocorre que ela não faz um círculo perfeito, mas uma elipse: 23 graus de desvio da órbita em relação ao eixo do Sol. Do mesmo modo, longe da harmonia da lira, da harmonia universal dos gregos, o som que se ouve ali tem também a sua “marca de imperfeição”, como define Nelson esses 23 graus. Uma marca ou um desvio que, em seu processo artístico, torna-se fundamental. Eu gostaria que você falasse sobre isso, Nelson, sobre essa marca, sobre essa imperfeição e desvio. E sobre Cruz na América. Ok, mas, para chegar aí, necessito chamar a atenção para um ponto central do nosso tempo: o homem atual lida constantemente com muita informação, e no artista contemporâneo esta informação é saturada de história da arte, inclusive a recente. Hoje, quando o artista coloca um trabalho no mundo, imediatamente tem alguém querendo fazer relações ou estabelecer algum laço deste trabalho com algo histórico, ou mesmo com outro atual. Estar ciente que constantemente vamos lidar com essa presença “histórica”, com essa total possibilidade de imediata inserção num processo de linguagem, é no mínimo necessário. Durante o século XX, nos libertamos de determinadas situações na construção da obra, de certo academicismo rompido com a visão moderna, e mais ainda, com a contemporânea. No cubismo abrimos a forma, no fauvismo, a cor, no tachismo, no concretismo, na performance, etc. Fomos abrindo o leque na arte povera, nos materiais, ou mesmo com Beuys, etc. Expandimos o horizonte, mas ao mesmo tempo incorporamos fortemente outras questões, mais mentais, como o pensar na formulação da obra. Vejo no processo uma potência – existe um refinamento de linguagem muito sofisticado nos dias de hoje. Agora voltando à sua pergunta. No meu caso, utilizo determinadas técnicas, que me são próprias. Meu pensar é abstrato. Não é só a forma que é abstrata, como os cubos, a cruz, o círculo; é o pensar que é abstrato, sem palavras, num encadeamento de ideias que desdenha o discurso. Isso me libera momentaneamente da história, do 128 129 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X “Percebi no som, ali, na entrada do Anel nas vigas, a contração de todo o processo. Era música, e música criada pelo peso: uma questão primeira da escultura. O que fiz foi criar ritmo.” estar no mundo de respostas. Eu me considero um artista abstrato. Mesmo quando parto para o mundo, parto para o mundo com coordenadas. Para situações onde a forma é impregnada de situações externas a ela, ou prestes a se modificar, ou mesmo abandonadas, o que não deixa de ser uma abstração também. Muitas vezes, trabalho com formas que já existem: cruz, círculos, etc. Sempre que possível, evito me propor a criar formas. No fundo, acredito que tudo é a mesma coisa, tanto faz trabalhar com a forma de um cubo, de um anel ou de um calcanhar — elas já existem. Na realidade, é a busca da poesia que agrega significados, que são embebidos e abstraídos ou absorvidos nestas formas, que me satisfaz. Já as coordenadas, vejo o mesmo princípio destas formas, elas já existem. Assim como todo cubo é igual, todo lugar é igual para as coordenadas. Isso me permite, no instante mesmo de estruturar o trabalho, me libertar da composição. Não escolho onde colocá-lo e muito menos tenho que dialogar, naquele momento, com a paisagem. Existem, no processo de trabalho, várias questões, questões que se sucedem, se unificam e conservam sua identidade, amalgamam-se. A tal ponto que me é difícil falar de uma coisa sem mencionar outra. Já conversei muito com Marisa sobre isto, uma vez ela cunhou os significados. 130 131 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X Quanto aos cubos, vou traçar aqui o que me lembro da construção mental do Vazio sexo6, que é um cubo dentro de um cubo, e assim chegar à utilização dessa forma e, por reflexo, às outras, como a cruz e a torção. Observava os diversos buracos que existem no corpo humano, e me concentrei no cérebro, no sexo e no coração. Existe, nesses três locais, grande intensidade de energia e, principalmente, poesia. São espaços mais centrados nos seus vazios que nos cheios e são sintéticos, como uma abreviação de todo nosso organismo. No sexo, por exemplo, que gera o orgasmo, percebo — aliás, não só no orgasmo, mas também no êxtase e na morte — uma extrema organização. Perfeita, plena, e dentro de uma estrutura plausível de se desorganizar, à presença de tudo o que não seja seu ou da sua natureza. Mas no sexo o “fazer”, o contato, é fundamental e aí está sua potência. Resumindo, a princípio, o sexo se faz. Estes pensamentos meio poéticos vão se tornando matéria, à medida que você vai incorporando-os, na forma, no material, no ritmo, etc., e depois, quando já na escultura em si, são permeados pela história ou pelo espaço. composição. Excluir na raiz este “gosto/não gosto”, e coisas desta ordem, era fundamental. Me pareceu bom ser uma forma dada, já existente, que, apesar do “fazer”, carregasse nela o “não fazer”, por isso a forma tão marcadamente minimalista. Descobri a raiz desta forma cúbica em Leonardo da Vinci, mas presente hoje em Sol LeWitt, aliás é por ele que ela nos chega atualmente, mas Leonardo conviveu com ela, resumindo, uma forma sem dono. O pensamento sobre o “fazer” foi adquirindo uma posição central na obra e torceu o eixo para um diálogo com questões centrais da estrutura da arte contemporânea, mais do que com o sexo, mas está tudo ligado. Começou na forma, não queria que ela me trouxesse Essa relação próxima com o minimalismo me interessou. Este “não fazer” minimalista, que vinha imbuído nela, era primordial. A realização dessa forma seria muito complexa, pois acrescentei mais um cubo ao seu interior: são dois cubos inteiros, sem emendas, esculpidos de um único bloco – um feito dentro do outro. Assim, o fazer é que se tornou minimalista, pois todo dia repetia os mesmos gestos, dentro do mesmo procedimento, num longo e repetido processo serial, que só se alterava quando virava a face do cubo. Uma inversão com a forma preestabelecida, existente. O ato de fazer a peça é que torna o seu centro, e chega à razão, ao pensamento da peça. O olhar é mental, acredito que há olhares diferentes, mais e menos poéticos, sua sensibilidade de percepção depende muito do grau de “conhecimento” que você tem sobre o que observa. Logo, quando 132 133 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X se sabe que não existe cola naquele objeto, você tem um outro olhar sobre ele, mas a escultura não teve nada agregado a ela. Nada lhe foi somado, ou retirado, mas a vemos diferente. Existe um salto no devir poético, e isso me interessava, há algo aí não só do fazer, mas também da natureza do orgasmo, da poesia e do sagrado. Sempre que quero, faço o trabalho. Vejo nisso um ganho que surge da relação com o material. Sem sombra de dúvidas, a interação não é de ordem discursiva. O fazer estimula uma percepção não verbal, mas também posso mandar fazer. Não tenho e não sei por que criar problema com isso. A questão contemporânea, para mim, não é se você faz ou não faz o seu trabalho, mas sim a densidade de pensamento que você coloca no circuito com o trabalho. Fazer ou não fazer diretamente o trabalho depende do processo de cada um e, às vezes, de cada trabalho específico. Penso, até, que se você sempre menciona que nunca faz, ou mesmo, que sempre faz o trabalho, cria uma importância, um ponto relevante onde não é preciso. Gosto de desprezar teoricamente esta questão, faço quando for necessário. Terminando, na peça torço os cubos com um molde em prata de uma vagina, nada feito, moldado direto, uma dupla homenagem a Duchamp. Esse trabalho contém varias citações, dedicatórias, que se agregam ao significado. Marisa Flórido : na América. Nelson, seria bom falar como se inicia Cruz Cruz na América se realiza por quatro trabalhos feitos na América. As primeiras ideias começaram em 84, 85 e por acaso deu em quatro paisagens diferentes. São trabalhos com uma relação com o tempo e escala composta por uma forma. O espaço desses trabalhos tem uma escala meio gráfica, Glória Ferreira escreveu sobre ele. Cada um deles responde por si, começam e acabam neles mesmos, mas ao mesmo tempo os quatro são um. O Grande Budha7 foi o primeiro que idealizei, mas só fui instalá-lo depois do segundo trabalho, a Mesa8. Isto porque o compraram e teve uma distorção na proposta, depois outros problemas, e aí eu o recomprei para colocá-lo no Acre. No Grande Budha me utilizo de uma árvore e latão, mas principalmente da ideia da floresta, de trabalhar com árvore, porque me possibilitava não só usar o tempo, mas principalmente o espaço da floresta, que é onde eu centrava meu interesse. A árvore na floresta cria um espaço de um igual entre vários iguais. Uma imensidão cheia, feita de iguais. Onde tudo é o mesmo, se tem uma unidade, onde não existe referência e se perde a escala. Esta perda me trazia um espaço poético, onde poderia trabalhar pontualmente, mas com a sensação desta enorme dimensão colada, cria um espaço de ordem 134 135 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X desnorteada. Enfim, tinha uma poesia espacial e plástica, que me interessava. Então, a obra é uma árvore em que eu boto umas garras e essa árvore cresce e essas garras vão se perder, como qualquer transformação que existe nas nossas realizações. Mas o que mais me atraía é que o centro do pensamento estava na sensação de que esta árvore já estava perdida nesse lugar, mesmo antes das garras, mesmo antes de eu defini-la pela coordenada como obra. É uma escala mais mental. Duas poéticas direcionavam: a impossibilidade de se conviver com o trabalho, na dimensão de tempo, mil, mil e duzentos anos de formação, e as transgressões e transformações que geram as atividades estéticas e sagradas. foto para cada direção dos outros trabalhos da cruz que vinha construindo. Mas um segundo e pouco na máquina em pleno deserto – e eu ainda cheguei ao local por volta do meio dia – estouram as fotos. Quando notei isto, a quase falta de imagem nas fotos, a princípio percebi que todo o pensamento, que havia convivido anos e que alinhava o trabalho aos outros, estava perdido. A Mesa no pampa, no paralelo 30º, é o contrário, o trabalho era plano. Chapa de ferro e árvores. São acasos, acasos predeterminados. Uma chapa de ferro horizontal no pampa é um plano no plano. A Mesa, como ponto oposto, na cruz com Grande Budha, destoa dele e cria com o tempo um local no todo, uma referência no plano. O terceiro trabalho9, no deserto de Atacama, novamente traz o tempo. Um tempo mínimo, não mais o longo, de séculos. Aqui o instante, e para isto me utilizo do processo fotográfico. Coloco a velocidade do ritmo do meu coração na velocidade da máquina fotográfica, vou ao ponto de coordenada preestabelecida, e tiro uma Este processo ganhou uma dimensão maior para mim, que não é da arte em si, não se encontra no objeto gerado, na sua forma, por exemplo. Não o qualifica como melhor nem pior. Vem de outra natureza, do conviver, do sentir, do fazer que antecede a própria percepção do que se faz. Eu trazia conceitualmente todo o trabalho de casa; me locomover por dias, avião, carro, coordenadas, lugar exato, tempo do coração, direções das fotos, tudo estabelecido a priori, e de repente escorre. Mas ali observei que existia no momento uma outra potência poética, que mesmo com todo o pensamento anterior, eu ainda não a tinha comungado. Vi uma beleza nesta impossibilidade da imagem, que me deslocou a linearidade da construção de uma poesia à outra. Existe um acaso nos tempos mínimos, onde as coisas podem mudar de rumo, se deslocam por si e é só, tudo passa a ser outro... Este trabalho no deserto é um pensamento sobre o coração, onde utilizei a fotografia. Não me considero fotógrafo, a usei como pensamento. 136 137 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X No quarto10, estico uma linha de um ponto do deserto ao meio da distância entre os dois trabalhos anteriores, Grande Budha e Mesa, e a prolongo até o litoral. Coloco uma esfera de mármore com vários pinos de ferro e a deixo lá, na maré. Com o tempo, o ferro irá se expandir, pela sua oxidação, e abrir o mármore, como as fotos estouradas. Neste eixo os dois trabalhos se complementam. Floresta, pampa, deserto e litoral, como um só trabalho. em vários locais do mundo definidos por cruzamentos abstratos no mapa entre essas exposições. Acontecimentos que nos recusam o contato direto, que se tramam em um arco de invisibilidade entre os dois momentos expositivos, os dois instantes de uma doação aos olhos, quando a obra/ópera efetua o movimento de seu aparecer. Marisa Flórido : Cruz na América é um imenso xis no mapa. No centro dessa cruz está Camiri, na Bolívia. Apenas complementando Nelson: na mesma latitude do Camiri na Bolívia, o centro da Cruz na América, estava Vila Velha, no Espírito Santo, onde o artista expôs em 2006 no Museu Vale. Se 23 graus separavam os dois locais, a coincidência de latitude e graus os entrelaçava. (Por isso as peças escultóricas, em algumas de suas exposições seriam dispostas em 23 graus: como no Parque Lage em 200111 ou no Museu Vale. ) Com o rebatimento da coordenada de Camiri no Hemisfério Norte, Nelson encontrou Anguilla e a República Dominicana, no Caribe; sua projeção para o outro lado do mundo, a ilha de Dong-sha, no mar da China, e Karratha na costa australiana; a inversão das coordenadas de Camiri, o vulcão Hekla na Islândia. Em cada um desses lugares, ele depositou uma escultura que esteve exposta no Museu Vale – devolveu-a ao mundo, portanto – realizou uma ação, ou extraiu de horas de viagem uma única fotografia, um instante conciso e circunspecto. É a partir desse centro, Camiri, que se inicia o Concerto ou a “ópera” organizado, como diz o artista, em três atos: duas exposições (Camiri em 2006, no Museu Vale, e Cavalariças em 2009, no Parque Lage) e uma série de inserções artísticas Cruzes, cubos, alianças, são figuras geométricas que Nelson utiliza nos seus trabalhos, são também signos de orientação e pacto convocados em meio a incessantes deslocamentos que ele empreende. 138 139 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X Sobre esses três signos, poderíamos dizer: a cruz supõe um tríplice acordo, do homem com sua existência corpórea e finita, com os espaços e as distâncias do mundo, com os tempos cósmicos e o ordinário das horas. Entre céu e terra, imanência e transcendência, a cruz é signo de reconciliação e ao mesmo tempo de medida. Camiri (o centro da Cruz) que se estende pelo mundo: uma distensão infinita. Sem divisões, o círculo é signo de perfeição e homogeneidade. Uma totalidade indivisível, portanto. Por seu movimento contínuo, como uma sucessão de instantes idênticos, foi o desenho do tempo para os antigos: o círculo é perfeito, imutável, sem começo e fim. O cubo está muito próximo dos escultores: é o monólito escultórico e a base. Como monólito — a pedra bruta que será esculpida — é uma potencialidade, um “ainda não”. Como pedestal, é o elo de passagem entre arte e mundo, uma ancoragem ao solo. O cubo é também a estrutura de representação euclidiana, as coordenadas do espaço-tempo, a naturalização do mundo, a perspectiva como forma natural de nele se inserir e perceber. O cubo é o a priori da percepção – não é à toa que os minimalistas citados há pouco por Nelson vão se utilizar do cubo (para confrontar os a priori da percepção com a contingência da experiência). Mas Nelson toma desses signos não a potência de orientação ou de fundação de um lugar, de um sítio, de um site: ele toma desses signos a potência do entrelaçamento, aquilo que chamou de “aliança”. Mas alianças que não reconciliam, apenas tramam relações e, ao mesmo tempo, provocam desvios e deslocamentos – não por acaso ele usa os 23º, a marca de imperfeição a que me referi anteriormente. Nelson, fale mais sobre esse ângulo. E finalmente o anel e o círculo, de onde vem o corpo do Concerto. O anel, por um lado, supõe uma aliança, uma religação, por outro, um isolamento e uma solidão. O círculo, por sua vez, é um ponto estendido. É um ponto, como 23 graus é o ângulo que faz o eixo de rotação do Sol com o eixo de rotação da Terra. Na realidade 23 graus e alguns minutos. Todos os planetas rodam meio tortos em torno do Sol. Se existe alguma coisa em posição perfeita no nosso sistema solar, é o eixo do sol, todo o resto está fora de eixo. A Terra roda numa imperfeição de 23 graus e pouco e é por esta imperfeição da rotação que temos as estações do ano, a nossa flora, fauna, nós mesmos, etc. Logo, 140 141 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X a beleza veio do torto, esta beleza instintiva, que nos é próxima, a natural. Sempre que tive que escolher como posicionar as peças no espaço, as coloquei em paralelo ao eixo do Sol. No início, com um astrônomo, calculava a sua posição para o momento exato em que abriria o evento. Depois, simplifiquei, e colocava a 23º com as paredes ou com o norte, como escreveu o Ronaldo Brito: “um partido aleatório radical”. O certo para mim é que, usando o ângulo, evitava “arrumar” as peças no espaço expositivo. Marisa Flórido: Como falava, esses signos, símbolos, são sólidos perfeitos: a esfera, o círculo, o cubo. Nelson toma desses signos sua potência de entrelaçamento, mas deslocando-os. Nesse movimento, a imperfeição não apenas é inserida no processo, mas, de fato, o determina. Isso não supõe apenas colocar as peças em 23º, significa que todo o processo é gerado ao se derivar um trabalho de outro e o desviar, a um só tempo trazendo esses signos e distorcendo sua pretensa perfeição. Explico melhor: não habitamos um vazio onde se situam coisas e seres a partir de um centro que seria a origem e o destino das cogitações do pensamento e dos apaziguamentos do espírito. Nossa vã tentativa de colocar o mundo em latitudes, em longitudes, em globos, em elipses, para contê-lo, para desenhá-lo. Vivemos, sim, em meio ao infinito das relações, dos cruzamentos de convenções e simbologias, de naturezas e artifícios que não se reconciliam. Por isso, quando ele coloca suas peças a 23º alinhando-as à órbita da Terra, elas entram em imediata estranheza com o local em que estão. E, no entanto, estão perfeitamente alinhadas com o cosmo, melhor, com o movimento do cosmo. Pois o que é específico não é o lugar, o site, mas essa trama de relações que define por um irrisório momento nossa posição no mundo. Tão interdependentes das vizinhanças, do que ocorre em nossa imediata proximidade, quanto dos acontecimentos mais distantes; tão sujeitas aos desenhos e símbolos arbitrários com os quais convencionamos os espaços e os tempos (como latitudes e longitudes, como o tempo em linha reta da História e o tempo circular dos Antigos), como os acidentes e as errâncias que nos extraviam e deslocam. O que existe é esta frágil e contingente posição em um universo descentrado, oscilando entre as medidas e o incomensurável, entre a existência como um lapso (como uma distração do tempo) e as horas dilatadas dos astros. E Nelson vai operar justamente com esses espaços e tempos cósmicos, mesmo cosmogônicos, como um (re)desenho do mundo. Mas um desenho que se sabe impossível: entre os desígnios e os 142 143 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X Camiri, 2006-2007 Vista da Exposição: Museu Vale, Espírito Santo - 26 de outubro de 2006 a 11 de fevereiro de 2007 Foto: Sérgio Araújo 144 145 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X acasos, entre o cálculo e o imprevisível, tramam-se os tempos e as geografias íntimas e cósmicas, a rotação dos astros e a pulsação do corpo. Como, por exemplo, no Atacama. Gostaria de te ouvir um pouco sobre isto. Quando fui fazer o trabalho no Atacama, de que a Marisa nos falou agora, estava voltado para os vazios, especificamente o do coração, e sobre um tempo mínimo e simbólico. Até então, a poesia que existia no tempo, para mim, era sempre distendida, a que pela longa duração torce a nossa noção do tempo. Temos noção entre dez e cinquenta anos, mas a perdemos entre quatrocentos e setecentos anos, não temos muita consciência da diferença destes trezentos anos que existem aí, por exemplo, não há muita percepção real. O coração me fez pensar, no momento, no tempo do pulsar, e por que não ver o tempo como um todo, o grande e o pequeno, como um objeto, ou mesmo uma entidade, e usar o mínimo, o instante, como usava o extenso. Vi uma poesia também neste infinito ao revés. E que “caberia” em mim, no meu ritmo. Fiz dois trabalhos com este tempo, o do coração no deserto e um outro com plantas sensitivas, dormideiras, intitulado Mesas12. Marisa Flórido : Várias temporalidades se cruzam: o tempo da pulsação do corpo e o tempo da máquina fotográfica, o tempo dos trezentos, quinhentos anos de uma árvore engolindo as garras de bronze na Amazônia ou das árvores deformando uma mesa nos Pampas. Esses tempos, espaços e suas simbologias se entretecem com extrema complexidade. Nelson nos coloca diante de algo que nos ultrapassa, que nos excede. Mas como não fazer da arte apenas uma passagem a uma transcendência? Passagem, aqui, não é o acesso a um suprassensível, a algum significado transcendente, mas é a própria arte como passagem: um abismo ontológico que, a todo o momento, se abre. Nelson dispõe dos signos, das convenções, das órbitas e dos vacilantes passos humanos para articular com tal complexidade os sentidos que inviabilize qualquer retorno à ligação simbólica ou a um significado fixo. É uma espécie de violência da indeterminação sobre o determinado (como os cálculos precisos na cartografia do mundo e o encontro casual com o que ali está), a abertura de um abismo ontológico nos desejos da forma. Daí, desconfio que esse périplo, essa circunvolução do artista pelo mundo, para e pela qual ele vai depositando suas esculturas, é uma dádiva, um dom. Como um excesso de energia que precisa retornar ao mundo. Ao fazê-lo, Nelson se 146 147 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X refere ao processo da tradição escultórica, em que se retira o excesso, se desbasta o mármore do bloco de pedra e joga-se fora essa sobra. Ele faz a obra, desfazendo-a, eis a questão. Não creio que seja da ordem de uma construção formal apenas, reproduzindo essa ação clássica da escultura. O que termina então por se confundir, o que se turva e embaralha, no final das contas, é o que é o excesso e o que é síntese, o que é sobra e o que é a obra. Por isso o que ouvimos nesse Concerto é o canto ruidoso da matéria. Esse é o encanto e a perdição da arte: orquestrar, desenhar, reinventar mundos, mesmo sabendo que eles não cabem em obras. Certa vez escrevi um texto para Nelson em que eu citava Jean-François Lyotard. Lyotard diz que a paisagem é indiferente ao lugar; que, para ser passível à paisagem, é preciso ser impassível em relação ao lugar. O lugar é a “encruzilhada dos reinos e do Homo sapiens. Minerais, vegetais, animais ordenam-se ao saber e este último dá-se a ele de forma espontânea”. A paisagem é apenas partida, sem destino (desorientadora, portanto). “A paisagem enquanto lugar indestinado”, que suspende “a narração e o próprio mostrar”. São como “pequenos toques ou vislumbres que cegam e anestesiam”. E observa: a paisagem é “uma queixa da matéria acerca dos limites dentro dos quais é aprisionada pelo espírito”. Ou seja, invertem-se os lamentos e as preces usuais atribuídas ao espírito: não é ele, o espírito, que se debate no interior da matéria (e como “espírito” devemos entender: sentido, forma, pensamento, etc.) É a matéria que deseja libertar-se das amarras do espírito (e como “matéria” devemos entender o inesperado, o irrepresentável, o impensado...) Há sempre uma demasia na paisagem. É esse lamento, esse canto da matéria “queixando-se” de suas amarras, que fecha o Concerto. Um canto ruidoso. Mas, de modo distinto de Lyotard — que crê que para ser passível em relação à paisagem era preciso ser impassível em relação a um lugar —, Nelson multiplica as encruzilhadas, multiplica as relações que fazemos para delimitar ou formar um lugar, para definir ou sintetizar uma forma. Se o lugar é a encruzilhada dos reinos e dos homens, Nelson Felix opera uma hipérbole desses entrelaçamentos, multiplica ao infinito as encruzilhadas – ou seja, multiplica os significados, as simbologias, as coordenadas, com os quais convencionamos os espaços 148 149 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X e os tempos e nossa orientação no mundo. Esses vão se sobrepondo e se relacionando com tal complexidade que em dado momento aquela hipérbole não suporta o seu próprio peso e rui. Sobredeterminação significa também sua anulação. Os momentos de aparecer da obra não são uma condensação ou uma síntese do pensamento extremo em uma forma. É o momento em que o pensamento dubiamente se exacerba e explora seus limites, exibe sua complexidade e sua falha. Nelson, gostaria que você contasse como montou o livro e o vídeo, porque tem a mesma extração da matéria, o mesmo processo. Como disse, o trabalho se ergue em torno dessa invisibilidade, de sua ida pelo mundo, doando essas esculturas. Há apenas alguns momentos precisos de uma doação ao visível: as exposições nas Cavalariças e no Museu Vale. Mas Concerto e o livro são também modos de fazê-lo aparecer. Às vezes você tira uma única fotografia de alguma dessas viagens, extrai apenas um momento. Poderia converter tais imagens em simples documentação, em mero relato. Mas transforma-os numa obra, em desenho e som. Interessante também é o fato de que cada uma de suas ações é em geral uma repetição, é uma ação circular, mas não como sucessão contínua e invariável de instantes idênticos que se repetem, mas como algo que se repete se diferenciando. Algo talvez próximo ao “eterno retorno” de Nietzsche: se não há origem, se a realidade não possui fundamento ou finalidade, a combinação de forças em conflito, que compõe cada um dos instantes, em algum momento se repetirá. Por isso, vemos os eventos, os pequenos detalhes, os mínimos atos retornarem infinitamente. Por isso cada gesto deve ser realizado de tal modo que se deseje seu eterno retorno, que se deseje que ele aconteça outra vez. Um mundo de forças em incessante movimento, sem repouso ou equilíbrio. Concerto é também uma reflexão sobre a noção de acontecimento, ao mesmo tempo singular e repetido, que não se fecha em relações de causalidade-finalidade. A um só tempo uma subtração e um excesso. Ou junto e não linear. A repetição, que você observa, acho que vem desta constante tentativa de fazer as coisas conversarem, elas não são iguais, elas se repetem. No fundo, em Concerto repito não o igual, mas o circular e a repetição no círculo geram um ritmo, e este é mais próximo ao tempo. É sensível para mim que quando estou 150 151 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X “Sempre que possível, evito me propor a criar formas. No fundo, acredito que tudo é a mesma coisa, tanto faz trabalhar com a forma de um cubo, de um anel ou de um calcanhar — elas já existem.” concentrado, o espaço não me é extremamente necessário, quando ele está perfeito, até some, o abstraio, uso coordenadas. Mas, no trabalho terminado, a compreensão do espaço gerado e o movimento feito nele adquirem na obra um sentido ímpar e sua observação é necessária. A questão do espaço na arte, do nosso último século, é um processo de construção. E não dá para conversar sobre isto sem puxar a história de como vejo esta construção do espaço na arte neste nosso último século. Vou tentar resumir o que eu sinto. O espaço era o quadro, a escultura, por exemplo, Matisse pinta um quadro de um metro e meio por um metro e meio. Toda a sensação dele, toda a atenção dele se dá nesse quadro, tudo ali. Você pega o quadro, tira de uma parede e leva para outra, de um museu para outro, e tudo continua ali. Grosso modo e sintetizando: é centrado, não conversa muito com o entorno. Vamos escolher os ícones, Brancusi – a terceira dimensão tem uma potência – ele constrói formas poderosas, como “buracos negros”, existe nelas uma força que quando as observamos, realmente, adquirem uma intensidade, de repente, se perde a noção do espaço e ficamos, por alguns segundos, inteiramente “dentro” do objeto. Matisse tem isto também, mas senti pela primeira vez esta observação em Madalena13 de Donatello, e logo depois, em Brancusi. Depois creio, os surrealistas e dadaístas colocaram mais uma estaca, trabalharam com 152 153 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X carvão, fios, plantas, etc., no espaço de exposição, mas tudo era meio onírico. Teve um artista, que para mim é crucial, um russo-americano, Rothko, um pintor, que entrou pelo espaço e afinou o pensamento sobre o espaço externo à obra. Ele definia a sequência dos trabalhos, a luz necessária. Rothko foi convidado pra fazer um trabalho para um restaurante, de repente acho que gostou do trabalho e resolveu doar para a Tate de Londres, porque ele admirava Turner. Resumindo, entregou o trabalho com a condição de que sempre fosse mostrado na sequência que ele tinha projetado, na mesma luz, na mesma dimensão espacial de sala, etc. O que é isso? Uma ambientação espacial do trabalho, aqui o espaço é também a pintura. Depois, uns dois anos antes de morrer, fez uma capela em Houston, com pinturas praticamente monocromáticas, de uma austeridade, e com o espaço todo planejado com elas, algo anterior e meio minimalista. para a construção do mercado de arte e não para uma aventura que deslocava o eixo do espaço expositivo rumo a uma exteriorização do objeto de arte. Bem, esse diálogo com o espaço externo delineou para o artista contemporâneo questões fundamentais de pensamento e, principalmente, o gosto de pensar sobre isto e sobre o próprio trabalho, que trazemos até hoje. Mas já vivemos outro momento. O espaço externo atual é “menor”, mais dinâmico e com uma nova questão: muito informado. Esta informação chega a ser quase que matéria. É notório que qualquer objeto que colocamos no mundo hoje sofre imediatamente uma relação. Percebe o salto? O espaço não é tão necessário – o espaço some – e logo a presença espacial é fundamental e estrutura a obra. Para pensar, ou melhor, para perceber o que fazia, comecei a abstrair este espaço, primeiro usando as coordenadas. Com elas senti que não necessito conviver com ele direto. Crio um estado de certa concentração, onde não é só o espaço que se dilui, é a sensação do pensar sobre o trabalho que volta a ser centrada só nela. Nos anos 60, realmente começamos a lidar com o espaço externo novamente, depois dos antigos. Nesse momento, existia uma audácia nos artistas. A grande maioria dos museus, principalmente na América, assim como toda a situação da época, estava estruturada Coordenadas não existem, não tem o objeto coordenada aqui, por exemplo, mas existe este acordo, esta medição, como nas horas. Sei que existe uma linguagem, poética talvez, que é anterior mesmo a uma necessidade do diálogo. O pensar se constrói como um desenho, 154 155 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X não tem imagem no fundo e não preciso descer até as palavras para entender. Essas questões me nortearam em determinados trabalhos, principalmente quando envolvem deslocamentos. pelo mundo. Os deslocamentos e o movimento da natureza do espaço – da arquitetura ao exterior e daí novamente para a arquitetura – são um veio forte na construção do trabalho. Às vezes, uso espaços que são mais mentais que físicos. Quando se trabalha com o tempo, oitocentos, novecentos anos, por exemplo. Como na esfera do Vazio, no litoral, que se “abrirá” com a oxidação, ritmada pelos diversos “aparecer e sumir” na areia. Você faz esse trabalho na mente o tempo inteiro, mesmo indo ao local com a esfera descoberta, se observa somente um momento do trabalho. O espaço é mental, construído na cabeça. Poderia colocá-la numa caixa d’água com sal, ao invés da praia no Nordeste, também o faríamos na cabeça, com menor poesia, é lógico, mas também o faríamos. É um jeito de lidar com o espaço, de não nos determos com ele, mas não o excluímos. Se constrói o trabalho no pensamento e esse pensamento termina o trabalho na mente. A primeira exposição no Museu da Vale e a segunda nas Cavalariças do Parque Lage trazem uma questão com o local, que se utiliza da referência de um trabalho anterior, o centro da Cruz na América, Camiri. Marisa Flórido : E as relações entre as exposições de Camiri e Cavalariças com os 4 Cantos14 no mundo, a construção do Concerto para encanto e anel? Concerto para encanto e anel tem uma dimensão mais estruturada, uma coisa só e sequencial. São duas exposições e uma série de ações Em Camiri, nunca quis fazer nada ali. Era direto demais e fecharia a obra num bloco. Deixar o centro da cruz aberto me parecia melhor. Comecei a pensar em rebater este ponto pelo globo, para o Hemisfério Norte, depois a sua oposição no mundo e esta oposição para o Hemisfério Sul novamente. Estava sobre estes rebatimentos quando surgiu o convite do Museu Vale. Algum tempo depois, reparei que o museu estava na mesma latitude que Camiri e a 23º de longitude de distância. Não me era novo o trabalho, me deslocar no globo e usar o angulo de 23º, e percebi que já o tinha feito. Sintetizando o processo, segui o que estava me sendo dado. Fui a Camiri, olhei para o museu, fui ao museu e olhei para a direção de Camiri. No museu coloco as vigas e as peças de mármore ora em acordo com a arquitetura do museu, ora inclinadas no mesmo ângulo do deslocamento na longitude. 156 157 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X Camiri, no Museu Vale, foi isto, vigas de ferro horizontais e inclinadas a 23º com a arquitetura do museu e cinco peças de mármore. As vigas na horizontal em quase todo o museu fizeram com que, apesar da presença da escultura, o visitante não percorresse a exposição, sua relação de contemplação era igual à da pintura, olhava-se de três lugares distintos, e o trabalho se referia constantemente a um deslocamento no globo, Ronaldo observou isto. um bloco único e escavadas – dava para fazer ao contrário, aliás, dava tudo, dava pra ligar para o marmorista e pedir para ele colar quatro placas. Mas no detalhe da construção deste pensamento “circular” eu não responderia a mim esta falta de exigência formal. Esta camada de pensamento me é necessária. Por exemplo, uso o mármore de Carrara, ou o grego, não por um meio em si, mas por uma questão conceitual. Eu não o acho mais bonito, para ser sincero eu nem escolho o bloco. O uso porque nele existe a presença de uma tradição da nossa história escultórica; somos greco-romanos, ocidentais, e, para comungar com essa tradição, uso este mármore. Concerto para encanto e anel tem na construção da sua poética uma sequência de relações com os limites dos trabalhos. Algumas coordenadas ou locais irrigaram conceitualmente o espaço expositivo e definiram posições ou elementos próprios da escultura, como forma, material, proporção ou o ritmo. A coordenada rebatida de Camiri define os locais de trabalho. Não faço um trabalho para um local escolhido a priori, o trabalho foi resolvido anteriormente, eu só o coloco no lugar. Reposiciono, como num desenho no globo, as peças da primeira exposição e deixo uma única peça, um grande cilindro de mármore. Com ela retorno a expor, como um terceiro movimento de uma só obra. Todas as peças de mármore, também trazem uma ideia de circularidade, ora na forma, ora na sua inteireza. São esculturas em Estas coisas geram uma força, como estacas no pensamento, que me ajudam a responder a um sentimento poético, e assim construo uma linguagem para mim mesmo, sem razão nenhuma. O que faz o artista é gerar potência, porque no fundo, na arte, se faz o que sempre foi feito. O que nos resta, hoje, é a relação com o pensamento estrutural da obra; a forma, a cor, o material, tudo de um certo modo já foi aberto, expandido, por diversas conquistas. Às vezes me sinto construindo idiomas para falar com os mesmos sentimentos. Voltando à Cavalariças, as vigas sofrem uma rotação no espaço e ficam na posição vertical; as três posições que definem uma linha no espaço tradicional euclidiano – horizontal, inclinado e vertical. 158 159 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X Com o Anel, fixo o espaço de exposição. Como se todo espaço fosse agora uma única escultura. Sobre isso Ronaldo escreveu: “é uma escultura que se desloca”, construída retirando partes, como qualquer outra, “mas o processo de retirar nesta construção não se subtrai, se soma”. A exposição nas Cavalariças do Parque Lage tinha uma sensação de inacabada, tosca, e foi uma única ação, só. Longa ou curta, depende de como a olhamos. de tinta, você já não percebe essas camadas, mas se não as tivesse, acredito que o trabalho não sairia. São questões próprias da natureza de quem faz, isso acontece com a arte. Tem situações, no meio do processo, que você sabe que não vão gerar uma obra que possa ser vista, mas geram a própria obra. Não é uma ação feita para mercado, é feita pra você responder ao pensamento. Esta resposta adquire presença, se posso falar assim. Sem ela, determinados trabalhos não existem. O Concerto aparece e some, como Marisa escreveu: “entre as duas exposições – dois momentos de uma doação aos olhos, dois instantes em que a obra efetua o movimento de seu aparecer”. Marisa Flórido : E a Islândia15, em que ano foi? Foi em 2009, maio de 2009. Queria que o Concerto carregasse nos seus “movimentos” a presença do verso, do canto, que começa e acaba igual. Então, refaço a mesma ação de me deslocar e olhar para onde expor. Inverti as coordenadas, o Norte com o Sul: essa aleatoriedade deu na Islândia. Na realidade, o trabalho não foi só esse, construí uma cruz por lá, teve outras questões no deslocamento. Mas é algo que se incorpora, como Rothko, de novo, sua pintura tinha trinta, quarenta camadas 160 161 C A DER N OS EAV N EL SO N F EL I X Notas 1. FELIX, Nelson. Concerto para encanto e anel. Exposição individual realizada no Espaço Oi Futuro – Flamengo, Rio de Janeiro, 17 de maio a 3 de julho de 2011. 2. FELIX, Nelson Tavares. Concerto para encanto e anel / Nelson Tavares Felix, Marisa Flórido Cesar, Ronaldo Brito. Rio de Janeiro: Suzy Muniz Produções, 2011. 303 p., il. Edição bilíngue português-inglês. 3. Concerto. Concebido por Nelson Felix. Criação e edição de imagens por Begué, Nelson Felix e Luís Felipe Sá. Produzido por Suzy Muniz Produções. Brasil: 2011. 12min 19s. DVD, son., color. 4. FELIX, Nelson. Camiri. Exposição individual realizada no Museu Vale, Espírito Santo, 26 de outubro de 2006 a 11 de fevereiro de 2007. 14. FELIX, Nelson. 4 Cantos, 2004-2008. Quatro trabalhos de intervenção realizados na República Dominicana e Anguilla, Caribe; Dong Sha, Taiwan, Mar da China; Karratha, Austrália. 15. “Desde o início, a extravazar os pontos geográficos rebatidos, a escultura intui um quinto ponto aleatório, errante, uma fuga para o alto, quase em suspenso, que a complementa: o vulcão Hekla, na Islândia. Diante dele, aí sim, calma e pensativamente, Nelson Felix olha para o ponto futuro, em direção ao Parque Lage, o ponto de partida.” (BRITO, Ronaldo. Percurso da escultura. In FELIX, Nelson Tavares. Concerto para encanto e anel. Rio de Janeiro: Suzy Muniz Produções, 2011. p. 86). 5. FELIX, Nelson. Cavalariças. Exposição individual realizada nas Cavalariças da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2009 a 21 de março de 2010. 6. FELIX, Nelson. Vazio sexo, 2004. Mármore de carrara e prata. 90 x 90 x 90 cm. 7. FELIX, Nelson. Grande Budha, 1985/2000. Mogno e garras de latão. 0,70 x 0,70 x 0,15 m (cada garra). Estado do Acre, Seringal Nova Olinda. 8. FELIX, Nelson. Mesa, 1997/1999. 22 figueiras-da-índia e chapa de aço. 0,80 x 2,45 x 51,00 m. Estado do Rio Grande do Sul, Uruguaiana. 9. FELIX, Nelson. Vazio coração / Deserto (1999-2003). Seis fotografias , com tempo de exposição definido pelos batimentos cardíacos do artista. Deserto do Atacama, Chile. 10. FELIX, Nelson. Vazio coração / Litoral (1999-2004). Esfera de mármore de carrara e 22 pinos de ferro, 60 cm ø, deixada na Praia Redonda com Ponta Grossa, Ceará. 11. FELIX, Nelson. Série árabe. Instalação realizada nas Cavalariças da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rio de Janeiro. Inaugurada em 11 de abril de 2001. 12. FÉLIX, Nelson. Mesas, 1995. Seis mesas de granito com 70 x 70 x 70 cm, sobre elas são colocadas peças em ferro com molde do corpo do artista e de glândulas endócrinas, azeite e mimosas pudicas (plantas sensitivas – dormideiras). Uma das mesas pendula sobre um tapete dessas plantas e provoca reação nos vegetais com seu movimento. 13. DONATELLO. Madalena, 1453-55. Escultura em madeira. 188 cm de altura. Saiba mais FELIX, Nelson. Camiri. Texto crítico, Ronaldo Brito; diálogos Nuno Faria. Espírito Santo: Museu Vale do Rio Doce, 2007. 136 p. FELIX, Nelson. Concerto para encanto e anel. Textos de Nelson Tavares Felix, Marisa Flórido Cesar, Ronaldo Brito. Rio de Janeiro: Suzy Muniz Produções, 2011. 303 p. Edição bilíngue português-inglês. FELIX, Nelson. Nelson Felix. Textos de Glória Ferreira, Nelson Brissac e Sonia Salzstein. Rio de janeiro: Editora Casa da Palavra, 2001. 176 p. NAVES, Rodrigo. Nelson Felix. São Paulo: Cosac & Naify, 1998. 208 p. 162 TUNGA Sobre o que vamos falar? Poderíamos falar sobre qualquer coisa, mas falar sobre qualquer coisa seria um pouco mais que isso. Falar e estar disposto a responder sobre qualquer coisa. Responder sobre qualquer coisa é certa prepotência, porque pareceria dizer que posso responder sobre qualquer coisa, mas quero ser mais preciso. Posso estar aqui para responder sobre toda e qualquer coisa, não porque eu saiba a resposta, mas porque posso incluir toda e qualquer coisa dentro do meu discurso. Qual é a única disciplina no mundo que lhe permite incluir toda e qualquer coisa no seu discurso? Que eu saiba é a arte, porque ela vai procurar dentro do discurso outras ligações, outros sentidos, outras possibilidades de conectar, criar novos sentidos e compreender aquilo que anda por aí. Portanto, estou aqui para responder sobre toda e qualquer coisa. Xifópagas capilares Objeto, performance e filme realizados primeiramente nos anos 80 Foto: Wilton Montenegro 164 165 C A DER N OS EAV TUNGA Mas, antes disso, hoje acordei e me lembrei que tinha tido um sonho, logo hoje. Era um sonho muito peculiar porque me lembrei que tinha sonhado com a verdade, só que quando acordei, me esqueci. Acho que isso é uma boa pergunta para começar: que história é essa de um sonho em que você sonha com a verdade, acorda, sabe que sonhou com alguma coisa, e essa coisa é a verdade, e logo esqueceu a verdade? Será verdade que você sonhou? Esse tipo de paradoxo, que o sonho volta e meia nos oferece, de algum modo nos aproxima um pouco do modo de trabalhar em arte. O bom de trabalhar em arte é que vamos procurando uma outra lógica, outro tipo de associação, e que tem que ter algumas regras, só que essas regras ninguém nos dá, o que temos são os exemplos de outras pessoas que seguiram essas regras. Resolvi que havia uma coisa comum em todas essas atitudes, que era o fato de juntar coisas: a narrativa de um sonho, a narrativa de um fato ou a construção de uma obra de arte, de uma música, de uma poesia, tudo e qualquer coisa que a gente se lembre ou tenha esquecido é fatalmente a ação de juntar coisas. Juntar coisas é, basicamente, a atividade que fazemos, e isso tem algumas regras e é a partir delas que nos perguntamos o que estamos fazendo. Acho que o discurso que interessa é o discurso da conjunção: arte seria então essa capacidade de criar ligações entre coisas, conjunções essas que nos dão sentido. Quando você liga uma coisa com outra, acontece um fenômeno de radiação, uma coisa que está num sentido e outra num outro, ao se juntarem, produzem um terceiro sentido. E é a partir desse terceiro sentido que devemos começar a pensar. Vamos passar um filme. [ Exibição dos vídeos Inside up outside down (Kassel-1997) 1 e Resgate (CCBB-2001)2 ] O primeiro filme que assistimos foi de uma performance e instalação em Kassel, e o segundo foi o trabalho apresentado na inauguração do CCBB de São Paulo. Em Resgate, a circunstância era a seguinte: o departamento de marketing do Banco do Brasil indicou que haveria um artista para a inauguração do novo espaço, que é uma coisa meio paradoxal, é evidente que não fiquei muito contente com esse approach estrutural, disse que participaria, mas que seria contra essa instituição, aceitaram. Fizeram uma reforma no prédio onde pretendiam abrir o Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo, o prédio é numa área de extrema vitalidade, de uma economia marginal e lateral, e eles pretendiam alojar lá esse centro cultural de arte contemporânea, revitalizando toda aquela área. Achei uma contradição, porque esta noção de vida deles é inteiramente diferente da minha, para mim, aquela é uma zona extremamente vital da cidade, há 166 167 C A DER N OS EAV TUNGA milhares de camelôs, um comércio intenso, só que não era o perfil de arte, de cultura que propriamente o Banco do Brasil aprecia ou que um departamento de marketing pretende que seja a nossa cultura. Fiz uma instalação gigantesca ocupando o prédio todo, com a participação de duzentos personagens. Quando disse que estava aqui disposto a responder perguntas sobre tudo, era para falar dessa atitude, que é um pouco a atitude que quem está começando a fazer arte deve ter: se inquietar por tudo, tentar entender de tudo. Não entender na pretensão de dominar, de ser capaz de deter opinião sobre tudo, mas saber que, para fazer arte, você estará lidando com uma disciplina na qual todos os sentidos podem se agregar e se incorporar a alguma coisa que você diz. Talvez uma coisa característica dessa peça no CCBB e da outra em Kassel que possa introduzir a nossa conversa foi um pouco o que disse da ideia de que arte, seja ela qual for, é sempre uma conjunção, colocar duas coisas juntas e criar um terceiro sentido que não estaria na primeira nem na segunda, o surgimento entre duas coisas heterogêneas, que não necessariamente tenham a ver uma com a outra, concebendo um sentido quase como uma mágica, um sentido que, de repente, surge. Explorar esses sentidos, conectá-los, produz uma forma de conhecimento, uma forma de saber um pouco bizarra, não obedecendo necessariamente às regras da razão, às regras da compreensão geral, mas obedecendo a uma regra, uma espécie de certeza que se cria quando você está frente a uma obra de arte e sabe que tem alguma coisa certa ali mas não sabe direito o que é. É esse estado que me interessa na arte. Para produzir esse estado, para que se provoque um estado como esse, será necessário, também, uma série de outras coisas, saber muita coisa e saber de tudo. Ao enunciar a palavra vermelho ou mostrar uma tela vermelha, perceber que por trás desse gesto existe uma complexidade de evocações que aquele fenômeno vermelho aporta. Quanto mais o artista sabe o que pode vir junto com aquele vermelho, mais ele terá essa capacidade, essa habilidade, esse domínio de criar um discurso e surpreender mais ainda. Surpreender é ir além do senso comum, produzir uma experiência única, radical, diferente. É disso que trata a arte. Chamaram a minha atenção os símbolos que você usou nos vídeos e também na trilha sonora para a edição desses trabalhos. Aluno: Nos dois casos, a trilha sonora do vídeo era baseada efetivamente no que acontecia durante a instalação, durante a performance. 168 169 C A DER N OS EAV TUNGA O primeiro vídeo foi realizado na X Documenta de Kassel, esta cidade remota e longínqua na Alemanha, à qual fui levado para escolher um lugar para fazer essa performance, essa instalação. Fazia muito frio ali, era inverno. Cheguei à estação de trem morrendo de frio, disseram que ali ia ter uma mostra no segundo andar. Olhei em volta, vi uma parte com menos movimento e perguntei se não podia fazer o meu trabalho ali. Disseram que podiam investigar e resolvi que seria naquele lugar. cada um faz parte da instalação também, porque de algum modo está ali dentro. Rememorar isso, chegar em casa e sonhar com isso é realmente efetivar a realidade daquilo que apresentei. O lugar possuía vantagens para apresentar essa peça: primeiro, um público garantido, uma estação de trem ativa, vinte mil pessoas por dia passariam por ali, passariam num contexto do meu interesse, que era o contexto de testemunhar um fato. Acho que numa performance ou numa instalação – prefiro chamar de instauração – produzimos algo efetivo, instaura-se algo, há uma espécie de fenômeno. Costumo pensar e ver essas interferências como uma espécie de filme sem câmera nem película. Um filme em que você se sentisse dentro dele, a rigor esse filme tem uma câmera e uma película, só que essa câmera é o nosso aparato ótico, nosso corpo é o nosso aparato sensorial e o filme disso é uma conjunção neural, a capacidade de reter uma coisa que testemunhamos e depois refazer, recriar essa coisa. Então, numa situação dessas, A arte posta desse modo, portanto, está disposta a falar não com o espectador à frente daquilo que ele já sabe ser uma obra de arte ou mesmo quando em um local destinado para obras de arte. Numa situação dessas, você é invadido pela arte. Uma cena cotidiana, com um leve desvio, uma leve alteração, pode marcar você e fazê-lo refletir, a ponto de poder sonhar com ela e narrá-la depois já com outro aspecto. A arte hoje nos permite essa atitude, ou seja, olhar para tudo e ver arte. Mas não é tão simples assim, não é só chamar de arte aquilo que você quer, é preciso que aquilo esteja incorporado a um projeto, a uma intenção construída por você. É preciso entrar no sonho visual, falar com os processos primários, que são aqueles processos nos quais os sonhos são elaborados, onde o self, o sujeito, é realmente mais denso e mais livre. As músicas em Kassel estão sendo tocadas diretamente no equipamento de som da estação, aquela primeira música é do Jorge Ben, ele canta “O que está no alto é como o que está embaixo” – uma 170 171 C A DER N OS EAV TUNGA referência a um texto alquímico – a rigor, na música, ele lê o texto. Editei esta gravação dele, cortando a frase e deixando só esses dois elementos. É evidente que isso se refere ao que vemos: o que vemos é o que está embaixo e o que está no alto, o meio divisor que é a escultura, aquele chapéu bizarro, chapéu comunitário. Essa música já seria uma indicação, além de ser um hit bizarro, entrar numa estação de trem alemã e ouvir o Jorge Ben cantando desse jeito. algum modo aludida nessa música (Com’è triste Venezia), a Bienal de Veneza tem um quê de excesso de plasticidade contraposta a essa mostra alemã, pretensamente mais mental, mais florentina, seria o termo. A outra música, também presente nesse áudio da performance em Kassel, destaca um trecho do Charles Aznavour, um cantor francês, um hit clássico: “Com’è triste Venezia (Como é triste Veneza)”, igualmente editada, para deixar só este trecho que alternava com o do Jorge Ben, isto é: O que está no alto, o que está embaixo ao mesmo tempo Como é triste Veneza / Como é triste Veneza. Essa exposição, a Documenta de Kassel, é bastante importante no circuito ocidental, pretendendo ser internacional, e acontecia ao mesmo tempo da Bienal de Veneza, então era também oportuno falar de Veneza e de Kassel e manter essa polaridade, de algum modo, a polaridade que funda a arte a partir do Renascimento. É possível pensar a arte através de duas escolas básicas: a escola veneziana e a escola florentina. Essa escola veneziana estaria de Para esclarecer um pouco: artistas florentinos são aqueles similares a Leonardo da Vinci, para quem pensar e fazer são uma coisa só. Artistas venezianos, como Ticiano, por exemplo, são os grandes artistas da plasticidade, do olhar, da expressão. São duas vias que se encontram o tempo inteiro e continuam presentes na arte até hoje, indicando dois caminhos. Os dois são válidos, acredito em exercitar os dois, viver nessa polaridade. A primeira performance já havia sido apresentada, a parte do chapéu de palha, na Bienal de Veneza anterior, foi uma peça que migrou de Veneza a Kassel para se incorporar a uma complexidade maior. Já na segunda performance, apresentada no Banco do Brasil, algumas das obras ali tinham sido apresentadas em outras circunstâncias. A primeira delas era Teresa, mesmo nome da música; e Teresa era uma obra muito antiga, dos anos 70, que tive a oportunidade de realizar pela primeira vez numa conjuntura bastante favorável. Criamos muitas obras e pensamos que nunca iremos 172 173 C A DER N OS EAV TUNGA “Qual é a única disciplina no mundo que lhe permite incluir toda e qualquer coisa no seu discurso? Que eu saiba é a arte, porque ela vai procurar dentro do discurso outras ligações, outros sentidos, outras possibilidades de conectar, criar novos sentidos e compreender aquilo que anda por aí.” realizá-las, lógico que vamos, colocamos num caderninho e deixamos ali de lado, num pedaço da cabeça, esfriando. Lá pelos anos 90 alguém me comunicou que eu seria o vencedor do Prêmio Johnnie Walker, fiquei muito satisfeito, mas esse prêmio consistia na aquisição de uma pequena obra e numa exposição num museu. Naquele momento não queria nem vender obra nem fazer exposição num museu. A rigor, esse prêmio era quase um castigo, porque me obrigava a vender uma obra por um preço x, além de fazer uma exposição no Museu de Belas Artes que, para mim, não seria o perfil ideal para situar a arte contemporânea, sobretudo na época. Me ocorreu resgatar esse antigo trabalho, ligado às tranças, e que é a versão do uso mais popular das tranças, talvez não a mais popular, mas a mais saborosa que é a teresa. Teresa é a trança armada pelos presidiários, e isso é universal, para escapar. Você precisa de muito pouca coisa, um lençol, um cobertor, rasga, enrola, trança e escapa. Encontramos várias ideias embutidas, envolvidas, nessa ideia de fazer trança. A primeira delas, particularmente me seduziu e me levou a fazer tranças. É a ideia da geometria, dessa construção tão arcaica, talvez tenha sido a primeira escultura a ser feita pelos humanos, ao mesmo tempo em que os homens faziam tacapes para 174 175 C A DER N OS EAV TUNGA ir à caça, as mulheres trançavam, seja cabelo, palha, outras fibras para fazer cobertas, utensílios dos mais genéricos. O mistério das tranças reside num substrato muito arcaico da mente humana, ao mesmo tempo, parte da geometria até hoje pensada na teoria dos nós. A trança está para o quadrado, na teoria euclidiana, como a teoria dos nós para a trança, os nós seriam o primeiro, ao que todos eles se reduzem. Na trança, curiosamente, você separa três coisas independentes, uma coisa não tem nada a ver com outra, apenas a matéria, que se transforma num objeto só. uma música. Conversamos sobre a música, escrevi aquelas palavras de modo que podiam se recombinar infinitamente, criando sentidos cada vez mais múltiplos. O Arnaldo compôs um rock meio mantra que se repete infinitamente, gravamos isso e a primeira versão foi usada no Museu de Belas Artes, quando os premiados receberiam o cheque do Johnnie Walker, cheque este recebido pelos fugitivos que tinham acabado de fazer uma trança. Apagaram as luzes, eles pegaram o cheque e foram embora, isso foi incorporado. Esta performance foi reapresentada no Centro Cultural Banco do Brasil. Existia essa música, mas no vídeo ela é usada de outro modo. Voltando àquela operação, onde a arte é qualquer coisa junto, na trança temos, primeiro o gesto de fazer de três coisas separadas, independentes, uma coisa única. Várias coisas me levaram a fazer trança, essa versão são as tranças de escape. Colocar essa atividade no interior do museu, caracterizar isso sendo feito por personagens que evocam uma situação que existe efetivamente na sociedade, esta tensão social nas prisões, a vontade de evasão, transferir isso tudo para um espaço cultural, já tem uma carga semântica imensa. Essas pequenas transferências e essa apresentação de coisas juntas começa a borbulhar sentidos, e é dentro deles que devemos procurar as razões e os porquês dessas coisas. Nessa elaboração da trança, chamei o Arnaldo Antunes para fazer Aluno: E a escolha das formas dos vasos? No Banco do Brasil havia um conjunto de obras heterogêneas. Assim como juntar duas coisas me interessa, acho que construímos uma obra juntando momentos diversos de outras obras que fizemos. É um segundo momento, digamos, sinfônico. Costumo lembrar às pessoas sobre o trabalho do compositor, quando escreve uma sinfonia. Primeiro escreve um quarteto, um solo, uma linha melódica e depois vai juntando até criar uma sinfonia. Em arte é possível ter o mesmo pensamento, percebendo, compreendendo o seu trabalho como uma obra. Momentos os mais 176 177 C A DER N OS EAV TUNGA diversos podem se encontrar, produzir chispas diferentes, leituras de uns sobre os outros. Partindo dessa ideia, de que uma trança é a transformação de três elementos discretos, isolados, numa unidade só, tentei aventurar isso num outro campo. Imaginei três, quatro formas que pudessem ser geradas a partir da mesma linha. Desenhei uma linha sinuosa e percebi ser esta linha o perfil de um sino, e parte desse perfil eu poderia continuar e transformar num perfil de uma copa, de um cálice, e neste mesmo perfil poderia continuar e transformar no perfil de uma garrafa, e esse mesmo no perfil de um funil, e, assim, fui agregando algumas formas, a partir de uma linha comum, e dei volume a elas, as fiz rodarem sobre um eixo. compreender o sentido de cada palavra isolada; e trabalhar na tensão, no sentido de cada uma dessas palavras no sentido dessa frase, é uma das operações aludidas nessas peças. De um fragmento nasce um sino, de outro fragmento nasce um vaso, de outro uma copa e, curiosamente, essa linha geratriz, tal qual essa linha da trança, agrega um objeto só, e jamais será um objeto só na medida em que você reconhece o sino, o cálice, a garrafa, mas há essa vontade de estarem juntos, originária da concepção dessas formas todas; mesmo tendo objetos separados, você termina em algum lugar sabendo que eles estão juntos, eles fazem parte de uma totalidade. Essa tensão entre escrever uma frase, compreender o sentido de uma frase, e depois pegar cada palavra que compõe essa frase e Me ocorreu primeiro fazê-las em ferro, em metal, porque estaria mais próximo do sino, um objeto que seria dominante, preponderante e nos chamaria de volta ao ruído do sino. Fundi-las, também, porque me interessava esse resfriamento oferecido pela fundição, como se uma ideia que tivesse sido pensada a 1.200 graus, cinco minutos depois a 1.100 graus, tudo aquilo já está congelado, já é um corpo só, ou seja, na fundição você pega pedaços de ferro, junta, aquece tudo e eleva a uma temperatura muito alta. Depois, verte aquilo sobre um modelo, uma forma, e imediatamente faz aquelas coisas separadas serem convertidas em uma coisa só, coesa. Essa operação é também metáfora para mim, esse isolamento que seria um sino, um cálice, todos eles fundidos na mesma temperatura, mas em momentos diversos. A rigor, já estamos acumulando uma série de operações com sentido extenso. Depois me ocorreu o seguinte: como incorporar isso? Lembrei da grande sensibilidade das mulheres em se maquiar e da ideia da maquiagem como uma espécie de reencarnação. Pedi aos 178 179 C A DER N OS EAV TUNGA dançarinos3 para maquiarem essas peças, mas, dado o tamanho descomunal delas, a quantidade de maquiagem teria que ser imensa. Além disso, os dançarinos teriam que se maquiar também, terminando por maquiar o próprio corpo. Esta ação da performance durava doze horas seguidas, começou de manhã e prosseguiu pelo dia inteiro. Um processo meio inebriante, as pessoas iam ficando possuídas pelo ritmo da música, pela intensidade das sopas, pela luz. E, num dado momento, aquelas bailarinas, cuja função era maquiar sistematicamente as peças, me viram parado e começaram a me maquiar, timidamente pelo sapato, e eu disse que podiam continuar. Era um modo de falar da hipótese de um terceiro gesto, pictórico e também cotidiano, que todos nós conhecemos: se transformar num all over, numa superfície muito maior, e incorporar, fazer a mesma pele sobre o seu corpo e sobre a escultura, uma espécie de criação de continuidade; como dizer que a escultura, em sua totalidade, não apenas no seu olhar, mas o seu corpo inteiro é parte daquilo, pode dialogar com a peça, é como mais um desses elementos desenhados. O outro elemento, que faltava ali, seria o corpo com essa maquiagem. Evidente, numa situação com uma exposição dessa ordem, dada a quantidade de maquiagem, dada a intensidade do som, dada a existência de um grande contingente de atores e personagens, o público que entrava ali terminava por esbarrar naquelas formas maquiadas e se maquiar também. Foram muitas as reclamações de visitantes que entraram elegantemente vestidos e saíram manchados, eu inclusive. Você também fez parte da performance, em alguns momentos eles maquiavam você? Aluno: O que estava acontecendo ali: eu estava me incorporando àquela obra, por dentro e por fora, como a maioria das pessoas, porque eram oferecidas, no próprio coquetel, não caipirinhas ou vinho branco, mas sopas, que estavam fervendo, eram todas com base vermelha, beterraba. Evidentemente, com bebidas vermelhas, luz vermelha, maquiagem vermelha, havendo forte presença dessa intenção de transformar tudo aquilo numa totalidade, todo e qualquer personagem ali fazia parte daquela obra. Falo sobre fazer parte, efetivamente. Se entro num museu, olho para a tela, vou para casa e me lembro dela, e alguém atravessou na frente, pode ser que me lembre do contraste de cor com a roupa dessa pessoa na frente da tela. Mas numa situação dessas, a presença daquela pessoa, fatalmente, vai fazer parte da picture, da imagem que tenho da obra de arte. 180 181 C A DER N OS EAV TUNGA Hoje em dia é possível pensar o público como sendo parte da obra. Esse é um dos pressupostos dessa atitude, não acho que seja dogmático, nem necessário, ser assim com toda obra, mas é uma possibilidade de que hoje em dia dispomos, e é uma possibilidade rica, na medida em que você agencia mais coisas. O confinamento das artes face à industria cultural tem a ver, exatamente, com aquilo adquirido pelo espetáculo no último século. Você vai a um espetáculo, por mais banal que seja, é luz, é energia, milhares de coisas o envolvem, capturam, e a presença da arte é muito discreta. Mas nada nos diz que a intensidade gerada, abarcando todos os sentidos, não possa ser agenciada nesse campo de reflexão da arte, algo um pouco mais denso, e acho que me propus a isso, nessa ideia. A partir do momento em que você se deixa maquiar, você tira a sua autoridade do corpo da obra, é como se você permitisse que a obra crescesse, fosse transpassada, correto? Aluno: É correto pensar assim. Estamos tocando numa questão muito fina, o que faz a arte sobreviver? Por que ela sobrevive? Que mistério é esse aonde fazemos toneladas de excremento para três poemas, Inside Out, Upside Down, 1997 Vista da performance: X Documenta de Kassel, Alemanha, 1997 Foto: Lucia Helena Zaremba 182 183 C A DER N OS EAV TUNGA como dizia o Artaud, toneladas de acidentes, de guerras, de sangue, e quantos poemas? Meia dúzia? Que mistério é esse no qual tão poucas obras de arte, quase nada frente à produção industrial, se mantenham, e continuem tendo o valor que elas têm, não só o financeiro, mas o valor de serem preservadas, de serem cultivadas, cultuadas? Tem que se aprender a fazer arte, aprender a fazer coisas, é a curiosidade sobre todas as coisas, de que falava no começo desta palestra, se interessar sobre tudo; e depois você pensa saber o que está fazendo, seu trabalho, uma obra, um poema, uma pintura, e então percebe, depois que coloca aquilo no mundo, que o trabalho começa a te ensinar, descobre coisas que não tinha pensado sobre aquilo. No entanto, foi você quem o fez, você acha que sabe tudo, mas não sabe, e acho que a arte começa a existir a partir desse momento. É esse momento que perseguimos, esse saber que nos interessa, evidentemente, é um saber subversivo, de outra ordem, contra o saber institucional, porque obedece a regras, as mais estranhas, similares às dos sonhos, à formação dos processos primários do pensamento. Como esse sonho que relatei aqui, sonhei com a verdade e me esqueci quando acordei. Essa situação é paradoxal, é dessa ordem e dessa natureza o nosso interesse. Existe ali uma descoberta, uma hierarquia, um poder que esses objetos possuem, desses poemas feitos, se impondo, invadindo o outro. Estou descrevendo, desse modo, esse poder sutil, mas por que não falar claramente dele e se deixar invadir por esse poder? É nessa situação que o personagem ali está atuando, sendo invadido pela arte e perdendo a hierarquia. Nos surpreendemos, descobrimos um artista, um poeta, um poema e ficamos perplexos. Isso acontece com todos vocês, é a razão que os traz aqui, um dia terem estado perplexos frente a uma evidência estética, que é o que nos interessa, e é maior que nós, porque ela nos invade. Mesmo o autor se surpreende com a sua obra. Cada elemento dessa obra tem um significado, tanto individualmente como em conjunto, você vai elaborando os três elementos, mas é preciso racionalizar o máximo possível e saber o que significa cada elemento para saber o ponto. E você perde o feeling, o “se deixar levar” sem chegar a pensar sobre o fato... Aluno: A rigor, fazemos arte para saber, saber aquilo da gente que não sabemos, e que através da arte podemos vir a saber. Esse fazer, não representa o gesto de uma inocência, de se deixar ir, ou ter uma inspiração reveladora de alguma coisa. Não, é um trabalho árduo, se dirige ao limite do seu saber, da sua vontade de conhecer. 184 185 C A DER N OS EAV TUNGA Você está colocando: em que momento você opera racionalmente sobre seu trabalho e em que momento você opera sensualmente sobre seu trabalho, qual é o momento da inspiração, vulgarmente falando, da intensidade, do feeling, e em que momento você está pensando: isso é isso e isso é aquilo. É mais ou menos isso? você acerta um gesto no desenho e depois fica perplexo e pensa: “beleza, como ficou legal, acertei, acho que posso fazer isso sempre!”. Eu acho que é uma sereia que chama e te leva a dizer “não quero nem pensar sobre isso, quero ir fazendo”, e essa coisa brota e sai, e é uma sereia, também, levando você para o departamento de filosofia: começa a especulação sobre o trabalho, e você termina esquecendo a existência de um fato estético e que a razão de fazer poesia é trabalhar com uma coisa estética. Quando digo estética não é no sentido acadêmico da palavra, mas aquilo que nos faz sentir. Aluno: Costumam chamar de “gastar a onda”. Investir na onda! Onda, não se gasta, se investe. (Risos) Essa, é uma questão que acho que vai sempre me perseguir, e a todo mundo, e a conclusão, por minha experiência, é que se trata de uma tensão contínua, se trata de nos mantermos num fio entre a compreensão e a incompreensão. Descrever isso seria uma grande obra de arte e pretendo fazer isso. A atitude normal é você saber e não saber, sei que a chuva me molha, mas quando me refresca, não é a mesma chuva que me molha, é um outro prazer, outra sensualidade... Aluno: “Só sei que não entendo” – Guimarães Rosa. Só sei que não entendo! Essa pergunta, penso, pertence a quem está interessado em fazer arte e tentar descobrir a sua disciplina em relação a isso, até onde se pode ser curioso e até onde pode se deixar ir. Existe o canto da sereia desejando nos seduzir, quando Tenho a impressão que, de algum modo, quando começamos a racionalizar demais, acabamos perdendo a questão da “transcendência”. É bacana pairar sobre o trabalho, não perder o controle, mas... Aluno: Esquecer dele e aprender com ele, digamos. Se alguém conseguir enunciar direito isso que você está me dizendo, me conte, vou ficar feliz da vida. É isso mesmo, penso, o trabalho é de associação. Procuramos estudar arte, olhar obras de arte do passado remoto, da gênese da arte, porque é um tipo de saber que se dá um pouco através desse sentido também. Você se coloca à disposição do espetáculo que a coisa oferece e intriga, deixando-se levar pela coisa e só depois refletindo. Quando se reflete, percebe-se que deve 186 187 C A DER N OS EAV TUNGA se deixar levar mais ainda, e assim continuamente. É isso mesmo. coisas assolando o seu sentido, sua mente, e você tenta organizá-las da maneira mais estrita, para conseguir dar conta delas. À medida que você aumenta essa possibilidade de ser pragmático, você está mais próximo ao real, mas é bem mais difícil andar, porque são mais impregnações, é muito mais prazeroso, intenso, rico. Narrativas são possíveis. Me parece que no seu trabalho tem uma questão alinhada com a sua presença, um caráter biográfico e ao mesmo tempo ficcional. Vi um vídeo seu, há muito tempo, começava: “meu nome é Tunga”, mas não era você. Aluno: É uma anedota curiosa. Numa dessas conversas, aqui no Parque Lage, me chamaram para fazer um workshop. Eu estava com muita preguiça, estava com o Paulo César Pereio e disse a ele para ir lá e fingir que era eu. Ele deu a aula fingindo ser o Tunga, num certo momento eu disse: “Esse cara não é o Tunga, o Tunga sou eu”. É uma performance, mas tudo é performance. Vamos esquecer a palavra performance. Tudo é passível de ser impregnado por sentidos outros, que não aquele nominal da linguagem, estou aqui falando e usando este gesto que não faz parte do sentido, este gesto já é uma performance. Posso criar um gesto contraditório ao que estou falando e o sentido desse gesto passa a ser tão importante ou mais do que estou falando, amplia o sentido do discurso. Abandonamos a linguagem, como ela é concebida pelo senso comum, e começamos a utilizá-la de modo muito mais próximo a como se pensa, como se lida com o real. Um turbilhão de Quando comecei a trabalhar, observei certa vocação reflexiva, que meu trabalho estava impregnado dessa vocação que é, geralmente, encaminhada para o campo teórico, ligado à filosofia, à estética, e, obviamente, termina por se afastar do fenômeno, por tratar o fenômeno como objeto de estudo. Nunca quis me afastar do fenômeno da poesia, do fenômeno estético. Como poderia exercer essa vocação reflexiva sem me isolar do meu objeto, fazendo com que essa reflexão fosse parte do objeto, se agregasse ao objeto como sentido? É possível criar uma teoria, um conjunto de reflexões do objeto que seja uma ficção. A rigor, a teoria também é uma ficção, mas você pode usar essa ficção e incorporar outros objetos mais “divertidos”. Nessa medida, você faz uma paródia da crítica de arte, também. Assim, a crítica é uma construção que pode pertencer à obra, como a percepção de uma obra pertence à obra, assim como estar 188 189 C A DER N OS EAV TUNGA presente frente a uma obra de arte é se colocar no interior dessa obra e incorporar a ela um sentido novo. estético, e, eventualmente, não gostamos de algumas companhias. Mas é preciso, antes, tomá-los, não como algo individual, autoral, mas pensar isso num conjunto maior, isso enriquece. Essa atitude é apenas uma formalização de uma coisa que está presente, latente, é uma prática comum, mas jamais é anunciada com essa graça, pois pretende um ar de seriedade por ter sido investida de um poder cultural. Poder cultural este que termina eliminando ou destruindo modos de pensar. Gostaria que essa prática, da teoria, fosse sempre uma prática enriquecedora, o pressuposto desse exercício será sempre enriquecedor em relação à obra de arte. Esse modo de ver e usar isso dentro do meu trabalho é, a rigor, também o meu modo de ver o trabalho dos outros. Olho o trabalho dos outros como sendo meu trabalho e, quando estou vendo a obra dos outros, é também um pouco do meu trabalho, porque possuo uma visão única daquilo. Todo mundo tem uma visão que, em algum momento, é única de uma obra de arte do outro. Já falei aqui da “quantidade de merda pra pouco poema”, citando o Antonin Artaud, que, num certo momento, processou outro escritor que teria publicado um romance plagiando ele. O Artaud abriu um processo na Justiça, mas parece que este romance já tinha sido escrito. Esse exemplo traduz um pouco essa verdade, de que existe certa temporalidade, certa incorporação do trabalho dos outros. A rigor, todos nós fazemos parte de um barco, mobiliado de poesia, saber Recentemente, tive uma experiência e pude colocar à prova essa questão. Uma inquietação que paira sobre o meu trabalho, sobre uma questão muito atual: a questão do poder de certas culturas hegemônicas do Ocidente que enunciam a arte como uma coisa feita em uma sociedade avançada, num contexto cultural, etc. Ao mesmo tempo, arte contemporânea, com-tem-po-râ-ne-a: tem um cara no Tibet fazendo uma mandala, na África, fazendo um ícone, uma fogueira, etc., isso parece não entrar no discurso da arte contemporânea, porque ela só lida com valores da alta sociedade, desenvolvida no Ocidente, pela alta racionalidade, ou seja, eixo Nova York-Londres-Paris-Milão, etc. Uma das minhas inquietações é que o trabalho seja passível de compreensão por pessoas dos mais diversos meios culturais. O fato de você usar elementos precisos e claros, oriundos de um contexto cultural preciso, isola o seu trabalho. Por exemplo, quando olho o cachorro-quente do Lichtenstein ou uma lata de Campbell soup do Andy Warhol, sou capaz de apreciar isso, mas tenho um certo desgosto de ser obrigado a saber o que é sopa Campbell, isso realmente não contribui para a minha cultura, é apenas afirmação da hegemonia de produtos culturais locais, num 190 191 C A DER N OS EAV TUNGA determinado contexto. Há uma inquietação no meu trabalho ao falar de coisas passíveis de serem compreendidas por contextos bem mais amplos. Se vocês olharem bem, dentro do repertório, uma trança, um sino, um pente, cabelo, maquiagem, estou falando de coisas que gente de qualquer lugar do mundo, em qualquer época, é capaz de entender. As primeiras sociedades, ainda paleolíticas, produziram sino, produziram tacape, trança, maquiagem, se pintavam. Você cria um vocabulário acessível, é uma boa tarefa para nós, situados neste hemisfério, nesta posição, pensar desse modo. uma parte do público passa a ter, “isso é uma porcaria, isso é bom”, faz parte desse jogo. Mas há museus como o Louvre ou a National Gallery de Londres, há similares a eles em Pequim e vários cantos do mundo, para não falar só nesses campos hegemônicos, há visitas a esses lugares similares a um museu de antropologia, você vai lá, sabe que vai ver arte e aquilo é arte porque parece que Deus disse que é arte. Aquilo é tão sério, tão conotado de sentido e passou por tantas peneiras na história, que te oferece quase certeza de que vai ver arte. Um lugar onde você vai botar uma obra de caráter um pouco estranho e sabe que o público vai chegar lá e já considerar aquilo como arte, chegar acriticamente, é uma equação curiosa da arte contemporânea. Recentemente recebi um convite do Museu do Louvre para fazer uma exposição, instalar uma peça embaixo da pirâmide. A pirâmide do Louvre é um lugar bizarro, um lugar de visitação maciça, quatro milhões de pessoas assistiriam a isso. Público hoje em dia é muito fluente, expor no Museu do Futebol, Museu de não-sei-o-quê, como fiz em Kassel, 120 mil pessoas vão ver o trabalho... Vão ver coisa nenhuma! Vão passar por ele, ver é outra coisa. Pessoas que vão ao museu vão ver arte, normalmente, vão ao museu nesse ritual de arte contemporânea, vão ver e, em geral, criticamente. Você vai ao MoMA de Nova York, mas se dá ao luxo de dizer gosto disso ou não gostei disso, isso não entendi. Essa é uma atitude que dá certo conforto ao público, poder estranhar, e é até um pouco a graça dos museus de arte contemporânea, essa indignação que [ Exibição do vídeo sobre a obra exposta no Louvre4 ] Reparei que você usa alguns símbolos que remetem à morte: a caveira, a morte do sapo... O trabalho do início é melancólico, dramático, teatral. A escolha de usar esses símbolos tem a ver com a sua vida, com algo que você queira mostrar, ou com a contemporaneidade de uma maneira geral? Aluno: Não. É curioso você dizer isso sobre a morte, porque para mim não é uma coisa presente como símbolo. Um dos significados da caveira 192 193 C A DER N OS EAV TUNGA “Nos surpreendemos, descobrimos um artista, um poeta, um poema e ficamos perplexos. Isso acontece com todos vocês, é a razão que os traz aqui, um dia terem estado perplexos frente a uma evidência estética, que é o que nos interessa, e é maior que nós, porque ela nos invade.” é a morte quando você a reconhece dessa forma, mas nós portamos em vida uma caveira, todos nós. Talvez a intensidade dessa ideia de morte seja para reafirmar a continuidade, a transformação. Um dos temas, que é contínuo e se ligaria àquela ideia de conjunção, de colocar duas coisas e surgir uma terceira, são as sucessivas transformações. É pensar dinamicamente, os sentidos se formam e são incapazes de ser estáticos, estão sempre evocando outros sentidos. E, possivelmente, se colocar duas coisas juntas elas vão ter uma atração e haverá um sentido comum nessas mesmas duas coisas, sendo capaz de se ligarem, para gerar outras. Alunos: A sua intenção é deixar os trabalhos abertos para nossa interpretação, totalmente abertos, ou você acha que tem alguma coisa que fecha esses sentidos? Nem um nem outro. Acho que sim, totalmente aberto, o mundo está aberto a interpretações e os produtos que se fazem a partir do mundo, as transformações também são abertas a interpretações. Coisas não abertas a interpretações são sinais de trânsito: em vermelho você para, porque te coloca em risco. A arte é um território onde você pode produzir, cutucar o imaginário alheio, e esse imaginário pode ser surpreendente. Restringir o 194 195 C A DER N OS EAV TUNGA sentido a uma possibilidade, a um conjunto de sentidos precisos, seria restringir esse poder da linguagem da arte. daquela tribo inteira. Isso não aparece no filme, aparece aquele conjunto de caveiras que, embora não possamos analisar morfologicamente, intuímos que sejam todos parentes ou relacionados, e nos dá uma ideia de multiplicidade da morte. O fato de achar uma prótese dentária reabre o sentido para reintroduzir a narrativa que já estava ali antes. Transformo essa narrativa em algo mais dramático: ao invés de achar aquela obturação numa boca viva, achar na boca de uma caveira. Por outro lado, existem interpretações que estão implícitas, você constrói coisas, um objeto poético é uma construção que tem as suas normas, suas razões internas, suas coesões e indicações de como funcionam. Dificilmente vai se contrariar aquilo, é preciso compreender isso, os esquemas formais que viabilizam aquilo como linguagem, isso é rígido. Esses esquemas formais, se existem, estão ali exatamente para abrir o território dos sentidos e não para restringi-los a um só. Sobre a recorrência de signos de morte, eventualmente ou evidentemente, ali existem construções em que a morte reincide sempre, mas nunca como finitude e sempre como abertura para alguma coisa. O conjunto de caveiras observadas naquele plano, que estão no chão, aconteceu por acaso. Estávamos filmando5 no Museu Histórico Nacional e eu estava procurando outra sala, de repente, abri a porta e vi essas caveiras no chão. Perguntei de que se tratava e me informaram que uma das doutoras que estava trabalhando ali fazia um estudo e aquilo era uma tribo inteira de índios dizimada por um vírus de gripe, possivelmente levado pelos brancos, e ela estava fazendo um estudo para tentar identificar a causa mortis Esse modo de construir, de contar uma história e de impregnar de uma história o conteúdo da obra, é um modo de enriquecer e abrir mais portas; quanto mais portas abertas, mais se pode criar uma fluência, uma evasão de sentidos para adensar a obra. Por que adensar a obra? Porque a característica maior da linguagem e aquilo que mais nos seduz na linguagem humana é exatamente a abertura de sentidos, é a possibilidade de surpreender com um sentido novo. As linguagens construídas lidam com um território hoje em dia muito desenvolvido por causa da informática, você constrói sistemas de linguagem fechados. A linguagem natural, que é a linguagem falada, já está demonstrada pelo Kurt Goebel6, um matemático lógico, isto é, toda linguagem em que a ideia de contínuo esteja embutida fatalmente será autocontraditória em 196 197 C A DER N OS EAV TUNGA algum momento. A linguagem humana é incompleta, não haverá jamais um discurso completo. O discurso pode abrir mais sentidos, não criando uma coerência total, porque sempre haverá uma incoerência em algum momento. Procuramos essa incoerência, é paradoxal essa situação do limite da linguagem, onde ela explode para um sentido que não carrega mais. Tudo isso nos interessa, porque nos faz relacionar uns com os outros não a partir dos códigos sociais dados, senão estaríamos nos relacionando só a partir daquilo que cada um é segundo as normas – “sou aquele cara que faz isso, etc.”. A arte faz surpreender, desperta o sentido de surpresa que a linguagem, característica do humano, nos imprime, nos oferece. contínua. Esse toro seria o modelo ou a referência para como as histórias vão acontecer, como os sentidos vão se formar, sentidos que eu agencio, eu capto, edito, lanço, eles funcionam como se existissem dentro de um toro. Essa construção que você fez dos recortes das imagens não foi aleatória, você criou um efeito de circularidade, não é? A pintura, por exemplo, considera sua existência a partir de um plano, fala-se da materialidade da pintura, materialidade? Plano não existe, é uma suposição teórica, um lugar geométrico da continuidade, da equidistância. O toro é outro lugar geométrico, mas fala de um espaço geométrico, um espaço em que as coisas terminam por se reencontrar, toda paralela pode se encontrar, não há o estatuto da paralela sobre o modelo do toro. Aluno: A ideia de circularidade aí é mais a recorrência de ciclo, retransformação. O objeto modelo onde as coisas acontecem está explicitado na narrativa do começo ao fim deste filme ÃO 7, em vários momentos, pela presença do toro, daquele anel circular. Toro, para quem não sabe, em topologia, que é um modo diferente de pensar a geometria, é um lugar geométrico com um buraco só e uma superfície Como construção do filme, está não só na narrativa, como no modo de organizar diversos trabalhos. Quando fiz esse filme, antes tinha feito a história das siamesas capilares, que apresentei num congresso de psicanálise, e era o primeiro modo de conectar uma série de obras que havia realizado no curso de sete ou oito anos. As obras eram a trança, o tacape de ímã, aquela cabeleira com pente, etc., aparentemente, trabalhos muito díspares e eu tinha um projeto de que todos esses elementos deveriam estar juntos. A história é bastante longa, mas vou tentar encurtar por 198 199 C A DER N OS EAV TUNGA um dos caminhos dela. Uma forma de colocá-los reunidos foi naquela pintura sobre seda, em que coloco os objetos um ao lado do outro, criando um objeto total composto por essas partes, tal qual mencionei o sino, cálice, etc. Outro era a narrativa contando a história das gêmeas capilares, que dava conta da totalidade desses objetos, dessas esculturas todas que eu havia produzido. A segunda versão foi o filme, a terceira já foi a escultura, e assim sucessivamente, mas o que está por trás, o que rege tudo, é essa presença do toro, é um modo de pensar no espaço não euclidiano, não newtoniano, é um modo de pensar no espaço topológico; a rigor, a construção funciona nos lugares geométricos da construção, são conexões improváveis. é uma coisa problemática, isso não é ruim, porque todos nós somos cheios de problemas; somos problemáticos porque somos finitos e construídos de uma incompletude. Temos sempre uma vontade de completar, de organizar essa finitude, mas sabemos: vai acabar e não vamos dar conta dessa complexidade. Essa relação seria a fagulha do significado inicial do seu trabalho? Aluno: O significado inicial é uma questão: existirá um significado inicial? A questão é interessante na medida em que volta a recolocar a posição do artista, sua presença, o que é um artista. Qual a diferença de um artista para um não artista? Acho que nenhuma. É apenas a atenção que aquele sujeito dá aos seus problemas, à sua problemática, ou seja, ao seu conjunto de significados iniciais. Vamos falar não só de um significado inicial, mas de uma situação problemática. O ser humano É um modo de cada um lidar com sua incompletude. A sua problemática é que imprime à linguagem uma visão pessoal, é isso que se chama de artista. Todos nós sonhamos e cada sonho, de cada artista, das pessoas mais bizarras e estranhas, vai ser diverso de outro, único e particular, intransferível. Na medida em que consegue transferir esse sonho, ele vai começar a ser artista. O modo de você ditar essa sua complexidade inicial em linguagem faz de você um artista; somos todos artistas e precisamos encontrar esse modo de expressar. Você fala muito da questão do sonho. Tem algum motivo? Aluno: Falo muito do sonho porque passamos metade da vida dormindo e mal nos damos conta disso. E depois porque, embora a psicanálise seja extremamente vulgarizada no Ocidente, a relação que se tem 200 201 C A DER N OS EAV TUNGA com o sonho continua sendo arcaica e o sonho continua a ser um lugar depositário do saber sobre nós mesmos arcaico. Não damos muita bola para um sonho nosso, ou fazemos interpretações ora de um jeito ora de outro. Mas no sonho você agencia metade da sua vida, está próximo aos processos primários de elaboração da linguagem. Acho didático falar do sonho, é mais por isso. conseguir formulá-los através de uma linguagem, qualquer linguagem, pode ser cozinhar sopa, como no caso da exposição. Cozinhar sopa vermelha, oferecendo aquela situação, não é só o sabor da beterraba, não é só o sabor do morango, das frutas vermelhas. É lembrar que aquelas pessoas que tomaram a sopa de beterraba, quando fizeram xixi foi avermelhado. O vermelho estava incorporado em seus corpos, a consciência desse vermelho interno sai sob forma de xixi no dia seguinte. Entre a maquiagem e o xixi vermelho, você está ocupando bastante território do seu respeitável público, ou seja, você autoriza as pessoas a se sentirem parte daquela obra. São esses dispositivos que vamos criando para cercar um trabalho, para cercar a vontade de criar um significado, de apresentar uma problemática e apresentar esse sujeito problemático na sua integridade, para que ele seja ressonhado por outro e talvez nos entenda. Fornecemos elementos para tentar nos fazer reconhecer pelo outro como humanos, e ele tente sonhar o mesmo sonho. Oferecer sonhos para serem remontados, ou sonhos remontados sem você estar dormindo, e sim consciente; logo não são sonhos, mas são da mesma natureza que os sonhos. Na vigília, você é capaz de viver uma intimidade com seu self com uma agilidade capaz de lidar com o cotidiano, e isso é uma situação interessante para o mundo. A rigor, poderia fala do esquecimento, dos momentos de devaneio, talvez sejam tão ou mais intensos que os sonhos e estamos na vigília, acordados, no dia a dia. A atenção nesse momento é também um paradoxo, mais ou menos como o primeiro paradoxo de acordar, sonhar com a verdade e me esquecer quando acordei. Prestei atenção quando estava distraído, essa atenção a essa distração, ou esse conhecimento do universo dos sonhos, dentro dos sonhos, talvez seja a resposta à questão que você me colocou. Pensar na razão, pensar em reconstruir o sonho ou se deixar levar por ele. Ou pensar em como construir um poema, como construir uma obra de arte, ou se deixar levar pelo fazer daquela obra. Quando prestamos atenção no devaneio, a distração já não está mais, sabemos como é e procuramos essa situação. Criar, fazer arte é criar condições para ficar nesses estados intermediários e Aluno : O seu processo criativo vem em forma de sonho? 202 203 C A DER N OS EAV TUNGA Você não inventa na sua imaginação? Como se dá seu processo de criação? A minha produção não vem dos sonhos e nem sequer dá atenção aos sonhos. Estou usando e abusando dos sonhos porque não estou sonhando. Vem de saber que existem processos – e a prova disso são os sonhos – de compreensão, de apreensão, nos deixando frente ao mundo real e não são só aquilo que aprendemos no convívio social, nas instituições que nos oferecem educação para se conviver e viver. Tem o lado do ser humano deseducado, ineducável ou irredutível aos padrões de educação, são eles vivenciados aqui e continuam emergindo. Eles afloram sob a forma de violência e são quase indomáveis. Aspectos que a arte resgata e traz a um bom caminho, bom na medida em que existir um caminho humano. Seria preciso nos alongarmos muito nessa reflexão para tentar saber o que é o humano. Sei que humano não é só aquilo que todos os dias nos dizem que é, estou convencido de que as normas sociais não me fazem humano, me deixam apenas ser humano. Gostaria de encontrar uma sociedade em que emergissem mais dessas categorias, em que as relações humanas se intensificassem, o amor fosse de outra forma e exatamente pudesse lidar com esse humano que somos obrigados a recalcar, acalmar, esconder para lidar uns com os outros e formar uma sociedade. Queria que você falasse um pouco da sua formação profissional. Você fez arquitetura, mas chegou a exercer a profissão? Aluno: Muitos seguiam para a arquitetura como uma espécie de compromisso, para ter uma posição liberal na sociedade, lidar com arte e ao mesmo tempo lidar com a técnica, era talvez como a informática é hoje. Muita gente na minha geração estudou arquitetura. A arquitetura me deu – não a Escola de Arquitetura, que levei muito pouco dela – a atenção e a prática do exercício, as convenções para construir e a necessidade de perceber, de se fazer consciente das dimensões com as quais a arquitetura equaciona, extremamente enriquecedoras para alguém que lida com escultura. A escultura tradicionalmente é alguma coisa vista de fora e, recentemente, no século passado, começou-se a falar do que hoje chamamos de instalação. A única diferença da instalação, iniciada com Kurt Schwitters em 1912, para a escultura é que na instalação você está dentro e na escultura você está fora. Quando se trata de arquitetura você está dentro e fora, essa tensão e experiência da arquitetura talvez me tenham dado muito subsídio e 204 205 C A DER N OS EAV TUNGA muitas facilidades para compreender e lidar com essa linguagem de estar dentro e fora. Coloco a questão radical da continuidade entre exterioridade e interioridade uma vez que arquitetura é abrigo e monumento, sendo abrigo um lugar onde se acolhe e monumento um lugar onde você honra alguma coisa. Aluno : Você fala de outras culturas, das mandalas, do ícone chinês. Não é um pouco eurocêntrico considerar essas manifestações arte? Não seria o contrário? Elas não são feitas com esse objetivo, são rituais... Você tem toda razão, são rituais em que a arte não é sequer um estatuto. Seria você compreender a existência de uma fusão inexorável que está acontecendo no mundo, onde certas estruturas ocidentais terminam se impondo e se generalizando, resgatar um território mantido misteriosamente, como é o da poesia e da arte – da arte falamos depois, porque estamos vivendo à beira de um abismo em relação à arte. Mas manter esse território, onde o espírito vai se manifestar de outro modo e não dentro da ordem da razão, como se espera, é saudável. Trazer esses objetos, que são manifestações de outras culturas, para um modo de pensar artístico no Ocidente é apenas identificar Vanguarda Viperina, 1986 Três serpentes, éter Foto: Lucia Helena Zaremba 206 207 C A DER N OS EAV TUNGA aquilo de positivo no Ocidente na relação com a poesia, com aquilo que há de positivo no processo de elaboração de linguagem nessas outras culturas. Isso não é uma coisa nova e é bastante discutível. Coloquei essa questão no trabalho apresentado no Louvre. O nascimento dos museus está estritamente ligado à dominação de um povo sobre outro; o museu, a rigor, não deixa de ser o lugar de pilhagem, daquilo que você toma do inimigo quando invade a casa dele. Os museus são uma espécie de resgate desse saque de dominações, de guardar o lado precioso. São operações distintas, de ordem diversa, e você encontra uma intimidade muito grande em manifestações de culturas, as mais diversas. O lugar da poesia no Ocidente, onde você ainda consegue estabelecer esse diálogo, é esse lugar. Quando vou em direção a outra cultura, olhar outro tipo de manifestação, vou com meu espírito aberto de poeta, não de artista, de profissional. Por acaso, você vai encontrar muito dessas coisas em museu de antropologia, etnologia, arte, mas o que vou procurar não é arte, basicamente, é outro modo de pensar o mundo, muito mais persistente que os últimos trezentos anos de razão. O que existia nessa peça do Louvre era quase que um texto sobre isso. Tinha uma balança, onde de um lado havia caveira e de outro havia réplicas de cabeças que estavam no Louvre, da cultura grega, de culturas diversas. Havia uma alusão a isso, a quanto de domínio foi exercido para guardar esse tesouro precioso, um bem comum do humano. Quanto o homem destruiu, a partir de seu antagonismo com outra tribo, para no fim reconhecer o tesouro dessa tribo? Que estranho movimento é esse, para assimilar o que há de bom no outro é preciso destruí-lo? Acho que o museu é uma síntese perversa disso, ele guarda a memória do saque. Não parto do princípio da arte, inclusive tenho usado sistematicamente a palavra cozinha aqui até para evitar essa confusão. Quando você vai ao Oriente é muito surpreendente, em certas regiões, o fato dos caras pensarem, o modo que isso repercute na representação daquilo que é vida, é extraordinário. Você compreende essa linguagem lidando com signos, símbolos, mas com um discurso armado, e você é capaz de conversar sobre isso com essa linguagem, pelo fato de estar habituado com esculturas e coisas dessa ordem. O que se deve proteger não é o meio de arte, não são os museus, sou contra isso tudo, mas outro dispositivo mental, outro modo de pensar capaz de dialogar com seres humanos que produzem coisas, as mais diversas, mas que você pode interpretá-las. Por exemplo, você entra de manhã no banheiro, lava a mão com sabonete, vai embora e 208 209 C A DER N OS EAV TUNGA deixa aquele sabonete ali, no dia seguinte você faz a mesma coisa e o sabonete está ali. Um dia você se dá conta do sabonete como uma escultura. A rigor, essa operação que você está fazendo, homeopaticamente, é exatamente uma operação de fazer uma escultura, pegar uma quantidade de matéria, colocar ali e retirar até fazer uma escultura. Não é dizer que você está trazendo o sabonete para o campo da arte; não, estou transformando a minha vida em algo mais positivo, é saber que lavar as mãos não é só para limpar as mãos, olhar não é só para não cair no buraco, mas para desfrutar de outras coisas, para compreender o mundo de outro modo. uma grande exposição na França chamada Magiciens de la terre, organizada por Jean-Hubert Martin, o curador, e foi a primeira vez que ele trouxe para o museu uma diversidade cultural. Ele foi muito acusado de acrítico ou de ser eurocentrista ao contrário. Eu estava expondo e meu vizinho era um monge tibetano desenhando mandalas de areia. Hoje em dia arte virou profissão, quando comecei era “vagabundo”, hoje temos a impressão de que o meio de arte é uma coisa poderosa, museus, galerias. Isso é uma balela do começo do milênio, do século, daqui a dez anos se esquece e fica na moda um outro negócio. Arte é aquela tarefa solitária de procurar alguma coisa que você quer ver de outro jeito, não porque você faz daquilo uma profissão e seu meio de vida. Acho que é importante ser crítico em relação à ideia de arte do Ocidente. É onde a gente lida, joga, e onde a gente transita, mas acho importante manter essa distância crítica, essa vigilância crítica em relação ao que dizem ser arte ou não. Na década de 80 houve Há uma anedota bem curiosa: o cara chegou na hora do almoço com seu séquito e perguntaram se ele queria comer, e o pessoal dele disse que sim, até que tanto insistiram e ele disse que não comia. Ele estava ali como artista, mas é evidente que ele não era artista nesse sentido ocidental, o preço que há de se pagar para ter essa audiência, essa proximidade, talvez seja o preço dessa crítica. É uma questão política ver se vale a pena ou não lidar com isso. Em relação ao modo de ver, ao modo de perceber, acho que é bom estarmos atentos e conscientes. Como no começo da conversa, em que falei da instalação para a inauguração do Banco do Brasil de São Paulo, o vetor era revitalizar uma área urbana de São Paulo e por isso queriam um centro cultural naquela área. Uma área vital, cheia de vida, cultura popular emergente! O seu trabalho me parece ligado a uma coisa espiritual. Aluno: 210 211 C A DER N OS EAV TUNGA Talvez seja um anacronismo, mas acredito ser uma coisa pendular na cultura do Ocidente recente, um tempo muito rápido, muito acelerado, há uma desmaterialização do conteúdo espiritual na história da arte e uma volta. Quando se tende a um esvaziamento total de conteúdo, se tende a uma volta. Espiritual é uma palavra difícil, me lembra Rothko ou Malevich, mas hoje em dia falar nisso é complicado. Aluno: É uma palavra complicada. Estava falando nas fronteiras da linguagem, as bordas da linguagem, as bordas da percepção, talvez seja o fato de trabalhar com limites tão tênues, tão sutis, me obrigando a usar o vocabulário dessa maneira. Durante muitos anos fiquei extremamente triste ao usar esse vocabulário, e até usava a palavra “emergir” fora do contexto, mas hoje em dia é mais negócio você correr risco e tentar fazer presente e evocar coisas mais sutis com que a vida lida, a linguagem lida, do que passar por um nacionalista estreito e deixar passar essas coisas como sendo banais. A vida, penso, está mais apoiada nessas pequenas coisas, nessas sutilezas, do que nas grandes razões. Costumo dizer que somos monoteístas, politeístas, ou falsos ateístas, mas tenho encontrado bastante dificuldade em ser convencido por um ponto de vista ateísta. Aluno: Mas aí você cai no agnosticismo. Caímos muito longe. Uma espécie de humanismo universalista, ou para-humanismo, porque para falarmos com árvore não custa! (Risos) 212 213 C A DER N OS EAV TUNGA Notas Saiba mais 1. Inside up outside down – performance apresentada na X Documenta de Kassel, Alemanha. A peça principal desta performance era um enorme chapéu de palha (no estilo veneziano), abaixo do qual e sustentando este chapéu, várias jovens caminhavam pela estação de trem. Acima do chapéu, várias caveiras acomodadas como parte dele. TUNGA. Assalto. Brasília: CCBB-Brasília, 2001. 146 p. 2. Resgate – performance apresentada no Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo. Nota: Os trabalhos podem receber mais de uma realização, por isso é comum encontrarmos nomes distintos para diferentes versões destes trabalhos, na verdade, desdobramentos de ideias. No caso, por exemplo, de Resgate, outras versões foram realizadas com os títulos de Assalto e Teresa. 3. Bailarinos da Companhia Lia Rodrigues de Dança. 4. À La Lumière des Deux Mondes – escultura montada no Museu do Louvre, Paris, 2005. 5. Filme O nervo de prata, de Tunga e Arthur Omar, 1987. Xifópagas capilares – dupla de gêmeas unidas por uma única cabeleira, objeto, performance e filme realizados primeiramente nos anos 80. 6. Kurt Goedel – (1906-1978) – matemático austríaco cujo trabalho mais famoso foi o teorema da incompletude. Nos anos 40 imigrou para os Estados Unidos para trabalhar na Universidade de Princeton. 7. ÃO – instalação de som com filme 16 mm, montada em 1981 na Galeria Cândido Mendes, Rio de Janeiro. 8. Kurt Schwitters – (1887-1948) – pintor alemão que trabalhou com diversos tipos de mídias, utilizando poesia, som, pintura, colagens, escultura, desenhos gráficos, tipografia e aquilo que viria a ser conhecido como instalação. Figura atuante no dadaísmo, construtivismo e futurismo. TUNGA. Barroco de lírios. São Paulo: Cosac & Naify, 1997. 308 p. TUNGA. Caixa de livros Tunga. (Olho por olho, Encarnações miméticas, Se essa rua fosse minha, Lúcido Nigredo, Prole do bebê, Trou rouge e Cartaz Louvre). São Paulo: Cosac & Naify, 2007. 214 215 C A DER N OS EAV apoiadores APOIADORES CADERNOs EAV Adriana Carrasco Alice Strauch Aline Carreiro Ana Costa Ana Cunha Ana Franco Ana Hortides Ana Lucia Leal Ana Luiza Moraes Ana Santeiro Analu Cunha André Dametto Andrea Matriciano Anna Helena Cazzani Antonio Caetano S. Neto Antonio F. de Queiroz Junior Augusto Lima Barbara Emanuel Barbara Targino Benjamin Rothstein Bet Katona Beth Young Bia Amaral Brigitte Bruns Bruna Fazolo Bruno Belo Cadu Carli Portella Carlos Alberto Mattos Carlos Zilio Carmen Ferreira Carmen Silvia Nora Dias Carole Chueke Carolina Cattan Carolina Cortes Carolina Kaastrup Cata Schedel Cathrine Clarke Clarissa Baumann Clarisse Rivera Claudia Hirszman Claudia Moog Claudia Saldanha Claudia Tebyriçá Claudio Diegues Claudio Gabriel Cláudio Luiz Garcia Cristiane Friggo e Barros Cristiane Geraldelli Cristina Amiran Cristina Cantergiani Cristina de Pádula Cristina Pimental Cristina Salgado Cristine Flores Daniel Penteado Daniel Yuhasz Débora Guimarães Diana Josefina Rosa Guenzburger Dulce Lessi Eduarda de Aquino Edval Ponciano Carvalho Elisa Brasil Elizabeth Jobim Ernesto Neto Evangelina Seiler Evany Cardoso Fátima Pereira Fernanda Pequeno Fernando Abrao Flavio Colker Franz Manata Frederico Bonfatti Gabriela Caspary George Kornis Gilberto Malva Filho Giodana Holanda Gisele Leme Gloria Ferreira Gloria Marcia Percinoto Gloria Seddon Gustavo Peres Gustavo Torres Herbert Hasselmann Illiada Carvalho Isabella Fernandes Jacqueline Medeiros Jacqueline Paschoal Jayme Fuks Jj Junior João Modé Jonas Aragutti Jose Antonio Ferreira José Eduardo Nogueira Diniz Jozane Braz Resende Julia Rebuzzi Karla Barros Katia Borneo Khalil Charif Laura Barreto Leila Ripoli Leo Ayres Leonita Colussi Lia do Rio Lidice Matos Lila Montezuma Lilian Zaremba Livia Flores Loise Rodrigues Lucas Milanez Leuzinger Luciana Algarte Luciana Paiva Luciano Diniz Lucimara Letelier Luiz Vergara Luiza Aché Lyana Peck Lydia Carmo Malu Fatorelli Manny Bernabé Manoela Cardoso Marcel Alcantara Marcelo Cattan Marcelo Diego Marcelo Rocha Marcia Britto Marcia Limoeiro Marcia Regina Fregolon Marcio Zardo Marcos Bonisson Maria Ângela P. Caetano Maria Clara Barbosa Maria Clara Dias Maria Cristina R. Amendoeira Maria Cristina Sacramento Maria Direnna Maria Florentina Camerini Maria Mendes Maria Mercedes Lachmann Maria Rocha Maria Romani Maria Tornaghi Marilia Xavier Marilú Santos Marina de Andrade Marisa Bessa Marisa Braga Martha Hirsch Gusmão Martha Niklaus Matheus Pizão Maysa Britto Mila Bianco Monique Lima Monocromo Nelson Felix Norma Spagnuolo Olga Alencar Ovideo de Abreu Pauan Soares Paula Santa Rosa Pedro Struchiner Priscila Guedes Raquel Holsbach Regina Amorim Mendes Regina de Alencar Rosa Regina de Paula Regina Werneck Renan Pinto Ricardo Becker Ricardo Senra Rick Yates Roberto Tavares Rodrigo Bocater Rogério Emerson Roselene Sergio Sandra Felzen Sergio Albuquerque Brandão Sergio Martins Sergio Ribeiro Silvia Neves Simone Michelin Simone Rodrigues Suzana Queiroga Suzy Fecher Tadeo Saldanha Tamiris Thomazini Tania Queiroz Tatiana Moura Tatiana Podlubny Teresa Salgado Tina Velho Tom Ferr Vanessa Gerbelli Vanessa Rocha Vera Cordeiro Victor Mattos Vitor Zenezi Viviane Matesco Viviane Teixeira Waleska Praxedes Wan Olissant Zalinda Cartaxo __ AMEAV A Gentil Carioca Monocromo Prêmio PIPA REAL IZAÇÃO PAT RO C ÍN IO
Download