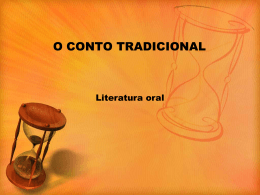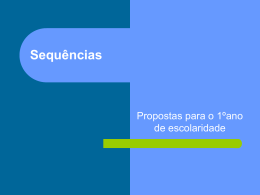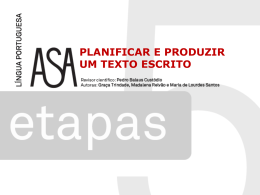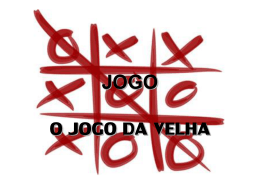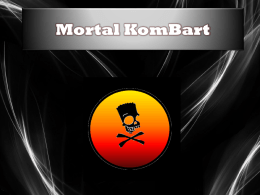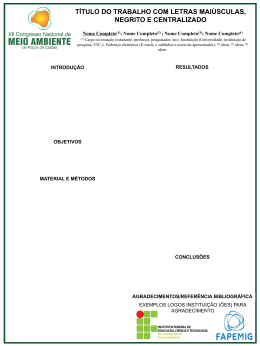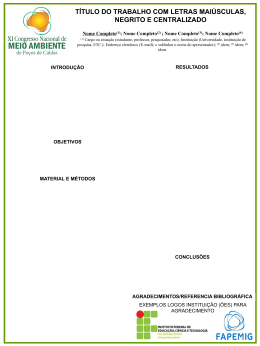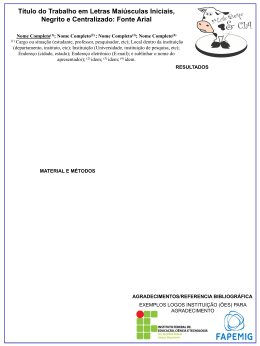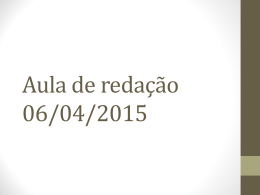[REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] Cultura e Identidade: uma análise antropológica do conto “Esta casa abençoada” de Jhumpa Lahiri Fernanda Pacheco da Silva Huguenin1 Introdução Sanjeev é engenheiro e alto funcionário de uma empresa americana. Twinkle é mestranda do curso de Letras de Stanford. Ambos são indianos, embora tenham passado a maior parte de suas vidas nos Estados Unidos. Conheceram-se por meio de um arranjo de seus pais, durante uma festa na Índia. Em pouco mais de quatro meses estavam casados e agora tinham se mudado para o estado de Connecticut. Em plena mudança, Twinkle começa a achar imagens cristãs pela casa, como um Cristo de porcelana branca, guardado num armário em cima do fogão. Aos poucos, ela passa a colecioná-las, para o desagrado e a irritabilidade de Sanjeev, que não entende como sua mulher, sendo hindu como ele, poderia querer mantê-las na decoração da casa. Quando todos os achados parecem ter sido desvelados e a casa finalmente está arrumada, o casal oferece um jantar para os amigos de Sanjeev. Estes são, resumidamente, o cenário, as personagens e a trama do conto “Esta casa abençoada” do livro Intérprete de males, publicado em 1999 e ganhador do Prêmio Pulitzer de 2000, da escritora Jhumpa Lahiri. Reunião de nove contos, a obra trata do encontro entre Oriente e Ocidente a partir das vivências cotidianas de indianos radicados em Boston e de americanos de origem indiana. As memórias da terra natal, os espantos e a falta de habilidade com um mundo diferente e, sobretudo, as experiências de tradução cultural compõem o tópos do livro. As personagens criadas nos nove contos são verdadeiras intérpretes de símbolos e significados entrepostos em condições de liminaridade, isto é, em entrelugares onde o borramento contumaz de identidades desliza continuamente em 1 Professora da Universidade Cândido Mendes - UCAM. 1 situações de estranhamento, etnocentrismo e choque cultural. Aliás, estas situações podem ser também a experiência da própria Jhumpa, filha de indianos, nascida em Londres e crescida em Rhode Island (EUA). O livro como um todo ressoa a fala pós-colonial de personagens não apenas em posições confortáveis, com vistos, green cards ou naturalizadas, mas também aquelas marcadas pela migração de indivíduos fugidos do subdesenvolvimento e atraídos pela possibilidade de ascensão, ainda que numa condição subalterna e num país estrangeiro. Em Intérprete de males, a autora retrata literariamente o processo que Homi Bhabha (2003) chama de “DissemiNação”, isto é, a experiência da diáspora que funda o duplo, o cindido, o híbrido, o autômato e que nos impõe revisar os conceitos de cultura e identidade em perspectivas mais performativas ao invés da fixidez essencializada e enrijecida que a própria idéia de conceito sugere. Minha proposta neste artigo é utilizar o conto “Esta casa abençoada” como suporte para uma reflexão sobre cultura e identidade, discutindo, a partir da trama proposta por Jhumpa Lahiri, o que está em jogo na construção e utilização destes conceitos desde uma perspectiva antropológica. 1. O contexto no texto Uma frase localizada praticamente na abertura do texto propõe o seu contexto: “Será que os moradores eram cristãos fundamentalistas?” (LAHIRI, 2001, p.157). A pergunta de Twinkle diante do espanto por achar artigos religiosos nos recantos de praticamente toda a casa brinca de borrar as fronteiras culturais entre Ocidente e Oriente. Pois, para nós ocidentais, os fundamentalistas são sempre os Outros, de religiões cujos símbolos, ritos e dogmas sequer nos interessamos por conhecer, mas de pronto acusamos. Inverter os termos devolvendo reflexivamente a pergunta, isto é, colocar o cristianismo na pauta do radicalismo, parece ser a estratégia acionada por Lahiri para impactar o leitor logo de início. De alguma maneira, o que a autora faz é demarcar uma linha divisória entre dois mundos – o indiano e o americano –, mas uma linha que será esfumaçada ao longo do texto. Se pensamos com Dumont (1997) sobre esta linha, no caso, uma linha ideológica que cerca modos distintos de organização social, pensamos em duas 2 [REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] ideologias 2 sociológicas quando da compreensão da relação sociedade/indivíduo. Partindo de uma alteridade radical como a organização social das castas indianas, Dumont sugere que há sociedades em que o indivíduo está englobado hierarquicamente pelo todo, caso da Índia e de sociedades tradicionais; e sociedades em que o indivíduo, ao revés, engloba o todo, como uma espécie de encarnação da própria humanidade, caso das sociedades ocidentais modernas. A proposição maussiana (MAUSS, 2003) de que jamais houve indivíduos que não tenham tido noção e sentido de sua própria individualidade espiritual e corporal continua extremamente válida, porém acrescida da idéia de que o indivíduo, como valor, e sua exacerbação presente no individualismo, como ideologia, é uma construção moderna da cultura ocidental. Neste sentido, enquanto na organização indiana em castas o indivíduo está refletido na hierarquia social, no Ocidente moderno ele excede à sociedade e está acima dela através de agenciações amplas conferidas por concepções tais como liberdade e igualdade. O indivíduo, portanto, está acima da própria sociedade, ainda que apercepções sociológicas, a exemplo da língua, continue o “adestrando”. Assim, dentro de uma perspectiva dumontiana, “Esta casa abençoada” encena, inicialmente, uma distinção identitária das personagens em relação ao contexto cultural no qual vivem – o universo individualista americano. A primeira questão que está em jogo no conto é o conflito vivido pelas personagens em relação aos objetos cristãos encontrados ao longo da arrumação da casa. Como símbolos de parte da cultura ocidental, eles se tornam os marcadores da alteridade. Por isso, quando a primeira estátua de Cristo é achada por Twinkle, Sanjeev observa “[...] e pelo menos jogue fora esta estatueta idiota [...] Não, não somos cristãos. Somos bons hindus”.3 Para Sanjeev, a imagem não fazia qualquer sentido, não lhe dizia nada para além da tomada de consciência de sua própria condição de estrangeiro nos Estados Unidos. É apropriado evocar aqui o que diz Geertz (1989) a respeito dos símbolos. Eles fazem parte de um sistema de significados públicos próprios a uma determinada 2 O sentido de ideologia em Dumont refere-se à ideia de visão de mundo e de apercepção sociológica. 3 Idem, Op. Cit., pags. 156-157. 3 cultura. Interpretá-los significa buscar o contexto a que estão referidos, perscrutando uma coerência mínima entre suas conexões. Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis (o que eu chamaria símbolos, ignorando as utilizações provinciais), a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível – isto é, descritos com densidade (GEERTZ, 1989, p. 24). Sanjeev entende que aqueles objetos são símbolos de um sistema cultural com significados próprios. E sabe perfeitamente que se trata de um sistema diferente do seu. Ele, portanto, não consegue transitar dentro daquele contexto, não consegue interpretar aqueles símbolos e, por fim, acaba por desprezá-los como se quisesse preservar o seu próprio sistema, vale dizer, o seu contexto natal hindu. Por isso, todas aquelas imagens achadas são para o personagem um “zoológico bíblico”, e é significativo que sejam um “zoológico” porque assim Sanjeev aproxima o cristianismo da natureza, retirando-lhe da cultura. Intrigava-o o fato de que cada um deles à sua maneira era inteiramente ridículo. Sem dúvida, faltava-lhes a aura do sagrado. Intrigava-o também constatar que Twinkle, uma pessoa de bom gosto, estava encantada com eles. Aqueles objetos tinham algum significado para ela, mas não para ele. Pelo contrário, irritavam-no. “A gente devia ligar para o agente imobiliário. Para dizer que largaram todas essas porcarias aqui. Pedir para ele levar tudo embora” (LAHIRI, 2001, p. 158). Ora, a linha divisória entre duas culturas está nitidamente traçada no conto através das impressões das personagens em relação aos achados cristãos. Assim, como que para adensar essa fronteira, Lahiri propõe um conflito entre Sanjeev e Twinkle. Enquanto ele despreza as imagens encontradas na casa, ela aos poucos as incorpora, tornando-as, inclusive, parte da mobília. Origina-se daí o desacordo do casal a partir do qual a autora revela a personalidade de cada um. Aqui se pode pensar na ideia de Leach (1983) de que o comportamento simbólico não só ‘diz’ alguma coisa, como também desperta emoções e, consequentemente, ‘faz’ alguma coisa. Pois na medida em que os objetos são encontrados por Twinkle (e dizem da cultura ocidental cristã) eles também fazem, no sentido de gerar ações, com que Sanjeev reaja às assimilações de sua esposa. Penso 4 [REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] em Leach porque esta situação encaixa-se em certa medida na distinção que ele faz entre o simbolismo público e o privado. A essência do comportamento simbólico público é que ele é um meio de comunicação; o ator e a sua platéia compartilham de uma linguagem comum, uma linguagem simbólica. Eles devem compartilhar de um conjunto comum de convenções em relação ao significado dos diferentes elementos na linguagem, pois de outra forma haveria uma quebra na comunicação. Falando de modo geral, isto é o que entendemos por Cultura. Quando as pessoas pertencem a uma mesma Cultura, elas compartilham entre si diversos sistemas de comunicação compreendidos mutuamente. Cada membro de uma tal Cultura atribuirá o mesmo significado a qualquer item particular de ‘ritual’ culturalmente definido. A qualidade característica do simbolismo privado é, ao contrário, seu poder psicológico de despertar emoções e alterar o estado do indivíduo. A emoção é despertada não por qualquer apelo às faculdades racionais, mas por algum tipo de ação deflagradora nos elementos subconscientes da personalidade humana. A extensão em que nossas próprias emoções privadas, em tais circunstâncias, são também experimentadas por outros é algo que somente podemos supor (LEACH, 1983, p. 141). Neste sentido, as personagens partilham do mesmo sistema de significados, isto é, de uma mesma cultura. Por isso, hipoteticamente, diante do simbolismo público das imagens cristãs, poderiam reagir de modo semelhante, isto é, desprezar os objetos como portadores de significados para si. É o que Sanjeev faz, mas não Twinkle. Para ela, os objetos dizem alguma coisa. Parece, então, que a lei leachiana da apreensão pública de significados comuns para indivíduos de uma mesma cultura não opera aqui e que pensar num simbolismo privado, como ele mesmo propõe, esclarece melhor a atitude das personagens de “Esta casa abençoada”. Se a intenção de Lahiri em Intérprete de males é retratar em seus contos o universo de indivíduos em condições de liminaridade, isto é, em condições sociais fronteiriças, nada mais apropriado que pensar as noções de cultura e identidade de um ponto de vista antropológico, que contemple menos a fixidez cultural e identitária das personagens e aponte mais para a idéia de mobilidade, deslizamento ou mesmo hibridez de suas experiências. Considerar que o Outro é sempre o distante e o estrangeiro é, neste sentido, um erro indutivo, pois o fato de dois indivíduos pertencerem a um mesmo contexto cultural não implica que eles partilhem igualmente dos pressupostos de sua cultura, que tenham enfim uma mesma identidade e, para 5 complexificar um pouco mais, pensar em indivíduos em trânsito, como no caso das personagens do conto aqui trazido, significa romper com qualquer assimilação mais rígida do que possa ser entendido pela própria ideia de sociedade e do que lhe é convencionalmente atribuído a priori como as noções de cultura e identidade. Acredito, portanto, que a autora faz, num primeiro momento, contextualizar as personagens desde uma perspectiva cultural e identitária, isto é, demarca minimamente a condição de indianos radicados nos Estados Unidos. Essa fronteira fica evidente na pergunta fundadora de Twinkle sobra a possibilidade de um fundamentalismo cristão e, a seguir, com a intolerância de Sanjeev com relação às imagens cristãs encontradas. Mas é com o conflito do casal que Lahiri começa a esfumaçar esta fronteira e dizer da liminaridade das personagens que se vêem na contingência de se tornar “intérpretes de males”. 2. Borramentos e traduções No conto, como em todo o livro, Lahiri manipula perfeitamente o borramento que representa a tradução cultural de diferentes mundos. Na figura de Sanjeev, esse deslizamento aparece de modo indelével. Ele tem um bom emprego e uma idade razoável. Sua mãe, então, o pressiona para que se case e lhe envia fotos de possíveis noivas indianas. Depois arranja um encontro com Twinkle. Mas a idéia do casamento, no entanto, parece prescindir a de amor. Aliás, Sanjeev se sente desconfortável quando Twinkle o pergunta se ele a ama: Sanjeev não sabia se a amava. Respondera que sim quando ela lhe fez a pergunta pela primeira vez, uma tarde em Palo Alto; estavam sentados lado a lado num cinema escuro e quase vazio. Antes de começar o filme, um dos favoritos dela, uma fita falada em Alemão que ele achou muitíssimo deprimente, ela encostara a ponta de seu nariz no dele, roçando em seu rosto os cílios cobertos de rímel. Naquela tarde, ele respondeu que sim, que a amava, e ela ficou empolgada, e lhe pôs na boca uma pipoca, deixando o dedo por um instante entre seus lábios como se fosse uma recompensa por ele ter dado a resposta correta. Embora Twinkle não o tivesse dito, Sanjeev presumia que também ela o amava, mas agora não tinha mais tanta certeza. Na verdade, Sanjeev não sabia o que era o amor, só sabia o que o amor não era (LAHIRI, 2001, p. 168) Nesta passagem está nítido o registro do conflito interno vivido por Sanjeev. Ele não conhece o amor romântico ocidental, aliás, não sabe senti-lo. A idéia de dois indivíduos unidos por um sentimento de completude mútua é algo improvável, ou 6 [REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] melhor, algo que o personagem não compreende completamente. Por isso receber fotos de possíveis nubentes não significava um absurdo. Casar-se seria uma decisão prescritiva. “Você tem no banco dinheiro bastante para sustentar três famílias”, dizia-lhe a mãe toda vez que conversavam pelo telefone, no início de cada mês. “Você precisa de uma esposa, para cuidar dela e amar”. Agora ele tinha uma esposa, uma mulher bonita, de uma casta bem alta, e que em breve teria mestrado. Como não amá-la? (Idem, Op. Cit., p. 169). Note-se a importância dada à casta de Twinkle, o que sugere que a hierarquia como valor operou na escolha de Sanjeev. Mas como que para hibridizar um pouco as valorações das personagens, a autora põe em relevo outros elementos como o mestrado de Twinkle e o cargo de vice-presidente da empresa que Sanjeev estava por conquistar, isto é, elementos característicos da sociedade individualista moderna porque sugerem uma mobilidade social que independe do nascimento, isto é, da tradição. Através destas interseções de diferentes valores esfumaçam-se as linhas culturais e identitárias demarcadas por Lahiri no primeiro instante do texto. É interessante notar como a autora constrói um universo de hibridez cultural ao redor das personagens, sua personalidade, experiência e sua relação. Sanjeev não conhece o amor e se casa (porque já é tempo) com uma mulher de casta bem alta, mas também valoriza os atributos individuais de Twinkle, como o mestrado e o gosto em comum que têm em relação à música e aos romances literários. Twinkle parece ser uma mulher moderna, no sentido individualista do termo. Estuda, bebe, fuma, já havia tido um relacionamento com um americano, mas escolhe um indiano para se casar e realiza a cerimônia na Índia. A interseção destes códigos, isto é, destes sistemas simbólicos, conferem às personagens seu aspecto híbrido, seu trânsito entre culturas e sua fluidez identitária. Aqui a idéia de que estas personagens são como contrapontos de uma narrativa da nação moderna me parece pertinente. Pois, se é verdade que existem identidades culturais nacionais interiorizadas não apenas como fábula, mas também como experiências, num sentido pedagógico, é também verdadeiro que a nação não cumpre 7 um papel totalizante na formação destas mesmas identidades, no sentido de não dar conta do performativo que sempre extrapola, isto é, “[...] as fronteiras da nação se deparam constantemente com uma temporalidade dupla: o processo de identidade constituído pela sedimentação histórica (o pedagógico) e a perda da identidade no processo de significação de identificação cultural (o performativo) (BHABHA, 2003:216). Assim, é preciso pensar cultura e identidade em constantes deslizamentos, independente da experiência da diáspora. A narrativa da nação não pode suprir com todos os artifícios àquelas noções, sob pena de se criar uma glosa impermeável dos dois conceitos. Mais uma vez recorro a Bhabha para esclarecer esta asserção. No lugar da polaridade de uma nação prefigurativa autogeradora “em si mesma” e de outras nações extrínsecas, o performativo introduz a temporalidade do entre-lugar. A fronteira que assinala a individualidade da nação interrompe o tempo autogerador da produção nacional e desestabiliza o significado do povo como homogêneo. O problema não é simplesmente a “individualidade” da nação em oposição à alteridade de outras nações. Estamos diante da nação dividida no interior dela própria, articulando a heterogeneidade de sua população. A nação barrada Ela/Própria [It/Self], alienada de sua eterna autogeração, torna-se um espaço liminar de significação, que é marcado internamente pelos discursos de minorias, pelas histórias heterogêneas de povos em disputa, por autoridades antagônicas e por locais tensos de diferença cultural (Idem, Op. Cit., 2003, pags 209-210). Em “Esta casa abençoada”, esta liminaridade está demarcada não dentro de um contexto específico, que poderia ser o da Índia ou o dos Estados Unidos, mas exatamente no trânsito, pela migração e pelas contingências das (in)traduções realizadas pelas personagens, sobretudo no conflito do casal quanto ao que fazer com as imagens cristãs encontradas. Neste sentido, o exercício de tradução cultural de Twinkle é impressionante. Ela parece deliciar-se com a “caça aos tesouros” e a cada novo objeto que encontra, interioriza imediatamente um significado particular. No começo, manipula-os sem maiores pretensões: “Cobriu a cesta de pão com um pano de prato que continha, Sanjeev percebeu de repente, os dez mandamentos” (LAHIRI, 2001, p. 165) Depois, aos poucos, vai preenchendo cada descoberta com interpretações próprias: “Será que os moradores eram cristãos fundamentalistas?” [...] “Ou então é uma tentativa de converter as pessoas” [...] “Ah, Sanj”, Twinkle gemeu. “Por favor. Eu ia ficar arrasada se a gente jogasse isso fora. Essas coisas eram claramente importantes 8 [REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] para as pessoas que moravam aqui. Seria, sei lá, uma espécie de sacrilégio” (Idem, Op. Cit., 2001, pags 157-158). Mas o ponto culminante desta interiorização dos símbolos cristãos por Twinkle ocorre quando ela, ao varrer o jardim, encontra “[...] uma Virgem de gesso que chegava à altura da cintura deles, com um capuz pintado de azul recobrindo-lhe a cabeça, à maneira das noivas indianas”.4 Sanjeev intenciona levar a imagem para o depósito de lixo, mas Twinkle entra em desespero e chora, até conseguir entrar num acordo com o marido de modo que a Virgem permanecesse na casa. Ela, portanto, cria um simbolismo privado em relação aos objetos cristãos achados, simbolismo este não partilhado por Sanjeev. Diz ela: “Vamos encarar a realidade. Esta casa é abençoada”.5 Jogar aqueles objetos fora poderia “dar azar”. É a partir desse trânsito performático da personagem de Twinkle e da aparente intransigência de Sanjeev que desejo pensar como a Antropologia pode iluminar as noções de cultura e identidade. Se é verdade que a narrativa pedagógica da nação não dá conta da construção da identidade pelos deslizamentos do performático, tal como entendo a proposição de Bhabha, acredito que essa narrativa enquanto tal é também uma ficção e que falar do Outro ou de outra cultura não é mais que realizar um experimento com a nossa própria cultura, nos termos sugeridos por Wagner (1981). Neste sentido, quando utilizamos a idéia de nação para evocar as noções de cultura e identidade, mesmo sabendo que essa convocação é num sentido crítico que quer extrapolar o pedagógico, como faz Bhabha, nada mais fazemos que pensar o Outro em nossos próprios termos, fabricando esse Outro a partir de nós. Nas palavras de Wagner: When this kind of approach is turned to the uses of anthropological investigation, it makes our understanding and invention of other cultures dependent upon our own orientation toward “reality”, and it makes anthropology into a tool of our own selfinvention. Whenever one “aspect” or part of a dialectical and self-creating whole is used as a concious control in this way, its use must inevitably result in the invention of the other part. When we use the nonconventionalized and differentiating controls of nature in this way, we objectify and recreate our collective Culture with its central ideology of the “natural” versus the “cultural” and artificial. When we use these controls in the study of other peoples we invent their cultures as analogues not of our 4 5 Idem, Op. Cit., p. 167. Idem, Op. Cit., p. 165. 9 whole cultural and conceptual scheme but of part of it. We invent them as analogues of Culture (as “rules”, “norms”, “grammars”, “technologies”), the conscious, collective, “artificial” part of our world, in relation to a single, universal, natural “reality”. Thus they do not contrast with our culture, or offer counter-examples to it, as a total system of conceptualization, but rather invite comparison as “other ways” of dealing, with our own reality. We incorporate them within our reality, and so incorporate their ways of life within our own self-invention. What we can perceived of the realities they have learned to invent and live in is relegated to the “supernatural” or dismissed as “merely symbolic (WAGNER, 1981, p. 142). Assim, em que medida podemos falar de intérpretes como são as personagens de Twinkle e Sanjeev? Pois quando se fala de identidade e cultura e, no caso de “Esta casa abençoada”, quando se pensa em indivíduos traduzidos exatamente porque “pertencem” a uma cultura, têm uma determinada identidade, mas “vivem” ou “operam” em outra, em outro contexto, está-se referindo a uma ficção de “pertencimento”, a uma ficção de “nação”, uma ficção do “contexto indiano” e do “contexto americano” e uma outra ficção que nos conduz à idéia do intérprete, como se estas categorias existissem a priori, antecipadas ao próprio texto. Isso significa que o conto de Lahiri faz sentido apenas porque conta com a invenção de mundos distintos como Oriente e Ocidente, com a fabricação do Eu e do Outro que (acredito) se dá nos termos da experiência da própria autora. Neste sentido, penso que o texto conta com uma invenção icônica de mundos distintos dentro dos quais, ou melhor, no trânsito entre os quais, as personagens manejam suas experiências. E o recurso do conflito vivido pelo casal é o que expressa essa invenção. Entretanto, o que considero estar em jogo no conto é se se deve mesmo acreditar nestes mundos distintos e nessa idéia de tradução que a condição liminar da migração sugere em termos culturais e identitários. Pois se os símbolos, no caso, os achados cristãos, obtêm sentido apenas a partir da relação que se estabelece com eles, como Wagner me faz pensar, talvez não exista tradução ou interpretação propriamente, mas um sentido novo, algo que é, a um só tempo, invenção e realidade para as personagens. 3. Interpretando males A casa está arrumada e Sanjeev deseja dar um jantar de inauguração para seus colegas de trabalho e para alguns casais indianos moradores de Connecticut, com os quais se reunia no tempo de solteiro para “comer grão de bico apimentado e camarão 10 [REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] frito, fofocar e discutir política” (LAHIRI, 2001, p.165), embora fossem pessoas que ele mal conhecia e tivessem pouco em comum. Mas talvez exatamente pela presença desses seus conterrâneos, Sanjeev se sente desconfortável com a mobília de imagens cristãs que Twinkle tinha alocado no console sobre a lareira. Sanjeev pretendia perguntar-lhe se podia tirar o zoológico bíblico do console, mesmo que fosse só para a festa, mas ela saiu quando ele estava no banho. Só voltou três horas depois, de modo que foi Sanjeev quem fez o resto da limpeza. Às cinco e trinta toda a casa brilhava; velas perfumadas, que Twinkle comprara em Hartford, iluminavam a coleção sobre o console, e finos bastões de incenso estavam espetados nos vasos de plantas. Cada vez que passava pela lareira Sanjeev fazia uma careta, horrorizado de pensar nas reações de seus convidados ao verem os santos de cerâmica, o saleiro e a pimenteira em forma de Maria e José (Idem, Op. Cit., pags. 171-172). A festa tem início. Os convidados chegam muito bem arrumados e com presentes para o casal. Sanjeev preparou um jantar com muita fartura de samosas no molho de chutney e champanhe. Está feliz por saber que todos estão ali para prestigiálo, “[...] pois os convidados não eram familiares, e sim pessoas que o conheciam superficialmente e, num certo sentido, nada lhe deviam”.6 Tudo corre perfeitamente bem, apesar dele ter que explicar pela “enésima vez que não era cristão”, a despeito da decoração religiosa da casa. Mas eis que Twinkle decide contar aos convidados que a casa guarda “tesouros” escondidos e que arrumá-la é “[...] uma aventura diária. É muito divertido. Só Deus sabe o que vamos encontrar – é, só Deus, mesmo!”.7 O comentário da anfitriã desperta curiosidades em todos e, imediatamente, como numa grande brincadeira, inicia-se uma verdadeira caçada. Todos os convidados investigam os cômodos, farejam todos os cantos, os armários, as poltronas, as cortinas e as estantes em busca de novos objetos. Até que Twinkle menciona que o sótão jamais fora vasculhado e, de pronto, anfitriã e convivas se dirigem pra lá, deixando Sanjeev sozinho na sala. 6 7 Idem, Op. Cit., p. 173. Idem, Op. Cit., p.175. 11 Um por um os convidados foram desaparecendo, os homens ajudando as mulheres a colocar os pés calçados em sapatos de salto alto nos degraus estreitos da escada, as mulheres indianas prendendo a ponta solta dos sáris caros na cintura. Os homens foram depois, e logo todos haviam sumido, até só restar Sanjeev no alto da escada em espiral (Idem, Op. Cit., p.175). Desagradado e decepcionado, Sanjeev tem vontade de fechar a escada do sótão trancando a todos, enquanto pegaria todo “zoológico bíblico” e levaria para o depósito de lixo. Aqui, Lahiri tenta resgatar um pouco a idéia de limite, de fronteira cultural e identitária, reforçando o fato de Sanjeev ter desprezo pelas imagens. E ao fazer isso, a autora reforça o próprio conflito do casal, sugerindo sua desunião. Ele está só. Ela com os convidados. Ele não consegue transitar. Ela traduz. Podia jogar num saco de lixo todo o zoológico bíblico de Twinkle, pegar o carro e largar tudo no depósito de lixo, e arrancar o pôster de Jesus chorando, e dar umas marteladas na Virgem Maria também. Então voltaria para casa vazia; em uma hora recolheria todos os copos e pratos, depois se serviria mais uma dose de gim e comeria um prato de arroz requentado, ouvindo seu novo CD de Bach e lendo o folheto para compreender a música direito (Idem, Op. Cit., pags.176-177). Assim, o conto nos encaminha ao debate acerca da ideia de cultura e de identidade através do jogo conflituoso que vivem as personagens, sua relação e o desenrolar da trama. O confronto Oriente versus Ocidente ou individualismo versus hierarquia, na perspectiva dumontiana, pode ser alcançado através do que representa os objetos cristãos para Sanjeev e Twinkle. Um acinte para ele. Uma descoberta emocionante para ela. Esta diferença de reação de ambos permite definir a cultura para além das proposições durkheimianas, como formas de agir, sentir e pensar quase programadas. Permite dizer, com Geertz, que os símbolos fazem sentido sim dentro de um contexto, mas que podem ser re-significados, pelo menos no âmbito privado, tal como propõe Leach, de modo a conjugar outros e novos sentidos. E esses sentidos são, como ensina Bhabha, da ordem do performático. Não seria correto, portanto, falar de cultura como algo totalizante, fixo, mesmo porque toda tradição está sempre sofrendo algum tipo de ‘traição’. E, é claro, pensando com Wagner, sem esquecermos da ficção que tradição e traição representam enquanto se quer dizer de sua realidade num sentido antropológico. Mas voltando à ficção do conto. Como a autora resolverá o conflito entre as personagens? Afinal, um livro que trata de traduções culturais e borramentos de 12 [REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] identidade deve justificar seu título apresentando caminhos pra esses ‘intérpretes de males’. Como terminará o jantar nesta ‘casa abençoada’? Twinkle grita por Sanjeev enquanto desce as escadas do sótão junto com os convidados. Quer que ele veja o que encontrou e que a ajude a segurar. Agora Sanjeev viu que os braços dela estavam segurando o objeto: um busto de Cristo de prata maciça, a cabeça três vezes maior que a dele. O nariz era adunco e nobre; o magnífico cabelo crespo caía sobre a clavícula pronunciada; a testa larga refletia em miniatura as paredes, portas e abajures a seu redor. O rosto exibia uma expressão confiante, como se estivesse convicto da devoção de seus seguidores; os lábios inflexíveis eram sensuais e cheios. [...] Enquanto Twinkle descia a escada Sanjeev a amparava com as mãos em sua cintura, e assim que ela terminou a descida ele tirou-lhe das mãos o busto. Pesava bem uns doze quilos (Idem, Op. Cit., pags. 177-178). Frente a frente, enquanto os convidados retornavam à sala, Twinkle pergunta a Sanjeev se ele ficaria muito chateado se ela colocasse o busto em exibição no console e prometeu que, passado o jantar, ela o removeria para o seu escritório dela. Mas ela jamais colocaria o busto no escritório, Sanjeev sabia. Enquanto os dois vivessem juntos, Twinkle o deixaria no centro do console, cercado pelos outros objetos da coleção. Cada vez que viessem visitas ela explicaria como o encontrara, e todos a admirariam ao ouvi-la (Idem, Op. Cit., p. 178). O conflito ainda não está resolvido. A novidade da descoberta pode derivar em muitos finais, como na vida, lembrando das proposições de Sahlins (2006), os sistemas estão sempre em movimento. Se existe alguma estrutura, ela está na contingência, sempre como estrutura da conjuntura. Assim, os significados dos símbolos estão sempre referidos à ação humana, porque as totalidades culturais, se é que ainda podemos falar nestes termos, são experimentadas nas particularidades históricas: “[...] tantos esquemas distintos de valores e reações que, de maneira variada, investem de poder certos sujeitos, individuais ou coletivos, como fazedores de história, e dão a seus atos motivações e efeitos específicos” (SAHLINS, 2006:264). Não se pode, portanto, pensar em determinações prévias mediadas pela fixidez que a idéia sistêmica de cultura e identidade deixa vazar, mas atentar antes para agência que 13 é sempre performática. Por isso, embora Lahiri trace fronteiras, ela em todo o texto as borra, sendo coerente com sua proposta ficcional de representar trânsitos e traduções. Como todo bom texto literário, o final deve ser deixado ao leitor que decida. É nesta ‘estética da recepção’ que os sentidos são inventados, a despeito da intencionalidade do autor. Assim, quero registrar aqui uma interpretação possível, guiada por este olhar antropológico que desejei emprestar ao conto. Mas antes de concluir gostaria de pensar uma questão. Considerei anteriormente que Sanjeev e Twinkle eram as personagens de “Esta casa abençoada”. Mas, inspirada em Latour (2005), incluo também como personagens os objetos religiosos encontrados na casa e, mesmo, a própria casa. Pois, como imaginar toda a trama sem incluir também como atores o ‘descanso com a imagem de Jesus’, ‘o saleiro e a pimenteira em forma de Maria e José’, a ‘Virgem do jardim’, o ‘busto de prata’, enfim, todo ‘zoológico bíblico’? Explico-me. Em Reassembling the social, uma das propostas de Latour, ao resgatar a teoria de Gabriel Tarde, é de que o social como contexto inclui também o que não é social em princípio dentro de uma perspectiva da Sociologia do Social. Por isso, ele – o social –, não é um domínio específico ou especial que inclui uma porção de coisas particulares, mas um movimento peculiar de re-associações e remontagens. Neste sentido, não existe sociedade como algo anterior, mas o coletivo que é produzido entre elementos que não necessariamente são por si só sociais. Esses elementos têm agência, são também atores porque geram ações do ponto de vista latourniano de uma Sociologia das Associações. Nas palavras de Latour: If action is limited a priori to what 'intentional', 'meaningful' humans do, it is hard to see how a hammer, a basket, a door closer, a cat, a rug, a mug, a list, or a tag could act. They might exist in the domain of 'material' 'causal' relations, but not in 'reflexive' 'symbolic' domain of social relations. By contrast, if we stick to our decision to start from the controversies about actors and agencies, then any thing that does modify a state of affairs by making a difference is an actor - or, if it has no figuration yet, an actant (LATOUR, 2005, p. 40). Assim, os objetos cristãos encontrados na casa são também personagens em “Esta casa abençoada”. Bastaria retirar-lhes da trama para que não mais existisse a trama. Eles geraram ações no sentido de montarem o contexto relacional do conto, motivaram o embate entre Sanjeev e Twinkle. Por isso, o final proposto por Lahiri 14 [REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] evidencia o busto de prata de Cristo para deixar que o leitor decida se as personagens humanas foram ou não capazes de resolver o conflito. Volto, então, à minha leitura. E vejo duas possibilidades interpretativas. A primeira seria a da resignação de Sanjeev. Ele aceita as imagens cristãs na mobília da casa não exatamente por ter conseguido atribuir sentido a elas, mas como tolerância, como uma espécie de ‘prova de amor’ em relação à Twinkle. Há um trecho onde essa interpretação parece bem apropriada, quando ele está com o busto na mão, ainda em frente à descida da escada, e fita a esposa admirando-a: Sanjeev olhou para as pétalas de rosa amassadas no cabelo dela, a gargantilha de pérolas e safira em seu pescoço, as unhas dos pés pintadas com esmalte vermelho reluzente. Concluiu que essas eram algumas das coisas que faziam com que Pabral a julgasse um pedaço. Sua cabeça doía por causa do gim, seus braços doíam por causa do peso da estátua (LAHIRI, 2001, pags. 178-179). Neste momento, não há tradução. Sanjeev não teria re-significado nada. A fronteira cultural e identitária estaria mantida, pelo menos para a personagem dele: um hindu num ambiente estrangeiro, desconfortável com signos que não são os seus. Descontextualizado. Intraduzível. A segunda interpretação possível me parece mais interessante. Quando Twinkle encontra a primeira imagem de Cristo, uma estátua em porcelana branca que estava no armário em cima do fogão, ela não atende ao pedido de Sanjeev para que jogue fora em razão da possibilidade dela ter algum valor. Diz ela: “‘Mas de repente ela vale alguma coisa, quem sabe?’ Virou-a de cabeça para baixo, depois acariciou com o indicador as minúsculas dobras da túnica. ‘Ela é bonitinha’” (Idem, Op. Cit., p. 157). Só depois é que ela começa a resignificá-las dentro do sagrado. Sanjeev, ao contrário, não deseja nenhum dos objetos encontrados, mas, curiosamente, o busto de prata é o primeiro em que ele não pensa em jogar fora e admite como seu. De fato, Sanjeev detestava o busto. Detestava seu tamanho desmesurado, sua superfície perfeitamente polida, seu valor inegável. Detestava a idéia de que aquele objeto estava na sua casa, e que lhe pertencia. Ao contrário das outras coisas que haviam encontrado, esta tinha dignidade, solenidade, até beleza. Porém, para sua 15 surpresa, tais qualidades só o faziam detestá-la ainda mais. Acima de tudo, ele a detestava porque sabia que Twinkle a amava (Idem, Op. Cit., p.178). Ora, a tradução está aí, na idéia do valor material do busto. No lugar de uma tradução movida por uma espécie de altruísmo, de disposição para o Outro, de benevolência, Sanjeev se prende às qualidades da peça, sua dignidade, solenidade e beleza. Não é a sacralidade cristã do busto que o faz admirá-lo e admiti-lo como seu, mas seu valor estético e econômico. Do mesmo modo, não foi inicialmente o caráter de sagrado que atraiu Twinkle em relação à estátua de porcelana, mas a possibilidade dela valer alguma coisa. Essa parece ser a grande jogada do texto e sua maior ironia. Pois a idéia aqui é a de escapar das contingências da migração e do que a diáspora sempre nos remete, como uma experiência sofrida, um tempo de imitação de gestos alheios, de decorar palavras novas e saber dizê-las nas situações corretas, do intraduzível de determinadas expressões. A ironia aqui é a motivação da tradução: ver num outro sistema o valor não precisamente cultural, mas material. Como ficam, então, dentro deste segundo sentido que atribuo ao final do conto, a questão da cultura e da identidade diante da tradução? Penso que Lahiri consegue borrar ainda mais a fronteira cultural e identitária estabelecida inicialmente no texto pela idéia do valor do busto de prata de Cristo, pois coloca as personagens dentro do universo capitalista americano. Assim, Sanjeev e Twinkle são indianos e hindus, mas agora entendem o valor do cristianismo! 4. Conclusões A identidade não tem uma existência real nem per si. É, ao contrário, virtualmente um foco, acionado em diferentes momentos e indispensável como referência. Mas não é concreta, nem monolítica. Ou se parece ser, apenas engessa muitas fraturas. A identidade é sempre uma fenda aberta a múltiplas identificações. A partir de uma perspectiva antropológica, a identidade é um instrumento conceitual cujos atributos são: ser relacional e ter a propriedade de estabelecer conexões, intersecções e separações entre um indivíduo e outro. Ela se constrói tanto do ponto de vista do sujeito quanto do observador. Não é estável nem essencial, sendo 16 [REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] mais persecutória quanto aos deslocamentos construtores de um sujeito em constante movimento de (trans)formação. Desse modo, os indivíduos participam de diferentes maneiras do que julgam ser a sua cultura ou o seu pertencimento. A experiência da diáspora, no mundo global contemporâneo, requer habilidades quanto à capacidade de traduzir múltiplos signos. Aliás, não apenas a situação de trânsito a requer, mas a própria condição atual de se viver numa sociedade em rede (CASTELLS, 2002). É nesse mundo repleto de signos, em meio as diversas possibilidades de comunicação, que o duplo e o cindido se constituem a partir de in(traduções). Neste sentido, penso a casa de Sanjeev e Twinkle a partir da perspectiva da 8 dádiva , pois os objetos lá encontrados exigiram de ambos um relacionamento com a cultura ocidental cristã. A estatueta, a Virgem, o busto de Cristo e todo o “zoológico bíblico” foram, para as personagens, verdadeiros gifts, no sentido germânico da palavra, cuja tradução pode ser tanto presente, quanto veneno. 9 Por pressupor uma relação, a modernidade entende a dádiva também como um perigo ou algo indesejado (GODBOUT, 1999). Neste caso, é possível considerar que os objetos cristãos foram uma espécie de “presente de grego”, pois funcionaram como mote de estranhamentos e desentendimentos do casal. Por outro lado, também provocaram em Sanjeev e Twinkle um exercício de tradução, acionando referências de suas próprias 8 O Ensaio sobre a dádiva, também conhecido como Ensaio sobre o dom, é um clássico da Antropologia, escrito pelo francês Marcel Mauss e publicado pela primeira vez em 1925. Nesta obra, são apresentados e analisados os métodos de troca nas sociedades tidas como primitivas. É reconhecido como o estudo de caráter etnográfico, antropológico e sociológico mais antigo e importante sobre a reciprocidade, o intercâmbio e a origem do contrato. A dádiva implica no movimento de dar, receber e retribuir que, uma vez iniciado, gera obrigações e alianças. 9 Em inglês, a palavra correspondente a dádiva é gift, ou seja, presente. Em alemão, gift quer dizer veneno. Em holandês, gift é tanto presente quanto veneno. Em sueco, gift também significa veneno, ou então, serpente venenosa, ou ainda, casamento. Em norueguês, gift quer dizer veneno e gifte é o verbo casar. Em grego, a palavra correspondente é dosis, que também significa parte, porção. Que se pode inferir de tal mescla? Em primeiro lugar, a dádiva visa ao estabelecimento da relação amistosa, à construção do laço social, o que somente se concretiza quando a doação é efetivamente aceita. Não existe o dar sem o receber, e numa perspectiva sistêmica, sem o retribuir. Em segundo lugar, nada envenena mais uma relação do que uma dádiva recusada. Na relação amorosa, no cumprimento não respondido, na gentileza desconsiderada, a doação rechaçada gera animosidade e o remédio torna-se veneno. Na raiz grega da palavra está a lembrança crucial: é precisamente a dose que distingue o remédio do veneno. 17 identificações culturais indianas, num movimento de reflexividade, que de algum modo os levou à tomada de consciência de si, de sua condição no mundo. À guisa de conclusão, entendo que a casa, ainda que “abençoada” do ponto de vista ocidental cristão, levou marido e mulher a vivenciar alguns “males”, como o desgaste do choque cultural ou a tensão promovida na relação. Neste sentido, penso que a autora cumpriu aquilo a que se incumbiu: “de certo modo, visto que tento articular essas emoções – a impossibilidade de comunicar a dor emocional aos outros – minha posição como escritora é também a de intérprete.”10 Vale lembrar que o intérprete não é apenas aquele que se encarrega de traduzir, declarar ou de dar a conhecer as vontades, as intenções alheias, mas também aquele que se presta a revelar o que está oculto, à maneira das personagens quanto aos objetos religiosos ou quanto a si mesmos. Bibliografia BHABHA, Homi. “DissemiNação: o tempo, a narrativa as margens da nação moderna”. In: ______. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. CASTELLS, Manuel. A sociedade em Rede – a era da informação: economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz & Terra, 2002. DUMONT, Louis. “Introdução”. In: ______. Homo Hierarchicus: o sistema das castas e suas implicações. São Paulo: Edusp, 1997. ______. “História das idéias”. In: ______. Homo Hierarchicus: o sistema das castas e suas implicações. São Paulo: Edusp, 1997. GODBOUT, Jacques T. O espírito da dádiva. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1999. GEERTZ, Clifford. “Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura”. In:______. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 10 O trecho citado refere-se a uma entrevista dada pela autora e está publicado na orelha do livro Intérprete de Males. 18 [REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] LAHIRI, Jhumpa. “Esta casa abençoada”. In: ______. Intérprete de males. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. LATOUR, Bruno. Reassembling the social: na introduction to actor-network-theory. Oxford University Press, 2005. LEACH, Edmund. “Cabelo mágico”. In: DA MATTA, R. (Org.). Edmund Leach. São Paulo: Ática, 1983. MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003. SAHLINS, Marshall. “A cultura de um assassinato”. In:______. História e Cultura: apologias a Tucídides. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006. WAGNER, Roy. The invention of culture. Chicago: The University of Chicago Press, 1981. 19
Download