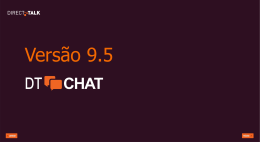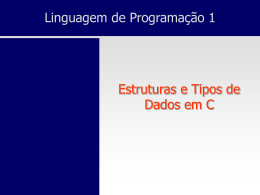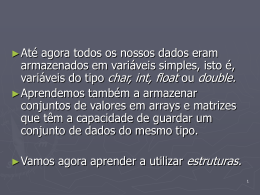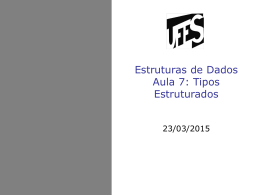Augusto Armando de Castro Júnior (UFBA)
Aplicações de Análise a Álgebra Linear
Florianópolis, SC
2014
Augusto Armando de Castro Júnior (UFBA)
Aplicações de Análise a Álgebra Linear
Minicurso apresentado no IIIo
Colóquio de Matemática da Região Sul, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina,
em maio de 2014.
Florianópolis, SC
2014
Resumo
No presente livro, estudamos o espectro de operadores em dimensão finita e seus espaços invariantes associados. Mais precisamente, explicamos as técnicas para calcular os autovalores
e os respectivos autoespaços de um operador em dimensão finita. Como um subproduto natural, desenvolvemos técnicas de
Análise precisas e estáveis para calcular raízes de polinômios.
Palavras-chaves: Cálculo de Autovalores e Autoespaços; Cálculo de Raízes de polinômios; Análise Complexa; Operadores
com Autovalores Dominantes.
Lista de ilustrações
Figura 1 – Teorema de Cauchy-Goursat em região triangular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Figura 2 – Fórmula Integral de Cauchy . . . . . . . . . .
73
Figura 3 – Série de Laurent . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Figura 4 – Resíduos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Figura 5 – Teorema dos Resíduos . . . . . . . . . . . . .
81
Figura 6 – Execução do programa de Cálculo de Raízes.
114
Figura 7 – Execução de programa de Cálculo de Projeções145
Figura 8 – Métrica Projetiva- Função α . . . . . . . . . 150
Figura 9 – Métrica Projetiva- Função β
. . . . . . . . . 151
Figura 10 – Cálculo de Autovalores Dominantes. . . . . . 167
Figura 11 – Execução do programa domincoloq. . . . . . . 168
Figura 12 – Execução com matriz 4 por 4. . . . . . . . . . 169
Sumário
Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
Uma visão de Álgebra Linear via Funções de
Operadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1.1
Avaliando polinômios em matrizes . . . . . . .
30
1.2
Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
2
Funções Analíticas
. . . . . . . . . . . . . .
35
2.1
Sequências e séries em Espaços de Banach . .
37
2.2
O Espaço Normado das Aplicações Lineares
Contínuas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
2.3
Integração de Caminhos em Espaços Vetoriais
60
2.4
A Teoria de Cauchy-Goursat . . . . . . . . . .
68
2.5
Resíduos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
2.6
Programa de Cálculo de raízes de polinômios .
84
2.7
Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3
Funções de Operador . . . . . . . . . . . . . 117
3.1
Funções analíticas de operadores . . . . . . . . 117
3.2
Noções Básicas de Teoria Espectral . . . . . . 124
3.3
Programa de Cálculo de projeções espectrais . 131
3.4
Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
4
Operadores com autovalores dominantes . . 147
4.1
Calculando autovalores dominantes e seus autoespaços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
4.2
Cones e Métricas Projetivas . . . . . . . . . . 149
4.3
Programa de Cálculo de Autovalores Dominantes de Operadores Positivos . . . . . . . . . . 160
4.4
Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
5
O Operador Adjunto
5.1
Aplicação: generalizando o Teorema de von Neu-
. . . . . . . . . . . . . 171
mann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
5.2
Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Conclusão
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Referências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
7
Prefácio
Quanta Matemática é necessária para uma revolução
tecnológica? As recentes e populares tecnologias de Internet, celular, diagnóstico por imagem têm demonstrado que a grande
revolução pela miniaturização eletrônica já é tão de domínio público hoje em países ascendentes como o aço ou a eletricidade
há 4 décadas. Ou seja, que hoje, são as idéias (Matemáticas),
quem faz a diferença nas novas tecnologias, pois, a eletrônica
para implementá-las, todos têm o potencial de construir.
Vejamos os nossos exemplos. Tanto a ressonância Magnética como a Tomografia Computadorizada têm por base a
transformada de Radon, teoria matemática estabelecida nas três
primeiras décadas do século passado. O celular seria impossível
sem a teoria de Wavelets que nada mais é que uma melhoria
computacional da transformada de Fourier do início do século
XIX. A idéia por trás de transformada de Fourier é bastante
simples, a decomposição de vetores com respeito a uma base ortonormal. Vale ressaltar que a Finlândia, via Nokia, dominou
inicialmente o mercado de celulares justamente por ter investido
precocemente no estudo de técnicas de compactação e controle
de erros de dados via Wavelets, ao primeiro sinal de que tal tecnologia iria se tornar popular no futuro. Sim, pesquisa em teoria
Matemática e Computacional, não em eletrônica.
Finalmente, todos diariamente fazemos buscas com o
veloz buscador da Google. É mais rápido buscar um conteúdo na
Internet que no próprio computador, hoje em dia. Poucos sabem
8
SUMÁRIO
que isto é porque, no âmago deste programa, jaz uma versão para
Matrizes Positivas do Teorema do Ponto Fixo de contrações. Tal
versão é o famoso teorema de Perron. Brin, um dos fundadores
do Google e um dos pais desse motor de busca, é matemático
e filho de um eminente pesquisador em Teoria Ergódica, e usou
desse Teorema, da primeira década do século XX, cujo algoritmo
é exponencialmente rápido, conforme a teoria e qualquer cidadão
consegue ver. Enfim, a vida inteligente adentrou a Internet de
modo a viabilizá-la.
Voltando à nossa pergunta inicial, os parágrafos anteriores nos dão algumas pistas para respondê-la. Certamente a
Matemática de que precisamos hoje vai bem além da Matemática dos mesopotâmios e egípcios, ou daquela que muitos usamos
para conferir o troco no ônibus e que a maioria dos educadores
matemáticos crêem ser a grande matemática presente no dia-adia. Certamente, é uma Matemática que vai além dos cursos de
Álgebra Linear que muitos estudantes em Engenharia ficam a se
perguntar ingenuamente para que servem. Mas esta, da Álgebra
Linear, já se encontra a meio caminho da Matemática com que
convivemos no mundo moderno. Em Álgebra Linear, grandes
idéias já estão presentes, embora nem sempre sejam enfatizadas
como deveriam. Por exemplo, o Teorema de Perron nos diz que
matrizes com todas as entradas positivas tem um autoespaço de
dimensão um (uma reta) que, a menos de uma normalização,
atrai todos os pontos do espaço, quando iteramos a matriz. Ou
seja, é um teorema sobre Cálculo de autovalores e autovetores
de uma matriz com todas as entradas positivas. Algo simples,
mas a Google está aí para acabar com todo o palavrório sobre a
inutilidade da Matemática ou da Álgebra Linear.
SUMÁRIO
9
O presente escrito objetiva prover técnicas para cálculos
de autovalores e autoespaços de um operador linear em dimensão finita. Como sabemos, autovalores e autovetores permitem
entender como um operador linear em dimensão finita atua algebrica e geometricamente sobre o espaço. O estudo de operadores
lineares é de importância transcendente para a Análise e a Matemática como um todo. Não apenas porque a derivada de uma
função avaliada em um ponto é uma aplicação linear, mas também porque é linear (porém, atuando em dimensão infinita) o
operador que a cada função derivável associa a sua função derivada.
Dedicamos o primeiro capítulo a uma revisão da Álgebra
Linear e o estudo de operadores em dimensão finita, motivando
com exemplos o uso da avaliação de polinômios em matrizes
para cálculo de autoespaços e autovalores. Tais homomorfismos
de avaliação e sua utilidade motivam a questão de estendê-los
a uma classe maior de funções, digamos, analíticas. Para tal, os
argumentos algébricos são insuficientes.
Iniciamos o segundo capítulo com a Análise real e Complexa necessária ao estudo do Espectro e funções de Operadores.
De fato, adaptamos facilmente tais teorias para funções holomorfas tomando valores em espaços de operadores, em vez de
em C, como se vê em disciplinas finais de graduação. Como um
subproduto da teoria, apresentamos um programa para encontrar as raízes de um polinômio em uma dada região do plano
complexo.
Munidos dessa Teoria de Cauchy-Goursat adaptada a
espaços de operadores, desenvolvemos no terceiro capítulo do
livro a teoria de funções de Operadores e provamos o que costu-
10
SUMÁRIO
mamos chamar de proto-versões dos teoremas de Decomposição
do Espectro, os teoremas de Cálculo Funcional e Mapeamento
Espectral. As consequências são profundas. Por um lado, o raio
espectral nos permite obter cotas para a norma de iterados grandes do operador. São definidas as componentes espectrais, e demonstrada a existência de espaços invariantes associados as mesmas. Via Teoria Cauchy-Goursat, obtemos métodos de calcular
projeções associadas a espaços invariantes pelo operador.
Na penúltima seção do capítulo, apresentamos um programa em linguagem C que é uma aplicação surpreendente da
teoria vista: permite calcular um autoespaço generalizado de um
autovalor, sem que conheçamos com precisão este autovalor. Um
legado longínquo do Teorema Fundamental do Cálculo de Newton...
No quarto capítulo, estudamos operadores em que exista
um autovalor cujo módulo é estritamente maior que todos os outros. Apresentamos técnicas eficientes para calcular tal autovalor
e seu autoespaço associado. O caso de operadores com todas as
entradas positivas é abordado em pormenor, com técnicas específicas. Este é o caso explorado pelo programa de busca da
Google na Internet.
No último capítulo, estudamos o adjunto de um operador e as informações que traz para o estudo do operador primal.
O celebrado Teorema Ergódico de Von Neumann é provado aqui
em uma versão bem mais geral que a original.
Ao final, não respondemos à nossa questão. A Matemática da segunda metade do século passado, e do atual, tem embasado as teorias físicas que levam ao desenvolvimento do Computador Quântico e do Reator de Fusão Nuclear. Enfim, com o
SUMÁRIO
11
presente texto, apenas cobrimos uma pequena parte, porém bela
e interessante, da Matemática de que precisamos.
Agradecimentos
Gostaria de agradecer ao Comitê Organizador do 3o.
Colóquio de Matemática da Região Sul, pela imensa atenção
no processo de submissão e feitura deste livro, o qual resultou em um texto de estilo bem adequado a iniciantes, inclusive
com exemplos e aplicações computacionais. Quanto a isso, somos também reconhecidos à UFBA e a oportunidade que nos
tem dado de ministrar o curso de Teoria Espectral no doutorado, assunto sobre o qual ora concluímos um livro avançado.
Com os colegas e amigos da UFBA, tivemos conversações frutíferas sobre os assuntos aqui apresentados, especialmente com
Paulo Varandas e Samuel Barbosa. Sou mais que grato pela acolhida carinhosa em seu lar e apoio de minha querida Elis de
Oliveira e seu filho Matheus durante o carnaval de 2014, quando
este livro foi concluído.
Ressalto ainda a influência de meus professores Marcelo
Viana e o saudoso Carlos Isnard, que certamente se agradaria
muito deste texto. Finalmente, registro minha gratidão para com
o professor Elon Lages Lima, em cujos bem escritos livros de
Análise, sempre nos inspiramos na criação de mais literatura
matemática de alto nível em língua portuguesa.
Augusto Armando de Castro Júnior
Universidade Federal da Bahia
Salvador, 06 de março de 2014.
14
SUMÁRIO
1
Introdução
Calculando Autovalores e Autoespaços
Comecemos com E a ser um espaço vetorial complexo
de dimensão finita e A : E → E um operador linear contínuo.
Nesse contexto inicial, o espectro de A (denotado por sp(A)) é
simplesmente o conjunto dos λ ∈ C tais que (λI − A) não possui
inversa, onde I : E → E designa a identidade. Ou seja, nesse
caso de dimensão finita o espectro é apenas o conjunto dos autovalores de A. Dos cursos de Álgebra linear, sabemos que tais
autovalores possuem associados a si, espaços invariantes por A,
os quais permitem descrever de modo simplificado a geometria
da ação do operador no espaço. A exigência do espaço ser complexo, é primordialmente para garantir que o operador possua
autovalores.
Consideremos assim o seguinte exemplo em que a matriz
e todos os autovalores são reais. Seja A : R2 → R2 o operador
linear dado por
A(x, y) :=
!
3
1
0
1/2
×
x
y
!
.
O modo costumeiro como se calcula o espectro e os respectivos
espaços invariantes associados compôe-se de duas partes. Primeiro, calculamos os autovalores da matriz. Para isso, precisamos saber para que valores λ ∈ C, λI − A deixa de ser injetiva,
2
Introdução
ou seja, seu determinante é zero. Temos portanto:
det(λI − A) = 0 ⇔ (λ − 3)(λ − 1/2) = 0,
ou seja, os autovalores de A são justamente as raízes do polinômio det(λI − A), ou polinômio característico de A. Aqui, já
notamos a primeira grande dificuldade: autovalores de uma matriz são as raízes de polinômios de mesmo grau que a dimensão
do espaço em que atua a matriz. Ora, sabemos que a partir do
grau 4, há polinômios cujas raízes não podem ser expressa por
meio de radicais (ou seja, há equações polinomiais impossíveis de
serem resolvidas por qualquer método algébrico). Como estamos
em um exemplo em dimesão 2, a equação é do segundo grau e
temos sp(A) = {3, 1/2}. Note que associados aos elementos de
sp(A), sabemos do curso de Álgebra linear que temos dois espaços invariantes por A. Nestes espaços, A age respectivamente
como o produto pelos escalares 3 e 1/2. Como isolar, por exemplo
o espaço associado a 1/2? Lembremos como fazemos isso ainda
do modo usual em um curso de Álgebra linear, digamos, para
o autoespaço associado a λ = 1/2. Didaticamente dividiremos o
procedimento em três fases:
1. Qualquer autovetor v de um autovalor λ é simplesmente
um elemento de ker(λI − A), ou seja, é solução da equação
linear (com infinitas soluções), (λI − A)v = 0, cujo conjunto solução é um espaço vetorial não trivial, o autoespaço
associado a λ. Encontrar a solução completa desta equação, por conseguinte, é encontrar uma base para o espaço
ker(λI −A), o que corresponde a encontrar um conjunto linearmente independente de tamanho máximo de soluções
para a dita equação. No exemplo em questão, portanto,
3
temos a equação:
(1/2I − A)v = 0 ⇔
−5/2
0
!
−1
0
×
x
y
!
=
0
!
0
.
2. O próximo passo, claro, é aplicar o escalonamento Gaussiano a matriz de λI − A. Note que, como o exemplo é simples, a matriz acima já está escalonada (caso não estivesse,
aplicaríamos o método Gaussiano de escalonamento).
3. Contamos o número de linhas nulas advindas do escalonamento Gaussiano. Elas correspondem à dimensão do
ker(λI − A). Partimos de cima até baixo na diagonal, observando que posições são não nulas: correspondem a variáveis dependentes, não livres, cujo valor será calculado
em função das livres. No caso, na primeira linha, o coeficiente de x é −5/2, logo, seu valor será determinado pelas
variáveis livres. Como a última linha é identicamente nula,
segue-se que a última variável, y, que temos é uma variável
livre.
4. Precisamos resolver a equação (λI − A)(v) = 0 tantas vezes quanto forem o número de variáveis livres, e a cada
vez, atribuindo valores diferentes a essas variáveis com os
quais determinamos o valor das variáveis dependentes, de
forma a que os vetores solução achados sejam linearmente
independentes entre si. Como temos apenas uma variável
livre y, arbitramos a ela o valor de 1. (Se estivéssemos em
dimensão mais alta, e tivessémos, digamos, por exemplo,
duas variáveis independentes y e z, arbitraríamos valores
l.i.’s, ao par, digamos, primeiro, (y, z) = (1, 0), e resolveríamos a equação uma vez, obtendo um vetor solução, e
4
Introdução
depois, atribuiríamos (y, z) = (0, 1), obtendo o outro vetor
solução linearmente independente com o primeiro.) Temos
então:
−5/2
−1
0
0
!
×
x
1
!
=
!
0
0
. ⇒ x = −2/5.
Portanto,
v=
−2/5
!
1
é um autovetor gerador do autoespaço associado ao autovalor 1/2.
Vejamos agora uma outra técnica, ainda algébrica, para
encontrarmos autoespaços. Usaremos o mesmo exemplo, e os autovalores calculados, em uma abordagem alternativa muito estética de Álgebra linear.
Veja que interessante: considerando o polinômio
(x−3)
1/2−3 ·x
avaliado em A, obtemos (usando do isomorfismo que há entre
aplicações lineares e matrizes na base canônica):
!
!
!
0 −2/5
3
1
0 −1/5
×
=
.
0
1
0 1/2
0 1/2
Note que o polinômio
(x−3)
1/2−3
zera em x = 3 e é 1 em 1/2. Sua
avaliação em A nos dá a matriz
Π1/2 :=
0
0
!
−2/5
1
,
chamada projeção espectral. Ela de fato é uma projeção sobre o espaço associado ao autovalor 1/2 (já tinhamos visto que
(−2/5, 1) é autovetor associado a 1/2 - escrevemos o vetor como
5
linha por comodidade de edição). Para vermos que ela é uma
projeção basta observar que
!
0 −2/5
0
2
Π1/2 =
×
0
1
0
!
−2/5
1
=
0
−2/5
0
1
!
= Π1/2 .
Como Π1/2 é obtida via avaliação de um polinômio em
A (a identidade é o mesmo que A0 ), ela comuta com A. Desta
comutatividade, segue-se que
Π1/2 (R2 ) ⊃ Π1/2 (A(R2 )) = A(Π1/2 (R2 )),
ou seja, que A(Π1/2 (R2 )) ⊂ Π(R2 ), que é o mesmo que dizer
que a imagem Π1/2 (R2 ) := E(1/2) é um espaço invariante por
A. Em capítulos mais adiante (e de modo muito geral), veremos
como consequência que sp(A|E(1/2) ) é realmente igual a {1/2}.
Em resumo: se o espectro puder ser particionado em
componentes abertas e fechadas nele mesmo (as chamadas componentes espectrais), cada uma dessas componentes possui associada a si um subespaço invariante pelo operador, o qual pode
ser calculado avaliando-se o operador em uma função que é um
nela, e zero nas demais componentes (além de ter suas derivadas até certa ordem também nulas, como veremos nos próximos
capítulos).
Veremos ainda que a restrição do operador a um desses
subespaços tem seu comportamento assintótico grandemente governado pelo supremos dos valores absolutos dos números constantes na componente associada.
Quando se considera um operador linear A atuando em
espaços de dimensão infinita, o espectro (cuja definição difere
da anterior só por exigir a continuidade das inversas envolvidas,
6
Introdução
condição automática quando a dimensão é finita) não consiste
geralmente em um número finito de pontos. Assim precisamos
considerar a avaliação de A em funções mais complicadas que polinômios, que zerem em todas as componentes espectrais menos
naquela que estejamos interessados. Para tal, precisamos avaliar A em funções holomorfas cujo domínio seja desconexo. O
que é possível adaptando a teoria de Análise Complexa de Cauchy para o contexto de aplicações com domínio em um aberto
em C e tomando valores em espaços de Banach. Essa adaptação
tem aplicações muito interessantes, mesmo se retornarmos nosso
foco para a dimensão finita. Tomando de uma função holomorfa,
mas com domínio desconexo, que seja 1 em uma vizinhança
de um certo autovalor λ1 , e 0 em uma vizinhança dos demais,
a avaliação dessa função na matriz A, da mesma forma como
no exemplo acima, nos dá a projeção associada ao autoespaço
(a bem da verdade, o autoespaço generalizado!) de λ1 . Ora, não é
necessário conhecer precisamente um autovalor, basta conhecer
uma vizinhança que o isole dos demais, para definir tal função.
Então conseguimos calcular com precisão seu autoespaço conhecendo com uma tosca aproximação o autovalor! Isso também
permite uma outra aplicação interessante, um método de achar
raízes de polinômios em C, pois uma vez calculado o autoespaço,
é imediato calcular o autovalor, e sabemos que autovalores são
raízes do chamado polinômio característico associado a matriz.
Dessa forma, dado um polnômio, este possui associado a si uma
matriz companheira, da qual ele é o polinômio característico, suas
raízes são os autovalores desta matriz, os quais calculamos de
maneira fácil após calcularmos seus correspondentes autoespaços. Em resumo, temos técnicas analíticas que não só permitem
calcular autoespaços sem conhecer com precisão os respectivos
7
autovalores, como adicionalmente permitem resolver o problema
de achar com precisão a raiz de qualquer polinômio, problema
este que a princípio parecia ser um obstáculo, a teoria de simplificação de operadores, mas que acaba sendo resolvido por esta
mesma teoria, junto com a Análise Complexa,
São aplicações que unem de uma forma bastante original
duas áreas distintas da Matemática, a Álgebra Linear e a Análise
Complexa, e trazem em si o sabor que convidamos o leitor a
conhecer nas próximas páginas. Entretanto, não são as únicas
técnicas que pretendemos expor. No caso em que o operador
possui um autovalor dominante, isto é, com módulo estritamente
maior que qualquer outro, existe um cone em torno de seu espaço
invariante que é jogando estritamente dentro de si mesmo. Todo
iterado de vetor dentro deste cone, suficientemente grande, se
aproxima do autoespaço generalizado do autovalor dominante.
Isso nos dá, neste caso específico, uma forma de calcular um
autoespaço, e seu autovalor. Como subproduto, também nos dá
uma forma de calcular raízes de polinômios.
9
1 Uma visão de Álgebra Linear
via Funções de Operadores
Neste capítulo relembramos muitos dos resultados sobre as representações matriciais mais simples que podemos obter
para operadores lineares em dimensão finita. Como sabemos, tais
resultados são o objetivo principal dos bons cursos de Álgebra
Linear. Mais precisamente, dado um operador linear A : E → E
definido em um espaço vetorial de dimensão finita, gostaríamos
que fosse sempre possível encontrar uma base no Espaço E na
qual A tivesse uma representação matricial como matriz diagonal. Ora, escrever um operador A como uma matriz diagonal
aplicada aos vetores de E, quer dizer simplesmente que existe
uma decomposição E := E1 ⊕ · · · ⊕ Es de E, em que a restrição
de A a cada Ej , j = 1, . . . , s é um múltiplo da identidade. Isso,
em geral, não é verdade, como mostram os próximos exemplos
em E = R2 :
Exemplo 1.1. Seja A : R2 → R2 dada por
A(x, y) :=
2
!
1
0
2
×
x
y
!
.
Um cálculo simples nos dá que se A(x, y) = λ · (x, y), então
necessariamente λ = 2 e (x, y) é um múltiplo de (1, 0). Ou seja,
o único espaço restrito ao qual A se comporta como múltiplo é
a reta gerada por (1, 0), o que é insuficiente para termos uma
decomposição de R2 do tipo que falamos no parágrafo anterior.
10 Capítulo 1. Uma visão de Álgebra Linear via Funções de Operadores
Exemplo 1.2. Seja A : R2 → R2 dada por
!
!
x
2 −1
×
.
A(x, y) :=
1 2
y
Essa aplicação corresponde a composição de uma rotação (de
ângulo maior que zero e menor que π/2) com um múltiplo da
identidade. Logo, com cálculos análogos ao do exemplo anterior,
é fácil provar A não é um múltiplo da identidade, se restrita a
qualquer subespaço não trivial de R2 .
Lembramos aqui o elementar Teorema da dimensão do
Núcleo e da Imagem:
Teorema 1.3. (Dimensão do Núcleo e da Imagem.) Seja
A : E → V uma aplicação linear entre espaços vetoriais quaisquer E, V . Então a dimensão do Núcleo ker(A) de A, somada
à dimensão da Imagem A(E) de A, é igual a dimensão de E.
Prova: Seja Ê ⊂ E um espaço complementar a ker(A)
em E, isto é, um espaço tal que ker(A) ∩ Ê = {0} e ker(A) + Ê =
E. Daí, ker(A|Ê ) = {0} e portanto A|Ê é um isomorfismo sobre
sua imagem. Dado w ∈ A(E), existe v = v0 +v̂ tal que A(v) = w,
com v0 ∈ ker(A) e v̂ ∈ Ê. Logo, A(v) = A(v0 ) + A(v̂) = A(v̂),
o que implica que a imagem de A é igual a de A|Ê , e portanto,
ambas possuem a mesma dimensão de Ê, o qual é complementar
a ker(A). Donde se segue o teorema.
Agora, suponha que λ1 seja um autovalor de A : E → E,
E um espaço vetorial de dimensão finita e que ker(A − λ1 I) ∩
(A − λ1 I)(E) = {0}. Então pelo teorema acima, temos que
Augusto Armando de Castro Júnior
11
E = ker(A − λ1 I) ⊕ (A − λ1 I)(E). Como E(λ1 ) := ker(A − λ1 )
é deixado invariante tanto por (A − λ1 I) como por λ1 I, ele é
deixado invariante por A = (A − λ1 I) + λ1 I. O mesmo raciocínio se aplica a E1 := (A − λ1 I)(E), que também é invariante
por A. Se ker(A − λj I) ∩ (A − λj I)(E) = {0}, j = 1, . . . , s,
podemos aplicar recursivamente o mesmo argumento a A|E1 ,
obtendo uma decomposição invariante E = E(λ1 ) ⊕ E(λs ), onde
{λ1 , . . . , λs } são os autovalores de A, e A|E(λj ) = λj I|E(λj ) , ou
seja A é diagonalizável.
Mas como vimos nos exemplos mais acima, nem sempre
ker(A − λj I) ∩ (A − λj I)(E) = {0}. Desse modo, o resultado que
temos em geral é o seguinte
Teorema 1.4. (Teorema da decomposição em autoespaços generalizados). Sejam A : Cn → Cn um operador linear
complexo e Sp(A) o conjunto dos autovalores de A. Então existe
decomposição Cn = ⊕λ∈Sp(A) E(λ) onde:
• A · E(λ) ⊂ E(λ).
• (A − λI)|E(λ) é nilpotente, isto é, (A − λI)k |E(λ) ≡ 0, para
algum k ≤ dim(E(λ)).
Para a prova desse teorema, precisamos do seguinte lema:
Lema 1.5. Seja E um espaço vetorial, dim(E) = n < +∞. Seja
T : E → E um operador linear. Então, existe uma decomposição
em soma direta E = E0 ⊕ E1 tal que
• T · E0 ⊂ E0 e T |E0 é nilpotente, com nulidade menor ou
igual à dimensão de E0 .
12 Capítulo 1. Uma visão de Álgebra Linear via Funções de Operadores
• T · E1 = E1 .
Prova: Note que se T fosse tal que T ·E ∩Ker(T ) = {0},
nada mais teríamos a mostrar (bastaria tomar E0 = Ker(T ) e
E1 = T · E). Isso não ocorre em geral. Entretanto, podemos
mostrar que ocorre para algum T m , 1 ≤ m ≤ n. De fato, as
sequências abaixo se estabilizam (em certo m ≤ n):
Ker(T ) ⊂ Ker(T 2 ) ⊂ · · · ⊂ Ker(T n ) ⊂ E,
E ⊃ T · E ⊃ T 2 · E ⊃ · · · ⊃ T n · E.
A estabilização de tais sequências ocorre porque a dimensão de
E é finita.
Note que se Ker(T i ) = Ker(T i+1 ), então Ker(T i+2 ) =
Ker(T i+1 ), pois se
v ∈ Ker(T i+2 ) ⇒ T i+2 · v = 0 ⇒
T i+1 (T · v) = T i (T · v) = 0 ⇒
{z
}
|
T ·v∈Ker(T i+1 )=Ker(T i )
v ∈ Ker(T i+1 ).
Logo, por indução, temos nesse caso Ker(T j ) = Ker(T i ), ∀j ≥ i.
De um modo análogo, se T i (E) = T i+1 (E) então
T · T i (E) = T · T i+1 (E) ⇒ T i+1 (E) = T i+2 (E)
Logo, T i (E) = T j (E), ∀j ≥ i.
Tal implica que as sequências acima realmente se estabilizam até, no máximo seu n-ésimo termo. Além disso, são estritamente monótonas (respectivamente, crescente e decrescente)
até um índice a partir dos quais elas se tornam constante.
Augusto Armando de Castro Júnior
13
Mostremos que esse índice é o mesmo para ambas as
sequências. Suponha que a sequência de imagens de E estabiliza
para m ≤ n. Isso implica que
T j · T m (E) = E1 := T m (E), ∀j ≥ 0 ⇒ T (E1 ) = E1 .
Daí, pondo E0 := Ker(T m ), temos que dado v ∈ Ker(T m+1 ),
como T m+1 · v = 0 se por absurdo v 6∈ Ker(T m ), então
T m · v 6= 0 ∈ E1
⇒
|{z}
T · (T m · v) 6= 0
T |E1 é isomorfismo
(absurdo, pois v ∈ Ker(T m+1 )). Observamos ademais que se m̂
é o primeiro índice em que a sequência de núcleos se estabiliza,
então se supomos T m̂ · E ⊃6= T m̂+1 · E = T (T m̂ · E), segue-se
que existe 0 6= v ∈ T m̂ (E) tal que T · v = 0. Seja portanto w
tal que T m̂ · w = v. Então w ∈ Ker(T m̂+1 ) \ Ker(T m̂ ), absurdo.
Concluímos dos parágrafos acima que m = m̂, isto é, ambas
as sequências se estabilizam exatamente para um mesmo índice.
Até o índice m, as inclusões dos espaços dessas sequências são
estritas. Em particular, concluímos que a dimensão de E0 =
Ker(T m ) é maior ou igual a m, ou por outra, que a nulidade
(menor número de iterações que anula um operador nilpotente)
de T |E0 é menor ou igual a dim(E0 ).
Pelo teorema do núcleo e da imagem, temos que dim(E0 )+
dim(E1 ) = n. Para mostrar que E = E0 ⊕ E1 basta ver então que E0 + E1 gera o espaço E. De fato, seja x ∈ E. Tomando T m (x) ∈ E1 = T m (E) = T 2m (E) ⇒ ∃y ∈ E; T m (x) =
T 2m (y) ⇒ T m (x − T m (y)) = 0. Logo
x = (x − T m (y)) + T m (y),
| {z }
∈Ker(T m )
14 Capítulo 1. Uma visão de Álgebra Linear via Funções de Operadores
o que implica que E0 + E1 geram E e dadas as dimensões desses
espaços, E0 e E1 estão em soma direta.
Podemos agora proceder à prova do teorema de decomposição em autoespaços generalizados:
Prova: Seja λ1 ∈ Sp(A). A existência de um tal λ1 é
devida ao teorema fundamental da álgebra aplicado ao polinômio
característico de A dado por p(λ) := det(A−λ·I) (os autovalores
de A são as raízes desse polinômio). Aplicando o lema a T :=
A − λ1 · I, obtemos que Cn se escreve como Cn = E(λ1 ) ⊕ E1 ,
com T |E(λ1 ) nilpotente e T |E1 isomorfismo. Como sabemos que
dado um autovalor (por exemplo, λ1 ), existe pelo menos um
autovetor v1 que lhe corresponde, temos que v1 ∈ Ker(A − λ1 ·
I) ⊂ Ker((A − λ1 · I)m ) = E(λ1 ), o que implica que E(λ1 ) é
não trivial. Como já dissemos, (A − λ1 )|E(λ1 ) é nilpotente, com
nulidade k = m ≤ dim(E(λ1 )). Como (A − λ1 · I)(E(λ1 )) ⊂
E(λ1 ), vale ainda que
A(E(λ1 )) = (A − λ1 · I)(E(λ1 )) + λ1 · I(E(λ1 )) ⊂ E(λ1 ).
Note ainda que T (E1 ) = E1 , portanto, (A − λ1 · I)(E1 ) = E1 ,
e se tomamos v ∈ E1 , então A · v − λ1 · v ∈ E1 ⇒ A · v ∈ E1 .
Donde obtemos que A(E1 ) ⊂ E1 . Observamos ainda que:
• A|E0 : E0 → E0 não contém autovetor de A que não seja
do autovalor λ1 . De fato, se λ 6= λ1 é um autovalor de A,
se por absurdo existisse um autovetor v de λ contido em
E0 , obteríamos:
(A − λ1 ) · v = A · v − λ1 · v = (λ − λ1 ) · v ⇒
Augusto Armando de Castro Júnior
15
T j · v = (λ − λ1 )j · v 6= 0, ∀j ∈ N
o que é uma contradição com o fato de que T |E0 é nilpotente.
• Todos os outros possíveis autovetores de A, referentes aos
autovalores distintos de λ1 estão contidos em E1 . Realmente, suponha por absurdo que existe um autovetor v ∈
E de um autovalor λ ∈ C mas v ∈
/ E1 e v ∈
/ E0 = E(λ1 ).
Então podemos escrever v = v0 +v1 , com v0 ∈ E0 e v1 ∈ E1
não nulos. Supondo que k1 seja a nulidade de (A − λ1 )|E0 ,
obteríamos:
E1 63 (λ−λ1 )k1 ·v = (A−λ1 )k1 ·v = (A−λ1 )k1 ·v0 +(A−λ1 )k1 ·v1 =
((A − λ1 )|E0 é nilpotente)
(A − λ1 )k1 · v1 ∈ E1 ,
absurdo.
Logo, A|E1 : E1 → E1 , e podemos reaplicar o lema,
dessa vez tomando um autovalor λ2 de A|E1 . Aí obtemos Cn =
E(λ1 ) ⊕ E(λ2 ) ⊕ E2 ; continuando nesse procedimento até que
{z
}
|
E1
Ej = {0} (e por conseguinte, sejam exauridos todos os autovalores de A, que são em número finito pois o espaço tem dimensão
finita) segue-se o teorema.
Corolário 1.6. Todo operador linear A : Cn → Cn se escreve
como A = D + N , com D · N = N · D, onde D é um operador
diagonalizável e N é nilpotente. Além disso, tal decomposição é
única.
16 Capítulo 1. Uma visão de Álgebra Linear via Funções de Operadores
Prova: Definamos o operador linear D em Cn definindoo em cada E(λi ) da decomposição em soma direta Cn = ⊕λ∈Sp(A) E(λ) =
⊕rj=1 E(λj ). De fato, definimos D|E(λj ) := λj · I|E(λj ) , o que implica definirmos N |E(λj ) := (A − λj · I)|E(λj ) .
Seja
β = {v11 , . . . , v1d1 , . . . , vr1 , . . . , vrdr },
onde
dj = dim(E(λj )) e {vj1 , . . . , vjdj }
constitui uma base de E(λj ). Como os E(λj ) estão em soma
direta, temos que β é base de Cn . Daí,
λ1
0
D · v1 = λ1 · v1 , ∀v1 ∈ E(λ1 )
0
..
⇒
D
=
β
.
0
D · vr = λr · vr , ∀vr ∈ E(λr )
0
0
0
..
.
..
.
...
..
.
...
λ1
0
...
0
λ2
..
.
...
...
...
..
.
..
.
0
Portanto, D é diagonalizável. Que N é nilpotente, já
mostramos (imediato do teorema de decomposição em autoespaços generalizados). Note que
A|E(λj ) = D|E(λj ) + N |E(λj ) ⇒ A = D + N.
Vejamos que vale D · N = N · D. Para tal, basta mostrarmos que, dado v ∈ E(λ), para E(λ) qualquer, vale D ·N ·v =
N · D · v. E de fato, neste caso temos:
D · N · v = D · N |E(λ) · v = D · (A − λI)|E(λ) · v =
|
{z
}
⊂E(λ)
0
..
.
0
λr
Augusto Armando de Castro Júnior
17
D|E(λ) · (A − λI)|E(λ) · v = (λI)|E(λ) · (A − λI)|E(λ) · v =
(A − λI)|E(λ) · (λI)|E(λ) · v = N |E(λ) · D|E(λ) · v = N · D · v.
Só nos resta agora mostrar que a decomposição acima
(A = D+N , com D diagonalizável, N nilpotente e D·N = N ·D)
é única.
De fato, se D + N = A = N 0 + D0 , como sempre, basta
que nos restrinjamos a mostrar que N = N 0 e D = D0 se restritos
a um E(λ) fixado arbitrário.
Restritos a tal E(λ), temos:
λI + (A − λI) = N 0 + D0 ⇒ λI − D0 = N 0 − (A − λI).
Note que todos os operadores comutam com A, e, do acima,
vemos que comutam entre si. Lembramos que se dois operadores diagonalizáveis comutam, existe uma base de autovetores comum a ambos, isto é, eles são simultaneamente diagonalizáveis
(a recíproca também é obviamente válida). Um esboço de prova
desse fato é o seguinte: fixado um autoespaço E(λj ) de D, com
vj ∈ E(λj ), temos:
D ·D0 ·vj = D0 ·D ·vj = D0 ·λj ·vj = λj ·D0 ·vj ⇒ D0 ·vj ∈ E(λj ),
ou seja, os autoespaços de D são invariantes por D0 (e viceversa). Tal também implica (permutando os papéis de D e D0 )
que cada autoespaço de D é soma de autoespaços de D0 ou viceversa (está contido em um autoespaço de D0 ). Desse modo, é
possível decompor o espaço E em uma soma direta de autoespaços de D ou D0 com a propriedade de que cada subespaço dessa
soma não contém propriamente nenhum outro autoespaço de D
ou D0 . Em qualquer base obtida reunindo bases dos autoespaços
18 Capítulo 1. Uma visão de Álgebra Linear via Funções de Operadores
dessa soma direta, ambos os operadores D, D0 são diagonais.
Em particular, temos que D − D0 é diagonalizável, e diagonal
naquela base.
Seja k a nulidade de N e k 0 a nulidade de N 0 . Considerando que D − D0 = N 0 − N, elevando ambos os membros
desta equação a (k + k 0 ), temos, usando o binômio de Newton
(veja que N 0 comuta com N |E(λ) ) que o segundo membro é zero.
0
Isto implica que (D − D0 )k+k = 0, o que para um operador diagonalizável implica que (D − D0 ) = 0, isto é, D = D0 , e daí,
N = N 0.
Corolário 1.7. (Teorema de Cayley-Hamilton). Existe um polinômio p de grau menor ou igual a n tal que p(A) = 0 ∈ L(Cn ).
Prova: Tome como polinômio p(x) = (x − λ1 )k1 · · · · ·
(x − λr ) . Considere então a matriz Z = p(A) = (A − λ1 I)k1 ·
kr
· · · · (A − λr I)kr (lembramos que kj é a nulidade do operador
(A − λj )|E(λj ) ). Para mostrar que Z = 0, basta mostrar que
Z|E(λ) = 0, com λ = λ1 , . . . , λr . Seja v ∈ E(λ). Daí, como A
comuta consigo mesma e com λj I, temos que
Z · v = (A − λ1 )k1 · · · · · (A − λ)k(λ) · · · · · (A − λr )kr · v =
(A − λ1 )k1 · · · · · (A − λr )kr · (A − λ)k(λ) · v = 0,
pois (A − λ)k(λ) · v = 0, para todo v ∈ E(λ).
Lema 1.8. (A ser usado no Teorema da forma de Jordan). Seja
E um espaço vetorial, dim(E) < +∞ e seja T : E → E um operador linear nilpotente, isto é, existe um primeiro k ∈ N tal que
T k ≡ 0. Então existe uma base de E formada por um número
finito de sequências (também finitas) linearmente independentes
Augusto Armando de Castro Júnior
19
{v1,1 , . . . , v1,j1 }, . . . {vq,1 , . . . , vq,jq } tais que T ·vs,js = vs,js −1 . . . T ·
vs,1 = 0, com s = 1 . . . q.
Prova: Vimos do lema anterior que
{0} = Ker(T 0 ) ⊂6 = Ker(T ) ⊂6 = · · · ⊂6 = Ker(T k ) = E.
Comecemos nosso algoritmo por E k−1 , um espaço complementar de Ker(T k−1 ) dentro de Ker(T k ) = E. Note que
T s (E k−1 ) ∩ Ker(T j ) = {0}, ∀1 ≤ s ≤ k − 1 e ∀0 ≤ j ≤ k − s − 1.
Em particular, T i (E k−1 ) é imagem isomorfa de E k−1 . Fixe
v1,k−1 . . . vq0 ,k−1 uma base de E k−1 e considere seus iterados
T k−s (vr,k−1 ) := vr,s , com k ≥ s ≥ 1 e 1 ≤ r ≤ q 0 , o que já nos
dá se não todas, algumas das sequências do enunciado. De fato,
para ver que os espaços
E k−1 , T · E k−1 , . . . , T k−1 · E k−1 ,
estão em soma direta, observamos inicialmente que todo vetor
não nulo em E k−1 precisa ser iterado exatamente (no mínimo) k
vezes por T para ser levado no zero. Isso implica que cada vetor
não nulo de T ·E k−1 precisa ser iterado k−1 vezes por T para ser
levado no zero, e assim por diante. Vemos deste raciocínio que os
espaços considerados têm intesecção dois a dois igual a {0}. Para
vermos que estão em soma direta (embora esta soma não perfaça
necessariamente o espaço E), seja vs 6= 0 pertencente a um dos
espaços acima, digamos vs ∈ T k−s · E k−1 . Daí, T s · vs = 0, e
T j (vs ) 6= 0, ∀0 ≤ j < s. Mostremos que vs não pode ser expresso
como combinação linear de vetores nos demais espaços, do tipo:
X
vs =
αj vj , vj ∈ T k−j E k−1 , αj não todos nulos.
j6=s
20 Capítulo 1. Uma visão de Álgebra Linear via Funções de Operadores
Realmente, se pudesse, teríamos, podemos mostrar que todos
os αj são nulos. Procedamos pelo princípio da Boa Ordenação.
Seja B = {j > s; αj 6= 0}. Mostremos que B é vazio. De fato,
suponha que não. Seja r o máximo de B. Daí,
0 = T r−1 vs =
X
αj T r−1 vj = αr T r−1 vr ⇒ αr = 0; (absurdo).
j6=s
Assim, todos os αj com j > s são nulos. Por outro lado, daí
obtemos que
0 6= T s−1 · vs =
X
αj T s−1 vj = 0,
j<s
o que implica que vs não pode ser expresso segundo uma tal
combinação de vetores.
Agora, tome E k−2 ⊃ T (E k−1 ) um espaço complementar
de
Ker(T k−2 ) dentro de Ker(T k−1 ). Repetimos o mesmo raciocínio de antes, a E k−2 , descartando as sequências de vetores já
contidas nas sequências de E k−1 . Como o espaço tem dimensão
finita, em um número finito de passos o lema está provado.
Teorema 1.9. (Forma de Jordan- caso complexo.) Seja
A : Cn → Cn um operador linear com autovalores complexos
distintos λ1 . . . λr , 1 ≤ r ≤ n. Então, existe uma base β de Cn
Augusto Armando de Castro Júnior
21
na qual o operador é representado pela matriz
λ1 0 ou 1 0 . . .
0
.
.
.
.
0
. ...
.
..
.
λ1
0
...
0
Aβ = 0
...
0 λ2 0 ou 1
..
..
0
.
.
...
0
...
0
λr
0
...
0
0
..
.
0
0 ou 1
λr
Prova: Aplicamos o último lema a (A − λk · I)|E(λk ) .
Pelo lema, existe uma base βk de E(λk ) em que (A − λk · I)|E(λk )
é representada pela matriz
0 0 ou 1
0
0
0
...
0
...
0
..
... 0
.
0
0 ...
0 ou 1
0
Note que nessa base, como em qualquer outra base, (λk · I)|E(λk )
se escreve como:
λk 0 . . . 0
..
.
0
0
0 . . . 0 λk
Como A|E(λk ) = (λk · I)|E(λk ) + (A − λk · I)|E(λk ) segue-se que
A|E(λk ) se escreve na base βk como:
λk 0 ou 1 0
... 0
..
0
. 0 ...
λk
..
. 0 ou 1
...
0
0
...
λk
22 Capítulo 1. Uma visão de Álgebra Linear via Funções de Operadores
Tomando a base ordenada β formada pelos vetores em β1 , . . . , βr ,
da invariância de cada E(λk ) obtemos que o operador A na base
β se escreve como:
λ1 0 ou 1
λ1
0
0
...
0
...
Aβ = 0
...
..
.
0
...
0
..
... 0
.
0 ...
..
.
0 ou 1
λ1
...
0
..
.
0
λr
0 ou 1
0
λr
0
..
.
0
...
..
0
...
.
0
..
.
0
... 0
0 ...
0 ou 1
λr
Definição 1.10. (Complexificado de um operador real.)
Considere um operador linear A : Rn → Rn , Cn = Rn ⊕ Rn =
(Rn )1 ⊕ (Rn )2 , onde (Rn )1 := (Rn , 0) e (Rn )2 := (0, Rn ). Se
v = (v1 , v2 ) ∈ Rn ⊕ Rn , então definimos o complexificado à :
Cn → Cn o operador estendendo A dado por
à · v := (A · v1 , A · v2 ) = A · v1 + iA · v2 .
Definição 1.11. (A aplicação conjugação
: Cn → Cn ). Dado
v ∈ Cn = Rn ⊕ Rn , v = (v1 , v2 ), a aplicação conjugação
Cn → Cn é o isomorfismo linear dado por
v = (v1 , v2 ) := (v1 , −v2 ).
:
Augusto Armando de Castro Júnior
23
Proposição 1.12. Seja A : Rn → Rn um operador linear real.
Então o complexificado à de A comuta com a aplicação de conjugação, isto é, à · v = à · v, ∀v ∈ Cn .
Prova: A prova é direta:
à · v = (A · v1 , −A · v2 ) = (A · v1 , A · −v2 ) = à · v.
Teorema 1.13. (Forma de Jordan- caso real.) Seja A :
Rn → Rn um operador linear com autovalores reais λ1 . . . λr e
autovalores complexos não reais a1 + ib1 , . . . as + ibs . Então,
existe uma base β de Rn na qual o operador é representado pela
matriz em blocos na diagonal
J1
0
Aβ = .
..
0
..
...
.
0
Jr
J˜1
0
..
.
0
..
.
,
0
˜
Js
onde cada Jk , 1 ≤ k ≤ r é da forma:
λk
0
0
0
0 ou 1
0
λk
..
.
..
.
...
...
... 0
0 ...
,
0 ou 1
λk
24 Capítulo 1. Uma visão de Álgebra Linear via Funções de Operadores
e cada J˜l , 1 ≤ l ≤ s é da forma:
al
bl c1 0
−bl al 0 c1
..
.
0
..
..
.
.
0
0
...
0
0 ...
..
.
cd
0
al
−bl
0
0
0,
cd
bl
al
onde cada ce = 1 ou ce = 0, e = 1 . . . d.
Prova: Note que identificamos A com Ã|(Rn )1 . Dividiremos a prova em vários passos, por razões didáticas:
1. Como à provem de um operador real, se λ é autovalor de
Ã, o mesmo vale para λ, e se v é autovetor correspondente
a λ, v é autovetor associado a λ. De fato, como à é o
complexificado de um operador real, a decomposição Cn =
(Rn )1 ⊕ (Rn )2 é invariante por Ã, isto é, Ã|(Rn )1 · (Rn )1 ⊂
(Rn )1 e Ã|(Rn )2 · (Rn )2 ⊂ (Rn )2 . Daí,
à · v = λ · v = λ · v ⇒ à · v = λ · v.
2. Como A é operador real, se λ é um autovalor qualquer de
Ã, então E(λ) ⊃ Ã · E(λ) = Ã · E(λ), o que implica que
E(λ) é deixado invariante por Ã. Ademais,
(Ã − λ)kj (E(λ)) = 0 ⇔ (Ã − λ)kλ (E(λ))
= 0 ⇔ (Ã − λ)kλ (E(λ)) = 0.
Isso significa que (Ã−λ)|E(λ) e (Ã−λ)|E(λ) são operadores
nilpotentes de mesma nulidade. Daí, λ é o único autovalor
Augusto Armando de Castro Júnior
25
de à em E(λ). Além do mais, lembramos que E(λ) =
Ker((Ã − λ)dλ ⊃ Ker((Ã − λ)kλ ), conforme o lema 1.5. Em
particular, E(λ) ⊂ E(λ). Trocando λ com λ, obtemos que
E(λ) ⊂ E(λ), donde tiramos, já que a conjugação é um
isomorfismo (sesquilinear), que dim(E(λ)) = dim(E(λ)) e
que E(λ) = E(λ).
3. Como já observamos, Ã|(Rn )1 é (identificado com) nosso
A original. Note que se λj é um autovalor real, do item
anterior temos E(λj ) = E(λj ) = E(λj ). Tal implica que
tomando w1 , . . . , wdj uma base de E(λj ) e a base formada
pelos conjugados w1 , . . . , wdj então as partes reais (w1 +
w1 )/2, . . . , (wdj +wdj )/2 e imaginárias (w1 −w1 )/2i, . . . , (wdj −
wdj )/2i pertencem a E(λj ). Ademais, tais vetores (que são
reais) geram E(λj ) enquanto espaço complexo, já que por
exemplo, geram w1 , . . . , wdj . Em particular, do conjunto
dessas partes reais e imaginárias, podemos extrair uma
base de vetores reais de E(λj ). Os vetores desta base são
linearmente independentes sobre C, o que quer dizer que
são linearmente independentes enquanto vetores reais, sobre R. Isso significa que esses vetores são uma base do
espaço real E(λj ) ∩ (Rn )1 , já que tal espaço tem como dimensão real máxima igual à dimensão complexa de E(λj ).
Pelo teorema da decomposição em autoespaços generalizados, Ã|E(λj ) = λj · I|E(λj ) + (Ã − λj · I)|E(λj ) . Note que
tais parcelas deixam invariante (Rn )1 , pois λj ∈ R. Como
(Ã − λj · I)|E(λj ) é nilpotente, e deixa E(λj ) ∩ (Rn )1 invariante, podemos aplicar à mesma o lema 1.8, obtendo uma
base de vetores (reais) na qual (Ã − λj · I)|E(λj )∩(Rn )1 se
26 Capítulo 1. Uma visão de Álgebra Linear via Funções de Operadores
escreve como
0
0
0
0
0 ou 1
..
0
..
.
.
...
... 0
..
.
0 ou 1
0
Definindo E := ⊕rj=1 E(λj ), e justapondo as bases de vetores reais encontradas acima para diferentes valores de j,
em uma base γ de do espaço E ∩ (Rn )1 , seguindo a prova
do teorema da forma de Jordan, versão complexa, temos
que:
λ1
0
0
(A|E∩(Rn )1 )γ =
..
.
0
0
0 ou 1
..
.
..
.
0
...
0 ou 1
0
λ1
0
..
.
..
.
...
...
...
..
0
..
.
.
..
λr
.
0
0 ou 1
..
.
...
0
..
.
0
0 ou
λr
4. No caso dos autoespaços generalizados de autovalores complexos com parte imaginária não nula, a situação é uma
pouco diversa. Comecemos por fixar um autovalor λ complexo (e com parte imaginária não nula) de Ã. Observamos
que nesse caso, dim(E(λ) ∩ (Rn )1 ) = 0. De fato, nesse caso
λ 6= λ, e como vimos E(λ) = E(λ). Logo
E(λ) ∩ E(λ) = {0} ⇒ E(λ) ∩ E(λ) = {0},
o que significa que E(λ) (assim como E(λ)) não possui
vetores reais.
1
Augusto Armando de Castro Júnior
27
5. Por outro lado, o espaço Ê = E(λ) ⊕ E(λ) possui uma
intersecção não trivial com (Rn )1 . De fato, dado um vetor
v = (v1 , v2 ) = v1 + i · v2 ∈ E(λ) sua parte real v1 pertence
a Ê, bem como sua parte imaginária v2 :
v1 = (v + v)/2 ; v2 = (v − v)/(2 · i),
o que em outras palavras quer dizer que (v1 , 0) ∈ Ê ∩(Rn )1
e que também (v2 , 0) ∈ Ê ∩ (Rn )1 .
6. Observe que se w1 , . . . , wdλ constituem uma base que deixa
Ã|E(λ) na forma de Jordan (complexa), o mesmo pode ser
dito de w1 , . . . , wdλ com respeito a ÃE(λ) . Dado v ∈ Ê,
designemos sua parte real por v 0 e sua parte imaginária por
v 00 que, como vimos acima, pertencem também a Ê∩(Rn )1 .
Portanto, dada a base η de Ê dada por w1 , . . . , wdλ , w1 , . . . , wdλ
os vetores w10 , w100 , . . . , wd0 λ , wd00λ constituem uma base γλ de
Ê como espaço complexo, bem como de Ê ∩ (Rn )1 , como
espaço sobre R. De fato, para ver isso, basta observar que o
conjunto {w10 , w100 , . . . , wd0 λ , wd00λ } gera a base η acima, e tem
a cardinalidade da dimensão (complexa) de Ê, logo tais
vetores são linearmente independentes (olhando-os como
vetores complexos). Ou seja, tais vetores constituem uma
base do espaço complexo Ê. Mas se são linearmente independentes sobre o corpo dos complexos, (sendo também
vetores reais), também o são sobre o corpo dos reais. Como
a dimensão real de Ê ∩ Rn é (no máximo) 2 · dλ , isso implica a afirmação de que {w10 , w100 , . . . , wd0 λ , wd00λ } são uma
base de Ê ∩ (Rn )1 , como espaço real.
7. Agora só falta mostrar que na base γλ Ã|Ê∩(Rn )1 tem a
forma de Jλ do enunciado. Isto é obtido por cálculo direto,
28 Capítulo 1. Uma visão de Álgebra Linear via Funções de Operadores
pois sabemos qual a representação de à na base η de Ê e
como ela se relaciona com a base (como espaço sobre R)
γλ . Realmente, temos que
λ c1
.
0 . .
.
.
(Ã|Ê )η = . . . .
0 ...
0
..
.
...
λ
0
λ
c1
..
.
0
0
..
.
,
0
..
.
λ
onde c1 , . . . , cdλ −1 são constantes que podem ser igual a
zero ou 1. A j−ésima coluna (1 ≤ j ≤ dλ ) acima é a
representação de Ã|Ê · wj na base η. Do mesmo modo, a
(dλ +j)- ésima coluna (1 ≤ j ≤ dλ ) acima é a representação
de Ã|Ê · wj na base η.
Temos, por exemplo, que:
à · w10
à · w1 + Ãw1
λ · w1 + λ · w1
=
=
2
2
(escrevendo λ = a + bi)
(a + bi) · (w10 + i · w100 ) + (a − bi) · (w10 − i · w100 )
= a·w10 −b·w100 .
2
Similarmente, calculamos que à · w100 = b · w10 + a · w100 . Só
com essas contas, já obtivemos que
(Ã|Ê∩(Rn )1 )γλ
a
−b
=
0
..
.
b ?
a ?
0
..
.
?
?
...
.
Augusto Armando de Castro Júnior
29
Temos, atuando à em w20 e w200 :
÷w20 =
à · w2 + à · w2
c1 · w1 + λ · w2 + c1 · w1 + λw2
=
=
2
2
c1 · w10 + a · w20 − b · w200 ;
÷w200 =
à · w2 − à · w2
c1 · w1 + λ · w2 − c1 · w1 − λw2
=
=
2i
2i
c1 · w100 + b · w20 + a · w200 .
Tais computações já nos dão a forma:
(Ã|Ê∩(Rn )1 )γλ
a
b
c1
0
? ...
−b
=0
.
.
.
0
a
0
c1
?
0
..
.
a
b
?
−b
a
?
.
0
0
0
?
Prosseguindo nessas mesmas contas, obtemos a forma desejada, justapondo as (sub)bases γ e as diversas γλ de modo
a obter uma base de (Rn )1 .
Observação 1.14. Quando tratarmos de operadores reais, designaremos por E(λ) o autoespaço generalizado real associado a
λ, se λ for real. Caso contrário, abusando um pouco da notação,
designaremos por E(λ) a soma dos espaços complexos associados
a λ e λ, intersectada com (Rn )1 ' Rn .
30 Capítulo 1. Uma visão de Álgebra Linear via Funções de Operadores
1.1 Avaliando polinômios em matrizes
Considere uma matriz quadrada Jλ de dimensão dλ · dλ
da forma
λ
1
0
0
.
Jλ :=
..
0
..
.
..
.
.
..
.
...
..
.
..
.
...
0
λ
..
0
...
0
0
..
.
0
1
λ
Considere um polinômio qualquer da forma f (x) =
Pk
n=0
Que matriz obtemos se avaliarmos esse polinômio na matriz Jλ ?
Afirmamos que obtemos a matriz
f (Jλ ) =
f (λ) Df (λ)
0
..
.
..
.
..
.
f (λ)
0
...
D 2 f (λ)
2
Df (λ)
..
.
D 3 f (λ)
3!
...
D 2 f (λ)
2
...
..
.
..
.
...
..
.
..
.
0
D d−1 f (λ)
(d−1)!
..
.
..
.
..
.
.
Df (λ)
f (λ)
De fato, denotando por N a parte nilpotente da matriz
Jλ , do binômio de Newton temos que
n
(λI + N ) = {
n X
n
p=0
p
(λn−p IN p )}.
an xn .
1.1. Avaliando polinômios em matrizes
31
Como a matriz
0
.
..
Np =
0
...1
0
0
..
0
..
.
,
1
...
..
.
.
...
0
com a p−ésima diagonal acima da diagonal principal formada de
1’s, e o restante das entradas da matriz zerada, temos que
λn
0
.
n .
X
n
.
n−p
p
{
(λ
IN )} =
..
p
p=0
.
.
.
.
Como f (Jλ ) =
nλn−1
D 2 f (λ)
2
D 3 f (λ)
3!
f (λ)
nλn−1
..
.
D 2 f (λ)
2
0
...
...
Pk
Pn
n=0
p=0 an
n
p
..
.
..
.
...
...
D d−1 f (λ)
(d−1)!
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
nλn−1
0
λn
(λn−p IN p ), segue-se
a interessante afirmação.
Agora, suponha que temos uma matriz na forma de Jordan, digamos
Jλ1
0
J = .
.
.
0
0
Jλ2
..
.
...
..
.
..
.
...
0
0
..
.
,
0
Jλs
onde cada Jλj é uma submatriz quadrada da forma λj I + Nj ,
com Nj uma matriz nilpotente, com 1’s ou 0’s na diagonal imediatamente acima da principal.
.
32 Capítulo 1. Uma visão de Álgebra Linear via Funções de Operadores
Claro está que a projeção sobre o autoespaço generalizado associado ao autovalor λ1 é simplesmente
!
Id1 0
Πλ1 =
,
0 0
onde Id1 é uma submatriz tipo identidade de mesma dimensão
d1 × d1 que Jλ1 .
Supondo que sejamos masoquistas, como podemos obter Πλ1 a partir de um polinômio f avaliado em J? Ora, basta
encontrarmos um polinômio que se anule em λ2 , . . . , λs , que seja
1 em λ1 e cujas derivadas de ordem, digamos, até max{dj , j =
1, . . . , s}, se anulem em λ1 , . . . , λs . Do que vimos mais acima, tal
implicará que
f (J) =
Id1
0
0
0
!
.
E se A fosse uma matriz qualquer? Ah, agora vem a
parte em que deixamos de ser masoquistas, pois a projeção sobre um determinado autoespaço generalizado não é trivialmente
dada. Ora, sabemos que a matriz A é equivalente a uma matriz de Jordan, ou seja, existe uma matriz invertível P tal que
A = P JP −1 . Mas aí, f (A) = P f (J)P −1 é tal que
f 2 (A) = P (f (J))2 P −1 = P f (J)P −1 ,
o que implica que f (A) é uma projeção. Ademais, da conjugação
vemos ainda que f (A) zera exatamente nos autoespaços generalizados não associados a λ1 , e é a identidade em E(λ1 ). Para
ver isso, observe primeiro que da comutatividade entre A e f (A)
segue-se que f (A)(E) := E1 é um espaço A−invariante:
A(E1 ) = A(f (A)(E)) = f (A)(A(E)) ⊂ f (A)(E) = E1 .
1.2. Exercícios
33
Ademais, vê-se que E1 = f (A)E está contido no ker((A−λ1 I)d1 ):
(A − λ1 )d1 f (A)(E) =
(Af (A) − λ1 f (A))d1 (E) =
(P JP −1 P f (J)P −1 − λ1 P f (J)P −1 )d1 (E) =
1
(P (Jf (J) − λ1 f (J))P −1 )d (E) =
P (Jf (J) − λ1 f (J))d1 P −1 (E) =
P (Jf (J) − λ1 f (J))d1 (E) = 0
Usando de estimativa análoga para a soma dos demais subespaços de A, concluímos por argumento de dimensão que E1 =
ker((A − λ1 I)d1 ) = E(λ1 ).
1.2 Exercícios
1. Seja p(x) = a0 + a1 x + · · · + an−1 xn−1 + xn um polinômio
mônico de grau n Seja A a matriz companheira de p, isto
é, a matriz
0
1
A :=
0
.
.
.
0
...
0
..
.
−a0
..
.
..
.
..
..
.
1
0
−an−2
...
0
1
−an−1
.
−a1
..
.
cujo polinômio característico (façam as contas!) é p.
Se n ≥ 2 e p possui uma única raiz λ1 com multiplicidade
n, qual é a forma de Jordan de A?
2. Sejam λ1 e λ2 dois números complexos. Encontre um polinômio que seja 1 em λ1 , seja 0 em λ2 , e sua primeira
34 Capítulo 1. Uma visão de Álgebra Linear via Funções de Operadores
derivada se anule em λ1 e λ2 . E se pedirmos que todas as
suas derivadas até uma certa ordem k ≥ 1 se anulassem
em λ1 e λ2 ?
3. Seja A a matriz dada por
3
A := 0
1
0
0
3
1
1 .
1
Encontre um polinômio que, avaliado em A, retorne a projeção com respeito ao autoespaço associado ao autovalor
3.
35
2 Funções Analíticas
Vimos no capítulo anterior que avaliando polinômios
em matrizes, podemos calcular suas projeções com respeito a
cada autoespaço generalizado. Notamos que os polinômios usados para esse fim não eram únicos: qualquer polinômio que fosse 1
no autovalor λ cujo autoespaço (generalizado) quiséssemos calcular e zerasse suas derivadas no mínimo até certa ordem em
todos os autovalores, além de zerar nos demais autovalores, serviria para calcular o autoespaço generalizado E(λ). Isso sugere
que se conseguíssemos avaliar um operador em funções mais complicadas, que fossem 1 em uma vizinhança de λ e zero em uma
vizinhança dos demais autovalores, tal avaliação geraria a mesma
projeção sobre E(λ) que os polinômios de que falamos.
O problema é: como fazer uma tal avaliação? Para vermos como, precisamos estudar uma classe maior de funções que
a dos polinômios, a saber, a chamada coleção das funções analíticas.
E o que são funções analíticas? Grosso modo, são funções com domínio em algum aberto de C que localmente são
dadas por sua série de Taylor, que é uma série cujas somas reduzidas são polinômios. Exemplos bem conhecidos de funções
analíticas, além dos polinômios, são a exponencial, o logaritmo e
as funções racionais (quocientes de polinômios). As funções trigonométricas (ex.: seno, cosseno) são compostas de polinômios
com a exponencial, ou quociente de tais compostas. Observamos
que no caso da exponencial, a função consegue ser calculada glo-
36
Capítulo 2. Funções Analíticas
balmente por sua série de Taylor (a qual converge em todo o
plano complexo), funcionando na prática como se fosse um polinômio de grau infinito. Nesse caso, veremos que poderíamos
avaliar a exponencial em qualquer matriz, sem problemas, substituindo na série como se o faríamos se tivéssemos um polinômio.
Todavia, este está longe de ser o caso geral. Em geral, o fato da
convergência ser só local, nos impede de avaliar uma função desse
tipo numa matriz dada (a série obtida pode não convergir).
Contudo, as funções analíticas possuem uma outra representação, esta semiglobal, a fórmula Integral de Cauchy, na
qual faz sentido substituir uma matriz. Será ela que utilizaremos para definir nosso homomorfismo de avaliação em espaços
de operadores lineares.
A Fórmula Integral de Cauchy é parte fundamental da
chamada Teoria de Cauchy-Goursat de aplicações holomorfas.
Em princípio, uma aplicação f definida em um aberto U de C é
holomorfa, se seus quocientes de Newton (f (z) − f (z0 ))/(z − z0 )
em cada ponto z0 de U , avaliados com o produto em C convergem a um limite, quando z → z0 , chamado de derivada holomorfa em z0 . A Teoria de Cauchy-Goursat tem em sua base
a seguinte questão: quando uma aplicação holomorfa em cada
ponto de um aberto é a derivada de alguém? Essa é uma pergunta clássica, que segue o sabor do Teorema Fundamental do
Cálculo e de fato o traz no âmago de sua solução. Adiantamos
que toda aplicação holomorfa é a derivada holomorfa de alguém.
Claro, uma vez que uma aplicação seja a derivada de uma outra,
é fácil recuperar esta última (a partir de sua derivada) aplicando
o Teorema Fundamental do Cálculo a sua restrição a caminhos.
Veremos que ainda mais interessante, é o que ocorre quando a
2.1. Sequências e séries em Espaços de Banach
37
aplicação falha em ser derivada de outra. De fato, tal estudo nos
conduzirá à Fórmula Integral de Cauchy de que já falamos, e
ainda a descoberta que toda aplicação holomorfa é analítica.
Apresentaremos ainda o espaço de Banach das Aplicações lineares Contínuas e suas propriedades, alvo principal do
nosso curso. Nas duas últimas seções do capítulo introduziremos
a noção de Integração de caminhos tomando valores em espaços
de Banach, além de generalizarmos a teoria de Cauchy-Goursat
para o contexto destes espaços.
Abaixo, damos definições mais precisas desses objetos.
Em vez de considerarmos funções analíticas tomando valores
também em C, desenvolveremos os conceitos num contexto um
pouco mais geral, deixando o domínio em C mas tomando valores
em um espaço de Banach complexo.
2.1 Sequências e séries em Espaços de Banach
Definição 2.1. (Métrica e espaço métrico.) Uma métrica
em um conjunto X é uma função d : X × X → [0, +∞) tal que,
dados quaisquer x, y, z ∈ X, valem:
d1) d(x, y) = 0 ⇔ x = y.
d2) d(x, y) = d(y, x).
d3) d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) (desigualdade triangular).
O par ordenado (X, d) é chamado de espaço métrico.
Em geral, por um abuso de linguagem, diz-se que X é um espaço
métrico, subentendendo-se uma métrica d a ele associada.
38
Capítulo 2. Funções Analíticas
Definição 2.2. (Bola aberta e conjunto aberto de um
espaço métrico.) Seja (X, d) um espaço métrico. Dado x ∈ X
e r ∈ R+ quaisquer definimos a bola aberta centrada em x e de
raio r como o conjunto
B(x, r) := {y ∈ X; d(x, y) < r}.
Dizemos que A ⊂ X é um conjunto aberto de X se A pode ser
escrito como união qualquer de bolas abertas de X. Dizemos que
um conjunto F ⊂ X é fechado em X se F c := X \ F é aberto.
Definição 2.3. (Norma.) Seja (E, +, ., R) um espaço vetorial
real ou complexo. Uma norma em E é uma aplicação k · k : E →
[0, +∞) tal que:
n1) kvk = 0 ⇔ v = 0;
n2) kλvk = |λ| · kvk; ∀λ ∈ R, ∀v ∈ E.
n3) kv + wk ≤ kvk + kwk; ∀v, w ∈ E (desigualdade triangular).
O exemplo mais comum de espaço métrico é dado pelos
espaços vetoriais normados. Se E é um tal espaço, dotado de
uma norma k · k, então a aplicação d : E × E → [0, +∞) dada
por
d(v, w) := kv − wk, ∀v ∈ E, w ∈ E;
define uma métrica em E.
Outra classe importante de exemplos de espaços métricos é dada quando tomamos um subconjunto Y ⊂ X de um
espaço métrico (X, d). Nesse caso, a restrição d|Y ×Y define uma
métrica em Y .
Augusto Armando de Castro Júnior
39
Definição 2.4. (Sequência e subsequência.) Seja X um
conjunto qualquer. Uma sequência em X é uma aplicação x :
N → X. Denota-se xj := x(j) e (xj ) := x. Dada uma sequência (xj ) : N → X, uma subsequência (xjk ) de (xj ) é qualquer restrição de (xj ) a um subconjunto infinito N̂ ⊂ N, N̂ =
{j1 , j2 , . . . , com j1 < j2 < . . . }.
Definição 2.5. (Sequência convergente.) Uma sequência
(xj ) em um espaço métrico (Y, d) é dita convergente para y ∈ Y
se para toda bola aberta B tal que y ∈ B, tem-se um número
finito de índices j tais que xj ∈
/ B. Escrevemos xj → y para
denotar que a sequência (xj ) converge a y ∈ Y . Dizemos que uma
subsequência (xjk ) é convergente se a sequência (yk ) : N → Y
definida por yk := xjk , ∀k ∈ N for convergente.
Note que provarmos via definição que uma sequência
(xj ) é convergente a y ∈ Y envolve várias dificuldades: a primeira, é que precisamos exibir o candidato a limite, isto é o
ponto y ∈ Y para o qual a sequência converge. Mesmo que uma
deidade nos apresente esse candidato a limite, comparar os termos xj com y pode não ser fácil, vez que frequentemente os xj
são dados por meio de alguma fórmula indutiva. Essa dificuldade
nos leva a fazer uma definição, digamos, a meio caminho.
Definição 2.6. (Sequência de Cauchy.) Seja (Y, d) um espaço métrico. Uma sequência (yn ), com yn ∈ Y, ∀n ∈ N é dita
sequência de Cauchy se dado um real > 0, existe n0 ∈ N tal que
para todos m, j ∈ N, com m ≥ n0 e j ≥ n0 temos d(ym , yj ) ≤ .
Toda sequência convergente a um ponto é de Cauchy.
Por outro lado, toda sequência de Cauchy com subsequência convergente a um ponto converge a esse mesmo ponto. Tais fatos são
40
Capítulo 2. Funções Analíticas
deixados ao leitor como exercícios (ex. 6 e 7). Note que provar
que uma sequência é de Cauchy é muito mais fácil que provála convergente, pois não precisamos conhecer a priori o limite,
e precisamos para tal comparar os termos da sequência entre
si, e estes são dados, muitas vezes, por fórmulas indutivas que
favorecem sua comparação.
Definição 2.7. (Série.) Seja (vn ) : N → E uma sequência tomando valores em um espaço vetorial normado E. A série gerada
P
por (vn ), denotada por
vn , é a sequência (sn ) definida por:
sn :=
n
X
vj .
j=1
Tal sn é chamada de soma reduzida ou, simplesmente, reduzida.
P
A série
vn é portanto, a sequência das reduzidas.
Observação 2.8. (Critério de Cauchy para Séries.) Se uma
P
série
vn é de Cauchy, então temos que dado > 0, existe
n0 ∈ N tal que vale:
k
m
X
vj −
j=1
n
X
vj k = k
j=1
Proposição 2.9. Seja
m
X
vj k < , ∀m ≥ n ≥ n0 .
j=n+1
P
vn uma série de Cauchy, com vn ∈ E,
E um espaço vetorial normado. Então vn → 0 quando n → +∞.
Prova:
Definição 2.10. (Série absolutamente convergente.) Uma série
P
vn : N → E, tomando valores em um espaço vetorial normado
P
(E, k · k) é dita absolutamente convergente se a série
kvn k :
N → [0, +∞) converge na reta.
Augusto Armando de Castro Júnior
41
P
Observação 2.11. Note que uma série
vn é absolutamente
P
convergente se. e só se, a série
kvn k é limitada (acotada). De
P
fato, as somas reduzidas de
kvn k constituem uma sequência
monótona na reta, que sendo acotada, possui limite. Por outro
P
lado, se a série
kvn k possui limite, como qualquer sequência
que o possua, é acotada.
Proposição 2.12. Toda série absolutamente convergente
P
vn
tomando valores em um espaço vetorial normado E é de Cauchy.
Prova: Seja > 0 dada. Como a série
P
kvn k converge,
em particular, é de Cauchy. Logo, existe n0 ∈ N tal que, ∀m ≥
n ≥ n0 temos:
|
m
X
kvj k −
j=1
n
X
kvj k| =
j=1
m
X
kvj k < .
j=n+1
Da desigualdade triangular, temos
k
m
X
j=1
vj −
n
X
vj k ≤
j=1
donde concluímos que
m
X
kvj k < , ∀m ≥ n ≥ n0 ,
j=n+1
P
vn é de Cauchy.
Corolário 2.13. Um espaço vetorial (E, k · k) é completo se e
só se toda série absolutamente convergente é convergente.
Prova: (⇒) Se
P
vn é absolutamente convergente, vi-
mos acima que é uma sequência de Cauchy. Logo, se (E, k · k) é
P
completo,
vn é convergente em E.
(⇐) Agora suponha que toda série absolutamente convergente converge em E. Seja wn uma sequência de Cauchy em
42
Capítulo 2. Funções Analíticas
E. Para cada j ∈ N, dado j = 1/2j , tome então uma sequência
estritamente crescente (nj ) : N → N tal que
∀m, n ≥ nj ⇒ kwm − wn k < j .
Em particular, concluímos que
kwnj+1 − wnj k < j = 1/2j , ∀j ∈ N.
Definindo vj := wnj+1 − wnj , concluímos que
k
X
kvj k <
j=1
k
X
1/2j < 1, ∀k ∈ N,
j=1
P
kvj k é limitada, e pela observação 2.11, é absolutaP
mente convergente. Por hipótese, isto implica que a série
vj
ou seja,
converge em E. Mas seu limite é:
E 3 lim
k→+∞
k
X
wnj+1 − wnj = lim (wnk+1 − wn1 ) =
k→+∞
j=1
( lim wnk+1 ) − wn1 ,
k→+∞
o que implica que wn possui uma subsequência convergente em
E, a saber, (wnj+1 ). Como (wn ) é de Cauchy, isso implica que
(wn ) converge em E.
Proposição 2.14. (Critério de Comparação.) Seja (E, k · k)
P
P
um espaço vetorial normado e sejam
vn e
wn duas séries
P
com valores em E, sendo
wn absolutamente convergente. Se
P
existe n0 ∈ N tal que kvn k ≤ kwn k, ∀n ≥ n0 , então
vn é
absolutamente convergente.
Augusto Armando de Castro Júnior
43
Prova:
Seja > 0 dado, e tome n1 ∈ N, n1 ≥ n0 , tal que
|
n
X
kwj k −
m
X
kwj k < /2, ∀m ≥ n ≥ n1 .
j=n+1
j=0
j=0
m
X
kwj k| =
Como kvn k ≤ kwn k, ∀n ≥ n0 , temos que
|
n
X
kvj k−
m
X
kvj k ≤
j=n+1
j=0
j=0
m
X
kvj k| =
m
X
kwj k < /2, ∀m ≥ n ≥ n1 .
j=n+1
P
kvn k é de Cauchy na reta, logo convergente
P
em R. Por definição,
vn é absolutamente convergente.
Portanto
Observação 2.15. Notamos na prova acima, que dado > 0, e
fazendo m → +∞,
|
n
X
j=0
kvj k −
+∞
X
kvj k| ≤ /2 < , ∀n ≥ n1 .
j=0
Ou seja, dado > 0, o mesmo n1 ∈ N, n1 ≥ n0 da
P
P
convergência de
kwn k vale para
kvn k, desde que kvn k ≤
kwn k, ∀n ≥ n0 .
Corolário 2.16. (Teste da raiz.) Seja (E, k · k) um espaço veP
torial normado e seja
vn : N → E uma série tal que
p
lim sup n kvn k < 1.
n→+∞
Então
P
vn é absolutamente convergente.
Prova: Seja α = lim supn→+∞
α + 0 < 1
p
n
kvn k e 0 > 0 tal que
44
Capítulo 2. Funções Analíticas
Daí, existe n0 tal que
p
n
kvn k < α + 0 , ∀n ≥ n0 ⇒ kvn k < (α + 0 )n , ∀n ≥ n0 .
Portanto, existe n0 ∈ N tal que o termo kvn k é acotado
pelo termo da progressão geométrica (convergente) de razão (α+
0 ) < 1. Da proposição acima, segue-se o resultado.
Corolário 2.17. (Teste da razão.) Seja (E, k · k) um espaço
P
vetorial normado e seja
vn : N → E uma série. Se existe
n0 ∈ N tal que kvn k 6= 0, ∀n ≥ n0 , e tomando n ≥ n0 vaP
k
< 1, então
vn é absolutamente
lha que lim supn→+∞ kvkvn+1
nk
convergente.
Prova:
P+∞
Proposição 2.18. Seja f (z) := n=0 an (z − z0 )n uma série de
P
P
potências. Se
an (z1 − z0 )n é limitada, então a série
an (z −
z0 )n converge, ∀z ∈ B(z0 , |z1 − z0 |).
Prova:
Definição 2.19. (Aplicação analítica.) Seja U ⊂ C um aberto e
E um espaço vetorial normado complexo. Uma função f : U →
E é dita analítica se para cada z0 ∈ U , existe uma série de
P
potências n an (z − z0 )n com raio de convergência Rz0 > 0 tal
P+∞
que f (z) = n=0 an (z − z0 )n , ∀z ∈ B(z0 , Rz0 ).
Augusto Armando de Castro Júnior
45
Proposição 2.20. Seja E um espaço vetorial normado completo
e f : B(z0 , R) → E uma série de potências, isto é, f (z) =
P+∞
n
n=0 an (z − z0 ) , ∀z ∈ B(z0 , R), R > 0. Então f é analítica.
Prova: Seja w0 ∈ B(z0 , R). Precisamos mostrar que f
se escreve localmente como uma série de potências em torno de
w0 . Para isso, tomemos r < R − |z0 |, e provemos que existe uma
tal série convergindo uniformemente em B(w0 , r).
Vejamos:
f (z) =
+∞
X
an (z − z0 )n =
n=0
+∞
X
an (z − w0 + w0 − z0 )n =
n=0
+∞
X
n=0
an
n X
n
j=0
j
(w0 − z0 )n−j (z − w0 )j .
Note que a série acima é absolutamente e uniformemente contínua, pois
|an |(|z − w0 | + |w0 − z0 |)n ≤ |an |rn , ∀n ∈ N.
Assim qualquer reenumeração da sequência que gera a série
n
X X
an
(w0 − z0 )n−j (z − w0 )j
j
n
0≤j≤n
converge a um mesmo limite. Em particular,
f (z) =
+∞
+∞ X
+∞
n
X
X
(
an
(w0 − z0 )n−j )(z−w0 )j =:
bj (z−w0 )j ,
j
j=0
j=0 n=j
{z
}
|
:=bj
com a série acima convergindo uniformemente para z ∈ B(z0 , r).
46
Capítulo 2. Funções Analíticas
Definição 2.21. Seja E um espaço vetorial normado. Uma
sequência dupla tomando valores em E é uma aplicação (cn,k ) :
N × N → E. A série dupla gerada por (cn,k ) é a sequência dupla
P
(sn,k ) (denotada por n,k cn,k ) definida por:
k
n X
X
sn,k :=
cm,j .
m=0 j=0
Finalmente, a série dupla
P
n,k cn,k
converge a s ∈ E se existe o
limite
n X
k
X
lim
n→+∞,k→+∞
cm,j .
m=0 j=0
P
an e bk duas
Pq Pn
séries absolutamente convergentes. Seja dq := n=0 j=0 aj ∗
P
bn−j . Então a série dupla n,k an ∗ bk é absolutamente conver-
Proposição 2.22. (Produto de séries.) Sejam
P
gente e vale
k
n X
X
lim
n→+∞,k→+∞
am ∗ bj = lim dq .
q→+∞
m=0 j=0
Prova: Note que a série dupla
P
n,k
an · bk é absoluta-
mente convergente, pois
n X
k
X
|am ∗bj | =
m=0 j=0
n
X
m=0
k
+∞
+∞
X
X
X
|am |∗
|bj | ≤
|am |∗
|bj | < +∞, ∀n, k ∈ N.
j=0
m=0
j=0
P
dn é uma série absolutamente
P
convergente. Para vermos isso, basta verificarmos que
|dn | é
Daí, concluímos que
limitada. De fato,
n
X
q=0
|dq | ≤
q
n X
X
q=0 j=0
|aj ||bn−j | ≤
n X
n
X
m=0 j=0
|am ∗bj | ≤
+∞
X
m=0
+∞
X
|am |∗
|bj | < +∞.
j=0
Augusto Armando de Castro Júnior
47
P
Mostremos portanto que o limite de
dq é o mesmo que o de
P
n,k an ∗ bk . Seja > 0 dado e seja n0 ∈ N tal que ∀n ≥ n0 e
∀k ≥ n0 , tenhamos
|
n X
k
X
|am ∗ bj | −
m=0 j=0
n0 X
n0
X
|am ∗ bj || < /2, ∀n ∈ N
m=0 j=0
Seja então n1 = 2n0 . Daí, dado qualquer (m, j) ∈ {0, . . . , n0 } ×
{0, . . . , n0 }, temos que a parcela am ∗ bj é parcela da soma
Pq Pn
n=0
j=0 aj ∗ bn−j , ∀q ≥ n1 . Assim sendo,
k
q X
n
X
n=0 j=0
aj ∗ bn−j −
n0 X
n0
X
m=0 j=0
n0 X
n0
X
am ∗ bj k ≤ |
q X
q
X
|am ∗ bj |−
m=0 j=0
|am ∗ bj || < /2, ∀q ≥ n1 ,
m=0 j=0
donde concluímos por argumento de desigualdade triangular o
resultado.
˜
Definição 2.23. (Aplicação contínua.) Sejam (X, d) e (X̃, d)
dois espaços métricos. Uma aplicação f : X → X̃ é dita contínua
no ponto x ∈ X se dado > 0 existe δ > 0 tal que
˜ (x), f (y)) < .
y ∈ X, d(x, y) < δ ⇒ d(f
A aplicação f : X → X̂ é dita contínua se é contínua
∀x ∈ X.
Observação 2.24. É imediato da definição acima que uma aplicação f : X → X̂ é contínua, se e só se, a pré-imagem de qualquer
aberto de X̂ é sempre um subconjunto aberto de X.
48
Capítulo 2. Funções Analíticas
Observação 2.25. Ainda em contextos métricos, é possível provar que uma aplicação f : X → X̂ é contínua em x ∈ X se e só
se f é sequencialmente contínua em x ∈ X. Por definição, f é
dita sequencialmente contínua em x ∈ X se dada uma sequência
(xn ), xn ∈ X tal que xn → x quando n → +∞ então a sequência
(f (xn )) converge a f (x).
Definição 2.26. (Espaço métrico completo.) Um espaço métrico (X, d) é dito completo se toda sequência de Cauchy (xn ),
com xn ∈ X, converge para um ponto x ∈ X.
Definição 2.27. (Espaço de Banach.) Um espaço vetorial
normado cuja métrica oriunda da norma é completa é chamado
de espaço de Banach.
Exemplo 2.28. Seja X = Rk , e k · k : Rk → [0, ∞) uma norma
qualquer. Prova-se que X com a métrica dada por d(v, w) :=
kv − wk, ∀v, w ∈ Rk é um espaço métrico completo, e portanto,
um espaço de Banach. Tal fato segue-se de que toda sequência
limitada em Rk possui uma subsequência convergente (teorema
de Bolzano-Weierstrass).
Definição 2.29. (Aplicação lipschitziana.) Sejam (X, d) e
ˆ espaços métricos. Uma aplicação F : X → X̂ é dita ser
(X̂, d)
lipschitziana ou simplesmente Lipschitz se existe 0 ≤ λ tal que
ˆ (x), F (y)) ≤ λ · d(x, y), ∀x, y ∈ X.
d(F
Dizemos que λ é uma constante de Lipschitz de F . Denotamos
o ínfimo das constantes de Lipschitz de F por Lip(F ), o qual é,
ele mesmo, uma constante de Lipschitz.
Observação 2.30. Notamos que as aplicações lipschitzianas são
contínuas: Se F é uma tal aplicação, supondo sem perda λ > 0,
Augusto Armando de Castro Júnior
49
dados x ∈ X, > 0, tomando δ = /λ, temos
ˆ (x), F (y)) ≤ λ · d(x, y) < λ · /λ = .
d(x, y) < δ ⇒ d(F
Observação 2.31. Se X, Y e Z são espaços métricos, com f :
X → Y e g : Y → Z ambas lipschitzianas, então a composta
h = g ◦ f : X → Z também é Lipschitz com
Lip(g ◦ f ) ≤ Lip(g) · Lip(f ).
Uma subclasse relevante de aplicações Lipschitz é constituída pelas contrações de um espaço métrico nele mesmo:
Definição 2.32. (Contração.) Seja (X, d) espaço métrico. Uma
aplicação F : X → X é dita uma contração se existe 0 ≤ λ < 1
tal que
d(F (x), F (y)) ≤ λ · d(x, y), ∀x, y ∈ X.
O próximo resultado corresponde à principal ferramenta
para construir objetos em dimensão infinita, onde, ao contrário
do que ocorre no Rn , argumentos de compacidade são quase
sempre inviáveis.
Teorema 2.33. (Ponto fixo para contrações.) Sejam (X, d)
um espaço métrico completo e F : X → X uma contração. Então
existe um único ponto p ∈ X tal que F (p) = p. Ademais, tal
ponto fixo p é um atrator de F , isto é, fixado qualquer x ∈ X,
F n (x) → p quando n → +∞. (F n (x) é definido indutivamente
por F n (x) := F (F n−1 (x)).)
Prova: Sejam x ∈ X e xn = F n (x), n ∈ N. Provaremos
que xn é uma sequência de Cauchy. Para tal, primeiro mostremos
50
Capítulo 2. Funções Analíticas
por indução que existe 0 ≤ λ < 1 tal que
d(xn+1 , xn ) ≤ λn · d(x1 , x0 ), ∀n ∈ N.
De fato, como F é contração, temos que existe λ < 1
tal que:
d(xn+1 , xn ) = d(F (xn ), F (xn−1 )) ≤ λ · d(xn , xn−1 ),
o que já implica a fórmula de indução para n = 1 (o caso n = 0
é trivial). Supondo a fórmula válida para um certo n ∈ N, para
n + 1, da última desigualdade, temos:
d(xn+2 , xn+1 ) ≤ λ·d(xn+1 , xn )
≤
|{z}
λ·λn d(x1 , x0 ) = λn+1 ·d(x1 , x0 ),
hip. indução
o que prova a indução desejada.
Dados m ≥ n, temos portanto:
d(xm , xn ) ≤ (λn + · · · + λm ) · d(x1 , x0 )
≤(
+∞
X
λj ) · d(x1 , x0 ) =
j=n
λn
d(F (x), x),
1−λ
o que prova que xn é uma sequência de Cauchy, e como X é completo, tal sequência converge, digamos, para p ∈ X. Afirmamos
que p é ponto fixo de F . Realmente,
F (p) = F ( lim xn ) = lim F (xn ) = lim xn+1 = p.
n→+∞
n→+∞
n→+∞
Notamos que a segunda igualdade acima se dá porque toda contração é contínua, e a última desigualdade se dá porque em uma
sequência convergente toda subsequência converge para o mesmo
limite.
Augusto Armando de Castro Júnior
51
É fácil ver que p é o único ponto fixo de F . De fato, se
p, q ∈ X são pontos fixos de F , temos:
d(p, q) = d(F (p), F (q)) ≤ λ · d(p, q) ⇒
(1 − λ) · d(p, q) ≤ 0 ⇒ d(p, q) = 0 ⇔ p = q,
findando a prova do teorema.
Observação 2.34. Assinalamos que se p é o único ponto fixo de
um iterado F m , m ≥ 1 de uma aplicação F : X → X qualquer,
então p é o único ponto fixo de F . De fato:
F m (p) = p ⇒ F m (F (p)) = F (F m (p)) = F (p),
ou seja, se p e F (p) são pontos fixos de F m (p), logo F (p) = p.
Isso é muito útil, pois nem sempre F é uma contração, mas muitas vezes um seu iterado é. Assim, a existência e unicidade preconizadas no teorema do ponto fixo para contrações continuam
válidas para F se apenas um iterado positivo de F for contração.
Observação 2.35. (Continuidade do ponto fixo.) Seja X um
espaço métrico. Suponha que X seja limitado, e seja d∞ (F, G) a
distância uniforme entre duas aplicações F, G : X → X. Se F e
G são contrações em X, com p e q seus respectivos pontos fixos,
vale que
d(p, q) = d(F (p), G(q)) ≤ d(F (p), F (q)) + d(F (q), G(q))
≤ λd(p, q) + d∞ (F, G) ⇒
1
d∞ (F, G),
1−λ
ou seja, os pontos fixos variam Lipschitz com a contração, em
d(p, q) ≤
particular, continuamente.
52
Capítulo 2. Funções Analíticas
2.2 O Espaço Normado das Aplicações Lineares Contínuas
Uma aplicação A : E → Ê entre espaços vetoriais E e
Ê sobre um corpo K é dita contínua se A(c · v + w) = c · v + w,
para todo escalar c ∈ K e quaisquer vetores v, w ∈ E.
Um exemplo importante de aplicações Lipschitz é dado
pelas aplicações lineares contínuas entre espaços vetoriais, como
veremos na próxima proposição.
Proposição 2.36. Sejam E, Ẽ espaços vetoriais normados. As
seguintes assertivas são equivalentes no que tange uma aplicação
linear L : E → Ẽ:
1. L é contínua;
2. L é contínua em algum ponto x0 ∈ E;
3. L é contínua em 0 ∈ E;
4. Existe um número real c > 0 tal que kL(x)k ≤ c, ∀x ∈ E
com kxk = 1.
5. L é aplicação Lipschitz, ou seja, existe um número real
c > 0 tal que kL(x) − L(y)k ≤ c · kx − yk, ∀x, y ∈ E.
Prova:
As implicações 5 ⇒ 1 ⇒ 2 são claras. Resta-nos mostrar
portanto 2 ⇒ 3 ⇒ 4 ⇒ 5.
(2 ⇒ 3) Seja > 0 dado. Como L é contínua em x0 ,
existe δ > 0 tal que
kx − x0 k < δ ⇒ kL(x) − L(x0 )k < .
2.2. O Espaço Normado das Aplicações Lineares Contínuas
53
Dado qualquer y ∈ E tal que ky − 0k = kyk < δ, podemos
escrever:
kyk < δ ⇔ k(y + x0 ) − x0 k < δ ⇒ kL(y + x0 ) − L(x0 )k < ⇔
kL(y) − L(x0 − x0 )k = kL(y) − L(0)k < ,
ou seja, L é contínua em 0 ∈ E.
(3 ⇒ 4) Provemos essa sentença por absurdo. Suponha
que para cada j ∈ N, exista xj ∈ E com kxj k = 1 tal que
kL(xj )k ≥ j, ∀j ∈ N.
Considere a sequência yj = (1/j) · xj . Como
kyj k =
1
1
· kxj k = → 0, quando j → 0,
j
j
da continuidade de L em 0 ∈ E temos que L(yj ) → L(0) = 0 ∈
Ẽ. Contudo, da linearidade de L e das propriedades de norma
segue-se
1
1
· kL(xj )k ≥ · j = 1,
j
j
o que implica que L(yj ) 6→ 0, absurdo.
kL(yj )k =
(4 ⇒ 5) Sejam x, y ∈ E. Se x = y, L(x) − L(y) = 0 e a
desigualdade é óbvia, para qualquer c > 0. Assim, vamos supor
x 6= y. Daí,
kL(x)−L(y)k =
kL(x) − L(y)k
(x − y)
·kx−yk = kL(
k·kx−yk.
kx − yk
kx − yk)
Como
kx − yk
(x − y)
k=
= 1,
kx − yk
kx − yk
a assertiva 4 implica que
k
kL(x) − L(y)k = kL(
ou seja, L é Lipschitz.
(x − y)
k · kx − yk ≤ c · kx − yk,
kx − yk)
54
Capítulo 2. Funções Analíticas
Proposição 2.37. (Espaço L(E, Ẽ)/Norma do operador.)
Sejam E e Ẽ dois espaços vetoriais normados. Então
L(E, Ẽ) := {T : E → Ẽ; T é operador linear limitado }
é um espaço vetorial. Ademais a aplicação k · k : L(E, Ẽ) →
[0, +∞) dada por
kT k := sup{kT · xkẼ : x ∈ E, kxkE = 1}
define uma norma (chamada de norma do operador) em L(E, Ẽ).
Prova: Seja b ∈ R (ou C) um escalar e T1 : E → Ẽ,
T2 : E → Ẽ dois operadores lineares. Então claramente T :=
T1 + b · T2 é um operador linear de E em Ẽ. Além disso T é
limitado, pois se c1 e c2 são as constantes de Lipschitz (vide
proposição 2.36 acima) respectivamente de T1 e T2 , temos
kT (x) − T (y)kẼ ≤ kT1 (x) − T1 (y)kẼ + |b|kT2 (x) − T2 (y)kẼ ≤
c1 kx − ykE + |b|c2 kx − ykE , ∀x, y ∈ E,
o que implica que T é Lipschitz com constante c := c1 + |b|c2 , e
portanto limitado. Tal implica que L(E, Ẽ) é um espaço vetorial.
Só resta vermos que a aplicação k · k do enunciado é
mesmo uma norma em L(E, Ẽ). A proposição 2.36 nos garante
que tal aplicação está bem definida em L(E, Ẽ), com imagem em
[0, +∞). Se T ≡ 0, claramente kT k = 0. Por outro lado, kT k = 0
implica que T · x = 0, ∀x ∈ E com kxkE = 1. Se v ∈ E, então
kT · vkẼ = kT ·
v
k · kvkE ≤ kT k · kvkE = 0,
kvkE Ẽ
donde concluímos que T ≡ 0.
2.2. O Espaço Normado das Aplicações Lineares Contínuas
55
Dado um escalar b ∈ R (ou C), temos que
kbT k = sup{kbT · xkẼ : x ∈ E, kxkE = 1} =
sup{|b|kT · xkẼ : x ∈ E, kxkE = 1} = |b|kT k.
Finalmente, dados T1 , T2 ∈ L(E, Ẽ), a desigualdade triangular
vem de
kT1 +T2 k = sup{k(T1 +T2 )·xkẼ : x ∈ E, kxkE = 1} ≤
(pela desigualdade triangular em Ẽ)
sup{kT1 ·xkẼ +kT2 ·xk : x ∈ E, kxkE = 1} ≤
sup{kT1 ·xkẼ : x ∈ E, kxkE = 1}+sup{kT2 ·ykẼ : y ∈ E, kykE = 1} =
kT1 k+kT2 k.
Proposição 2.38. Sejam E e Ẽ dois espaços vetoriais normados, sendo Ẽ de Banach. Então o espaço vetorial L(E, Ẽ),
dotado da norma do operador, é um espaço de Banach.
Prova: Seja Tn ∈ L(E, Ẽ) uma sequência de Cauchy.
Em particular, como k(Tn −Tm )(v)kẼ ≤ kTn −Tm kkvkE , concluímos que para cada v ∈ E, (Tn (v)) é uma sequência de Cauchy
em Ẽ.
Portanto, definamos T : E → Ẽ por
T (v) = lim Tn (v), ∀v ∈ E.
n→+∞
Claramente T é linear:
T (v + w) = lim Tn (c · v + w) = lim c · Tn (v) + T n (w) =
n→+∞
n→+∞
56
Capítulo 2. Funções Analíticas
c· lim Tn (v)+ lim Tn (w) = c·T (v)+T (w), ∀c ∈ R( ou C), ∀v, w ∈ E.
n→+∞
n→+∞
Daí, é fácil ver que T ∈ L(E, Ẽ). De fato, seja > 0, e tome
n0 ∈ N tal que kTn − Tm k < , ∀n, m ≥ n0 . Daí, dado v ∈ E
com kvk = 1, temos:
kTn (v)kẼ ≤ kTn k ≤ kTn0 k + kTn − Tn0 k < kTn0 k + , ∀n ≥ n0 .
A continuidade da norma e a desigualdade acima implicam que
kT (v)kẼ ≤ kTn0 k + , ∀v ∈ E, kvkE = 1, donde
sup {kT (v)kẼ } ≤ kTn0 k + ⇒ T é limitado.
kvk=1
Só falta vermos que Tn → T na norma do operador.
Dado v ∈ E tal que kvk = 1, vimos acima que ∀n, m ≥ n0 , vale:
kTn (v) − Tm (v)kẼ ≤ kTn − Tm k < .
Novamente, fazendo m → +∞, fixando n ≥ n0 , a continuidade da norma e a última inequação implicam que ∀v ∈ E, com
kvkE = 1 vale que kTn (v) − T (v)kẼ ≤ .
Donde concluímos que ∀n ≥ n0 ,
sup {kTn (v) − T (v)kẼ } = kTn − T k ≤ .
kvkE
Estamos agora aptos a enunciar e provar importantes
corolários do Teorema do Ponto Fixo conhecidos como versões
não diferenciáveis do teorema da Função Inversa:
Teorema 2.39. (Perturbação da Identidade.) Sejam E um
espaço de Banach, I : E → E a identidade em E e seja Φ : E →
E uma contração em E. Então I +Φ é um homeomorfismo sobre
E.
2.2. O Espaço Normado das Aplicações Lineares Contínuas
57
Prova: Sejam x, y ∈ E e h = I + Φ. Seja 0 < λ < 1 a
constante de Lipschitz de Φ. Então
kI(x) + Φ(x) − I(y) − Φ(y)k
≥ kx − yk + kΦ(x) − Φ(y)k ≥ kx − yk − λ · kx − yk =
(1 − λ) · kx − yk ⇒ kh(x) − h(y)k ≥ (1 − λ) · kx − yk =
6 0 se x 6= y;
donde obtemos a injetividade de h, e também a continuidade
de h−1 . Mostremos agora a sobrejetividade de h. Seja z ∈ E.
Queremos ver que existe p ∈ E tal que h(p) = z ⇔ p + Φ(p) =
z ⇔ p = z − Φ(p). Por conseguinte definamos fz : E → E por
fz (x) = z − Φ(x). Basta então acharmos um ponto fixo p para
fz , que teremos h(p) = z. De fato, fz : E → E é contração:
kfz (x)−fz (y)k = kz−Φ(x)−z+Φ(y)k = kΦ(y)−Φ(x)k ≤ λ·kx−yk.
Como E é espaço normado completo, segue-se do teorema do
ponto fixo para contrações que existe um único p ∈ E tal que
h(p) = z, como queríamos. Isso nos dá ao mesmo tempo a sobrejetividade e uma nova prova da injetividade.
Lema 2.40. Seja E um espaço de Banach, L ∈ L(E, E) satisfazendo kLk ≤ a < 1 e G ∈ L(E, E) isomorfismo com kG−1 k ≤
a < 1. Então:
a) (I + L) é isomorfismo e k(I + L)−1 k ≤ 1/(1 − a);
b) (I + G) é isomorfismo e k(I + G)−1 k ≤ a/(1 − a).
Prova:
a) Seja y ∈ E qualquer fixado. Defina u : E → E por
u(x) := y − L(x).
58
Capítulo 2. Funções Analíticas
Os gráficos de y = x3 e y = x3 − δ 2 x nos mostram que somando uma contração
a um homeomorfismo com inversa não lipschitziana, o resultado pode não ser
um homeomorfismo. Mostram ademais que a soma de homeomorfismos pode
não ser um homeomorfismo.
Logo
|u(x1 ) − u(x2 )| = |L(x2 − x1 )| ≤ a · |x2 − x1 |,
o que implica que u : E → E é uma contração. Pelo teorema do ponto fixo para contrações,
∃!z ∈ E/ u(z) = z ⇔ ∃!z ∈ E/ z = y − L(z)
⇔ ∃!z ∈ E/ y = z + L(z),
o que implica que (I + L) é isomorfismo.
Seja y ∈ E com |y| = 1 e seja x ∈ E tal que (L + I)−1 (y) =
x. Como x + L(x) = y, temos que |x| − a · |x| ≤ 1 ⇒ |x| ≤
1/(1 − a), donde se conclui que k(I + L)−1 k ≤ 1/(1 − a).
b) (I + G) = G · (I + G−1 ). Como
kG−1 k ≤ a < 1 |{z}
⇒ (I + G−1 ) é inversível.
ítem a)
2.2. O Espaço Normado das Aplicações Lineares Contínuas
59
Daí, (I + G)−1 = (I + G−1 )−1 · G−1 , o que implica que
k(I + G)−1 k ≤ k(I + G−1 )−1 k · kG−1 k ≤
1
a
·a =
.
1−a
1−a
Corolário 2.41. (Perturbação de uma aplicação bilipschitz.) Sejam E, Ẽ espaços de Banach e Ψ : E → Ẽ uma aplicação bilipschitz (sobrejetiva), isto é, f é invertível e lipschitziana com inversa também lipschitziana. Seja Φ : E → Ẽ Lipschitz
tal que sua constante de Lipschitz Lip(Φ) < Lip(Ψ−1 )−1 . Então
Ψ + Φ : E → Ẽ é um homeomorfismo (sobrejetivo).
Prova: Considere h : Ẽ → Ẽ dado por
h := (Ψ + Φ)Ψ−1 = I + Φ ◦ Ψ−1 .
Dados x̃, ỹ ∈ Ẽ,
kΦ(Ψ−1 (x̃)) − Φ(Ψ−1 (ỹ))k ≤ Lip(Φ) · kΨ1 (x̃) − Ψ−1 (ỹ)k ≤
Lip(Φ)·Lip(Ψ−1 )kx̃− ỹk ⇒ kΦ◦Ψ−1 (x̃)−Φ◦Ψ−1 (ỹ)k ≤ λkx̃− ỹk,
ou seja, Φ ◦ Ψ−1 é uma λ−contração. Logo, pelo teorema da
perturbação da identidade, h = (Ψ + Φ) ◦ Ψ−1 = I + ΦΨ−1 é um
homeomorfismo (injetivo e sobre Ẽ). Portanto a composição
(Ψ + Φ)Ψ−1 ◦ Ψ = Ψ + Φ
é um homeomorfismo, como queríamos mostrar.
Corolário 2.42. (Perturbação do Isomorfismo.) Sejam E, Ẽ
espaços de Banach e T : E → Ẽ um isomorfismo linear (sobrejetivo). Seja Φ : E → Ẽ Lipschitz tal que sua constante de
Lipschitz Lip(Φ) < kT −1 k−1 . Então T + Φ : E → Ẽ é um homeomorfismo (sobrejetivo).
60
Capítulo 2. Funções Analíticas
Prova: Imediata do corolário anterior.
2.3 Integração de Caminhos em Espaços Vetoriais
Definição 2.43. (Partição de um intervalo.) Uma partição P de um intervalo [a, b] ⊂ R é uma coleção finita P =
{I1 , . . . , Ij } de intervalos dois a dois disjuntos tais que I1 =
[x0 , x1 ), . . . , Ij = [xj−1 , xj ], com x0 = a, xj = b e x0 ≤ · · · ≤ xj .
Note que uma partição P de um intervalo [a, b] fica inteiramente
determinada pelo conjunto dos pontos AP := {a = x0 , . . . , xj =
b}, o qual designaremos por conjunto dos pontos associados a P.
Definição 2.44. (Diâmetro de uma partição de um intervalo.) O diâmetro de uma partição P de um intervalo I é o
máximo dos diâmetros (comprimentos) dos elementos de P.
Definição 2.45. (Integral de Riemann.) Seja I = [a, b] e
f : I → E um caminho limitado, tomando valores em um espaço
R
de Banach E. A integral de Riemann I f (x)dx ∈ E, se existir,
é o limite
Z
f (x)dx :=
I
lim
diam(P)→0
#P
X
f (xj ) · vol(Ij ),
j=1
onde xj ∈ Ij e P = {Ij , j = 1, . . . , #P}, e vol é o volume
(comprimento) do intervalo.
Se existir a integral de Riemann de uma aplicação f ,
então dizemos que f é integrável à Riemann, ou simplesmente,
P#P
integrável. Uma soma do tipo j=1 f (xj ) · vol(Ij ), com xj ∈ Pj
e P = {C1 , . . . , I#P } é chamada de soma de Riemann de f em
Augusto Armando de Castro Júnior
61
relação a P, e denotada por s(f, P), ou apenas, por s(P) nos
contextos em que f puder ser subentendida sem ambiguidades.
Definição 2.46. (Refinamento de uma partição.) Seja P
uma partição de um intervalo I ⊂ Rn . Uma partição P̂ de I é
dita um refinamento de P se todo elemento de P̂ estiver contido
em algum elemento de P. Também escrevemos que P̂ refina P.
Proposição 2.47. Sejam I um intervalo compacto, E um espaço de Banach e f : I → E uma aplicação contínua. Então
R
∃ I f (x)dx ∈ E.
Prova: Como f é contínua em I compacto, é uniformemente contínua. Seja > 0 e tome δ > 0 tal que
kf (x) − f (y)k < /(2 vol(I)), ∀x, y ∈ I, d(x, y) < δ.
Sejam P e P̂ partições quaisquer, com diam(P) < δ e
diam(P̂) < δ. Seja P̃ uma partição que refina tanto P como P̂.
Daí, comparando somas de Riemann em P e P̃, obtemos:
ks(P) − s(P̃)k = k
#P
X
f (xj ) · vol(Ij ) −
j
#P̃
X
f (x̃j ) · vol(I˜j )k.
j
Para cada Ij ∈ P, tomemos I˜j,1 , . . . , I˜j,r(j) ∈ P̃ tais que Ij =
r(j)
∪˙ i=1 I˜j,i . Por conseguinte, reenumerando a soma de Riemann em
P̃, chegamos a
ks(P)−s(P̃)k = k
#P
X
r(j)
#P X
X
f (xj )·vol(Ij )− (
f (x̃j,i )·vol(I˜j,i ))k ≤
j
#P
X
j
kf (xj ) · vol(Ij ) −
j
r(j)
X
i=1
i=1
f (x̃j,i ) · vol(I˜j,i ))k =
62
Capítulo 2. Funções Analíticas
r(j)
#P X
X
(f (xj ) − f (x̃j,i )) · vol(I˜j,i ))k
=
k
i=1
j
≤
r(j)
#P X
X
j
kf (xj )−f (x̃j,i )k·vol(I˜j,i ) ≤
i=1
r(j)
#P X
X
·
vol(I˜j,i ) = /2.
2 vol(I) j i=1
Trocando P por P̂ acima, temos que ks(P̂) − s(P̃)k <
/2, logo
ks(P) − s(P̂)k ≤ ks(P) − s(P̃)k + ks(P̃) − s(P̂)k < ,
implicando que f é integrável.
Definição 2.48. (Integral de Linha.) Sejam Ê, E espaços de
Banach, U ⊂ Ê um aberto, g : U → L(Ê, E) uma aplicação C 0 e
γ ⊂ U uma curva C 1 por partes, parametrizada por ϕ : [a, b] →
γ. A integral de linha de g em γ é definida por:
Z
Z
b
g :=
γ
g(ϕ(t)) · ϕ0 (t)dt.
a
Temos a seguinte proposição:
Proposição 2.49. A integral de linha
R
γ
g está bem definida, a
menos de sinal.
Prova: De fato, tomando ϕ : [a, b] → γ, ψ : [c, d] → γ
parametrizações de γ, obtemos que
Z
b
Z
g(ϕ(t))·ϕ0 (t)dt =
g :=
γ
a
Z
a
Z
b
g(ψ◦ψ −1 ◦ϕ(t))·(ψ◦ψ −1 ◦ϕ)0 (t)dt =
a
b
g(ψ(ψ −1 ◦ ϕ(t)) · ψ 0 (ψ −1 (ϕ(t)) · (ψ −1 ◦ ϕ)0 (t)dt =
Augusto Armando de Castro Júnior
Z
63
b
(g(ψ(ψ −1 ◦ ϕ(t)) · ψ 0 (ψ −1 (ϕ(t))) · (ψ −1 ◦ ϕ)0 (t)dt =
a
(pela fórmula de mudança de variáveis na reta)
d
Z
g(ψ(t)) · ψ 0 (t)dt.
c
Quando Ê = C e E é um espaço complexo, então L(Ê, E) '
E. Usando desta última identificação, a integral de linha apresenta a forma particular de:
Definição 2.50. (Integral por caminhos complexa.) Seja
γ ⊂ C uma curva C 1 por partes parametrizada por ϕ : [a, b] → γ.
Seja U ⊂ C um aberto e f : U → E uma função contínua.
Designando por ∗ o sinal de produto por escalar, a integral por
caminhos complexa de f em γ é definida por:
Z
Z
f (z)dz :=
γ
b
f (ϕ(t)) ∗ ϕ0 (t)dt.
a
Note que a integral por caminhos complexa é simplesmente um caso particular da integral de linha, e o destaque como
definição a parte se deve apenas pelo seu uso frequente em nosso
texto.
Lema 2.51. Sejam Ê, E espaços de Banach, U ⊂ Ê um aberto,
g : U → L(Ê, E) uma função contínua e ϕ : [a, b] → U , um
caminho C 1 tendo por imagem uma curva γ. Dado > 0, existe
uma poligonal ψ : [a, b] → U , cuja integral de linha −aproxima
a integral de linha
Z
Z
g=
γ
a
b
g(ϕ(t)) · ϕ0 (t)dt.
64
Capítulo 2. Funções Analíticas
Prova: Como ϕ é contínua e [a, b] é compacto temos, em
primeiro lugar, que γ = ϕ([a, b]) é compacto e que supt∈[a,b] {|ϕ0 (t)|} <
+∞. Seja M := (supt∈[a,b] {|ϕ0 (t)|} · (b − a) + 1) e seja > 0
dado. Para cada x ∈ γ, seja B(x, rx ) ⊂ V tal que g(B(x, rx )) ⊂
B(g(x), /3M ). Extraímos então uma subcobertura finita da cobertura {B(x, rx /3)} obtendo B := {B1 = B(x1 , rx1 /3 ), . . . , xl , rxl /3 )}.
Seja δ0 = min{rxj /3, j = 1, . . . , l}. Note que se y, z ∈
∪j Bj são tais que ky − zk < δ0 , então se y ∈ Bq , z ∈ Bp , temos
kxq − zk ≤ kxq − yk + ky − zk ≤ rxq /3 + δ0 ≤ rxq ,
ou seja z ∈ B(xq , rxq ). Isto implica que
kg(z) − g(y)k ≤ kg(z) − g(xq )k + k(g(xq ) − g(y)k < /M.
Note ainda que se z, y ∈ B(xq , rxq ) para algum q = 1 . . . l, da
convexidade das bolas em um espaço vetorial normado, temos
que o segmento [z, y] := {tz + (1 − t)y, t ∈ [0, 1] ⊂ R} está
contido em B(xq , rxq ) e portanto em V . Em particular, se dois
pontos x, x̂ em γ distam menos que δ0 , então o segmento que os
une está contido em V , e diam(g([x, x̂]) < /M .
Seja agora α > 0 tal que
(
|ϕ(t)) − ϕ(s)| < δ0
|t − s| < α ⇒
0
0
|ϕ (t) − ϕ (s)| < /(2(b − a) supt∈[a,b] {g(ϕ(t))})
Seja k ∈ N tal que (b − a)/k < α, e sejam t0 = a, . . . , tk = b tais
que tj = a + kj (b − a), j = 0, . . . , k. Definimos então a poligonal
ψ : [a, b] → Γ ⊂ V por
ψ(t) := ϕ(tj ) + (ϕ(tj+1 ) − ϕ(tj )) · (t − tj ) ·
para t ∈ [tj , tj+1 ], 0 ≤ j < k.
k
,
b−a
Augusto Armando de Castro Júnior
Temos então:
Z
Z k−1
Z
X
(
g− g = γ
Γ
k−1
X Z tj+1
tj
j=0
g(ϕ(t))·ϕ0 (t)dt−
tj
j=0
Z
tj+1
tj
g(ψ(t))·ψ 0 (t)dt) ≤
ϕ(tj+1 ) − ϕ(tj ) g(ϕ(t)) · ϕ0 (t) − g(ψ(t)) ·
dt ≤
tj+1 − tj
k−1
X Z tj+1
j=0
tj+1
65
kg(ϕ(t)) · ϕ0 (t) − g(ϕ(t)) ·
tj
kg(ϕ(t)) ·
ϕ(tj+1 ) − ϕ(tj )
k+
tj+1 − tj
ϕ(tj+1 ) − ϕ(tj )
ϕ(tj+1 ) − ϕ(tj )
− g(ψ(t)) ·
kdt
tj+1 − tj
tj+1 − tj
Analisando cada parcela acima, temos:
Z tj+1
ϕ(tj+1 ) − ϕ(tj )
)k+
kg(ϕ(t))·(ϕ0 (t)−
tj+1 − tj
tj
Norma do operador
ϕ(tj+1 ) − ϕ(tj )
k(g(ϕ(t) − g(ψ(t))) · (
)kdt
tj+1 − tj
Z
tj+1
kg(ϕ(t))kkϕ0 (t)−
tj
Z
ϕ(tj+1 ) − ϕ(tj )
kdt+
tj+1 − tj
tj+1
kg(ϕ(t)) − g(ψ(t))kk
tj
tj+1
Z
sup {kg(ϕ(t))k} ·
t∈[a,b]
ϕ(tj+1 ) − ϕ(tj )
kdt ≤
tj+1 − tj
kϕ0 (t) −
tj
Z
tj+1
t∈[a,b]
ϕ(tj+1 ) − ϕ(tj )
kdt+
tj+1 − tj
DV M
z}|{
kg(ϕ(t))−g(ψ(t))k sup kϕ (t)kdt ≤
0
t∈[a,b]
tj
sup {|g(ϕ(t))|} ·
z}|{
≤
Z
tj+1
2(b − a) supt∈[a,b] {|g(ϕ(t))|} tj
Z tj+1
Z tj+1
dt <
dt.
·
·
M
b − a tj
tj
dt+
66
Capítulo 2. Funções Analíticas
Somando em j, concluímos que
Z k−1
Z
X
g
−
g <
γ
Γ
j=0
·
b−a
Z
tj+1
dt = .
tj
Lema 2.52. Sejam Ê, E espaços de Banach, gn , g : U →
L(Ê, E) aplicações contínuas em um aberto U ⊂ Ê e ϕ : [a, b] →
U , um caminho C 1 por partes tendo por imagem uma curva γ.
Se gn converge a g uniformemente em partes compactas, então
Z
Z b
Z
Z b
0
gn =
gn (ϕ(t)) · ϕ (t)dt →
g=
g(ϕ(t)) · ϕ0 (t)dt
γ
a
γ
a
quando n → ∞.
Prova: Sem perda, podemos supor `(γ) > 0. Seja > 0,
e tome n0 tal que kgn (x) − g(x)k < /`(γ), ∀x ∈ γ, ∀n ≥ n0 . Daí,
Z Z b
Z b
Z
0
gn (ϕ(t)) · ϕ (t)dt −
g(ϕ(t)) · ϕ0 (t)dt =
gn − g = γ
γ
a
a
Z b
(gn (ϕ(t)) − g(ϕ(t))) · ϕ0 (t)dt ≤
a
b
Z
kgn (ϕ(t)) − g(ϕ(t))k · kϕ0 (t)kdt <
≤
a
·
<
`(γ)
Z
b
kϕ0 (t)kdt = .
a
O lema acima tem como consequência um resultado análogo para integrais por caminhos complexas. Todavia, tais resultados também podem ser facilmente provados com o auxílio do
utilíssimo:
Augusto Armando de Castro Júnior
67
Lema 2.53. Dada f : U ⊂ C → E e uma parametrização C 1
ϕ : [a, b] → γ de uma curva γ ⊂ U . Então, temos:
Z
f (z)dz ≤ sup{kf (z)k} · `(γ).
z∈γ
γ
Prova:
Z
Z
f (z)dz = γ
b
a
f (ϕ(t)) ∗ ϕ0 (t)dt =
n
X
(b − a) f (ϕ(tj )) ∗ ϕ0 (tj ) ·
= lim
,
n→+∞
n
j=1
onde tj = a + (b − a) · j/n. Daí,
n
X
(b − a) f (ϕ(tj )) ∗ ϕ0 (tj ) ·
lim
=
n→+∞
n
j=1
n
X
(b − a) f (ϕ(tj )) ∗ ϕ0 (tj ) ·
= lim ≤
n→+∞
n
j=1
≤ lim
n→+∞
n
X
kf (ϕ(tj ))k|ϕ0 (tj )|·
j=1
Z
≤ sup{kf (z)k} ·
z∈γ
a
(b − a)
=
n
Z
b
kf (ϕ(t))k|ϕ0 (t)|dt ≤
a
b
|ϕ0 (t)|dt = sup{kf (z)k} · `(γ).
z∈γ
Corolário 2.54. Sejam fn , f : U → E aplicações contínuas em
um aberto U ⊂ C e ϕ : [a, b] → U , um caminho C 1 por partes
tendo por imagem uma curva γ. Se fn converge a f uniformemente em partes compactas, então
Z
Z b
Z
Z
fn (z)dz =
fn (ϕ(t))∗ϕ0 (t)dt →
f (z)dz =
γ
a
quando n → ∞.
γ
a
b
f (ϕ(t))∗ϕ0 (t)dt,
68
Capítulo 2. Funções Analíticas
Prova: Pelo lema 2.53,
Z
k fn (z) − f (z)dzk ≤ sup{kfn (z) − f (z)k} · `(γ).
z∈γ
γ
Se `(γ) = 0, nada há a provar. Assim, suponhamos que `(γ) > 0.
Tome n0 tal que supz∈γ {kfn (z) − f (z)k} < /`(γ), ∀n ≥ n0 . Por
conseguinte,
Z
fn (z) − f (z)dz ≤ sup{kfn (z) − f (z)k} · `(γ) < , ∀n ≥ n0 .
z∈γ
γ
Corolário 2.55. Sejam fn , f : U → E aplicações contínuas
em um aberto U ⊂ C e ϕ : [a, b] → U , um caminho C 1 por
P
partes tendo por imagem uma curva γ. Se
fn converge a f
uniformemente em partes compactas, então
Z
Z X
∞
∞ Z b
X
0
fn (z)dz =
fn (ϕ(t)) ∗ ϕ (t)dt →
f (z)dz
γ n=0
n=0
Z
=
a
γ
b
f (ϕ(t)) ∗ ϕ0 (t)dt,
a
quando n → ∞.
2.4 A Teoria de Cauchy-Goursat
Nesta seção adaptamos a teoria de Análise Complexa
para aplicações holomorfas tomando valores em espaços de Banach. Muitos dos teoremas daqui são adaptações de teoremas
vistos em cursos básicos de Funções Analíticas de C. Em tal
nível elementar, uma boa referência é o livro do prof. Márcio
Soares [20].
Augusto Armando de Castro Júnior
69
Definição 2.56. (Aplicação Holomorfa.) Seja U ⊂ C um
conjunto aberto e f : U → E, onde E é um espaço de Banach.
Dizemos que f é holomorfa em z0 ∈ U se existe o limite
lim
z→z0
f (z) − f (z0 )
= f 0 (z0 ).
z − z0
Neste caso, f 0 (z0 ) é chamada de derivada holomorfa de f em z0 .
Se f é holomorfa em cada ponto de U , dizemos que f é holomorfa
em U ou, simplesmente, que f é holomorfa.
Lembramos aqui a prova do Teorema de Cauchy-Goursat
para regiões triangulares, adaptando-o ao contexto de espaços de
Banach.
Teorema 2.57. (Teorema de Cauchy-Goursat para regiões triangulares.) Sejam U ⊂ C um aberto, E um espaço
de Banach, f : U → E uma aplicação holomorfa e seja ∆ um
triângulo compacto contido em U . Então
Z
f (z)dz = 0.
∆
Prova: Realizemos uma construção indutiva para a prova
do teorema. Escrevamos ∆ = ∆0 e subdividamos este triângulo
em quatro triângulos (∆10 , ∆20 , ∆30 , ∆40 ) a ele semelhantes, cujos
lados têm metade do comprimento de seus correspondentes no
triângulo original. Ademais, orientamos os bordos de cada um
dos triângulos no sentido horário.
Daí,
Z
Z
f (z)dz =
∆0
Z
f (z)dz+
∆10
Z
f (z)dz+
∆20
Z
f (z)dz+
∆30
f (z)dz.
∆40
Vejamos como se dá o passo de indução: supondo que temos
construído um triângulo ∆n para um certo n ∈ N (por exemplo,
70
Capítulo 2. Funções Analíticas
Figura 1 – Teorema de Cauchy-Goursat em região triangular
O triângulo ∆ subdividido em quatro triângulos semelhantes, com metade do
lado e 1/4 de sua área.
já definimos, para n = 0, ∆0 := ∆). Daí, dividimos ∆n em 4
triângulos ∆1n , ∆2n , ∆3n , ∆4n semelhantes como explicado acima.
Definimos ∆n+1 := ∆jn , onde
Z
Z
f (z)dz = max{
Z
f (z)dz , f (z)dz ,
Z
Z
f (z)dz , f (z)dz }
∆jn
∆1n
∆3n
∆2n
∆4n
Daí,
Z
∆n
Z
f (z)dz ≤ 4 · ∆n+1
f (z)dz Ademais, se δn é o comprimento do maior lado do triângulo ∆n ,
é claro que
δn+1 = δn /2 = δ0 /(2n ),
`(∆n+1 ) = `(∆n )/2 = `(∆0 )/(2n ).
Como os triângulos ∆n , n ∈ N formam uma família encaixante
de compactos não vazios, podemos tomar z0 ∈ ∩n∈N ∆n . Como
Augusto Armando de Castro Júnior
71
f é holomorfa, dado > 0, ∃τ > 0 tal que
|z−z0 | < τ ⇒ |f (z)−f (z0 )−f 0 (z0 )∗(z−z0 )| ≤
Daí,
Z
·|z−z0 |.
δ0 · `(∆)
f (z) − f (z0 ) − f 0 (z0 ) ∗ (z − z0 )dz =
∆n
Z
Z
f (z0 ) + f 0 (z0 ) ∗ (z − z0 )dz
f (z)dz −
=
∆n
∆n
(pois o Teorema de Cauchy-Goursat claramente vale para aplicações holomorfas afins)
Z
f (z)dz.
∆n
Por conseguinte,
Z
Z
f (z)dz ≤ 4n ∆
Z
= 4n ∆n
∆n
f (z)dz =
f (z) − f (z0 ) − f 0 (z0 ) ∗ (z − z0 )dz (supondo n suficientemente grande de modo a que δn < τ )
4n ·
δ0 `(∆)
· sup{|z − z0 |} · `(∆n ) ≤ 4n ·
· n · n ≤ .
δ0 · `(∆)
δ0 · `(∆) 2
2
Como > 0 é arbitrário, segue-se que
Z
f (z)dz = 0.
∆
A partir da versão acima, é bastante fácil de provar
uma versão similar para círculos (e curvas convexas) no lugar de
triângulo.
72
Capítulo 2. Funções Analíticas
Usando a definição de integral curvilínea complexa, saR
1
dz = 2πi, para qualquer curva fechada simples
bemos que γ z−z
0
γ contendo z0 na região aberta limitada de C que possui γ como
fronteira. O resultado mais importante na teoria de aplicação
analíticas é o seguinte:
Teorema 2.58. (Fórmula Integral de Cauchy.) Seja E um
espaço de Banach sobre C, U ⊂ C um aberto simplesmente conexo e f : U → E uma aplicação holomorfa. Seja γ0 ⊂ U uma
região compacta cuja fronteira é uma curva de Jordan γ. Então,
dado z0 ∈ int(γ0 ), vale:
f (z0 ) =
1
2πi
Z
γ
f (z)
dz.
z − z0
Prova: Dado > 0, seja δ > 0 da continuidade uniforme
de f em γ0 tal que
kz − z0 k ≤ δ ⇒ kf (z) − f (z0 )k <
.
2π
Obviamente, podemos supor δ > 0 suficientemente pequeno de
modo a que B(0, δ) ⊂ int(γ0 ). Chamemos de γδ a curva que é o
círculo de centro z0 e raio δ.
Ligando γ a γδ por meio de uma curva auxiliar Γ difeomorfa a um intervalo compacto, conforme mostra a figura,
usando a propriedade de que uma integral de linha muda de
sinal se trocamos a orientação e aplicando o teorema de CauchyGoursat, obtemos que
Z
γ
f (z)
dz =
z − z0
Z
γδ
f (z)
dz.
z − z0
Augusto Armando de Castro Júnior
73
Figura 2 – Fórmula Integral de Cauchy
Justapondo as curvas Γ, γδ , −Γ, γ, e aplicando o Teorema de Cauchy-Goursat,
obtemos que a integral do círculo de raio delta em torno de z0 é zero.
Mas
Z
γδ
Z
Z
f (z)
1
f (z)
dz−f (z0 )2πi = dz−f (z0 )
dz =
z − z0
γδ z − z0
γδ z − z0
Z
γδ
f (z) − f (z0 )
dz.
z − z0
Como para z sobre a curva γδ , temos kf (z) − f (z0 )k < /2π e
kz − z0 k = δ, obtemos
Z
γδ
f (z) − f (z0 ) dz <
· `(γδ ) = .
z − z0
2πδ
74
Capítulo 2. Funções Analíticas
Concluímos que
Z f (z)
Z f (z) − f (z ) 0
dz − 2πif (z0 ) = dz < , ∀ > 0,
z
−
z
z
−
z
0
0
γδ
γ
logo
Z
γ
f (z)
= 2πif (z0 ).
z − z0
Corolário 2.59. (Estimativas de Cauchy.) Seja f uma função holomorfa limitada em um disco D(z, r), digamos |f (z)| <
K, ∀z ∈ D(z0 , r). Então |f (n) (z0 )| ≤
n!K
rn .
Prova: Seja γs = ∂B(z0 , s), s < r. Do teorema acima,
obtemos:
|f
(n)
n! Z
f (w)
(z0 )| = dw
≤
n+1
2πi γs (w − z0 )
n! K
n!K
n! K
· `(γs ) =
· 2πs = n .
n+1
n+1
2π s
2π s
s
Como s < r é arbitrário, concluímos que
|f (n) (z0 )| ≤
n!K
.
rn
Teorema 2.60. (Teorema de Liouville.) Seja E um espaço
de Banach complexo. Se f : C → E é holomorfa e limitada,
então f é constante.
Prova: Pelas estimativas de Cauchy, dado z0 ∈ C e um
disco qualquer D(z0 , r), temos
kf 0 (z0 )k ≤
supz∈C {kf (z)k}
.
r
Augusto Armando de Castro Júnior
75
Tomando r > 0 suficientemente grande, concluímos que f 0 (z0 ) =
0. Como z0 ∈ C é arbitrário e C é conexo, temos que f é constante.
Teorema 2.61. (Teorema Fundamental da Álgebra). Todo polinômio p : C → C não constante possui raiz em C.
Prova: Primeiro veremos que limz→∞ |p(z)| = +∞,
onde p : C → C é um polinômio não constante, digamos, p(z) =
a0 + a1 ∗ z + · · · + an ∗ z n , com an 6= 0. Como estamos analisando
o que ocorre quando |z| → +∞, podemos supor z 6= 0; assim,
fazendo uso da desigualdade triangular, obtemos:
|a0 | |an−1 |
− ... n
|p(z)| ≥ |z|n · |an | −
|z|
|z|
Seja M > 0 qualquer. Tome K := max{2(M + 1), 2(M + 1) · n ·
|aj |, j = 0, . . . n}. Temos então que |z| > K ⇒ |p(z)| > M , o que
por definição significa que
lim |p(z)| = +∞.
z→+∞
Agora, suponha por absurdo que p não possua raízes, ou
seja, p(z) 6= 0, ∀z ∈ C. Logo, f (z) := 1/p(z) define uma função
inteira, isto é, uma função holomorfa com domínio igual a C.
Ademais, f é limitada:
• Como f é contínua, existe M̃ > 0 tal que |f (z)| < M̃
para todo z na bola compacta B(0, K), onde K é a mesma
constante do parágrafo anterior.
• Para z, |z| > K, temos que |f (z)| = 1/|p(z)| < 1/M .
76
Capítulo 2. Funções Analíticas
Por conseguinte, tomando M̂ := max{M̃ , 1/M }, temos que |f (z) <
M̂ , ∀z ∈ C. Sendo f função inteira e limitada, segue-se por Liouville que f é constante. Mas nesse caso, p(z) = 1/f (z) seria
constante, absurdo.
Dizemos que N ⊂ C é um anel centrado em a ∈ C, se
N é da forma
N = N (a, r1 , r2 ) := {z ∈ C, r1 ≤ |z−a| ≤ r2 , com r1 , r2 > 0, a ∈ C}.
A fórmula integral de Cauchy nos permite ainda demonstrar o seguinte teorema sobre aplicações holomorfas em um
anel:
Teorema 2.62. (Séries de Laurent em Espaços de Banach.) Sejam N ⊂ C um anel centrado em a ∈ C, V ⊂ C
uma vizinhança de N , e f : V → E uma aplicação holomorfa
tomando valores em um espaço de Banach E. Então existem
únicos An ∈ E, n ∈ Z tais que
f (z) =
+∞
X
An (z − a)n , ∀z ∈ N ,
n=−∞
a convergência do limite acima sendo absoluta e uniforme em
N.
Prova: Sendo N um anel centrado em a ∈ C e f :
V → E, e orientando a fronteira de N conforme a figura, dado
z ∈ N \ ∂N , pela fórmula integral de Cauchy, temos:
f (z) =
1
2πi
Z
∂N
f (w)
1 dw =
w−z
2πi
Z
γ2
f (w)
dw−
w−z
Z
γ1
f (w)
dw =
w−z
Augusto Armando de Castro Júnior
77
Figura 3 – Série de Laurent
Z
Z
1 f (w)
f (w)
dw +
dw =
2πi γ2 w − a − (z − a)
γ1 z − a − (w − a)
Z
Z
f (w)
1 f (w)
dw+
z−a
w−a dw =
2πi γ2 (w − a) ∗ (1 − w−a )
γ1 (z − a) ∗ (1 − z−a )
(note que para w ∈ γ2 vale |w − a| > |z − a|, ∀z ∈ N ; já para
w ∈ γ1 vale |w − a| < |z − a|)
Z
Z
∞
∞
1 f (w) X z − a j
f (w) X w − a j ∗ (
) dw+
∗ (
) dw .
2πi γ2 (w − a) j=0 w − a
γ1 z − a j=0 z − a
As somas geométricas dentro das integrais convergem absolutamente e uniformemente em partes compactas de int(N ), logo
podemos permutar seus limites com as integrais, e usando a linearidade das integrais, obtemos:
∞ Z
1 hX
f (w)
f (z) =
dw ∗ (z − a)j +
2πi j=0 γ2 (w − a)j+1
∞ Z
X
j=1
i
f (w)(w − a)j−1 dw ∗ (z − a)−j ,
γ1
também chamada de Série de Laurent de f no anel N .
Para vermos a unicidade dos coeficientes de Laurent,
P+∞
basta notarmos que se f (z) = n=−∞ An (z − a)n , então dado
78
Capítulo 2. Funções Analíticas
k ∈ Z, e para qualquer círculo com centro em a e contido em N ,
temos
1
2πi
Z
f (z)·(z−a)k+1 dz =
γ
uma vez que
R
γ
1
2πi
Z
+∞
X
An (z−a)n+k+1 dz = Ak ,
γ n=−∞
(z − a)n+k+1 dz = 0, se n + k + 1 6= −1, e é igual
a 2πi, se n + k + 1 = −1.
2.5 Resíduos
A fórmula integral de Cauchy e a teoria de séries de Laurent não apenas nos permitem provar teoremas profundos como
o Teorema Fundamental da Álgebra e o princípio do Módulo
Máximo, como nos permitem calcular integrais e mais importante ainda, raízes de funções holomorfa, especialmente polinômios. Essas técnicas são o objetivo desta seção. A força delas
pode ser apreciada pelos exercícios 11 e 13 no final capítulo, e
no programa que nos permite calcular raízes de polinômios, cuja
listagem segue a seção.
Definição 2.63. (Resíduo). Seja f uma função holomorfa em
B(a, ρ) \ {a}. O resíduo de f em a, denotado por res(f, a), é o
coeficiente b1 do termo 1/(z − a) da série de Laurent de f com
centro em a.
Vimos que quando temos uma singularidade (por definição, isolada) a de f é γ é um círculo contido no domínio de f
e contendo a como a única singularidade de f na região interior
2.5. Resíduos
79
ao círculo, então:
Z
f (z)dz =
γ
∞
X
Z
(z − a)
bm
−m
+
γ
m=1
∞
X
Z
an
n=0
(z − a)n dz
γ
= 2πib1 = 2πires(f, a).
Mais em geral, temos o
Teorema 2.64. (Resíduos de Cauchy). Seja f uma função holomorfa num domínio U \ {p1 , p2 , . . . , ps }. Suponha que γ ⊂
U \ {p1 , p2 , . . . , ps } é uma curva de Jordan C 1 por partes, orientada no sentido anti-horário, tal que a região V fechada e
limitada por ela está contida em U e contém todos os pontos
p1 , . . . , ps . Então,
1
2πi
Z
f (z)dz =
γ
s
X
res(f, pj ).
j=1
Prova:
Para a prova do teorema, vamos fazer indutivamente a
seguinte construção geométrica. Para cada v ∈ S 1 , considere o
conjunto do lugar geométrico das semi-retas
Sv = {z ∈ C; z = pj + t · v, ∃t ≥ 0, ∃j = 1, . . . , s}
Veja que a coleção {Sv , v ∈ S 1 } tem cardinalidade infinita (de
fato, não enumerável), e portanto, existe v̂ ∈ S 1 tal que cada
semi-reta em Sv̂ intersecta {p1 , . . . , ps } exatamente em um único
ponto. Em particular, seja r̂ > 0 o mínimo das distâncias entre
cada pj e as demais semi-retas contidas em Sv̂ . Tomando 0 <
r ≤ r̂ tal que B(pj , r) ⊂ U , definimos ainda qj como o primeiro
ponto sobre a semi-reta {pj +tv̂, t ≥ 0}∩γ, ∀j = 1, . . . , s (tais qj ’s
80
Capítulo 2. Funções Analíticas
Figura 4 – Resíduos
existem pelo teorema da Alfândega aplicado a cada semi-reta da
forma {pj + tv̂, t ≥ 0} e a região V ).
Reordenando os pj se necessário, podemos supor que os
qj estão ordenados segundo a parametrização de γ, isto é, se
ϕ : I → γ parametriza γ e qj = ϕ(tj ), então j < k implica
tj < tk . Designemos por q̂j o ponto em que o segmento pj qj
intersecta a γj := ∂B(pj , r). Temos então que
Z
f (z)dz −
γ
f (z)dz +
Z
s Z
X
j=1
f (z)dz −
f (z)dz =
γj
j=1
Z
γ
s Z
X
qj q̂j
s Z
X
f (z)dz =
γ
j=1
γj
Z
s Z
X
f (z)dz −
f (z)dz −
qj q̂j
j=1
f (z)dz
γj
Note que a curva justaposição das curvas das integrais
acima é limite de curvas de Jordan em torno de uma região em
que f é holomorfa. Por conseguinte, sua integral é zero. Isto
2.5. Resíduos
81
q
q
q
5
4
1
q
q
2
3
p
p
5
1
p
p
3
2
p
4
Figura 5 – Teorema dos Resíduos
implica que
Z
f (z)dz =
γ
s Z
X
j=1
f (z)dz.
γj
Mas pelo teorema de Laurent (vide página ??),
R
γj
f (z)dz =
2πires(f, pj ), o que conclui a prova.
Teorema 2.65. Seja f uma função holomorfa num domínio
U \ {p1 , p2 , . . . , ps }. Suponha que γ ⊂ U \ {p1 , p2 , . . . , ps } é uma
curva de Jordan C 1 por partes, orientada no sentido anti-horário,
tal que a região S, fechada e limitada por ela, está contida em
U e contém todos os pontos p1 , . . . , ps . Suponha que todas as
singularidades de f em S sejam somente polos. Então
Z 0
1
f (z)
dz = Z(f ; S) − P (f ; S),
2πi γ f (z)
onde Z(f ; S) é o número de zeros de f em S, contadas as suas
82
Capítulo 2. Funções Analíticas
multiplicidades, e P (f ; S) é o número de polos de f em S, contadas as suas ordens.
Prova:
Fixado p ∈ S, as séries de Laurent de f e f 0 em tal
ponto se escrevem respectivamente como:
f (z) =
+∞
X
an (z − p)n +
n=0
k
X
bn (z − p)−n
n=1
e
f 0 (z) =
+∞
X
n=1
nan (z − p)n−1 +
k
X
−nbn (z − p)−n−1 .
n=1
Portanto, se p é um polo de f de ordem k, necessariamente é um
polo de ordem k+1 para f 0 . Como se um ponto não for polo de f ,
não o será de f 0 , isso implica que os polos de f são exatamente
os mesmos que os de f 0 . Por outro lado, se p for uma raiz de
multiplicidade m para f , ele será um zero de multiplicidade m−1
para f 0 (no caso de m = 1, não será um zero para f 0 ).
Isso implica que um ponto p é singularidade para f 0 /f se
e só se, p é polo de f (as singularidades de f e f 0 são as mesmas,
e por hipótese f não possui outro tipo de singularidade, exceto
polo, em S), ou p é zero de f . No caso de p ser um polo de f de
ordem k = k(p), temos para z em uma certa vizinhança furada
de p:
f 0 (z)
=
f (z)
P+∞
Pk
nan (z − p)n−1 + n=1 −nbn (z − p)−n−1
=
P+∞
Pk
n
−n
n=0 an (z − p) +
n=1 bn (z − p)
n=1
P+∞
Pk
(z − p)−k−1 ( n=1 nan (z − p)n+k + n=1 −nbn (z − p)−n+k
=
P
P
+∞
k
(z − p)−k n=0 an (z − p)n+k + n=1 bn (z − p)−n+k
2.5. Resíduos
1
·
(z − p)
83
Pk−1
P+∞
− n)bk−n (z − p)n + n=k (n − k)an−k (z − p)n
.
Pk−1
P+∞
n
n
n=0 bk−n (z − p) +
n=k an−k (z − p)
n=0 (k
Note que denotando por
g(z) :=
k−1
X
(k − n)bk−n (z − p)n +
n=0
+∞
X
(n − k)an−k (z − p)n
n=k
e por
h(z) =
k−1
X
bk−n (z − p)n +
n=0
+∞
X
an−k (z − p)n ,
n=k
tanto g como h são não nulas em p, logo seu quociente é holomorfo em uma bola B ⊂ U centrada em p com raio suficientemente pequeno. Donde concluímos que em tal vizinhança de p,
f se escreve como
f (z) =
com g/h holomorfas e
g(p)
h(p)
g(z)
1
·
,
(z − p) h(z)
= −kbk /bk = −k. Logo, res(f, p) =
−k, a qual é o simétrico da ordem do polo de f em p.
Analogamente, se p é um zero de multiplicidade m =
m(p) de f , temos em uma vizinhança furada de p na qual
f (z) =
(z − p)m−1
·
(z − p)m
P+∞
n=0 (n + m)an+m (z −
P+∞
n
n=0 an+m (z − p)
p)n
=
1
ĝ(z)
·
,
z − p ĥ(z)
com ĝ/ĥ holomorfa em uma vizinhança de p e ĝ(p)/ĥ(p) =
mam /am = m, implicando que o resíduo res(f 0 /f, p) é igual
a multiplicidade de p como zero de f .
84
Capítulo 2. Funções Analíticas
Pelo teorema de Resíduos, concluímos que
1
2πi
Z
γ
ŝ
X
f 0 (z)
f0
dz =
res( , zj ) =
f (z)
f
j=1
X
X
m(zj )−
zj ,f (zj )=0
k(zj ) = Z(f, S) − P (f, S),
zj ,zj é polo de f
onde zj são as singularidades de f 0 /f em S.
2.6 Programa de Cálculo de raízes de polinômios
Nessa seção, apresentamos um programa em linguagem
C por nós escrito que permite entrar com um polinômio e uma
região retangular contendo uma possível raiz λ deste, com a finalidade de calcular precisamente λ, usando da teoria vista de
Análise Complexa. Note que a mesma região funciona para calcular raízes associadas ao prolongamento de λ com respeito a
polinômios com coeficientes suficientemente próximos aos do polinômio inicial.
Para compilar o programa, deve-se digitar e salvar em
uma mesma pasta os quatro arquivos listados abaixo, e digitar
em um terminal (preferencialmente, linux):
gcc -o polintip polintip.c -lm
Os arquivos que compõem o programa são:
• polintip.c (principal)
• tipo.h
Augusto Armando de Castro Júnior
85
• complex.c
• integra.c
/∗ Programa de C a l c u l o de R a i z e s de P o l i n o m i o s
/∗ Arquivo p r i n c i p a l : p o l i n t i p . c
∗/
/∗ Autor : Augusto Armando de C a s t r o J u n i o r
/∗ Data : 06 de f e v e r e i r o de 2 0 1 4 .
∗/
/∗ Entradas da Linha de Comando :
− 4 e n t r a d a s da r e g i a o − e , s , w , n −
cantos i n f e r i o r esquerdo e superior d i r e i t o ;
− Opcao de o p e r a c a o − opc ;
− no . de c o e f i c i e n t e s do p r i m e i r o p o l i n o m i o − n l ;
− l i s t a de monomios do p r i m e i r o p o l i n o m i o ;
− l i s t a de monomios do segundo p o l i n o m i o .
∗/
#include <s t d i o . h>
#include < s t d l i b . h>
#include <math . h>
#i f n d e f r e a l
#define r e a l double
#endif
#i f n d e f PI
#define PI 3 . 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5
#endif
#define TAMAX 64
#define TIPOCOMPLEX
#define TIPO struct complex
#include " t i p o . h"
∗/
∗/
86
Capítulo 2. Funções Analíticas
#include " complex . c "
#include " i n t e g r a . c "
#define SWAP( a , b ) { auxc= ( a ) ; ( a)= ( b ) ; ( b)= auxc ; }
struct monom {
TIPO v ;
int g ;
};
struct p o l i n {
i n t grau ;
i n t tam ;
struct monom mon [ TAMAX] ;
};
struct f u n r {
struct p o l i n pn ;
struct p o l i n pd ;
};
s t a t i c struct p o l i n ZEROP= { 0 , 1 } ;
s t a t i c struct f u n r ZEROR= { { 0 , 1 } , { 0 , 1 , { 1 . 0 , 0 . 0 , 0 } } } ;
char _err= 0 ;
struct p o l i n
sump ( struct
struct p o l i n
subp ( struct
struct p o l i n
mulp ( struct
struct p o l i n
d i v p ( struct
struct p o l i n
modp ( struct
struct f u n r divmodp ( struct
struct p o l i n d e r i v p ( struct
TIPO
homoval ( struct p o l i n
TIPO r a i z n e w t ( struct p o l i n
struct f u n r
p o l i n , struct
p o l i n , struct
p o l i n , struct
p o l i n , struct
p o l i n , struct
p o l i n , struct
polin );
, TIPO ) ;
, TIPO ) ;
polin
polin
polin
polin
polin
polin
sumf ( struct f u n r , struct f u n r ) ;
);
);
);
);
);
);
Augusto Armando de Castro Júnior
struct
struct
struct
struct
funr
s u b f ( struct
funr
mulf ( struct
funr
d i v f ( struct
f u n r d e r i v f ( struct
87
f u n r , struct f u n r ) ;
f u n r , struct f u n r ) ;
f u n r , struct f u n r ) ;
funr ) ;
long d f s o b r e f ( struct p o l i n , TIPO ∗ , TIPO ∗ , TIPO ∗ , long ) ;
i n t i g u a l p ( struct p o l i n , struct p o l i n ) ;
struct f u n r a t r i p 1 ( struct f u n r ) ;
struct f u n r a t r i p 2 ( struct p o l i n , struct p o l i n ) ;
i n t main ( i n t a r g c , char ∗ a r g v [ ] )
{
char ∗ s t r , opc ;
i n t n1 , j , k ;
long t ;
TIPO z1 , z2 , z [ 1 0 2 4 ] , u p i ;
s t a t i c TIPO f u n [ 4 0 9 6 ] , z d f s f [ 4 0 9 6 ] ;
struct p o l i n p1 , p2 ;
struct monom auxc ;
i f ( argc < 6)
{
printf (
" Programa ␣%s \nUso : ␣%s ␣<e>␣<s>␣<w>␣<n>␣<opc>␣ n1 ␣<p o l 1 >␣<p o l 2 >\
argv [ 0 ] , argv [ 0 ] ) ;
exit (0);
}
z1 . r e= a t o f ( a r g v [ 1 ] ) ;
z1 . im= a t o f ( a r g v [ 2 ] ) ;
z2 . r e= a t o f ( a r g v [ 3 ] ) ;
z2 . im= a t o f ( a r g v [ 4 ] ) ;
opc= a r g v [ 5 ] [ 0 ] ;
n1= a t o i ( a r g v [ 6 ] ) ;
88
Capítulo 2. Funções Analíticas
f o r ( k=0 , j= 7 ; j < 7+ n1 ∗ 3 ; j+= 3 , k++)
{
p1 . mon [ k ] . v . r e= a t o f ( a r g v [ j ] ) ;
p1 . mon [ k ] . v . im= a t o f ( a r g v [ j+ 1 ] ) ;
p1 . mon [ k ] . g= a t o i ( a r g v [ j+ 2 ] ) ;
i f ( k> 0 )
{
i f ( p1 . mon [ k− 1 ] . g> p1 . mon [ k ] . g )
SWAP( p1 . mon [ k − 1 ] , p1 . mon [ k ] ) ;
}
}
p1 . grau= p1 . mon [ k − 1 ] . g ;
p1 . tam= n1 ;
f o r ( k= 0 ; j < a r g c ; j+= 3 , k++)
{
p2 . mon [ k ] . v . r e= a t o f ( a r g v [ j ] ) ;
p2 . mon [ k ] . v . im= a t o f ( a r g v [ j+ 1 ] ) ;
p2 . mon [ k ] . g= a t o i ( a r g v [ j+ 2 ] ) ;
}
p2 . grau= p2 . mon [ k− 1 ] . g ;
p2 . tam= k ;
m o s t r a p o l ( " \n␣ p1 : " , p1 , "(% l f +␣ i%l f ) " ) ;
m o s t r a p o l ( " \n␣ p2 : " , p2 , "(% l f +␣ i%l f ) " ) ;
t= g e r a r e t a n g ( z1 , z2 , z , 4 8 0 ) ;
t= d f s o b r e f ( p1 ,
i f ( t> 0 )
{
fun , z d f s f ,
z,
t );
Augusto Armando de Castro Júnior
89
u p i= a t r i c 2 ( 0 . 0 , 1 . 0 / ( − 2 . 0 ∗ PI ) ) ;
p u t s ( " \nSem␣ r a i z e s ␣em␣ cima ␣ da ␣ c u r v a ; ␣ i n t e g r a n d o . . . " ) ;
z1= mulc ( i n t e g r c (& f u n [ 2 0 4 8 ] , &f u n [ 3 0 0 0 ] , fun , z , 1 , t ) ,
upi ) ;
i f ( z1 . re > 0 . 2 )
{
p r i n t f ( " \nHa␣%l 3 . 0 f ␣ ␣ r a i z e s ␣ na ␣ r e g i a o \n" , z1 . r e ) ;
z2= mulc (
i n t e g r c (& f u n [ 2 0 4 8 ] , &z d f s f [ 3 0 0 0 ] ,
zdfsf , z , 1 , t ) ,
upi ) ;
p r i n t f ( " Raiz : ␣%l f +␣ i ␣%l f \n" , z2 ) ;
}
}
else
{
p r i n t f ( "Achamos␣uma␣ r a i z ␣ na ␣ c u r v a : ␣%l f +␣ i ␣%l f \n" , z [ 0 ] ) ;
}
switch ( opc )
{
case ’ . ’ :
p1 = mulp ( p1 , p2 ) ;
s t r = " produto " ;
break ;
case ’+ ’ :
p1 = sump ( p1 , p2 ) ;
s t r = "soma" ;
break ;
case ’ / ’ :
p1 = d i v p ( p1 , p2 ) ;
str = " divisao " ;
break ;
case ’− ’ :
p1 = subp ( p1 , p2 ) ;
90
Capítulo 2. Funções Analíticas
str = " diferenca " ;
break ;
case ’ d ’ :
p1= d e r i v p ( p1 ) ;
s t r= " d e r i v a d a " ;
break ;
case ’ a ’ :
p r i n t f ( " A v a l i a d o ␣em␣%l f +i ␣%l f ␣ o ␣ p o l i n o m i o ␣ deu :
␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣%l f +i ␣%l f \n ; ␣uma␣ r a i z ␣ eh ␣p(% l f +i ␣%l f )=␣%l f +i ␣%l f \n" ,
p2 . mon [ 0 ] . v ,
homoval ( p1 , p2 . mon [ 0 ] . v ) ,
r a i z n e w t ( p1 , p2 . mon [ 0 ] . v ) ,
homoval ( p1 ,
r a i z n e w t ( p1 , p2 . mon [ 0 ] . v ) ) ) ;
exit (1);
default : p u t s ( " C a l c u l o ␣ de ␣ r a i z e s ␣ r e a l i z a d o . " ) ;
}
m o s t r a p o l ( " \nO␣ r e s u l t a d o ␣ deu : ␣ \n" , p1 , "(% l f +␣ i%l f ) " ) ;
puts ( "" ) ;
}
m o s t r a p o l ( char ∗ s t r , struct p o l i n p , char ∗ s t r f )
{
int j ;
char s [ 2 5 6 ] ;
printf ( str );
f o r ( j= 0 ; j < ( p . tam− 1 ) ; j ++)
{
sprintf (s ,
( p . mon [ j ] . g== 0 ) ? "%s+␣ " : "%sX^%d+␣ " ,
s t r f , p . mon [ j ] . g ) ;
p r i n t f ( s , p . mon [ j ] . v ) ;
}
s p r i n t f ( s , "%sX^%d" ,
s t r f , p . mon [ p . tam− 1 ] . g ) ;
p r i n t f ( s , p . mon [ p . tam− 1 ] . v ) ;
Augusto Armando de Castro Júnior
91
}
m o s t r a f u n ( char ∗ s t r , struct f u n r r , char ∗ s t r f )
{
int j ;
char s [ 2 5 6 ] ;
printf ( str );
printf ("(" );
f o r ( j= 0 ; j < ( r . pn . tam− 1 ) ; j ++)
{
sprintf (s ,
( r . pn . mon [ j ] . g== 0 ) ? "%s+␣ " : "%sX^%d+␣ " ,
s t r f , r . pn . mon [ j ] . g ) ;
p r i n t f ( s , r . pn . mon [ j ] . v ) ;
}
s p r i n t f ( s , "%sX^%d ) / " ,
s t r f , r . pn . mon [ r . pn . tam− 1 ] . g ) ;
p r i n t f ( s , r . pn . mon [ r . pn . tam− 1 ] . v ) ;
printf ("(" );
f o r ( j= 0 ; j < ( r . pd . tam− 1 ) ; j ++)
{
sprintf (s ,
( r . pd . mon [ j ] . g== 0 ) ? "%s+␣ " : "%sX^%d+␣ " ,
s t r f , r . pd . mon [ j ] . g ) ;
p r i n t f ( s , r . pd . mon [ j ] . v ) ;
}
s p r i n t f ( s , "%sX^%d ) " ,
s t r f , r . pd . mon [ r . pd . tam− 1 ] . g ) ;
p r i n t f ( s , r . pd . mon [ r . pd . tam− 1 ] . v ) ;
}
struct p o l i n mdcp ( struct p o l i n p , struct p o l i n q )
{
struct p o l i n s o b r e = p ;
struct p o l i n sub = q ;
struct p o l i n r e s t o ;
92
Capítulo 2. Funções Analíticas
while ( i g u a l p ( r e s t o=
{
s o b r e = sub ;
sub = r e s t o ;
}
return ( sub ) ;
modp ( s o b r e , sub ) , ZEROP) )
}
struct f u n r a t r i p 2 ( struct p o l i n n , struct p o l i n d )
{
struct f u n r r ;
struct p o l i n m;
i f ( i g u a l p ( d , ZEROP) )
{
_err = 1 ;
return (ZEROR) ;
}
m = mdcp ( n , d ) ;
r . pn= d i v p ( n , m) ;
r . pd= d i v p ( d , m) ;
return ( r ) ;
}
struct f u n r a t r i p 1 ( struct f u n r r )
{
struct p o l i n m;
i f ( i g u a l p ( r . pd , ZEROP) )
{
_err = 1 ;
r . pn= ZEROP;
return ( r ) ;
}
m = mdcp ( r . pn , r . pd ) ;
r . pn = d i v p ( r . pn , m) ;
Augusto Armando de Castro Júnior
93
r . pd = d i v p ( r . pd , m) ;
return ( r ) ;
}
struct p o l i n mulp ( struct p o l i n p1 , struct p o l i n p2 )
{
struct p o l i n p ;
i n t ind , i , j , k ;
i n t n , m= p1 . grau+ p2 . grau ;
p= ZEROP;
f o r ( n= 0 , k= 0 ; n<= m; n++)
{
i n d= p2 . tam− 1 ;
f o r ( i= 0 ; ( i < p1 . tam ) && ( p1 . mon [ i ] . g<= n ) ; i ++)
{
/∗ Obs : a b u s c a a b a i x o pode s e r o t i m i z a d a , usando b s e a r c h . ∗/
f o r ( j= i n d ;
( j>= 0 ) && ( p2 . mon [ j ] . g > ( n− p1 . mon [ i ] . g ) ) ;
j −−);
i f ( p2 . mon [ j ] . g== ( n− p1 . mon [ i ] . g ) )
{
p . mon [ p . tam ] . g= n ;
p . mon [ p . tam ] . v= SM( p . mon [ p . tam ] . v ,
ML( p1 . mon [ i ] . v , p2 . mon [ j ] . v ) ) ;
i n d= j ;
}
}
i f ( ! IGUAL( p . mon [ p . tam ] . v , ZERO) )
{
p . tam++;
p . grau= n ;
}
}
return ( p ) ;
94
Capítulo 2. Funções Analíticas
}
struct p o l i n sump ( struct p o l i n p1 , struct p o l i n p2 )
{
struct p o l i n p ;
i n t m, n , k , kax ;
kax= p1 . tam+ p2 . tam ;
f o r ( k= m= n= 0 ; (m< p1 . tam)&& ( n< p2 . tam)&& ( k< kax ) ; )
{
i f ( p1 . mon [ m ] . g== p2 . mon [ n ] . g )
{
p . mon [ k ] . v= SM( p1 . mon [ m ] . v , p2 . mon [ n ] . v ) ;
i f ( ! IGUAL( p . mon [ k ] . v , ZERO) )
{
p . mon [ k ] . g= p1 . mon [ m ] . g ;
k++;
}
m++;
n++;
}
else
{
i f ( p1 . mon [ m ] . g< p2 . mon [ n ] . g )
{
p . mon [ k ] . g= p1 . mon [ m ] . g ;
p . mon [ k ] . v= p1 . mon [ m ] . v ;
m++;
}
else
{
p . mon [ k ] . g= p2 . mon [ n ] . g ;
p . mon [ k ] . v= p2 . mon [ n ] . v ;
n++;
Augusto Armando de Castro Júnior
95
}
k++;
}
}
f o r ( ; m< p1 . tam ; m++, k++)
{
p . mon [ k ] . g= p1 . mon [ m ] . g ;
p . mon [ k ] . v= p1 . mon [ m ] . v ;
}
f o r ( ; n< p2 . tam ; n++, k++)
{
p . mon [ k ] . g= p2 . mon [ n ] . g ;
p . mon [ k ] . v= p2 . mon [ n ] . v ;
}
p . grau= p . mon [ k− 1 ] . g ;
p . tam= k ;
return ( p ) ;
}
struct p o l i n subp ( struct p o l i n p1 , struct p o l i n p2 )
{
struct p o l i n p ;
i n t m, n , k , kax ;
kax= p1 . tam+ p2 . tam ;
f o r ( k= m= n= 0 ; (m< p1 . tam)&& ( n< p2 . tam)&& ( k< kax ) ; )
{
i f ( p1 . mon [ m ] . g== p2 . mon [ n ] . g )
{
p . mon [ k ] . v= SB( p1 . mon [ m ] . v , p2 . mon [ n ] . v ) ;
96
Capítulo 2. Funções Analíticas
if
( ! IGUAL( p . mon [ k ] . v , ZERO) )
{
p . mon [ k ] . g= p1 . mon [ m ] . g ;
k++;
}
m++;
n++;
}
else
{
i f ( p1 . mon [ m ] . g< p2 . mon [ n ] . g )
{
p . mon [ k ] . g= p1 . mon [ m ] . g ;
p . mon [ k ] . v= p1 . mon [ m ] . v ;
m++;
}
else
{
p . mon [ k ] . g= p2 . mon [ n ] . g ;
p . mon [ k ] . v= SB(ZERO, p2 . mon [ n ] . v ) ;
n++;
}
k++;
}
}
f o r ( ; m< p1 . tam ; m++, k++)
{
p . mon [ k ] . g= p1 . mon [ m ] . g ;
p . mon [ k ] . v= p1 . mon [ m ] . v ;
}
f o r ( ; n< p2 . tam ; n++, k++)
{
p . mon [ k ] . g= p2 . mon [ n ] . g ;
Augusto Armando de Castro Júnior
97
p . mon [ k ] . v= SB(ZERO, p2 . mon [ n ] . v ) ;
}
p . grau= p . mon [ k− 1 ] . g ;
p . tam= k ;
return ( p ) ;
}
struct p o l i n d i v p ( struct p o l i n p1 , struct p o l i n p2 )
{
struct p o l i n p , paux , rp ;
int gr ;
i f ( p1 . grau< p2 . grau )
return (ZEROP ) ;
p= ZEROP;
rp= p1 ;
do {
paux . grau= paux . mon [ 0 ] . g= rp . grau− p2 . grau ;
paux . tam= 1 ;
paux . mon [ 0 ] . v= DV( ( rp . mon [ ( rp . tam)− 1 ] . v ) ,
( p2 . mon [ ( p2 . tam)− 1 ] . v ) ) ;
p= sump ( p , paux ) ;
g r= rp . grau ;
rp= subp ( rp , mulp ( p2 , paux ) ) ;
i f ( rp . grau== g r )
{
rp . tam−−;
rp . grau= rp . mon [ rp . tam− 1 ] . g ;
}
} while ( rp . grau>= p2 . grau ) ;
return ( p ) ;
}
98
Capítulo 2. Funções Analíticas
struct p o l i n modp ( struct p o l i n p1 , struct p o l i n p2 )
{
struct p o l i n p , paux , rp ;
i f ( p1 . grau< p2 . grau )
return ( p1 ) ;
rp= p1 ;
p= ZEROP;
do {
paux . grau= paux . mon [ 0 ] . g= rp . grau− p2 . grau ;
paux . tam= 1 ;
paux . mon [ 0 ] . v= DV( rp . mon [ rp . tam− 1 ] . v , p2 . mon [ p2 . tam− 1 ] . v ) ;
p= sump ( p , paux ) ;
rp= subp ( rp , mulp ( p2 , paux ) ) ;
} while ( rp . grau>= p2 . grau ) ;
return ( rp ) ;
}
i n t i g u a l p ( struct p o l i n p1 , struct p o l i n p2 )
{
int i ;
i f ( p1 . grau != p2 . grau )
return ( 0 ) ;
i f ( p1 . tam!= p2 . tam )
return ( 0 ) ;
f o r ( i= 0 ; i < p1 . tam ; i ++)
i f ( ( p1 . mon [ i ] . g != p2 . mon [ i ] . g ) | |
( ! IGUAL( p1 . mon [ i ] . v , p2 . mon [ i ] . v ) ) )
Augusto Armando de Castro Júnior
return ( 0 ) ;
return ( 1 ) ;
}
struct f u n r mulf ( struct f u n r r1 , struct f u n r r 2 )
{
struct f u n r r ;
struct p o l i n m;
m = mdcp ( r 1 . pn , r 2 . pd ) ;
r 1 . pn= d i v p ( r 1 . pn , m) ;
r 2 . pd= d i v p ( r 2 . pd , m) ;
m = mdcp ( r 1 . pd , r 2 . pn ) ;
r 1 . pd= d i v p ( r 1 . pd , m) ;
r 2 . pn= d i v p ( r 2 . pn , m) ;
r . pn = mulp ( r 1 . pn , r 2 . pn ) ;
r . pd = mulp ( r 1 . pd , r 2 . pd ) ;
return ( r ) ;
}
struct f u n r sumf ( struct f u n r r1 , struct f u n r r 2 )
{
struct f u n r r ;
struct p o l i n m, n ;
n = sump ( mulp ( r 1 . pn , r 2 . pd ) , mulp ( r 2 . pn , r 1 . pd ) ) ;
m = mdcp ( n , r 1 . pd ) ;
n= d i v p ( n , m) ;
r . pd = d i v p ( r 1 . pd , m) ;
m = mdcp ( n , r 2 . pd ) ;
r . pn= d i v p ( n , m) ;
r . pd= mulp ( r . pd , d i v p ( r 2 . pd , m) ) ;
return ( r ) ;
}
struct f u n r d i v f ( struct f u n r r1 , struct f u n r r 2 )
99
100
Capítulo 2. Funções Analíticas
{
return ( mulf ( r1 , a t r i p 2 ( r 2 . pd , r 2 . pn ) ) ) ;
}
struct f u n r s u b f ( struct f u n r r1 , struct f u n r r 2 )
{
return ( sumf ( r1 , a t r i p 2 ( subp (ZEROP, r 2 . pn ) , r 2 . pd ) ) ) ;
}
struct p o l i n d e r i v p ( struct p o l i n p )
{
int i , j ;
i f ( p . grau )
p . grau −−;
f o r ( i= j= 0 ; j < p . tam ; j ++)
{
i f ( p . mon [ j ] . g== 0 )
continue ;
p . mon [ i ] . v= MLR( p . mon [ j ] . v , ( r e a l ) ( p . mon [ j ] . g ) ) ;
p . mon [ i ++]. g= p . mon [ j ] . g− 1 ;
}
p . tam= i ;
return ( p ) ;
}
struct f u n r d e r i v f ( struct f u n r r )
{
Augusto Armando de Castro Júnior
101
struct f u n r
f;
struct p o l i n m;
f . pn= subp ( mulp ( d e r i v p ( r . pn ) , r . pd ) , mulp ( d e r i v p ( r . pd ) , r . pn ) ) ;
f . pd= mulp ( r . pd , r . pd ) ;
m = mdcp ( f . pd , f . pn ) ;
f . pd= d i v p ( f . pd , m) ;
f . pn= d i v p ( f . pn , m) ;
return ( f ) ;
}
/∗ Funcoes para d i a g n o s t i c a r e x i s t e n c i a de r a i z e s em uma r e g i a o ∗/
long d f s o b r e f ( struct p o l i n p ,
TIPO ∗ d f s f , TIPO ∗ z d f s f , TIPO ∗ z , long t )
{
long i , j ;
TIPO num , den ;
struct p o l i n drv ;
drv= d e r i v p ( p ) ;
f o r ( i= 0 ; i < t ; i ++)
{
num= homoval ( drv , z [ i ] ) ;
den= homoval ( p , z [ i ] ) ;
i f ( ! IGUAL( den , ZERO) )
{
d f s f [ i ]= DV(num , den ) ;
z d f s f [ i ]= ML( d f s f [ i ] , z [ i ] ) ;
}
102
Capítulo 2. Funções Analíticas
else
{
∗ d f s f= z [ i ] ;
return ( 0 ) ;
}
}
return ( i ) ;
}
TIPO homoval ( struct p o l i n p , TIPO x )
{
int j , k ;
TIPO y ;
f o r ( j= p . tam− 1 , y= p . mon [ j ] . v ; j > 0 ; )
{
f o r ( k= p . mon [ j ] . g− p . mon [ j − 1 ] . g ; k> 0 ; k−−)
{
y= ML( y , x ) ;
}
y= SM( y , p . mon[−− j ] . v ) ;
}
f o r ( k= 0 ; k< p . mon [
y= ML( y , x ) ;
return ( y ) ;
}
0 ] . g ; k++)
Augusto Armando de Castro Júnior
103
long c u r v a p l p ( struct p o l i n p ,
TIPO ∗ p l s p , TIPO ∗ z p l s p , TIPO ∗ curv , long n )
{
struct p o l i n d e r a ;
r e a l eps ;
TIPO y ;
long j= 0L ;
e p s= (AB( c u r v [ 0]) > 0 . 1 ) ? 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 :AB( c u r v [ 0 ] ) / 1 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 ;
d e r a= d e r i v p ( p ) ;
f o r ( j= 0 ; j < n ; j ++)
{
y= homoval ( p , c u r v [ j ] ) ;
i f (AB( y)> e p s )
{
p l s p [ j ]= DV( homoval ( dera , c u r v [ j ] ) , y ) ;
z p l s p [ j ]= ML( c u r v [ j ] , p l s p [ j ] ) ;
}
else
{
p l s p [ 0]= c u r v [ j ] ;
return ( 0L ) ;
}
}
return ( j ) ;
}
TIPO r a i z n e w t ( struct p o l i n p , TIPO x0 )
{
struct p o l i n d e r a ;
r e a l eps ;
TIPO x1 , aux ;
i n t j= 0 ;
e p s= (AB( x0)> 0 . 1 ) ? 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 :AB( x0 ) / 1 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 ;
d e r a= d e r i v p ( p ) ;
104
Capítulo 2. Funções Analíticas
do
{
x1= x0 ;
aux= homoval ( dera , x0 ) ;
i f (AB( aux)> e p s )
x0= SB( x0 , DV( homoval ( p , x0 ) , aux ) ) ;
else
{
i f (AB( homoval ( p , x0 )) < e p s )
return ( x0 ) ;
else
{
x0= SM( x0 , UM) ;
}
}
j ++;
} while ( (AB(SM( x1 , x0))>= e p s ) && ( j < 1 0 0 0 0 ) ) ;
return ( x0 ) ;
}
/∗−−−− Arquivo t i p o . h −−−−−−−−−−−∗/
/∗
N e s t e a r q u i v o , d i f e r e n t e s t i p o s e macros c o r r e s p o n d e n t e s
sao d e f i n i d o s
∗/
#i f d e f TIPOREAL
#define SM( x , y )
( ( x)+ ( y ) )
#define SB( x , y )
( ( x)− ( y ) )
#define ML( x , y )
( ( x )∗ ( y ) )
#define DV( x , y )
( ( x )/ ( y ) )
#define AT( x , y )
( ( x)= ( y ) )
Augusto Armando de Castro Júnior
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
ATR( x , y )
( ( x)= ( y ) )
IGUAL( x , y ) ( ( x)==(y ) )
MEN( x , y )
( ( x)< ( y ) )
MENI( x , y )
( ( x)<= ( y ) )
TAM
sizeof ( r ea l )
ZERO ( ( r e a l ) ( 0 . ) )
UM
(( real )(1.))
STR " %8.3 l f ␣ "
TIP ( x ) ( x )
#endif
#i f d e f TIPORACIONAL
#define SM( x , y )
soma ( ( x ) , ( y ) )
#define SB( x , y )
suba ( ( x ) , ( y ) )
#define ML( x , y )
mula ( ( x ) , ( y ) )
#define MLR( x , y )
mula ( ( x ) , a p r o x r e a l ( y ) )
#define DV( x , y )
divi ((x) , (y))
#define AT( x , y )
( ( x)= ( y ) )
#define ATR( x , y )
( x)= a t r i b 1 ( y )
#define IGUAL( x , y ) i g u a l ( ( x ) , ( y ) )
#define MEN( x , y )
menor ( ( x ) , ( y ) )
#define MENI( x , y )
menorigual ( ( x ) , ( y ) )
#define TAM
s i z e o f ( struct r a c i o n a l )
#define STR
"%6l d /%6 l d ␣ "
#define TIP ( x )
aproxreal (x)
#define ZERO z e r a
#define UM
uma
#endif
#i f d e f TIPOCOMPLEX
#define SM( x , y )
#define SB( x , y )
#define ML( x , y )
#define MLR( x , y )
#define DV( x , y )
#define AT( x , y )
somc ( ( x ) , ( y ) )
subc ( ( x ) , ( y ) )
mulc ( ( x ) , ( y ) )
mulr ( ( x ) , ( y ) )
divc (( x ) , (y ))
( ( x)= ( y ) )
105
106
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#endif
Capítulo 2. Funções Analíticas
ATR( x , y )
( x)= a t r i c 1 ( y )
IGUAL( x , y ) i g u a l c ( ( x ) , ( y ) )
TAM
s i z e o f ( struct complex )
STR
"%l f +␣ i ␣%l f "
TIP ( x )
atric2 ((x) , 0.0)
ZERO z e r c
UM
umc
/∗−−−−− Arquivo complex . c −−−−−−−−−−∗/
/∗ Programa de numeros c o m p l e x o s ∗/
/∗
N e s t e a r q u i v o , implementamos numeros complexos ,
i n d e p e n d e n t e da implementacao j a e x i s t e n t e em Ansi−C99
∗/
#include <s t d i o . h>
#include < s t d l i b . h>
#include <math . h>
#i f n d e f r e a l
#define r e a l double
#endif
#i f n d e f PI
#define PI 3 . 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5
#endif
struct complex {
re al re ;
r e a l im ;
};
char e r r =0;
s t a t i c struct complex z e r c= { 0 . 0 , 0 . 0 } ;
s t a t i c struct complex umc= { 1 . 0 , 0 . 0 } ;
Augusto Armando de Castro Júnior
struct
struct
struct
struct
struct
complex
complex
complex
complex
complex
somc ( struct
subc ( struct
mulc ( struct
mulr ( struct
d i v c ( struct
complex
complex
complex
complex
complex
107
,
,
,
,
,
struct
struct
struct
real );
struct
complex ) ;
complex ) ;
complex ) ;
complex ) ;
r e a l c c a b s ( struct complex ) ;
int
i g u a l c ( struct complex z1 , struct complex z2 )
{ return ( ( z1 . r e== z2 . r e)&& ( z1 . im== z2 . im ) ) ; }
#define
atric1 ( z) (z)
long g e r a c u r v a f e c ( struct complex , struct complex ,
struct complex ∗ , long ) ;
struct complex a t r i c 2 ( r e a l , r e a l ) ;
struct complex a t r i c 2 ( r e a l re , r e a l im )
{
struct complex z ;
z . r e= r e ;
z . im= im ;
return ( z ) ;
}
struct complex mulc ( struct complex z1 , struct complex z2 )
{
struct complex z ;
z . r e= z1 . r e ∗ z2 . r e − z1 . im∗ z2 . im ;
z . im= z1 . r e ∗ z2 . im + z1 . im∗ z2 . r e ;
return ( z ) ;
}
struct complex mulr ( struct complex z1 , r e a l r )
108
Capítulo 2. Funções Analíticas
{
z1 . r e ∗= r ;
z1 . im∗= r ;
return ( z1 ) ;
}
struct complex somc ( struct complex z1 , struct complex z2 )
{
struct complex z ;
z . r e= z1 . r e + z2 . r e ;
z . im= z1 . im + z2 . im ;
return ( z ) ;
}
struct complex d i v c ( struct complex z1 , struct complex z2 )
{
struct complex z ;
r e a l m= z2 . r e ∗ z2 . r e+ z2 . im∗ z2 . im ;
i f (m != 0 . 0 )
{
z2 . r e /= m;
z2 . im/= −m;
z . r e= z1 . r e ∗ z2 . r e − z1 . im∗ z2 . im ;
z . im= z1 . r e ∗ z2 . im + z1 . im∗ z2 . r e ;
return ( z ) ;
}
e r r= 1 ;
return ( z2 ) ;
}
struct complex subc ( struct complex z1 , struct complex z2 )
{
z1 . re−= z2 . r e ;
z1 . im−= z2 . im ;
return ( z1 ) ;
}
Augusto Armando de Castro Júnior
109
r e a l c c a b s ( struct complex z )
{
return ( s q r t ( z . r e ∗ z . r e+ z . im∗ z . im ) ) ;
}
long g e r a c u r v a f e c ( struct complex z1 , struct complex z2 ,
struct complex ∗ z , long p )
{
r e a l r1 , r2 , x , y ;
i n t j , k , l , m;
p−= p%4;
i f ( p<= 0 )
return ( 0 ) ;
r 1= f a b s ( z1 . re− z2 . r e ) ;
r 2= f a b s ( z1 . im− z2 . im ) ;
r 1= ( r1>= r 2 ) ? r 1 / 4 . 0 : r 2 / 4 . 0 ;
r 2= ( 8 . 0 ∗ r 1 ) / ( r e a l ) ( p ) ;
p+= 4 ;
f o r ( j= 0 , l= p / 4 , k= ( 3 ∗ p)/4− 1 ,
m= p− 1 , x= z1 . re− r1 , y= z1 . im− r 1 ;
x<= ( z1 . r e+ r 1 ) ;
x+= r2 , y+= r2 , j ++, l ++, k−−, m−−)
{
z [ j ] . r e= z [ k ] . r e= x ;
z [ j ] . im= z1 . im− r 1 ;
z [ k ] . im= z1 . im+ r 1 ;
z [ l ] . im= z [ m ] . im= y ;
z [ l ] . r e= z1 . r e+ r 1 ;
z [ m ] . r e= z1 . re− r 1 ;
}
110
Capítulo 2. Funções Analíticas
f o r ( ; j<= ( p / 4 ) ; j ++)
{
z [ j ] . r e= z1 . r e+ r 1 ;
z [ j ] . im= z1 . im− r 1 ;
}
f o r ( ; k>= p / 2 ; k−−)
{
z [ k ] . r e= z1 . r e+ r 1 ;
z [ k ] . im= z1 . im+ r 1 ;
}
f o r ( ; m>= ( 3 ∗ p ) / 4 ; m−−)
{
z [ m ] . im= z1 . im+ r 1 ;
z [ m ] . r e= z1 . re− r 1 ;
}
z [ p+ 1]= z [ p]= z [ 0 ] ;
return ( p ) ;
}
long g e r a r e t a n g ( struct complex z1 , struct complex z2 ,
struct complex ∗ z , long p )
{
r e a l r , r i , d , dx , dy , x , y ;
i n t j , k , l , m;
p−= p%4;
i f ( p<= 0 )
return ( 0 ) ;
i f ( z1 . re > z2 . r e )
{
r= z2 . r e ;
z2 . r e= z1 . r e ;
Augusto Armando de Castro Júnior
z1 . r e= r ;
}
r= z2 . re − z1 . r e ;
i f ( z1 . im> z2 . im )
{
r i= z2 . im ;
z2 . im= z1 . im ;
z1 . im= r i ;
}
r i= z2 . im− z1 . im ;
d= ( 2 . 0 ∗ ( r+ r i ) ) / ( ( r e a l ) p ) ;
dx= r / c e i l ( r /d ) ;
k= ( i n t ) ( c e i l ( r /dx)+ 0 . 1 ) ;
dy= r i / c e i l ( r i /d ) ;
m= ( i n t ) ( c e i l ( r i /dy)+ 0 . 1 ) ;
f o r ( j= 0 , l= k+ m, x= z1 . r e ;
x<= z2 . r e ;
x+= dx , j ++, l ++)
{
z [ j ] . r e= x ;
z [ j ] . im= z1 . im ;
z [ l ] . im= z2 . im ;
z [ l ] . r e= z1 . r e+ ( z2 . re− x ) ;
}
f o r ( y= z1 . im ; y<= z2 . im ; y+= dy , j ++, l ++)
{
z [ j ] . r e= z2 . r e ;
z [ j ] . im= y ;
z [ l ] . r e= z1 . r e ;
z [ l ] . im= z1 . im+ ( z2 . im− y ) ;
111
112
Capítulo 2. Funções Analíticas
}
p= l ;
z [ p+ 1]= z [ p]= z [
0];
return ( p ) ;
}
/∗−−− Arquivo i n t e g r a . c −−−−−−−−−∗/
#define GAUX( i , j ) gaux [ ( i ) ∗ ( n ) + ( j ) ]
#i f d e f GRAFICO
#define G( i , j ) g [ ( i ) ∗ ( n+ 1 ) + ( j+ 1 ) ]
#define GX( i )
g [ ( i ) ∗ ( n+ 1 ) ]
#e l s e
#define G( i , j ) g [ ( i ) ∗ ( n ) + ( j ) ]
#endif
#i f n d e f TIPO
#define TIPO r e a l
#endif
/∗ I n t e g r a c a o por T r a p e z i o ∗/
TIPO i n t e g r ( r e a l xa , r e a l x , TIPO ∗ya , TIPO ∗g ,
TIPO ∗ gaux , i n t n , long p )
{
long k , l ;
TIPO sum ;
r e a l r= ( x− xa ) / ( r e a l ) ( p ) , r r= f a b s ( r ) / 2 . 0 ;
f o r ( k= 0 ; k< n ; k++)
{
GAUX( p+1 , k)= ZERO;
f o r (G( 0 , k)= sum= ya [ k ] , l= 0 ; l < p ; l ++)
Augusto Armando de Castro Júnior
113
{
sum= SM( sum , MLR(SM(GAUX( l , k ) , GAUX( l+ 1 , k ) ) , r r ) ) ;
G( l+ 1 , k)= sum ;
}
}
return ( sum ) ;
}
/∗ I n t e g r a c a o C u r v i l i n e a ( r e a l ou complexa ) t i p o T r a p e z i o ∗/
TIPO i n t e g r c ( TIPO ∗ya , TIPO ∗g ,
TIPO ∗ gaux , TIPO ∗ curv , i n t n , long p )
{
long k , l ;
TIPO sum ;
f o r ( k= 0 ; k< n ; k++)
{
GAUX( p+ 1 , k)= GAUX( p , k)= GAUX( p− 1 , k ) ;
f o r (G( 0 , k)= sum= ya [ k ] , l= 0 ; l < p ; l ++)
{
sum= SM( sum ,
ML(MLR(SM(GAUX( l , k ) , GAUX( l+ 1 , k ) ) , 0 . 5 ) ,
SB( c u r v [ l + 1 ] , c u r v [ l ] ) ) ) ;
G( l+ 1 , k)= sum ;
}
}
return ( sum ) ;
}
114
Capítulo 2. Funções Analíticas
Figura 6 – Execução do programa de Cálculo de Raízes.
Exemplos de uso do programa polintip, com conferência dos valores calculados.
2.7. Exercícios
115
2.7 Exercícios
1. Verifique se as seguintes séries convergem:
a)
P
1
n2
b)
P
1
n
c)
P
1
n!
2. Mostre que se (zn ), zn > 0 é tal que existe o limn→+∞
√
c, então existe limn→+∞ n zn = c.
zn+1
zn
=
3. Calcule os limsups abaixo (obs.: algum pode ser +∞)):
a) lim sup
√
n
1
√
b) lim sup n c, c > 0
p
c) lim sup n 1/n
p
d) lim sup n 1/n2
√
n
e) lim sup n2
√
f) lim sup n n!
p
g) lim sup n n!/nn
√
h) lim sup n an , onde (an ) é a sequência de Fibonacci,
definida por a1 := 1, a2 := 1 e an+1 = an + an−1 ,
∀n > 2.
4. Prove que um espaço vetorial normado E é completo se, e
só se, toda série absolutamente convergente em E é convergente.
5. Seja (an ) : N → E uma sequência tomando valores em um
espaço de Banach E. Uma reenumeração de (an ) é uma
116
Capítulo 2. Funções Analíticas
sequência (bn ), onde bn = aϕ(n) , ∀n ∈ N. Prove que se (bn )
P
é uma reenumeração de (an ), e
an é absolutamente conP
vergente, então
bn é convergente ao mesmo valor limite
P
de
an .
6. Mostre que toda sequência convergente a um ponto em um
espaço métrico X é de Cauchy.
7. Seja X um espaço métrico, e x ∈ X. Mostre que toda
sequência de Cauchy (xn ), xn ∈ X com subsequência convergente a x converge ela mesma a x.
8. Seja E um espaço de Banach e seja C ⊂ L(E) a coleção
das aplicações lineares invertíveis de E em E. Mostre que
C é um aberto e que a aplicação Inv : C → C dada por
Inv(A) := A−1 é contínua.
9. Seja f : C \ {0} → C dada por f (z) := 1/z. Seja γ o círculo
R
de raio r > 0 e centro na origem. Calcule γ f (z)dz.
10. Seja f : C \ {0} → C dada por f (z) :=
1
zn , n
> 1. Seja γ o
R
f (z)dz.
γ
círculo de raio r > 0 e centro na origem. Calcule
11. Seja γ ⊂ C uma curva homeomorfa a um círculo e p : C →
C um polinômio tal que sem raízes em γ. Mostre que
Z
1
p0 (z)/p(z)dz = Z(p, γ),
2πi γ
onde Z(p, γ) é o número de raízes de p na região interior a
γ, contadas as suas multiplicidades.
12. Use o exercício anterior para concluir que a aplicação que
atribui a um polinômio complexo de grau n, suas n raízes,
é contínua.
2.7. Exercícios
117
13. Seja γ ⊂ C uma curva homeomorfa a um círculo e p : C →
C um polinômio tal que sem raízes em γ. Suponha que
Z
1
p0 (z)/p(z)dz = 1.
2πi γ
Mostre que
1
2πi
Z
zp0 (z)/p(z)dz = z0 ,
γ
onde z0 é a única raiz contida na região limitada que tem
γ como fronteira.
119
3 Funções de Operador
Neste capítulo, nós nos aprofundaremos no estudo de
operadores lineares em dimensão qualquer, usando para isso a
teoria de Análise Complexa vista anteriormente. Como um subproduto, ao final escrevemos um programa que permite calcular
um autoespaço (generalizado) sem conhecer com precisão o autovalor associado, sabendo-se somente que este se acha em uma
certa região limitada. Embora tal técnica, hoje, possa não ser
muito eficiente comparada às demais disponíveis, com o avanço
da computação quântica poderá se tornar competitiva dada a
sua estabilidade.
3.1 Funções analíticas de operadores
Definição 3.1. (Espectro de um operador linear contínuo.) Seja E um espaço vetorial normado complexo e seja
A : E → E um operador linear contínuo. O espectro de A é o
conjunto
sp(A) := {λ ∈ C, (λI − A) não possui inversa contínua}.
Observação 3.2. Devido ao Teorema da Aplicação Aberta de
Análise Funcional, se E é um espaço de Banach e A ∈ L(E),
então se A for invertível, sua inversa é automaticamente contínua. Dessa forma, se E é um espaço de Banach e A : E → E
é linear contínua, seu espectro consiste do conjunto dos pontos
λ ∈ C tal que (A − λI) não é injetiva ou não é sobrejetiva (a
inversa de (A − λI) não existe). Em dimenão finita, todo opera-
120
Capítulo 3. Funções de Operador
dor linear é automaticamente contínuo, e nesse caso particular
todas as menções à continuidade na definição de espectro são
redundantes.
Estudaremos uma caracterização do espectro de A :
E → E quando A ∈ L(E), com E um espaço de Banach complexo e L(E) sendo o espaço de aplicações lineares contínuas de
E em E.
A idéia para isso será estudarmos res(A) := sp(A)c ,
também conhecido como o conjunto resolvente de A. Ora, para
z ∈ res(A), sabemos que é um isomorfismo linear (contínuo) o
operador (zI − A). Lembramos que se E é um espaço de Banach,
L(E) também é um espaço de Banach com a conhecida norma
do Operador. Para T ∈ L(E), sua norma é:
kT kop =
sup
{kT (v)k} = Lip(T ).
v∈E;kvk=1
Antes de tudo, observemos que se A é contínuo, o conjunto resolvente de A é não vazio, e que o espectro é limitado.
De fato, se |λ| > kAkop , pelo Teorema da perturbação da Identidade (λI − A) = λ · (I − A/λ) é isomorfismo . Pelo Teorema da
Perturbação do Isomorfismo, também temos que res(A) é aberto
- logo sp(A) é compacto, visto que é um subconjunto fechado e
limitado de C.
Consideraremos então a aplicação resolvente ρ : res(A) →
L(E) dada por ρ(z) := (zI − A)−1 . Já vimos acima que que
res(A) é aberto.
Mostraremos que esta aplicação é analítica, e adaptaremos o que conhecemos sobre raio de convergência de série de
Augusto Armando de Castro Júnior
121
potências.
Para provarmos que ρ é holomorfa (possui derivada holomorfa) usaremos a muito simples
Proposição 3.3. (Equação do resolvente.) É válida a seguinte identidade:
ρ(λ) − ρ(µ) = (µ − λ)ρ(λ)ρ(µ).
Prova: De fato,
ρ(λ) − ρ(µ) = ρ(λ)ρ(µ)(µI − A)(λI − A)(ρ(λ) − ρ(µ)) =
ρ(λ)ρ(µ)(µI − A)(I − λρ(µ) + Aρ(µ)) =
ρ(λ)ρ(µ)(µI − A − λI + A) =
(µ − λ)ρ(λ)ρ(µ).
Corolário 3.4. Dada uma aplicação linear A ∈ L(E), a aplicação resolvente associada ρ : res(A) → L(E) é holomorfa em
res(A), com derivada holomorfa em λ igual a −ρ(λ)2 .
Prova:
Como a inversão de operadores é uma aplicação contínua em um aberto L(E), segue -se que ρ é contínua como composta de aplicações contínuas.
Temos portanto que
ρ0 (λ) = lim
µ→λ
ρ(µ) − ρ(λ)
= lim −ρ(µ)ρ(λ) = −ρ(λ)2 .
µ→λ
λ−µ
122
Capítulo 3. Funções de Operador
Nosso próximo passo é demonstrar que o espectro de
um operador contínuo é não vazio.
Teorema 3.5. Dada uma aplicação linear A ∈ L(E), o espectro
de A é não vazio, e o raio espectral r(A) := sup |sp(A)| é igual
p
a limn→+∞ n kAn k.
Prova:
Do que vimos acima, está claro que para z 6= 0 para que
(zI − A) seja invertível é necessário e suficiente que (I − A/z)
seja invertível. Inspirados na série geométrica, para z, |z| > 0,
P
estudemos a convergência absoluta da série n≥0 (A/z)n , a qual
esperamos que convirja a (I − A/z)−1 . Ora, tal série converge
P
n
n
absolutamente se, e só se, a série
n≥0 kA kop /|z| converge
na reta. Chamando de an := kAn kop do critério de comparação
(com a série geométrica) que esta última série converge para z
tal que
lim sup
√
n
an /|z| < 1 ⇒ |z| > lim sup
√
n
an = lim sup
p
n
kAn k.
Notamos que a composição de aplicações lineares com A é contínua em L(E). Por exemplo, para a composição com A à esquerda,
temos:
kA◦B−A◦Ckop = kA◦(B−C)kop ≤ kAkop ·kB−Ckop , ∀B, C ∈ L(E),
mostrando que tal aplicação de composição é Lipschitz. Temos
p
assim da continuidade da composição que para |z| > lim sup n kAn k,
Augusto Armando de Castro Júnior
123
vale
(I − A/z) lim
n→∞
lim
n→∞
n
n
X
X
(A/z)n = lim (I − A/z)
(A/z)n =
n→∞
j=0
j=0
n+1
n
X
X
(A/z)n = lim I − (A/z)n = I.
(A/z)n −
j=0
n→∞
j=1
Efetuando contas similares, só que com a composição à direita
p
com (I −A/z), concluímos que para |z| > lim sup n kAn k, existe
P∞
(zI − A)−1 = (1/z) · n=0 (A/z)n . Isso nos dá uma cota mais
fina para o raio da bola fechada onde se encontra sp(A).
Para mostrarmos que sup{|x|; x ∈ sp(A)} = lim sup
p
n
kAn k,
basta que adaptemos a teoria de funções holomorfas de C em C,
para curvas holomorfas em espaços de Banach, o que já foi feito
na seção 1.4.
Note que a série de Laurent de ρ em torno de zero é
+∞
ρ(z) =
1X
(A/z)n .
z j=0
Concluímos então que a série de Laurent de ρ converge para
todo z ∈ C tal que |z| > sup |sp(A)| e, é claro, não converge
para |z| < sup |sp(A)|, pois se convergisse, como vimos acima,
existiriam pontos do espectro λ tais que a inversa [λI − A]−1
p
estaria definida, absurdo . Logo, sup |sp(A)| = lim sup n kAn k.
Podemos melhorar o resultado do último parágrafo, mosp
n
kAn k. De fato, note que λ ∈ sp(A) ⇒
trando que existe limn→+∞
λn ∈ sp(An ). Para ver isso, basta observar que
(λn − An ) = (λ − A) ◦ (An−1 + λAn−1 + · · · + λn−1 ) =
(An−1 + λAn−1 + · · · + λn−1 ) ◦ (λ − A)
124
Capítulo 3. Funções de Operador
implica que se λn ∈ res(An ), então λ − A também é invertível.
Temos portanto que se λ ∈ sp(A),
|λn | ≤ r(An ) ≤ kAn k,
p
n
kAn k, ∀n ∈ N, e daí, |λ| ≤ lim inf n→+∞
donde concluímos
p
p
lim sup n kAn k = r(A) ≤ lim inf n kAn k.
e logo |λ| ≤
p
n
kAn k
n→+∞
n→+∞
Falta vermos que sp(A) 6= ∅. Para tal, basta usarmos
do Teorema de Liouville (Teorema 2.60, da página 74). Se por
absurdo, o espectro de A fosse vazio, ρ seria uma aplicação inteira. Nesse caso, é fácil ver que ρ seria globalmente limitada: Se
λ ∈ B(0, 2kAk), então ρ(λ) é uniformemente acotada por ρ ser
contínua e B(0, 2kAk ser compacta em C. Por outro lado,
kρ(λ)k = k(λI − A)−1 k = [ inf kλv − A(v)k]−1 ≤
kvk=1
[|λ| − kAk]
−1
≤ [|λ|/2]−1 , ∀λ; |λ| > 2kAk,
concluindo que se ρ fosse inteira, seria globalmente limitada e
portanto constante pelo Teorema de Liouville, o que é absurdo.
Uma consequência imediata, e bastante importante disso,
é que se o espectro de A está contido na bola unitária aberta
B(0, 1), automaticamente todo iterado suficientemente grande
de A será uma contração.
Uma última observação, é que outra prova de que existe
p
n
lim kAn k pode ser obtida usando-se da subaditividade da sequência an := log(kAn k). Tal se deve ao seguinte resultado elementar:
Augusto Armando de Castro Júnior
125
Proposição 3.6. Seja (an ) uma sequência de reais tais que
am+n ≤ an + am . Então, sempre vale limn→+∞ n1 an = inf an /n.
Em particular, se inf an /n > −∞, o limite acima existe em R.
Prova: É imediato que an ≤ n · a1 , logo, (an /n) é limitada superiormente. Por outro lado, vale ainda que se k =
n · m + s, com 0 ≤ s < n, ak ≤ m · an + s · a1
an+k /(n+k) ≤ (an +ak )/(n+k) ≤ (an (m+1))/(n+k)+sa1 /(n+k) ≤
(nan + an k)/(n + k)n + sa1 /(n + k) ≤
an /n + sa1 /(n + k).
(3.1)
Fazendo k → +∞, temos que
lim sup aj /j = lim sup an+k /(n + k) ≤ an /n,
j→+∞
k→+∞
para todo n ∈ N fixado. Ora, mas então
lim sup aj /j ≤ inf an /n ≤ lim inf aj /j,
j→+∞
j→+∞
e portanto limn→+∞ an /n = inf an /n, podendo talvez este limite
ser −∞.
Corolário 3.7. Existe limn→+∞
p
n
kAn k.
Prova: Sem perda de generalidade, suponha A 6= 0.
Note que kAn k ≤ kAkn implica em que an := log(kAn k) é subap
ditiva. Se inf an /n = −∞, tal implica que limn→+∞ n kAn k =
0, e nada temos a provar. Caso inf an /n ≥ c > −∞, então
126
1
n
Capítulo 3. Funções de Operador
log(kAn k) → c implica que dado > 0, existe n0 ∈ N tal
que ∀n ≥ n0 vale
ou seja, limn→+∞
en(c−) < kAn k < en(c+) ,
p
n
kAn k = ec .
3.2 Noções Básicas de Teoria Espectral
Na seção 2.1.2, adaptamos a Teoria clássica de Análise
Complexa com a finalidade de estudar a aplicação resolvente ρ
de um operador linear A : E → E fixado, onde E é um espaço de
Banach. Usamos o fato de que ρ é uma aplicação holomorfa de
um aberto de C em L(E). A idéia desta nova seção é estudar o
espectro sob um foco diferente, cuja motivação é a seguinte. Dado
Pm
um polinômio p(z) = n=0 cn z n , com cn ∈ C, ∀n ∈ {0, . . . , m},
podemos avaliá-lo em L(E) (no lugar de avaliá-lo em C) pela
fórmula:
L(E) 3 p(A) =
m
X
c n An .
n=0
Dizemos que p(A) é uma função polinomial do operador A. Como
as funções holomorfas são localmente limite uniforme de polinomiais, claro está que dada uma função f : U ⊂ C → C deve ser
possível estender o conceito de função de operador para funções
analíticas quaisquer, obtendo-se f (A).
A definição precisa de f (A), das relações entre seu espectro e o espectro de A e suas consequências são o objetivo da
presente seção.
Definição 3.8. (Função de operador.) Seja A ∈ L(E) um
operador linear em um espaço de Banach E e f : U → C uma
Augusto Armando de Castro Júnior
127
função holomorfa definida uma vizinhança (fechada) U não necessariamente conexa de sp(A). Suponha que ∂U = C é composta de curvas fechadas, C 1 por partes, orientadas com a orientação induzida no bordo. Definimos a função do operador A
dada por f como
1
f (A) :=
2πi
Z
f (λ)ρ(λ)dλ
C
Denotamos por F(A) à coleção de todas as funções holomorfas
em alguma vizinhança com fronteira C 1 por partes de sp(A).
Dadas f, g ∈ F(A),
Teorema 3.9. (Cálculo Funcional.)
c ∈ C, valem:
1. c · f + g ∈ F(A) e (c · f + g)(A) = c · f (A) + g(A).
2. f · g ∈ F(A) e (f · g)(A) = f (A) · g(A).
3. Se f possui expansão em série de Taylor f (λ) =
P∞
k=0
an λn ,
absolutamente convergente em uma vizinhança de sp(A),
P∞
então f (A) = n=0 an An .
Prova: Para o item 1, devemos esclarecer que por h =
c · f + g entendemos a função obtida somando-se na intersecção
dos domínios de f e g. O resultado é consequência óbvia da
linearidade da integral.
Para mostrarmos o item 2, usamos a equação do resolvente:
1
4π 2
Z
Z
f (A) · g(A) = −
1
− 2
4π
Z
C1
C2
Z
f (λ)ρ(λ)dλ
C1
g(µ)ρ(µ)dµ =
C2
f (λ)g(µ)ρ(λ)ρ(µ)dµ dλ =
128
Capítulo 3. Funções de Operador
−
ρ(λ) − ρ(µ) dµ dλ =
µ−λ
C2
C1
Z
Z
1
g(µ)
− 2
f (λ)
dµ ρ(λ)dλ+
4π C1
C2 µ − λ
Z
Z
f (λ) 1
g(µ)
+ 2
dλ ρ(µ)dµ =
4π C2
C1 µ − λ
1
4π 2
Z
Z
f (λ)g(µ)
(pois tomamos C2 exterior a C1 )
Z
1
f (λ)g(λ)ρ(λ)dλ = (f · g)(A).
2πi C1
Quanto ao item 3, sabemos do curso elementar de Análise Complexa que qualquer série de potências converge absolutamente em bolas abertas em torno de um centro, logo, se
P
a série
an λn converge em uma vizinhança de sp(A), estão
P∞
existe 0 tal que existe o limite (uniforme) n=0 an λn , ∀λ; |λ| ≤
sup sp(A) + 0 = r. Em particular, denotando por Sr1 a esfera
unitária de centro 0 e raio r, obtemos:
Z X
∞ Z
∞
1
1 X
n
f (A) =
(
an λ )ρ(λ)dλ =
an λn ρ(λ)dλ =
2πi Sr1 n=0
2πi n=0 Sr1
Z
∞
∞
∞
X
X
1 X
Aj
an
λn (
)dλ
=
an An .
j+1
2πi n=0
λ
Sr1
n=0
j=0
Observação 3.10. Podemos fazer melhor: em verdade o item
3 ainda vale se f possuir expansão em série de Taylor f (λ) =
P∞
n
k=0 an (λ − λ0 ) , absolutamente convergente em uma vizinhança
P∞
n
de sp(A). Neste caso, temos f (A) =
n=0 an (A − λ0 I) . De
fato,
f (A) =
1
2πi
Z
(
∞
X
Sr1 (λ0 ) n=0
n
an (λ − λ0 ) )(λI − λ0 I + λ0 I − A)
−1
dλ =
Augusto Armando de Castro Júnior
129
Z
∞
1 X
1
n
an
dλ =
(λ − λ0 )
2πi n=0
(λI − λ0 I) − (A − λ0 I)
Sr1 (λ0 )
Z
∞
1 X
1
1
n
an
(λ − λ0 )
)dλ =
(
A−λ
2πi n=0
λ − λ0 1 − λ−λ0 I
Sr1 (λ0 )
0
1 X
an
2πi n
j
Z
n
(λ − λ0 )
Sr1 (λ0 )
1 XX
an
2πi n j
X (A − λ0 I)
j+1
j
(λ − λ0 )
n
(λ − λ0 ) (A − λ0 I)
Z
Sr1 (λ0 )
j+1
(λ − λ0 )
dλ =
j
dλ =
Z
∞
1
1 X
n
an
(A − λ0 I) dλ =
2πi n=0
λ
−
λ
1
0
Sr (λ0 )
∞
X
1
an (A − λ0 I)
2πi
n=0
n
Z
Sr1 (λ0 )
∞
X
1
n
dλ =
an (A − λ0 I) .
λ − λ0
n=0
O próximo teorema (junto com o anterior) pode ser considerado o proto-teorema Espectral, isto é, uma versão não lapidada (e portanto, mais geral) do teorema Espectral.
Teorema 3.11. (Mapeamento espectral.) Se f ∈ F(A), então sp(f (A)) = f (sp(A)). Em particular, se A é invertível, então
sp(A−1 ) = (sp(A))−1 := {µ−1 , µ ∈ sp(A)}.
Prova:
(f (sp(A)) ⊂ sp(f (A)))
Seja λ ∈ sp(A). A idéia é tentar escrever
f (λ)I − f (A) = (λI − A) · g(A),
(∗)
com g ∈ F(A). Daí, como os operadores de A comutam, fica
claro que se f (λ) não estivesse em sp(f (A)), então g(A) · (f (λ) −
130
Capítulo 3. Funções de Operador
f (A))−1 seria inversa de (λI − A), absurdo. A própria fórmula
acima nos indica como definir g em uma vizinhança de sp(A):
(
f (λ)−f (z)
, se z 6= λ
λ−z
g(z) =
0
f (λ), caso z = λ.
Como g é holomorfa em um disco furado com centro em λ e
é contínua em λ (pois f é holomorfa em λ), segue-se que g é
holomorfa inclusive em λ, possuindo assim o mesmo domínio que
f . Do Teorema do Cálculo Funcional, segue-se que g(A) satisfaz
(*).
(sp(f (A)) ⊂ f (sp(A)))
Agora seja µ ∈ sp(f (A)) e suponha por absurdo que µ ∈
/
f (sp(A)). Neste caso, f (λ)−µ 6= 0, ∀λ ∈ sp(A) e portanto h(z) =
(f (z) − µ)−1 está definida (e é holomorfa) em uma vizinhança
de sp(A). Ora, do Teorema do Cálculo Funcional, segue-se que
h(A) · (f (A) − µI) = I,
o que implica que µ ∈
/ sp(f (A)), absurdo.
Se A é invertível, então 0 ∈
/ sp(A), logo f (z) = 1/z é
uma função holomorfa definida na vizinhança C \ {0} de sp(A).
Ora, do teorema do Cálculo Funcional, de f (z) · z = z · f (z) = 1,
concluímos que f (A)·A = A·f (A) = I, ou seja, que f (A) = A−1 .
Da parte provada acima do Mapeamento Espectral, concluímos
que sp(A−1 ) = sp(f (A)) = f (sp(A)) = (sp(A))−1 .
Definição 3.12. (Componente espectral.) Seja A : E → E
um operador linear definido em um espaço de Banach E. Um
conjunto X ⊂ sp(A) é dito uma componente espectral se ele é
aberto e fechado em sp(A).
Augusto Armando de Castro Júnior
131
Note que como sp(A) é compacto, toda componente espectral também o é. Note ainda que se X é uma componente
espectral, o mesmo vale para X c (o complementar de X em
sp(A)).
Definição 3.13. (Projeção espectral.) Seja X uma componente espectral do espectro de um operador linear A. Seja PX :
V → C definida em uma vizinhança não conexa V = VX ∪ VX c
de sp(A), onde VX ⊃ X (respectivamente, VX c ⊃ X c ), tal que
PX (z) = 1, ∀z ∈ VX ; PX (z) = 0, ∀z ∈ VX c .
A aplicação ΠX := PX (A) ∈ L(E) é dita projeção espectral
associada a X.
Teorema 3.14. Seja A ∈ L(E) um operador linear em um espaço de Banach, e seja X ⊂ sp(A) um conjunto espectral. Então existe uma decomposição A−invariante Ê ⊕ Ẽ = E tal que
sp(A|Ê ) = X e sp(A|Ẽ ) = X c .
Prova: Pelo teorema do Cálculo Funcional, vale que
ΠX e ΠX c comutam com A e entre si (todos os operadores de
A comutam entre si), que I = ΠX + ΠX c , e 0 = ΠX · ΠX c (pois
PX (z) · PX c (z) = 0. Ademais, notamos que PX (z) = PX (z) ·
PX (z) (resp. PX c (z) = PX c (z) · PX c (z)) vale que ΠX = ΠX · ΠX
(resp. ΠX c = ΠX c · ΠX c .
Em particular, vale ainda que A = ΠX · A + ΠX c · A.
Definindo Ê := ΠX (E) e Ẽ := ΠX c (E), temos que Ê + Ẽ =
I(E) = E e se v ∈ Ê ∩ Ẽ, então
ΠX (v) = v = ΠX c (v) ⇒ ΠX · ΠX c (v) = v ⇒ v = 0,
o que implica que Ê e Ẽ estão em soma direta.
132
Capítulo 3. Funções de Operador
Finalmente, da comutatividade existente entre A e as
projeções espectrais, concluímos abaixo a A−invariância dos espaços Ê e Ẽ:
A(Ê) = A(ΠX (E)) = ΠX (A(E)) ⊂ ΠX (E) = Ê;
A(Ẽ) = A(ΠX c (E)) = ΠX c (A(E)) ⊂ ΠX c (E) = Ẽ.
Agora, mostremos que sp(A|Ê ) = X e que sp(A|Ẽ ) =
c
X .
Primeiramente, observe que como Ê e Ẽ são invariantes
por A, também o são por A − λI. Desse modo,
A − λI é invertível ⇔
(A − λI)|Ê é invertível e (A − λI)|Ẽ é invertível.
Em outras palavras, res(A) = res(A|Ê ) ∩ res(A|Ẽ ), o que equivale a dizer que
sp(A) = sp(A|Ê ) ∪ sp(A|Ẽ ).
Seja r ∈
/ sp(A), e defina g : VX ∪ VX c → C por g(z) =
PX (z) ∗ z + r ∗ PX c . Isso implica que g(A) = ΠX · A + rΠX c . Ou
seja, g(A) = (A|Ê , I|Ẽ )
Ora, o mapeamento espectral, junto com o mesmo raciocínio acima (baseado na invariância dos espaços Ê, Ẽ) aplicado
a g no lugar de A nos dão:
X ∪ {r} = sp(g(A)) = sp(A|Ê ) ∪ {r};
e analogamente, poderíamos concluir que
X c ∪ {r} = sp(A|Ẽ ) ∪ {r}.
3.3. Programa de Cálculo de projeções espectrais
133
Como r não pertence a sp(A), não pertence a nenhum dos subconjuntos sp(A|Ê ), sp(A|Ẽ ), X e X c , donde concluímos que
sp(A|Ê ) = X e sp(A|Ẽ ) = X c .
3.3 Programa de Cálculo de projeções espectrais
Nessa seção, apresentamos um programa em linguagem
C por nós escrito que permite entrar uma matriz e uma região
quadrada contendo um possível autovalor λ de um operador A,
com a finalidade de calcular, usando da teoria vista de Análise
complexa a projeção espectral associada λ. Note que a mesma
região funciona para calcular a projeção espectral associada ao
prolongamento de λ com respeito a operadores suficientemente
próximos de A.
Para compilar o programa, deve-se digitar e salvar em
uma mesma pasta os arquivos listados abaixo, além dos arquivos
"tipos.h"e "integra.c"da listagem do final do segundo capítulo
deste livro. e digitar em um terminal (preferencialmente, linux):
gcc -o proj proj.c -lm
Após a listagem, temos uma figura com a tela de execução do exemplo que demos na introdução. Para quem preferir
copiar e colar, a listagem abaixo também se encontra no link:
https://groups.google.com/
forum/?fromgroups#!forum/funcoesdeoperador29cbm
134
/∗
/∗
∗/
/∗
/∗
∗/
Capítulo 3. Funções de Operador
Programa de C a l c u l o de P r o j e c o e s E s p e c t r a i s
Arquivo p r i n c i p a l : p r o j . c
Autor : Augusto Armando de C a s t r o J u n i o r
Data : 15 de a b r i l de 2 0 1 3 .
#include <s t d i o . h>
#include < s t d l i b . h>
#include <math . h>
#i f n d e f r e a l
#define r e a l double
#endif
#i f n d e f PI
#define PI 3 . 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5
#endif
struct complex {
re al re ;
r e a l im ;
};
char e r r =0;
s t a t i c struct complex z e r c= { 0 . 0 , 0 . 0 } ;
s t a t i c struct complex umc= { 1 . 0 , 0 . 0 } ;
struct complex somc ( struct
struct complex subc ( struct
struct complex mulc ( struct
struct complex mulr ( struct
struct complex d i v c ( struct
int
i g u a l c ( struct complex
complex , struct complex ) ;
complex , struct complex ) ;
complex , struct complex ) ;
complex , r e a l ) ;
complex , struct complex ) ;
z1 , struct complex z2 )
∗/
∗/
Augusto Armando de Castro Júnior
135
{ return ( ( z1 . r e== z2 . r e)&& ( z1 . im== z2 . im ) ) ; }
#define
atric1 ( z) (z)
struct complex a t r i c 2 ( r e a l , r e a l ) ;
long c u r v a r e s o l v e n t e ( struct complex ∗ , int , int , struct complex ∗ , lon
long g e r a c u r v a f e c ( struct complex , struct complex , struct complex ∗ , lo
#define TIPOCOMPLEX
#define TIPO struct complex
#include " t i p o . h"
#include " e q l i n . c "
#include " i n t e g r a . c "
/∗ Numero de d i v i s o e s na i n t e g r a c a o : ∗/
#define ITERA
640
/∗ dimensao ( ao quadrado ) maxima das m a t r i z e s : ∗/
#define DIMAX2 36
i n t main ( i n t a r g c , char ∗ a r g v [ ] )
{
char ∗ s t r ;
r e a l p1 , q1 , p2 , q2 ;
struct complex r1 , z1 , z2 ;
s t a t i c struct complex mat [ ( 2 ∗ ITERA+ 1 ) ∗ DIMAX2 ] ,
m a t s a i [ ITERA∗ DIMAX2 ] ,
z [ ITERA∗ 2 ] , s , ∗sum ;
i n t n , c o l , i , j , dimat ;
long p ;
i f ( argc < 6)
{
printf (
" Programa ␣%s \n" ,
argv [ 0 ] ) ;
printf (
"Uso : ␣%s ␣ z1 . r e ␣ z1 . im␣ z2 . r e ␣ z2 . im␣dim␣mat [ 0 ] . r e ␣mat [ 0 ] . im . . . \ n" ,
136
Capítulo 3. Funções de Operador
argv [ 0 ] ) ;
p u t s ( "Onde : " ) ;
p u t s ( " z1 . re , ␣ z1 . im : ␣ c o o r d e n a d a s ␣ do ␣ c e n t r o ␣ da ␣ r e g i a o " ) ;
p u t s ( " z2 . re , ␣ z2 . im : ␣ c o o r d e n a d a s ␣ de ␣um␣ ponto ␣ f o r a ␣ da ␣ r e g i a o . " ) ;
p u t s ( "dim : ␣ dimensao ␣ do ␣ e s p a c o ␣em␣ que ␣ a ␣ m a t r i z ␣ atua " ) ;
exit (0);
}
z1 . r e
z1 . im
z2 . r e
z2 . im
dimat
=
=
=
=
=
a t o f ( argv [
a t o f ( argv [
a t o f ( argv [
a t o f ( argv [
a t o i ( argv [
1]);
2]);
3]);
4]);
5]);
s= a t r i c 2 ( 0 . 0 , 1 . 0 / ( 2 ∗ PI ) ) ;
i f ( ( dimat ∗ dimat ) ∗ 2 >= ( a r g c − 5 ) )
{
printf (
"Numero␣ de ␣ e n t r a d a s ␣ eh ␣ menor ␣ que ␣ a ␣ dimensao ␣%dx%d␣ da ␣ m a t r i z " ,
dimat , dimat ) ;
e x i t ( −1);
}
f o r ( i= 0 , j= 6 ; i < ( dimat ∗ dimat ) ; i ++, j+= 2 )
{
mat [ i ] . r e= a t o f ( a r g v [ j ] ) ;
mat [ i ] . im= a t o f ( a r g v [ j + 1 ] ) ;
}
p= g e r a c u r v a f e c ( z1 , z2 , z , ITERA ) ;
c u r v a r e s o l v e n t e ( mat , dimat , dimat ,
z , p);
i n t e g r c (&mat [ (ITERA+ 1 ) ∗ dimat ∗ dimat ] , matsai ,
&mat [ dimat ∗ dimat ] , z , dimat ∗ dimat , p ) ;
sum= &m a t s a i [ dimat ∗ dimat ∗ ( p− 1 ) ] ;
f o r ( i= 0 ; i < dimat ∗ dimat ; i ++)
{
Augusto Armando de Castro Júnior
137
sum [ i ]= mulc ( sum [ i ] , s ) ;
}
p r i n t f ( "A␣ m a t r i z ␣ de ␣ p r o j e c a o ␣ eh : ␣ \n" ) ;
m o s t r a m a t r i z ( sum , dimat , 0 , 0 ,
dimat , dimat , "%l 7 . 4 f+␣ i%l 7 . 4 f ␣ " ) ;
p u t s ( " \nQue␣ a s ␣ f o r c a s ␣ c e g a s ␣ s e ␣domem , ␣ da ␣ l u z ␣ que ␣ a ␣ alma ␣tem ! \ n" ) ;
}
struct complex a t r i c 2 ( r e a l re , r e a l im )
{
struct complex z ;
z . r e= r e ;
z . im= im ;
return ( z ) ;
}
struct complex mulc ( struct complex z1 , struct complex z2 )
{
struct complex z ;
z . r e= z1 . r e ∗ z2 . r e − z1 . im∗ z2 . im ;
z . im= z1 . r e ∗ z2 . im + z1 . im∗ z2 . r e ;
return ( z ) ;
}
struct complex mulr ( struct complex z1 , r e a l r )
{
z1 . r e ∗= r ;
z1 . im∗= r ;
return ( z1 ) ;
}
138
Capítulo 3. Funções de Operador
struct complex somc ( struct complex z1 , struct complex z2 )
{
struct complex z ;
z . r e= z1 . r e + z2 . r e ;
z . im= z1 . im + z2 . im ;
return ( z ) ;
}
struct complex d i v c ( struct complex z1 , struct complex z2 )
{
struct complex z ;
r e a l m= z2 . r e ∗ z2 . r e+ z2 . im∗ z2 . im ;
i f (m != 0 . 0 )
{
z2 . r e /= m;
z2 . im/= −m;
z . r e= z1 . r e ∗ z2 . r e − z1 . im∗ z2 . im ;
z . im= z1 . r e ∗ z2 . im + z1 . im∗ z2 . r e ;
return ( z ) ;
}
e r r= 1 ;
return ( z2 ) ;
}
struct complex subc ( struct complex z1 , struct complex z2 )
{
z1 . re−= z2 . r e ;
z1 . im−= z2 . im ;
return ( z1 ) ;
}
long g e r a c u r v a f e c ( struct complex z1 , struct complex z2 ,
struct complex ∗ z , long p )
{
r e a l r1 , r2 , x , y ;
i n t j , k , l , m;
p−= p%4;
Augusto Armando de Castro Júnior
i f ( p<= 0 )
return ( 0 ) ;
r 1= f a b s ( z1 . re− z2 . r e ) ;
r 2= f a b s ( z1 . im− z2 . im ) ;
r 1= ( r1>= r 2 ) ? r 1 / 4 . 0 : r 2 / 4 . 0 ;
r 2= ( 8 . 0 ∗ r 1 ) / ( r e a l ) ( p ) ;
p+= 4 ;
f o r ( j= 0 , l= p / 4 , k= ( 3 ∗ p)/4− 1 , m= p− 1 ,
x= z1 . re− r1 , y= z1 . im− r 1 ;
x<= ( z1 . r e+ r 1 ) ;
x+= r2 , y+= r2 , j ++, l ++, k−−, m−−)
{
z [ j ] . r e= z [ k ] . r e= x ;
z [ j ] . im= z1 . im− r 1 ;
z [ k ] . im= z1 . im+ r 1 ;
z [ l ] . im= z [ m ] . im= y ;
z [ l ] . r e= z1 . r e+ r 1 ;
z [ m ] . r e= z1 . re− r 1 ;
}
f o r ( ; j<= ( p / 4 ) ; j ++)
{
z [ j ] . r e= z1 . r e+ r 1 ;
z [ j ] . im= z1 . im− r 1 ;
}
f o r ( ; k>= p / 2 ; k−−)
{
z [ k ] . r e= z1 . r e+ r 1 ;
z [ k ] . im= z1 . im+ r 1 ;
}
139
140
Capítulo 3. Funções de Operador
f o r ( ; m>= ( 3 ∗ p ) / 4 ; m−−)
{
z [ m ] . im= z1 . im+ r 1 ;
z [ m ] . r e= z1 . re− r 1 ;
}
z [ p+ 1]= z [ p]= z [ 0 ] ;
return ( p ) ;
}
long c u r v a r e s o l v e n t e ( struct complex ∗mat , i n t c o l , i n t n ,
struct complex ∗ z , long p )
{
long i , j ;
struct complex mataux [ 2 5 6 ] ;
f o r ( i= 1 ; i <= p ; i ++)
{
f o r ( j= 0 ; j < n ; j ++)
{
memcpy(&mataux [ j ∗ 2∗ c o l ] ,
&mat [ j ∗ c o l ] ,
c o l ∗ s i z e o f ( struct complex ) ) ;
mataux [ j ∗ 2∗ c o l+ j ]= subc ( mataux [ j ∗ 2∗ c o l+ j ] , z [ i − 1 ] ) ;
}
invmatudo ( mataux , c o l , &mat [ i ∗ n∗ c o l ] ) ;
}
}
Augusto Armando de Castro Júnior
/∗−−−− Arquivo e q l i n . c
#define
SIST ( i , j )
141
−−−−−∗/
s [ ( i ) ∗ ( ( c o l )+1) + j ]
i n t e s c a l a t u d o (TIPO ∗ s , TIPO ∗x , i n t imax , i n t c o l )
{
int
jaux , iaux , i n d x ;
int
c t= 0 , i , j , k , kant , n , tm ;
TIPO s i i , m;
n= ( imax< c o l ) ? imax : c o l ;
f o r ( i= k= kant= 0 ; i < n ; i ++)
{
i n d x= i ;
ATR( s i i , ZERO ) ;
do{
f o r ( i a u x= i ; iaux< imax ; i a u x++)
i f ( ! ( IGUAL( s [ i a u x ∗ c o l+ i+ k ] , ZERO ) ) )
{
ATR( s i i ,
s [ i a u x ∗ c o l+ i+ k ] ) ;
i n d x= i a u x ;
break ;
}
i f (IGUAL( s i i , ZERO) )
k++;
} while ( ( IGUAL( s i i , ZERO) ) && ( ( i+ k)< c o l ) ) ;
i f ( k != kant )
{
c t ++;
kant= k ;
}
i f ( ! IGUAL( s i i , ZERO) )
{
i f ( i n d x != i )
{
142
Capítulo 3. Funções de Operador
tm=( c o l − ( i+k ) ) ∗ TAM;
memcpy ( ( char ∗ ) x ,
( char ∗)& s [ i n d x ∗ c o l+ i+ k ] , tm ) ;
memcpy ( ( char ∗)& s [ i n d x ∗ c o l+ i+ k ] ,
( char ∗)& s [ i ∗ c o l+ i+ k ] , tm ) ;
memcpy ( ( char ∗)& s [ i ∗ ( c o l+ 1)+ k ] ,
( char ∗ ) x , tm ) ;
}
f o r ( i a u x= i+ 1 ; iaux< imax ; i a u x++)
{
m= DV( s [ i a u x ∗ c o l+ i+ k ] , s i i ) ;
f o r ( j a u x= i ; jaux< c o l ; j a u x++)
ATR( s [ i a u x ∗ c o l+ j a u x ] ,
SB( s [ i a u x ∗ c o l+ j a u x ] ,
ML( s [ i ∗ c o l+ j a u x ] ,m) ) ) ;
}
}
}
return ( c t ) ;
}
TIPO detudo (TIPO ∗ s , i n t c o l )
{
int
int
TIPO
jaux , iaux , i n d x ;
c t= 0 , i , j , tm ;
s i i , m, muda , x [ 2 0 4 8 ] ;
ATR( muda , UM) ;
f o r ( i= 0 ; i < c o l ; i ++)
Augusto Armando de Castro Júnior
{
ATR( s i i , ZERO ) ;
f o r ( i a u x= i ; iaux< c o l ; i a u x++)
i f ( ! IGUAL( s [ i a u x ∗ c o l+ i ] , ZERO ) )
{
ATR( s i i , s [ i a u x ∗ c o l+ i ] ) ;
i n d x= i a u x ;
break ;
}
i f ( IGUAL( s i i , ZERO) )
c t ++;
else
{
i f ( i n d x != i )
{
ATR( muda , SB(ZERO, muda ) ) ;
tm=( c o l − i ) ∗ TAM;
memcpy ( ( char ∗ ) x ,
( char ∗)& s [ i n d x ∗ c o l+ i ] , tm ) ;
memcpy ( ( char ∗)& s [ i n d x ∗ c o l+ i ] ,
( char ∗)& s [ i ∗ c o l+ i ] , tm ) ;
memcpy ( ( char ∗)& s [ i ∗ ( c o l+ 1 ) ] ,
( char ∗ ) x , tm ) ;
}
f o r ( i a u x= i+ 1 ; iaux< c o l ; i a u x++)
{
m= DV( s [ i a u x ∗ c o l+ i ] , s i i ) ;
f o r ( j a u x= i ; jaux< c o l ; j a u x++)
ATR( s [ i a u x ∗ c o l+ j a u x ] ,
SB( s [ i a u x ∗ c o l+ j a u x ] ,
ML( s [ i ∗ c o l+ j a u x ] , m) ) ) ;
}
}
}
f o r ( i= 0 ; i < c o l ; i ++)
143
144
Capítulo 3. Funções de Operador
{
ATR( muda , ML( muda , s [ i ∗ ( c o l+ 1 ) ] ) ) ;
}
return ( muda ) ;
}
i n t e q l i n u d o (TIPO ∗ s , i n t c o l , TIPO ∗x )
{
int
imax= c o l − 1 , c t= 0 , i , j ;
TIPO
aux ;
c t= e s c a l a t u d o ( s , x , imax , c o l+ 1 ) ;
i f ( IGUAL( SIST ( imax , imax ) , ZERO) )
return(++c t ) ;
f o r ( i= imax ; i >= 0 ; i −−)
{
ATR( aux , ZERO ) ;
f o r ( j= i+ 1 ; j <= imax ; j ++)
ATR( aux , SB( aux , ML( SIST ( i , j ) , x [ j ] ) ) ) ;
ATR( x [ i ] , DV(SM( aux , SIST ( i , c o l ) ) , SIST ( i , i ) ) ) ;
}
return ( 0 ) ;
}
/∗−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−∗/
/∗
funcao
int
invmatudo ( )
∗/
/∗−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−∗/
/∗ O b j e t i v o : I n v e r t e r uma m a t r i z .
∗/
Augusto Armando de Castro Júnior
145
/∗−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−∗/
i n t invmatudo (TIPO ∗ s , i n t c o l , TIPO ∗ s i n v )
{
i n t i , j , k , imax= c o l ;
TIPO aux , d1 , d2 ;
i f ( c o l== 2 )
{
aux= s i n v [ 0]= s [ 0 ] ;
s i n v [ 1]= s [ 1 ] ;
s i n v [ 2]= s [ 4 ] ;
s i n v [ 3]= s [ 5 ] ;
d1= ML( aux , s i n v [ 3 ] ) ;
d2= ML( s i n v [ 1 ] , s i n v [ 2 ] ) ;
d1= SB( d1 , d2 ) ;
i f (IGUAL( d1 , ZERO) )
{
p u t s ( " m a t r i z ␣ nao ␣ i n v e r s i v e l " ) ;
return ( 1 ) ;
}
s i n v [ 0]= DV( s i n v [ 3 ] , d1 ) ;
s i n v [ 3]= DV( aux , d1 ) ;
d1= SB(ZERO, d1 ) ;
s i n v [ 1]= DV( s i n v [ 1 ] , d1 ) ;
s i n v [ 2]= DV( s i n v [ 2 ] , d1 ) ;
return ( 0 ) ;
}
f o r ( i= 0 ; i < c o l ; i ++)
{
f o r ( j= 0 ; j < i ; j ++)
s [ ( i ∗ 2 + 1 ) ∗ c o l+ j ]= s [ ( j ∗ 2 + 1 ) ∗ c o l+ i ]=
ZERO;
}
f o r ( i= 0 ; i < c o l ; i ++)
s [ ( i ∗ 2+ 1 ) ∗ c o l + i ]= UM;
146
Capítulo 3. Funções de Operador
i f ( e s c a l a t u d o ( s , s i n v , imax , 2∗ c o l ) )
return ( 0 ) ;
f o r ( i= imax− 1 ; i >= 0 ; i −−)
{
aux= s [ i ∗ 2∗ c o l+ i ] ;
f o r ( j= i ; j < 2∗ c o l ; j ++)
s i n v [ i ∗ ( c o l −1)+ j ]= s [ i ∗ 2∗ c o l+ j ]= DV( s [ i ∗ 2∗ c o l+ j ] , aux ) ;
f o r ( k= i − 1 ; k>= 0 ; k−−)
{
aux= s [ k∗ 2∗ c o l+ i ] ;
f o r ( j= c o l ; j < 2∗ c o l ; j ++)
{
s [ k∗ 2∗ c o l+ j ]= SB( s [ k∗ 2∗ c o l+ j ] , ML( aux , s [ i ∗ 2∗ c o l+ j ] )
}
/∗−−−− nao e s c a l o n a duas v e z e s s , j a s a i com s i n v −−−−∗/
}
}
f o r ( i= 0 ; i < c o l ; i ++)
f o r ( j= 0 ; j < c o l ; j ++)
{
s i n v [ i ∗ c o l+ j ]= s [ i ∗ 2∗ c o l+ c o l + j ] ;
s [ i ∗ 2∗ c o l+ j ]= ( i== j ) ?UM:ZERO;
}
return ( 1 ) ;
}
i n t m o s t r a m a t r i z (TIPO ∗ s , i n t c o l , i n t l i n i , i n t c o l i n i ,
i n t nl , i n t n c o l , char ∗ s t r )
{
int i , j ;
Augusto Armando de Castro Júnior
147
Figura 7 – Execução de programa de Cálculo de Projeções
Exemplos de uso do programa proj, entre o quais se vê o da Introdução deste
livro.
Vide: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/funcoesdeoperador29cbm
i n t l f i m= l i n i + nl , c o l f i m= c o l i n i+ n c o l ;
f o r ( i= l i n i ; i < l f i m ; i ++)
{
putchar ( ’ | ’ ) ;
f o r ( j= c o l i n i ; j < c o l f i m ; j ++)
p r i n t f ( s t r , s [ i ∗ c o l+ j ] ) ;
puts ( " | " ) ;
}
return ( n l ∗ n c o l ) ;
}
148
Capítulo 3. Funções de Operador
3.4 Exercícios
1. Mostre que se o resolvente de um operador A está definido
sobre uma curva compacta C, então existe uma vizinhança
V ∈ L(E) de A, em que o mesmo ocorre para todo operador em V .
2. Seja p(x) = a0 + a1 x + · · · + an−1 xn−1 + xn um polinômio
mônico de grau n e seja U um aberto com fronteira regular
tal exista uma única raiz λ1 de p contida em U , e esta
possua multiplicidade 1. (Vide o exercício 11 da página
116, para ver um método fáctível de como saber se uma
região U contém uma tal raiz em seu interior ). Seja A a
matriz companheira de p, isto é, a matriz
0
... 0
−a0
..
1 . . .
.
−a1
..
..
..
A :=
.
.
. ,
0
.
.
. . . . 1 0 −an−2
0
...
1
−an−1
cujo polinômio característico é justamente p(x). Considere
a matriz
Z
1
(zI − A)−1 dz.
2πi ∂U
Mostre que qualquer coluna v não nula de Πλ1 é um autoΠλ1 :=
vetor de A. Seja então w := A · v. Se vj é alguma entrada
não nula de v conclua que λ1 = wj /vj .
Isso nos dá uma outra maneira efetiva, embora mais onerosa do ponto de vista computacional, de calcular raízes
de polinômios.
149
4 Operadores com autovalores
dominantes
Neste capítulo analisaremos como calcular um autovalor de um operador quando este possui um módulo estritamente
maior que todos os outros. Vamos assumir que seu autoespaço e
o autoespaço generalizado associado a esse autovalor coincidam.
Veremos que nesse caso, existe um cone de vetores que é levado
dentro dele mesmo pelo operador, e que o autoespaço do autovalor dominante é um atrator para os vetores deste cone. Ou seja,
iterando repetidas vezes por A o cone, suas imagens convergem
para o autoespaço do autovalor dominante. Como sempre, isto
nos dá também uma maneira eficiente de calcular as raízes de
um polinômio quando estas têm todas módulos distintos e são
sem multiplicidade.
Em geral, o cone de que falamos no parágrafo anterior
não é dado de imediato. Veremos um caso particular de operador
com autovalor dominante cuja teoria tem grande importância
tecnológica: quando a matriz do operador tem todas as entradas
estritamente positivas. Nesse caso, o cone em questão é claramente o dos vetores com todas as entradas positivas. Veremos
que nesse caso particular, temos de fato um autovalor dominante,
positivo, de multiplicidade 1. Tal é o resultado do Teorema de
Perron, demonstrado na primeira década do século passado. Tal
Teorema e suas generalizações são fundamentais em Teoria Ergódica e de processos estocásticos e corresponde ao coração da
eficientíssima máquina de busca em Internet da Google, sendo
150
Capítulo 4. Operadores com autovalores dominantes
um exemplo vivo do poder e da importância da Matemática para
a tecnologia e o mundo moderno.
4.1 Calculando autovalores dominantes e seus autoespaços
Suponha que A : Cn → Cn é um operador linear com
autovalores λ1 , . . . , λs . Suponha que λ1 seja dominante, ou seja,
|λ1 | > |λj |, ∀j = 1, . . . , s. Se tomarmos uma base ordenada
(e1 , . . . , en ) de Cn , então algum dos vetores ej possui alguma
componente não nula no autoespaço generalizado de λ1 , pois se
possuísse somente nos outros autoespaços generalizados, a base
não conseguiria gerar o espaço todo. Suponha que o autoespaço
de λ1 e seu autoespaço generalizado coincidam. Vejamos o que
ocorre quando iteramos um vetor ej que possua uma componente
v1 não nula no autoespaço de λ1 :
An (v) = λn1 v1 + An (w),
com w ∈ ⊕sj=2 E(λj ). Ora, vimos no capítulo sobre noções de
Teoria Espectral, que, não importa que norma completa ponhamos em um espaço de Banach as taxas assintóticas exponenciais
de crescimento da norma de um operador serão dadas pelo seu
raio espectral. No caso em questão, o raio espectral é |λ1 |, e
o raio espectral de A|⊕sj=2 E(λj ) é estritamente menor que |λ1 |.
Portanto,
λ 1 n v1
An (w)
An (v)
=
+
kAn (v)k
kAn (v)k kAn (v)k
Claramente, a segunda parcela acima converge a zero exponencialmente rápido. Como a norma do membro a esquerda é um,
claro está que
lim |λn1 v1 |/kAn (v)k = 1.
n→∞
4.2. Cones e Métricas Projetivas
151
Claro está que, em geral, a sequência não converge a um autovetor específico, embora sua distância a esfera unitária do autoespaço E(λ) convirja a zero. Assim, qualquer iterado suficientemente grande dessa sequência será uma boa aproximação para
um elemento de E(λ) de norma 1.
W :=
∀n ≥
Seja |λ1 | > q > max{|λj |, j = 2, . . . , s} Chamemos de
n
s
⊕j=2 E(λj ). Seja n0 tal que kAn (w)k < |q| kwk, ∀w ∈ W ,
n0 , e tome γ = max{k[Aj |W ]k, j = 0, . . . , n0 } Note que
temos então que a coleção
{v ∈ Cn ; v = v1 + w, com v1 ∈ E(λ1 ), w ∈ ⊕sj=2 E(λj ), kv1 k}
4.2 Cones e Métricas Projetivas
Nesta seção relembraremos alguns resultados sobre a teoria de cones e métricas projetivas associados a operadores lineares. Mais precisamente apresentaremos o teorema de Birkhoff o
qual garante a contração, na métrica projetiva, de operadores lineares restritos a cones estritamente invariantes. Enunciaremos
aqui alguns resultados sobre a teoria, cujas provas podem ser
vistas em [16, 21, 7].
Seja E um espaço vetorial. Dizemos que C ⊂ E\{0} é
um cone se
t > 0 e v ∈ C ⇒ t · v ∈ C.
Um cone é dito convexo se
t1 , t2 > 0 e v1 , v2 ∈ C ⇒ t1 · v1 + t2 · v2 ∈ C,
tal condição permite combinar quaisquer direção do cone.
Mesmo na ausência de uma topologia, definiremos o fecho fecho C de C, como sendo o conjunto dos pontos w ∈ E
152
Capítulo 4. Operadores com autovalores dominantes
tais que existem v ∈ C e uma sequência de elementos positivos
(tn )n∈N , tendendo a zero, tais que w +tn ·v ∈ C para todo n ∈ N.
Segue da definição de fecho que 0 ∈ fecho C qualquer que seja
o cone C ⊂ E. Além disso estamos interessados em eliminar direções simétricas no cone, como por exemplo, semi-planos. Para
tal exigiremos que
fecho C ∩ (− fecho C) = {0}.
Denominaremos os cones convexos com a propriedade acima de
cones projetivos. Passaremos agora a definir a métrica projetiva associada ao cone projetivo C. Sejam
α(v, w) = sup {t > 0; w − t · v ∈ C}
e
Figura 8 – Métrica Projetiva- Função α
β(v, w) = inf {s > 0; s · v − w ∈ C}.
Observe que {t > 0; w − t · v ∈ C} e {s > 0; s · v − w ∈
4.2. Cones e Métricas Projetivas
153
Figura 9 – Métrica Projetiva- Função β
C} podem ser vazios. Assim, por se tratar de valores positivos,
convencionaremos que sup ∅ = 0 e naturalmente inf ∅ = +∞.
Definiremos agora
θ(v, w) = log
β(v, w)
.
α(v, w)
Convencionando que θ = +∞ se α = 0 ou β = +∞ e observando que α(v, w) ≤ β(v, w), segue que θ(v, w) toma valores em
[0, +∞]. A próxima proposição estabelece que θ é uma métrica
no espaço quociente C/ ∼, onde v ∼ w se, somente se, existe
t > 0 tal que v = t · w.
Proposição 4.1. Seja C um cone projetivo. Então θ(·, ·) : C ×
C → [0, +∞] é uma métrica em C/ ∼, isto é,
• θ(v, w) = θ(w, v).
• θ(u, w) ≤ θ(u, v) + θ(v, w).
• θ(v, w) = 0 se somente se existe t > 0 tal que v = t · w
154
Capítulo 4. Operadores com autovalores dominantes
A métrica θ é denominada métrica projetiva associada
ao cone C. A dependência do cone é dada de forma monótona,
isto é, dados dois cones C1 e C2 projetivos, tais que C1 ⊂ C2 ,
denotado por θ1 = log
β1
α1
e θ2 = log
β2
α2
suas respectivas métricas
projetivas, temos que θ1 ≥ θ2 . Com efeito, como {t > 0; w−t·v ∈
C1 } ⊂ {t > 0; w − t · v ∈ C2 } e {s > 0; s · v − w ∈ C1 } ⊂ {s >
0; s · v − w ∈ C} segue-se que α1 ≤ α2 e β1 ≥ β2 . Logo, θ1 ≥ θ2 .
Outro fato interessante associado a métricas projetivas,
é que dados E1 e E2 espaços vetoriais, T : E1 → E2 operador
linear e C1 , C2 cones projetivos tais que T (C1 ) ⊂ C2 , temos que,
T é uma contração fraca restrita a C1 , mais precisamente,
θ2 (L(v), L(w)) ≤ θ1 (v, w), para todos v, w ∈ C1
Porém, podemos obter uma contração forte sob a hipótese de
que o θ2 -diâmetro de L(C1 ) é finito. Este resultado é devido a
Birkhoff, que pode ser encontrado e.g. em [21, Proposição 2.3].
Teorema 4.2. Sejam E1 e E2 espaços vetoriais e sejam C1 ⊂
E1 e C2 ⊂ E2 cones projetivos. Se L : E1 → E2 é um operador
linear tal que L(C1 ) ⊂ C2 e D = sup {θ2 (L(v), L(w)); v, w ∈
C1 } < ∞ então
θ2 (L(v), L(w)) ≤ 1 − e−D θ1 (v, w),
para quaisquer v, w ∈ C1 .
Calculemos a métrica projetiva no seguinte
Exemplo 4.3. O cone C + dos vetores estritamente positivos é
o cone
C + := {v = (v1 , . . . , vn ) ∈ Rn ; vj > 0, ∀j = 1, . . . , n}
4.2. Cones e Métricas Projetivas
155
Calculemos a métrica Θ+ associada a C + . Ora, dados v, w ∈ C + ,
sv−w ∈ C + ⇔ svj −wj > 0, ∀j = 1, . . . , n ⇔ s > wj /vj , ∀j = 1, . . . , n ⇒
β + (v, w) = max{wj /vj , j = 1, . . . , n}.
Analogamente, obtemos que α+ (v, w) = min{wk /vk , k = 1, . . . , n}.
Desse modo, concluímos que
vj w k
Θ+ (v, w) = log max
, j = 1, . . . n, k = 1, . . . , n .
j,k
wj v k
Dado um cone C e um operador linear A deixa C estritamente invariante se A(C) ⊂ C e Θ-diam(A(C)) < +∞.
Teorema 4.4. Seja A : Rn → Rn um operador linear cuja
matriz possua todas as entradas positivas. Então A deixa estritamente invariante o cone C + .
Prova: Claramente, A deixa o cone dos vetores estritamente positivos invariante. Seja m o mínimo das entradas de
A. Atuando A em um vetor v ∈ C + de norma do máximo igual
a um, temos que A(v) tem sua menor entrada pelo menos igual
a c (pois a imagem v por A é uma combinação linear de A em
que alguma coluna aparece com coeficiente 1, já que a norma
do máximo de v é 1) . Comparando a distância de A(v) com,
digamos, o vetor u = (1, . . . , 1), temos:
[A(v)]j · 1
, j = 1, . . . n, k = 1, . . . , n ≤
Θ+ (A(v), u) = log max
j,k
1 · [A(v)]k
log(1/c) < +∞.
E portanto, dados v, w ∈ C + , usando de desigualdade triangular,
Θ+ (A(v), A(w)) ≤ Θ+ (A(v), 1)+Θ+ (1, A(w)) ≤ 2 log(1/c) < +∞,
156
Capítulo 4. Operadores com autovalores dominantes
o que mostra que o Θ+ - diâmetro da imagem de A é finito
(invariância estrita).
Proposição 4.5. Seja (vt ), vt ∈ C + , ∀m ∈ N uma sequência
de vetores unitários (na norma do máximo, ou em outra), de
Cauchy na métrica Θ+ . Então (vt ) é de Cauchy na norma do
máximo (ou em qualquer outra, uma vez que todas são equivalentes em Rn ).
Prova: Ora, temos
[vt ]j · [vs ]k
, j = 1, . . . n, k = 1, . . . , n ;
Θ(vt , vs ) = log max
j,k
[vt ]k · [vs ]j
por conseguinte, Θ(vt , vs ) → 0 quando t, s → +∞ equivale a que
[v ] ·[v ] maxj,k [vtt ]kj ·[vss ]k → 1 quando t, s → +∞. Como kvt kmax = 1,
j
temos que Escolhendo k̂ tal que [vs ]k̂ seja igual a 1, temos então:
k max
j,k
[vt ]j · [vs ]k̂
[vt ]j · [vs ]k
[vt ]j
k≥
≥
[vt ]k · [vs ]j
[vt ]k̂ · [vs ]j
[vs ]j
Vemos portanto que lim supt,s→+∞
[vt ]j
[vs ]j
≤ 1, ∀j = 1, . . . , n. (Ló-
gico que aqui, vale a mesma desigualdade permutando t e s). Por
outro lado, se para algum j, lim inf t,s→+∞
[vt ]j
[vs ]j
< 1, trocando os
[v ]
papéis de t e s, teríamos lim supt,s→+∞ [vst ]jj > 1, absurdo.
[v ]
concluímos que para todo j, limt,s→+∞ [vst ]jj = 1.
Donde
Por conseguinte, para todo j ∈ {1, . . . , n}, temos
[v ]
[v ]
tj
tj
− 1 = − 1 → 0,
k[vt ]j − [vs ]j k ≤ kvt kmax · [vs ]j
[vs ]j
quando t, s → +∞, completando a prova da proposição.
4.2. Cones e Métricas Projetivas
157
Unindo essa proposição ao teorema que a antecede, obtemos:
Corolário 4.6. Seja A uma matriz com todas as entradas (estritamente) positivas. Então, A possui um autovalor dominante
positivo. Ademais, dado qualquer vetor v ∈ C + , a sequência
Am (v)
kAm (v)k
converge a o único autovetor unitário de entradas pos-
tivas do autovalor dominante.
Prova: Comecemos pelo "ademais". Dos teoremas anteriores, sabemos que
Aj (v)
kAj (v)k
converge a um vetor unitário w ∈
C + . Note que este vetor é único, independente do vetor v ∈ C + ,
pois se tomássemos v̂ ∈ C + , a sequência ϕm dada por
( At (v)
kAt (v)k , se m = 2t
ϕm :=
At (v̂)
kAt (v̂)k , se m = 2t + 1
é Θ+ -Cauchy, e normalizada, portanto, pela proposição anterior,
converge uniformemente, mostrando
t
que
ot limite
é o mesmo veA (v)
A (v̂)
tor w, para as sequências kAt (v)k e kAt (v̂)k .
Daí, por um lado,
Am (w) Am+1 (w)
=
A
→ A(w), quando m → +∞,
kAm (w)k
kAm (w)k
o que implica ainda que
kAm+1 (w)|k
= kA(w)k > 0,
m→+∞ kAm (w)k
lim
Por outro lado,
Am+1 (w)
→ w, quando m → +∞.
kAm+1 (w)k
158
Capítulo 4. Operadores com autovalores dominantes
Logo, da continuidade de A,
Am (w) Am+1 (w)
=
A
→ A(w),
kAm (w)k
kAm (w)k
donde obtemos:
A(w) =
Am+1 (w)
Am+1 (w) kAm+1 (w)|k
=
lim
·
= kA(w)kw.
m→+∞ kAm (w)k
m→+∞ kAm+1 (w)k
kAm (w)k
lim
Portanto, w é autovetor unitário do autovalor λ = kA(w)k.
Antes de mostrarmos que λ é autovalor dominante, mostremos que dado qualquer vetor v ∈ C + , a distância
d(
Am (v)
, < w > ∩C + ) → 0,
λm v
onde < w > é o espaço gerado por w.
Como o operador Am é positivo, ∀m ∈ N se um vetor v̂
possui todas as suas entradas maiores ou iguais ás de um vetor v,
então [Am (v̂)]q ≥ [Am (v)]q , ∀q ∈ {1, . . . , n}. Assim sendo, dado
v ∈ C + , tomando vk = min{v1 , . . . , vn }, temos que v/vk tem
suas entradas maiores ou iguais aos do vetor unitário w, logo
[Am (v)]q
[Am (w)]q
≥ vk m
→ vk wq
m
λ
kA (w)k
Por outro lado, tomando wk uma constante igual a min{wl , l =
1, . . . , n}, escrevendo c = kvkmax wk temos c · w − v é um vetor
com todas as entradas não negativas e por conseguinte
c
[Am (w)]q
[Am (v)]q
≥
m
λ
λm
Concluímos que
vk
[Am (1)]q
[Am (v)]q
[Am (w)]q
≤
≤c
.
m
m
λ
λ
λm
4.2. Cones e Métricas Projetivas
159
Observe que para todo v ∈ C + ,
[Am (v)]q wq̂
[Am (v)]q [Am (w)]q̂
=
lim
= 1,
m→∞ [Am (v)]q̂ wq
m→∞ [Am (w)]q Am (v)q̂
lim
o que implica que
wq
[Am (v)]q
=
, ∀v ∈ C + , ∀q, q̂ ∈ {1, . . . , n}.
m→∞ [Am (v)]q̂
wq̂
lim
Seja
[Ams (v)]q
λms wq
uma subsequência convergente; então ob-
teríamos
[Ams (v)]q̂ λms wq
[Ams (v)]q̂ wq kAms (v)k
=
→ 1, quando s → +∞
λms wq̂ [Ams (v)]q
kAms (v)k wq̂ [Ams (v)]q
Logo, necessariamente,
[Ams (v)]q
[Ams (v)]q̂
=
m
s→+∞ λ s wq
λms wq̂
lim
e em particular,
[Ams (v)]q
λms
converge a um múltiplo positivo de w.
É fácil agora mostramos que o autovalor λ é dominante.
Para vermos isso, note que os vetores no dado um vetor v ∈<
/
w >, e que não esteja na soma dos autoespaços generalizados
complementares a < w >, temos que Cn = Rn ⊕ Rn implica que
podemos escrever
v = v̂ + iṽ, com v̂, ṽ ∈ Rn .
Ora, somando uma constante c > 0 suficientemente
grande, digamos c = 2kvkmax , temos que (considerando abaixo
c como o vetor com todas as entradas igual a c): v̂ + c ∈ C + ,
ṽ + c ∈ C + , ou seja,
v = (v̂ + c) − c + i((ṽ + c) − c)
160
Capítulo 4. Operadores com autovalores dominantes
m
Do que vimos antes, concluímos que d( Aλm(v) , < w >) converge
a zero.
Ora, mas isso implica que dado qualquer outro autovetor
v̂ de autovalor λ̂, v̂ ∈<
/ w >, temos:
d(
|λ̂m |
Am (v̂)
, < w >) = d(v̂, < w >) m → 0, quando m → +∞.
m
λ
λ
Como d(v̂, < w >) > 0, isso só pode significar que
λ̂m
λm
→ 0
quando m → +∞, ou seja, λ > λ̂.
Observação 4.7. Note que da dominância do autovalor λ, temos que
Am (v)
→ wv , quando m → +∞,
λm
para algum wv ∈< w >. De fato, como vimos no capítulo sobre
noções de Teoria Espectral, como todos as outras componentes espectrais estão contidas em um bola de raio r estritamente
menor que λ temos que
lim sup
n→+∞
p
n
kAn (v̂)k ≤ r < λ, ∀v̂ ∈ ⊕λ̂∈sp(A)\{λ} E(λ̂),
onde E(λ̂) denota o autoespaço generalizado associado ao autovalor λ̂.
Portanto, escrevendo de modo único v = wv + v̂, com
wv ∈< w > e v̂ ∈∈ ⊕λ̂∈sp(A)\{λ} E(λ̂), temos
Am (v)
Am (wv ) Am (v̂)
=
+
→ wv , quando m → +∞,
λm
λm
λm
Deixamos os detalhes desta observação como exercício para o
leitor.
4.2. Cones e Métricas Projetivas
161
O algoritmo usado pela Google em seu programa para
busca em Internet é uma variante deste que acabamos de ver.
De fato, a Google concebeu dois programas. Um, conhecido como
Crawler, varre a Internet e seus sites, de modo a catalogar páginas associadas a qualquer palavra chave que se possa imaginar.
Com estes dados, para cada palavra chave arma-se uma imensa
tabela de referência cruzada entre sites. Por exemplo, se uma
palavra têm 1000 sites que a referenciem de alguma forma, criase uma matriz 1000 por 1000, em cuja entrada aij coloca-se um
número positivo medindo o que se diria ser a probabilidade de
transição do i-ésimo site para o j−ésimo site, ou mais simplesmente, o valor do i−ésimo site se confrontado com o j−ésimo
site. Tal valor, nunca é posto como zero - artificialmente, na pior
das hipóteses é posto um > 0 mínimo, para garantir que a
matriz tenha todas as suas entradas positivas.
Daívem a parte mais importante do algoritmo, o Page
Rank Algorithm que é a que vimos: o cálculo do autovetor dominante da matriz construída. O autovetor dominante nos mostra
a tendência assintótica da matriz. De fato, na prática, iterando
a matriz umas poucas vezes, qualquer vetor ficará rapidamente
perto do autoespaço dominante. Isso é um tipo de simplificação
muito especial da ação do operador, em certo sentido maior até
do que quando somos capazes de diagonalizá-lo. Pois significa
que a ação de iterados de matriz, vistos sob normalização adequada, se comporta aproximadamente como uma multiplicação
por apenas um autovalor (o dominante, os outros ficam desprezíveis), na direção dominante. O autovetor dominante é um vetor
de rank dos sites: a i−ésima entrada do autovetor dominante diz
qual a importância do i−ésimo site para a palavra chave, dando
sua ordem na busca que se fez.
162
Capítulo 4. Operadores com autovalores dominantes
O processo é melhorado quanto mais usuários o utilizam, pois a Google calibra dinamicamente a matriz (aumentando os valores de sites mais escolhidos pelo usuário) conforme
os usuários prefiram páginas diferentes daquelas pelo algoritmo
sugeridas. Claro, mudanças artificiais nos valores da matriz poderiam ser usadas também para gerar uma espécie de censura,
colocando determinados sites para o fim da fila...
4.3 Programa de Cálculo de Autovalores Dominantes de
Operadores Positivos
Nessa seção, apresentamos um programa para o Cálculo
do autovalor dominante e respectivo autovetor de um operador
cuja matriz tem todas as entradas positivas.
Também no código abaixo, está o procedimento domin,
para cálculo de autovalor e autovetor dominante, em caso de
matrizes reais que possuam autovalor real dominante.
#include <s t d i o . h>
#include < s t d l i b . h>
#include <math . h>
#i f n d e f r e a l
#define r e a l double
#endif
#i f n d e f PI
#define PI 3 . 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5
#endif
char _err= 0 ;
#define DIMAX2 1024
4.3. Programa de Cálculo de Autovalores Dominantes de Operadores
Positivos
163
r e a l domipos ( r e a l ∗ , r e a l ∗ , r e a l ∗ , int , i n t ) ;
r e a l domin ( r e a l ∗ , r e a l ∗ , r e a l ∗ , int , i n t ) ;
i n t main ( i n t a r g c , char ∗ a r g v [ ] )
{
char ∗ s t r ;
r e a l lambda ;
s t a t i c r e a l mat [ DIMAX2 ] , mataux [ 2∗ DIMAX2 ] ,
int n , col , i , j ;
long p ;
v e t [ DIMAX2 ] ;
i f ( argc < 2)
{
printf (
" Programa ␣%s \n␣Uso : ␣%s ␣ ␣<numcols>␣<mat11>␣<mat12>␣ . . . \ n" ,
argv [ 0 ] , argv [ 0 ] ) ;
exit (0);
}
c o l= a t o i ( a r g v [
1]);
i f ( ( c o l ∗ c o l ) >= ( a r g c − 1 ) )
{
printf (
"No . ␣ de ␣ e n t r a d a s ␣ menor ␣ que ␣ a ␣ dimensao ␣%dx%d␣ d i t a ␣ da ␣ m a t r i z " ,
col , col ) ;
e x i t ( −1);
}
f o r ( i= 0 , j= 2 ; i < ( c o l ∗ c o l ) ; i ++, j ++)
{
mat [ i ]= a t o f ( a r g v [ j ] ) ;
}
puts ( " Matriz ␣ i n i c i a l : " ) ;
m o s t r a m a t r i z ( mat , c o l , 0 , 0 , c o l , c o l , "%l 7 . 4 f ␣ " ) ;
164
Capítulo 4. Operadores com autovalores dominantes
lambda= domipos ( mat , mataux , vet , c o l , 5 ) ;
p r i n t f ( " \n␣ A u t o v a l o r ␣ dominante : ␣%l f \n" , lambda ) ;
p u t s ( " \n␣ A u t o v e t o r ␣ dominante : " ) ;
m o s t r a m a t r i z ( vet , c o l , 0 , 0 , 1 , c o l ,
"%l 9 . 7 f ␣ " ) ;
p u t s ( " \nQue␣ a s ␣ f o r c a s ␣ c e g a s ␣ s e ␣domem , ␣ da ␣ l u z ␣ que ␣ a ␣ alma ␣tem ! \ n" ) ;
}
r e a l norml ( r e a l ∗mat , i n t l i n , i n t c o l , r e a l
{
int i , j ;
r e a l somaux , soma= 0 . 0 ;
f o r ( i= 0 ; i < l i n ; i ++)
{
f o r ( somaux= 0 . 0 , j= 0 ; j < c o l ; j ++)
{
somaux+= ab ( mat [ i ∗ c o l+ j ] ) ;
}
i f ( somaux > soma )
soma= somaux ;
}
return ( soma ) ;
}
r e a l domipos ( r e a l ∗mat , r e a l ∗ pr , r e a l ∗ vet ,
int col , int i t )
{
i n t t , n , i , imax , j , k , tam ;
r e a l sum , soma , ∗aux , ∗ aua , max ;
tam= c o l ∗ c o l ;
( ∗ ab ) ( ) )
4.3. Programa de Cálculo de Autovalores Dominantes de Operadores
Positivos
165
aua= pr ;
aux= &pr [ tam ] ;
soma= norml ( mat , c o l , c o l , f a b s ) ;
i f ( soma== 0 . 0 )
return ( 0 . 0 ) ;
f o r ( t= 0 ; t< tam ; t++)
{
aua [ t ]= aux [ t ]= mat [ t ] / soma ;
}
f o r ( n= 0 ; n< i t ; n++)
{
soma= 0 . 0 ;
f o r ( i= 0 ; i < c o l ; i ++)
f o r ( j= 0 ; j < c o l ; j ++)
{
sum= 0 . 0 ;
f o r ( k= 0 ; k< c o l ; k++)
{
sum+= aux [ i ∗ c o l+ k ] ∗ aux [ k∗ c o l+ j ] ;
}
aua [ i ∗ c o l+ j ]= sum ;
soma+= f a b s ( sum ) ;
}
f o r ( t= 0 ; t< tam ; t++)
{
aux [ t ]= aua [ t ]/= soma ;
}
p r i n t f ( " \ n I t e r a d o ␣2^%d␣ n o r m a l i z a d o ␣ da ␣ m a t r i z ␣ i n i c i a l : \ n" ,
n +1);
m o s t r a m a t r i z ( aux , c o l , 0 , 0 , c o l , c o l , "%l 9 . 7 f ␣ " ) ;
}
f o r ( i= 0 ; i < c o l ; i ++)
{
imax= 0 ;
max= 0 . 0 ;
v e t [ i ]= aua [ i ∗ c o l ] ;
166
Capítulo 4. Operadores com autovalores dominantes
f o r ( j= 1 ; j < c o l ; j ++)
v e t [ i ]+= aua [ i ∗ c o l+ j ] ;
i f ( f a b s ( v e t [ i ]) > max)
{
max= f a b s ( v e t [ i ] ) ;
imax= i ;
}
}
f o r ( k= 0 , sum= 0 . 0 ; k< c o l ; k++)
{
sum+= mat [ imax ∗ c o l+ k ] ∗ v e t [ k ] ;
}
/∗ Retorna o a u t o v a l o r dominante . O a u t o v e t o r dominante ,
com soma 1 , f i c a armazenado em v e t . ∗/
return ( sum/ v e t [ imax ] ) ;
}
r e a l domin ( r e a l ∗mat , r e a l ∗ pr , r e a l ∗ vet ,
int col , int i t )
{
i n t t , n , i , imax , j , k , l , tam ;
r e a l sum , soma , ∗aux , ∗ aua , ∗v , max , automax ;
v= &pr [ 2∗ tam ] ;
∗v= 1 ;
f o r ( l= 1 ; l < c o l ; l ++)
v [ l ]= 0 ;
f o r ( l= 0 ; l < c o l ; l ++)
{
tam= c o l ∗ c o l ;
aua= pr ;
aux= &pr [ tam ] ;
soma= norml ( mat , c o l , c o l , f a b s ) ;
i f ( soma== 0 . 0 )
return ( 0 . 0 ) ;
4.3. Programa de Cálculo de Autovalores Dominantes de Operadores
Positivos
167
f o r ( t= 0 ; t< tam ; t++)
{
aua [ t ]= aux [ t ]= mat [ t ] / soma ;
}
f o r ( n= 0 ; n< i t ; n++)
{
soma= 0 . 0 ;
f o r ( i= 0 ; i < c o l ; i ++)
f o r ( j= 0 ; j < c o l ; j ++)
{
sum= 0 . 0 ;
f o r ( k= 0 ; k< c o l ; k++)
{
sum+= aux [ i ∗ c o l+ k ] ∗ aux [ k∗ c o l+ j ] ;
}
aua [ i ∗ c o l+ j ]= sum ;
soma+= f a b s ( sum ) ;
}
f o r ( t= 0 ; t< tam ; t++)
{
aux [ t ]= aua [ t ]/= soma ;
}
}
f o r ( i= 0 ; i < c o l ; i ++)
{
imax= 0 ;
max= 0 . 0 ;
v e t [ i ]= aua [ i ∗ c o l ] ;
f o r ( j= 1 ; j < c o l ; j ++)
v e t [ i ]+= aua [ i ∗ c o l+ j ] ;
i f ( f a b s ( v e t [ i ]) > max)
{
max= f a b s ( v e t [ i ] ) ;
imax= i ;
}
168
Capítulo 4. Operadores com autovalores dominantes
}
f o r ( k= 0 , sum= 0 . 0 ; k< c o l ; k++)
{
sum+= mat [ imax ∗ c o l+ k ] ∗ v e t [ k ] ;
}
v [ l ]= 0 ;
v [ l+ 1]= 1 ;
/∗ Retorna o a u t o v a l o r dominante . O a u t o v e t o r dominante ,
com soma 1 , f i c a armazenado em v e t . ∗/
}
return ( sum/ v e t [ imax ] ) ;
}
int mostramatriz ( r e a l ∗s , int col ,
int l i n i , int c o l i n i ,
i n t nl , i n t n c o l , char ∗ s t r )
{
int i , j ;
i n t l f i m= l i n i + nl , c o l f i m= c o l i n i+ n c o l ;
f o r ( i= l i n i ; i < l f i m ; i ++)
{
putchar ( ’ | ’ ) ;
f o r ( j= c o l i n i ; j < c o l f i m ; j ++)
p r i n t f ( s t r , s [ i ∗ c o l+ j ] ) ;
puts ( " | " ) ;
}
return ( n l ∗ n c o l ) ;
}
4.4 Exercícios
1. Prove a observação 4.7.
4.4. Exercícios
Figura 10 – Cálculo de Autovalores Dominantes.
169
170
Capítulo 4. Operadores com autovalores dominantes
Figura 11 – Execução do programa domincoloq.
4.4. Exercícios
Figura 12 – Execução com matriz 4 por 4.
171
173
5 O Operador Adjunto
Vimos no primeiro capítulo, que embora tenham dimensões complementares e sejam invariantes, nem sempre o núcleo
e a imagem de um operador de um espaço nele têm intersec cão
trivial. De fato, se um operador A : Cn → Cn tivesse r autovalores distintos, digamos, λ1 , . . . , λr , e para cada Tj := (λj I − A),
ker(Tj ) e Tj (Cn ) fossem espaços complementares, então A seria diagonalizável (exercício 1, da página 195). Mesmo no caso
em que o operador é diagonalizável, não é muito clara a geometria formada pelos espaços invariantes. Seria o ângulo entre
eles muito agudo? Seriam perpendiculares esses espaços? Para
entendermos melhor essa geometria, definimos um outro operador A∗ , chamado de operador adjunto de A. Basicamente, seus
autoespaços tem uma relação de ortogonalidade com os autoespaços de A. Tais relações serão vistas com precisão, e bastante
generalidade, no texto a seguir.
Seja E um espaço vetorial normado. O espaço dual de
E, denotado por E ∗ , é o espaço vetorial dado por
E ∗ := {ı : E → C ; ı é funcional linear contínuo.}
R
É claro que devido às completudes de R e C, E ∗ é sempre um
espaço de Banach com a norma do operador:
kıkop :=
sup
{|ı(x)|}
x∈E,kxk=1
Se Ê é um outro espaço normado, e A ∈ L(E, Ê), então
dado ∈ Ê ∗ , podemos definir um funcional linear A∗ () ∈ E ∗
174
Capítulo 5. O Operador Adjunto
por:
A∗ ()(x) = ◦ A(x), ∀x ∈ E.
Note que a aplicação A∗ : Ê ∗ → E ∗ dada por 7→ A∗ () é, ela
mesma, linear, denominada a adjunta de A.
Proposição 5.1. (Propriedades do Operador Adjunto) A
aplicação ∗ : L(E, Ê) → L(Ê ∗ , E ∗ ) que a cada A ∈ L(E, Ê)
atribui seu adjunto A∗ é um isomorfismo isométrico linear tal
que valem
a) (T A)∗ = A∗ T ∗ , ∀A ∈ L(E, Ê), T ∈ L(Ê, Ẽ);
b) se A possui uma inversa limitada, A∗ também o possui e
(A∗ )−1 = (A−1 )∗ ; em particular, se E = Ê, temos sp(A) ⊃
sp(A∗ ).
c) ∗ é contínua na topologia uniforme (da norma do operador).
Se E for reflexivo, ∗ também é contínua na topologia fraca
no espaço de aplicações lineares, mas o é na topologia forte
se e só se, E possui dimensão finita.
Prova: ∗ é claramente linear, e isometria:
kAkL(E,Ê) = sup kA(x)k = sup
sup
sup
|l(A(x)| =
kxk≤1 l∈E ∗ ,klk≤1
kxk≤1
sup
|l|≤1 x∈E,kxk≤1
|(A∗ l)(x)| = sup kA∗ (l)k = kA∗ k.
klk≤1
A segunda igualdade acima deve-se, claro, ao Teorema de HahnBanach.
Agora, seja l ∈ Ê ∗ ; temos portanto que
((T A)∗ (l))(x) = l(T A(x)) = (A∗ (l ◦ T ))(x) = (A∗ T ∗ (l))(x).
Augusto Armando de Castro Júnior
175
Da definição de ∗, é fácil ver que (IE )∗ = IE ∗ .
Da propriedade a), temos
IÊ ∗ = (IÊ )∗ = (A ◦ A−1 )∗ = ((A−1 )∗ ◦ A∗ ),
analogamente para IE ∗ no lugar de IÊ ∗ , concluímos b).
Por ser isometria, é claro que ∗ é contínua na norma do
operador. Dados An → A na topologia fraca de L(E, Ê), temos
fixado l ∈ Ê ∗ que
(An ∗ (l))(x) = l(An (x)) → l(A(x)) = (A∗ (l))(x),
implicando que (An )∗ (l) converge a A∗ (l) na topologia fraca-*
de E ∗ , a qual é igual a topologia fraca de E ∗ , por E ser reflexivo.
Temos portanto que An ∗ → A∗ na topologia fraca de L(E, Ê).
Para vermos que em dimensão infinita, seja Tn atuando
em `1 (N) dado por
Tn ((a1 , a2 , . . . )) = (an+1 , an+2 , . . . )
Note que Tn tem como adjunto o deslocamento de n a direita
em `∞ (N), dado por
(Tn )∗ ((a1 , a2 , . . . )) = (0, . . . 0, a1 , a2 , . . . )
| {z }
n×
De fato, dadas sequências (aj ) e (bj ) respectivamente em `1 (N)
e `∞ (N) temos
+∞
X
j=1
[Tn ((aj ))]j bj =
+∞
X
j=1
aj+n bj =
+∞
X
j=n+1
aj bj−n =
+∞
X
aj [(Tn )∗ ((bj ))]j
j=1
Claramente, Tn → 0 na topologia forte de `1 (N), mas
tal não ocorre com (Tn )∗ . Sabemos que todo espaço de Banach
176
Capítulo 5. O Operador Adjunto
separável é isomorfo a algum espaço quociente de `1 (N), e daí
é fácil construir exemplo análogo em qualquer espaço de Banach separável. Dado um espaço de Banach E de dimensão infinita qualquer, tomando um conjunto enumerável linearmente
independente e o fecho de seu subespaço gerado, obtemos um
subespaço Ê ⊂ E fechado e separável, no qual podemos definir
aplicações como acima, que depois estendemos ao espaço inteiro.
O que demonstra que quando a dimensão é infinita, ∗ não é contínua na topologia forte.
Embora a definição acima seja bastante geral, nos restringiremos nessa seção a estudar operadores definidos em espaços vetoriais normados cuja norma k · k provém de um produto
√
interno < ·, · >, via a fórmula usual kvk = < v, v >, ∀v ∈ E.
Veremos que nesse caso, a definição do operador adjunto é ligeiramente diferente, pois faz uso do isomorfismo sesquilinear
existente entre o espaço E e seu dual dado pelo Lema de Riesz.
Para explicarmos melhor como isso se dá, começamos por lembrar a seguir algumas definições e fatos referentes a tais espaços:
Definição 5.2. (Espaço de Hilbert.) Um espaço vetorial normado E é dito um espaço de Hilbert se sua norma provém de um
produto interno e se ele é completo.
Definição 5.3. (Espaço Ortogonal.) Seja E um espaço dotado de um produto interno e Ê um subespaço vetorial de E. O
espaço ortogonal a Ê, denotado por Ê ⊥ é definido como:
Ê ⊥ := {v ∈ E; < x̂, v >= 0, ∀x̂ ∈ Ê}.
Claramente Ê ⊥ é um subespaço vetorial fechado de E
e temos E = Ê ⊕ Ê ⊥ .
Augusto Armando de Castro Júnior
177
Definição 5.4. (Base Ortonormal.) Seja E um espaço vetorial dotado de produto interno. Uma base ortonormal é um
conjunto β ⊂ E tal que valem kvk = 1, ∀v ∈ β, < v, w >=
0, ∀v, w ∈ β, com v 6= w e finalmente, dado x ∈ E existem escalares não nulos α1 , . . . , αn , . . . e v1 , . . . , vn , · · · ∈ E satisfazendo
x=
∞
X
αj vj .
j=1
Outra definição útil em espaços dotados de produto interno:
Definição 5.5. (Subespaço ortogonal.) Seja E um espaço
vetorial munido de um produto interno e Ê ⊂ E um seu subespaço vetorial. O espaço ortogonal de Ê é o conjunto:
Ê ⊥ := {x ∈ E, < x, v̂ >= 0, ∀v̂ ∈ Ê},
o qual claramente é um subespaço vetorial de E.
O próximo exemplo mostra que em um espaço vetorial
dotado com um produto interno, mas não completo, podemos
ter um subespaço fechado cujo espaço ortogonal é trivial.
Exemplo 5.6. Seja E = (C 0 ([0, 1]; R), < ·, · >) o espaço das
funções contínuas com domínio no intervalo [0, 1], dotado do
R1
produto interno < f, g >:= 0 f (t) · g(t)dt. Seja (gn ), gn ∈ E
uma sequência de Cauchy em E sem limite em E. Por exemplo,
tome
gn :=
0, para t ∈ [0, 1/2 − 1/(n + 1)];
1/2 + (t − 1/2) · (n + 1)/2, se t ∈ (1/2 − 1/(n + 1),
1/2 + 1/(n + 1));
1, para t ∈ [1/2 + 1/(n + 1), 1].
178
Capítulo 5. O Operador Adjunto
Daí, defina o funcional linear ĝ : E → R por:
ĝ(f ) := lim < f, gn >, ∀f ∈ E.
n→∞
É fácil de verificar que ĝ é contínuo. De fato, se fj ∈ E, fj → 0,
temos:
lim |ĝ(fj )| ≤ lim lim kfj kkgn k ≤ lim kfj k = 0,
j→∞
j→∞ n→∞
j→∞
sendo a primeira desigualdade devido a Cauchy-Schwarz, e a seguinte porque a sequência (gn ) é limitada (com norma menor do
que 1, em nosso caso específico). Considere Ê = ker(ĝ). Como ĝ
é contínuo, segue-se que Ê é fechado em E. Note que qualquer
função contínua f : [0, 1] → R que se anule em [1/2, 1] pertence
a Ê, o que mostra que esse espaço não é trivial. Por outro lado,
Ê 6= E, uma vez que qualquer função contínua f : [0, 1] → R
tal que f (t) > 0, ∀t ∈ (1/2, 1) não está contida em Ê. Contudo,
Ê ⊥ = {0}. Tal é demonstrado, em grande generalidade, na próxima proposição.
Proposição 5.7. Seja E um espaço vetorial dotado de um produto interno, (gn ), gn ∈ E uma sequência de Cauchy não convergente em E e ĝ : E → R o funcional linear dado por
ĝ(x) = lim < x, gn > .
n→∞
Então:
• ĝ é contínuo;
• Ê = ker(ĝ) é um subespaço fechado (em E) próprio de E;
• Ê ⊥ = {0}.
Augusto Armando de Castro Júnior
179
Prova: A prova dos dois primeiros itens é análoga aos
argumentos já vistos no exemplo acima. Para o último item,
procedamos por absurdo.
De fato, se um vetor w 6= 0 pertencesse a Ê ⊥ , poderíamos escrever qualquer vetor v em E como v = v− < v, w >
w/kwk2 + < v, w > w/kwk2 . Ora,
<v−
< v, w >
< v, w >
w, w >=< v, w > −
< w, w >= 0,
kwk2
< w, w >
o que implica que v− < v, w > w/kwk2 ∈ (Ê ⊥ )⊥ = Ê, pois Ê
é fechado em E. Não há perda em normalizar w, isto é, supor
que kwk = 1. Afirmamos que w realiza a norma de ĝ. De fato, se
v ∈ E é outro vetor de norma 1, não colinear a w, vimos acima
que v = v − v̂+ < v, w > w, com v̂ ∈ ker(ĝ). Daí,
|ĝ(v)| = |ĝ(v̂)+ < v, w > ĝ(w)| = | < v, w > |kĝ(w)k <
(aplicando Cauchy-Schwarz em sua forma estrita, e supondo sem
perda ĝ 6≡ 0)
kvkkwkkĝ(w)k = kĝ(w)k,
o que implica que kĝk = kĝ(w)k, como afirmamos. Observe ainda
que kĝk = limn→∞ kgn k. De fato,
gn
< gn , gn >
lim kgn k = lim √
= lim < √
, gn >≥
n→∞
n→∞
< gn , gn >
< gn , gn >
n→∞
(novamente, por Cauchy-Schwarz)
lim < w, gn >= |ĝ(w)| = kĝk.
n→∞
Para a outra desigualdade, começamos por observar que para
cada j ∈ N, vale ĝ(gj /kgj k) = limn→∞ < gj /kgj k, gn >≤ kĝk.
Por outro lado, como gn é de Cauchy, ela é limitada, digamos,
180
Capítulo 5. O Operador Adjunto
com norma acotada por M > 0 e ainda como gn 6→ 0, dado
> 0, existe n0 ∈ N tal que
k
gj
gn
−
k < /M, ∀j, n ≥ n0 .
kgj k kgn k
Isso implica que
gj
gn
gj
gn
, gn > − <
, gn > | ≤ k
−
kM < , ∀j, n ≥ n0 ,
kgj k
kgn k
kgj k kgn k
√
e por conseguinte, limn→∞ < gn , gn > = limj→∞ ĝ(gj ) ≤ kĝk.
|<
Desse modo,
lim < gn −
n→∞
< gn , w >
< gn , w >
w, gn −
w>=
kwk2
kwk2
= lim < gn − < gn , w > w, gn > =
n→∞
= lim < gn , gn > − << gn , w > w, gn > =
n→∞
= lim < gn , gn > − < gn , w >2 = kĝk2 − kĝ(w)k2 = 0.
n→∞
Daí, concluímos que existe limn→∞ gn , e este seria um
múltiplo não nulo de w, o que contradiz a hipótese de que a
sequência gn não converge em E.
É bastante fácil ver que dado um espaço vetorial E munido com um produto interno e um seu subespaço vetorial de
dimensão finita Ê ⊂ E, temos E = Ê ⊕ Ê ⊥ . Para tal, basta ver
que dado v ∈ E, existe um ponto v̂ Ê que minimiza a distância
entre v e Ê, e que v − v̂ ∈ Ê ⊥ (vide exercício 2)..
Usaremos isto no próximo
Lema 5.8. (Identidade de Parseval Fraca, ou Teorema
de Pitágoras.) Seja E um espaço vetorial com produto interno
Augusto Armando de Castro Júnior
181
e seja Ê ⊂ E um subespaço vetorial de dimensão finita, o qual
dotamos do produto interno oriundo de E. Suponha que β̂ =
{v̂1 , . . . , v̂n } seja uma base ortonormal de Ê. Então, dado v ∈ E,
este se escreve de maneira única como v = α1 v̂1 +· · ·+αn v̂n +v̂ ⊥ ,
onde α̂1 =< v, v̂1 >, . . . , α̂n =< v, v̂n > e v̂ ⊥ ∈ Ê ⊥ , valendo
n
X
kvk2 = (
|αj |2 ) + kv̂ ⊥ k2 .
j=1
Em particular, vale kvk2 ≥
P∞
j=1
|αj |2 .
Prova: Como Ê tem dimensão finita, em particular é
fechado em E, implicando que E = Ê ⊕ Ê ⊥ . Assim, dado v ∈ E,
podemos escrever v = v̂ + v̂ ⊥ , com v̂ ∈ Ê e v̂ ⊥ ∈ Ê ⊥ . Ademais,
Pn
v̂ = j=1 αj v̂j , com
αj =< v̂, v̂j >=< v̂ + v̂ ⊥ , v̂j >=< v, v̂j >,
devido à ortogonalidade existente entre v̂ ⊥ e vj .
Finalmente, temos
< v, v >=<
n
X
j=1
αj v̂j + v̂ ⊥ ,
n
X
αj v̂j + v̂ ⊥ >=
j=1
(devido às relações de ortogonalidade existentes entre os diversos
vetores v̂1 , . . . v̂n e v̂ ⊥ )
n
X
j=1
n
X
|αj |2 < v̂j , v̂j > + < v̂ ⊥ , v̂ ⊥ >= (
|αj |2 ) + kv̂ ⊥ k2 .
j=1
Observação 5.9. Note que a prova acima pode ser facilmente
adaptada para o caso em que Ê seja somente completo, não
necessariamente de dimensão finita (exercício 3).
182
Capítulo 5. O Operador Adjunto
Lema 5.10. Seja E um espaço de Hilbert e seja Ê ⊂ E um
subespaço fechado próprio. Então, dado v ∈
/ Ê, existe v̂ ∈ Ê tal
que
inf {kv − x̂k} = kv − v̂k.
x̂∈Ê
Ademais, v − v̂ = w ∈ Ê ⊥ , o que implica que Ê ⊥ 6= {0}.
Prova: Seja δ = inf x̂∈Ê {kv − x̂k}. Seja (x̂j ), x̂j ∈ Ê
uma sequência que minimiza a distância entre v e Ê. Não há
perda em supor que kxj − vk ≤ 2δ + 1 para uma tal sequência
minimizante. Comecemos mostrando que < xj − v, x̂ > converge
uniformemente a zero, para x̂ ∈ E ∈ B(0, kvk + 2δ + 1).
De fato, para α ∈ R (ou C, se o espaço for complexo),
temos:
δ 2 ≤< (v − xj ) + αx̂, (v − xj ) + αx̂ >⇔
δ 2 ≤< (v − xj ), (v − xj ) > + < (v − xj ), αx̂ > +
+ < αx̂, (v − xj ) > +|α2 | < x̂, x̂ >⇔
(Fazendo α = r < (v−xj ), x̂ >, onde r ∈ R é qualquer, obtemos:)
δ 2 ≤< (v − xj ), (v − xj ) > +2r| < v − xj , x̂ > |2 +
+r2 | < v − xj , x̂ > |2 kx̂k2 , ∀r ∈ R, ⇔
δ 2 ≤< (v−xj ), (v−xj ) > +r(2+rkx̂k2 )| < v−xj , x̂ > |2 , ∀r ∈ R.
Tomando r < 0, |r|(kvk + 2δ + 1) < 1 temos que
δ 2 ≤< (v − xj ), (v − xj ) > +r| < v − xj , x̂ > |2 .
Seja > 0 dado. Tome |r| < 2 e seja j0 tal que
| < (v − xj ), (v − xj ) > −δ 2 | < r2 , ∀j ≥ j0 .
(5.1)
Augusto Armando de Castro Júnior
183
Tal implica que
| < v − xj , x̂ > | < ,
ou a desigualdade 5.1 não seria satisfeita.
Mostremos que (xj ) é de Cauchy. De fato,
0 ≤ kxj −xm k2 =< xj −xm , xj −xm >=< xj −v+v−xm , xj −xm >=
< xj − v, xj − xm > − < xm − v, xj − xm > .
| {z }
:=x̂∈Ê
converge a zero quando j, m → +∞, pela parte inicialmente
provada neste lema.
Concluímos que (xj ) é de Cauchy, e como a sequência
minimizante tomada é arbitrária, concluímos (por argumento
canônico de Análise) que toda sequência minimizante possui o
mesmo limite, digamos v̂ ∈ Ê. Como v ∈
/ Ê, segue-se que w =
v − v̂ 6= 0. Como limj→+∞ < v −xj , x̂ >→ 0, ∀x̂ ∈ Ê, concluímos
da continuidade do produto interno que w ∈ Ê ⊥ .
Observação 5.11. Note que é imediato do lema acima que se
E é um espaço de Hilbert e Ê é um seu subespaço fechado, então
E = Ê ⊕ Ê ⊥ . A mesma prova serve para mostrar que se E é um
espaço vetorial dotado de produto interno (não necessariamente
completo) e Ê é um subespaço vetorial completo de E, então
também vale E = Ê ⊕ Ê ⊥ .
Teorema 5.12. (Representação de Riesz.) Seja E um espaço de Hilbert. Então, dado um funcional linear contínuo f ∈
E ∗ , existe um único w ∈ E tal que f (x) =< x, w >, ∀x ∈ E.
184
Capítulo 5. O Operador Adjunto
Prova: Suponha que f 6= 0, pois este caso é imediato.
Seja Ê = ker(f ). Como f é contínuo, Ê é fechado em E. Pelo
lema anterior, ker(f )⊥ 6= {0}. Seja w̃ 6= 0 um vetor em ker(f )⊥
tal que f (w̃) = 1, e seja w := w̃/ < w̃, w̃ >. Daí, dado v ∈ E,
escrevendo v = (v− < v, w̃ > w̃/ < w̃, w̃ >)+ < v, w̃ > w̃, é
claro que v̂ := (v− < v, w̃ > w̃/ < w̃, w̃ >) ∈ ker(f ), temos:
f (v) = f (v̂)+f (< v, w̃ > w̃/ < w̃, w̃ >) =
< v, w̃ >
f (w̃) =< v, w > .
< w̃, w̃ >
Finalmente, para vermos a unicidade, basta aplicarmos
mais uma vez o lema: w e z são tais que f (v) =< v, w >=<
v, z >, ∀v ∈ E, então vale:
< v, w >=< v, z >, ∀v ∈ E ⇔< v, z − w >=
= 0, ∀v ∈ E ⇔ z − w ∈ E ⊥ = {0},
implicando que z = w.
Corolário 5.13. Seja E um espaço de Hilbert. Então a aplicação F : E → E ∗ dada por
F (w) =< ·, w >,
é um isomorfismo (sesqui)linear isométrico de E em E ∗ .
Observação 5.14. (Representação dos funcionais lineares em
E ∗ , quando E é espaço vetorial com produto interno, não necessariamente completo.) Seja E um espaço vetorial dotado de
um produto interno, e f : E →
R
C
um funcional linear contí-
nuo. Então, pelo teorema de extensão de operadores lineares (o
Augusto Armando de Castro Júnior
185
conhecido B.L.T.), o funcional linear f possui uma única exR
tensão contínua f˜ : Ẽ → C , onde Ẽ é o completamento de
R
E. Analogamente, dado f˜ : Ẽ → C um funcional linear contínuo, sua restrição a E determina um único funcional contínuo
R
f : E → C . Em ambos os casos, como E é denso em Ẽ, obtemos
que kf k = kf˜k. Isso implica que E ∗ é isometricamente isomorfo
a Ẽ ∗ , via aplicação F̃ : E ∗ → Ẽ ∗ dada por F̃ (f ) = f˜, em que f˜
é a única extensão contínua de um funcional f com domínio em
E ao completamento Ẽ. Ora, do Teorema de Representação de
Riesz, temos que qualquer funcional linear contínuo f˜ (definido
no espaço de Hilbert Ẽ, completamento de E) é da forma:
f˜(x̃) =< x̃, w̃ >, ∀x̃ ∈ Ẽ,
onde w̃ ∈ Ẽ é um vetor constante, unicamente determinado por
f˜. Ora, se f = F̃ −1 (f˜), então f = f˜|E . Em particular, tomandose uma sequência wn → w̃, onde wn ∈ E, é claro que para x ∈ E
vale
f (x) = f˜(x) =< x, w̃ >= lim < x, wn >,
n→∞
o que nos fornece uma representação (não única) para os funcionais lineares em E, simplesmente em termos de sequências em
E.
A mais importante conclusão a que chegamos a partir da
observação acima é que embora nem todo funcional linear em E ∗
(quando E não é completo) possa ter uma representação do tipo
f (x) =< x, w >, ∀x ∈ E, com w ∈ E, vetor constante, mesmo
assim, os funcionais desse tipo podem ser usados para aproximar
qualquer funcional em E ∗ , pois formam um subconjunto denso
de E ∗ . Desse modo, estamos aptos a fazer a seguinte:
186
Capítulo 5. O Operador Adjunto
Definição 5.15. (Operador Adjunto em Espaços vetoriais
com produto interno.) Seja A : E → E um operador linear
contínuo, definido no espaço vetorial E, dotado de produto interno < ·, · >. O adjunto, se existir, de A é o único operador
linear A∗ : E → E dado por:
< A · x, y >=< x, A∗ · y >, ∀x, y ∈ E.
Exemplo 5.16. Seja E = (C 0 ([−1, 1]; C), < ·, · >) o espaço
das funções contínuas com domínio no intervalo [0, 1], dotado do
R1
produto interno < f, g >:= 0 f (t) · g(t)dt. Seja (gn ), gn ∈ E
uma sequência de Cauchy em E, normalizada, sem limite em
E. Vamos definir uma aplicação A : E → E tal que A∗ não
esteja definido. Seja p1 , p2 , . . . a base ortonormal de E dada pela
normalização dos polinômios de Legendre. Seja y ∈ E vetor não
<pj ,gn >
y Daí,
nulo fixado. Defina A(pj ) := limn→∞ <y,y>
< A(pj ), y >= lim
n→∞
< pj , gn >
, ∀pj ,
< y, y >
e portanto, A∗ (y)(·) = limn→∞ < ·, gn >, ou seja, não existe
w ∈ E tal que < A(x), y >=< x, A∗ (y) >.
Compare a definição acima com a de operador adjunto
em espaços normados. No caso de espaços vetoriais dotados com
produto interno, identificamos E com seu mergulho em E ∗ . Com
isso, temos que em espaços dotados de produto interno, tanto o
operador como seu adjunto atuam no mesmo domínio, E.
Propriedades importantes acerca do espectro de operadores auto-adjuntos são assinaladas na próxima proposição:
Proposição 5.17. (Propriedades do Operador Adjunto.)
Dado um operador A : E → E em um espaço de Hilbert complexo
Augusto Armando de Castro Júnior
187
E, temos que
sp(A) = sp(A∗ )
Prova: Note que o adjunto Hilbertiano é definido de
maneira um pouco diferente do de Banach. De fato, temos que
< x, y >= < (λ−A)(λ−A)−1 (x), y >=< (λx−A(x))−1 , y >=
∗
< x, (λx − A(x))−1 (λy − A∗ )(y) >, ∀x, y ∈ E,
implicando (Mutatis Mutandis) que (λx − A(x))−1
∗
= (λy −
A∗ ). Permutando os papéis de A e seu adjunto, obtemos que
o conjunto resolvente de um é o conjugado do outro, o mesmo
valendo para seus espectros.
A despeito de toda a teoria abstrata vista até agora, a
grande motivação e utilidade de se considerar operadores adjuntos reside na próxima importante
Proposição 5.18. Seja A : H → H um operador linear limitado com domínio em um espaço de Hilbert H. Então ker(A) =
ran(A∗ )⊥ e ran(A) = ker(A∗ )⊥ .
Prova: Dado v ∈ ker(A) e w ∈ H qualquer, temos:
< v, A∗ (w) >=< A(v), w >= 0,
e portanto a imagem de A∗ é perpendicular ao ker(A), e reciprocamente, dado v ∈ ran(A∗ )⊥ , temos que
0 =< v, A∗ (w) >=< A(v), w >, ∀w ∈ H,
e portanto A(v) = 0, isto é, v ∈ ker(A).
188
Capítulo 5. O Operador Adjunto
Por outro lado, como A∗ ∗ = A, do que recém provamos temos que ker(A∗ ) = ran(A∗ )⊥ e portanto ker(A∗ )⊥ =
ran(A∗ )⊥
⊥
= ran(A∗ ).
Pensando no contexto de dimensão finita, lembramos
que parte da dificuldade em obtermos uma forma de Jordan diagonal em geral consiste em que ker(A − λI) e ran(A − λI) não
são em geral espaços complementares podendo ter intersec cão
não trivial. Tais espaços são invariantes para A, têm dimensão
complementar, mas podem não estar em soma direta. A proposição anterior no permite obter um espaço complementar a
ker(A − λI), embora em geral não invariante por A, se A 6= A∗ .
Mesmo assim, o fato do aplicação de passar ao adjunto ser um
isomorfismo, nos permite até em dimensão infinita levar e trazer
cálculos funcionais de um operador para o seu adjunto e viceversa. Tal será explorado de maneira muito esperta na próxima
seção, na prova de uma versão aprimorada do Teorema Ergódico
de Von Neumann. Por outro lado, quando A = A∗ , e a dimensão for finita, a proposição anterior nos dá que ker(A − λI) e
ran(A − λI) estão em soma direta, e a mesma prova da Forma
de Jordan nos dá que A é diagonalizável. Tal é provado, em maior
generalidade inclusive, no Apêndice do livro.
Um operador A tal que A = A∗ é dito auto-adjunto.
Proposição 5.19. Seja E um espaço dotado de produto interno
e seja A : E → E um operador auto-adjunto. Então qualquer
(possível) autovalor de A pertence a R. Ademais, se v1 e v2 são
autovetores correspondentes a autovalores λ1 6= λ2 , então são
5.1. Aplicação: generalizando o Teorema de von Neumann
189
ortogonais.
Prova: Suponha que λ ∈ C seja um autovalor de A.
Temos, portanto:
λ < ṽ, ṽ >=< ṽ, λṽ >=< ṽ, Aṽ >=
(pois A é auto-adjunta)
< Ãṽ, ṽ >=< λṽ, ṽ >= λ < ṽ, ṽ > .
Como ṽ 6= 0, segue-se que λ = λ, ou seja, λ ∈ R.
Finalmente,
λ1 < v1 , v2 >=< Av1 , v2 >=< v1 , Av2 >= λ2 < v1 , v2 > |{z}
⇒
λ1 6=λ2
< v1 , v2 >= 0,
ou seja, v1 e v2 são ortogonais se são autovetores associados a
autovalores distintos.
Observação 5.20. É fato que se A é um operador linear auto
adjunto, então seu espectro está contido em R.
5.1 Aplicação: generalizando o Teorema de von Neumann
Vimos no capítulo anterior que se o raio espectral de
um operador A ∈ L(E) é estritamente menor que 1, então a
norma de An converge exponencialmente rápido para zero. Em
particular, An (v) converge a zero para qualquer vetor v ∈ E.
190
Capítulo 5. O Operador Adjunto
Nessa seção, pretendemos estudar o que podemos dizer sobre a
sequência (An (v)), v 6= 0 quando n → +∞ no caso em que o raio
espectral é menor ou igual a 1. Será que tal sequência possui
limite em algum sentido? Os próximos exemplos nos indicam
que hipóteses adicionais são necessárias para que o limite de tal
sequência exista à Césaro, o que tende em geral a ser o máximo
que podemos esperar.
Exemplo 5.21. Seja A ∈ L(R2 ) a aplicação linear cuja matriz
na base canônica é dada por
A :=
!
1
1
0
1
1
n
0
1
Do capítulo 1 temos que
n
A :=
!
Desse modo, vemos que para v = (0, 1), An (v) = (n, 1), a qual
converge a infinito com velocidade polinomial.
Exemplo 5.22. Seja A ∈ L(R2 ) a aplicação linear cuja matriz
na base canônica é dada por
A :=
1/2
√
3/2
!
√
− 3/2
1/2
,
que corresponde a rotação de π/3. Ora, tal implica que todo
ponto não nulo é periódico de período mínimo igual a 6. Portanto, a sequência (An (v)), v 6= 0 é periódica, não convergindo
quando n → +∞.
Augusto Armando de Castro Júnior
191
Note no segundo exemplo que, embora a sequência não
convirja sua média converge à Cesàro, ou seja, as médias,
N −1
1 X n
A (v)
N n=0
convergem, quando N → +∞. (No exemplo em questão, convergem para zero).
Exemplo 5.23. Seja `2 o espaço de Hilbert das sequências quadrado somáveis de números complexos, e considere A : `2 → `2
dada por
A((x1 , x2 , . . . )) := (x2 , . . . )
Dado N ∈ N, observe que I, A, A2 , . . . , AN são isometrias (sobre
sua imagem) quando restritos ao subespaço
EN := {x ∈ `2 ; x = (0, . . . , 0 x1 , . . . )}.
| {z }
N vezes
Claramente, a norma de A, e portanto a de An é menor ou igual a
1, para todo n ≥ 0 e o acima mostra que de fato sua norma é igual
PN −1
a 1. Mais ainda, é fácil de verificar que N1 n=0 An também
uma isometria sobre sua imagem quando restrita a EN . Logo,
essa soma a Cesàro não converge em norma a zero. Entretanto,
na topologia forte (pontual) é fácil ver que tal soma converge a
zero (exercício 4).
Teorema 5.24. (Ergódico de Von Neumann, generalizado.) Seja V um operador em um espaço de Hilbert H satisfazendo kV n k < C para todo n. Então
N −1
1 X n
V (f ) → P (f ), ∀f ∈ H,
N n=0
192
Capítulo 5. O Operador Adjunto
onde P é uma projeção (não necessariamente ortogonal) sobre
{f ; V (f ) = f } = : F (V ).
Prova:
Note que F (V ) é claramente um subespaço fechado de
H, já que é o núcleo de V − I, onde I é a identidade, logo, é o
núcleo de uma aplicação contínua. Observamos também que
N −1
1 X
n PN (f ) :=
V (f ) ≤ (1/N ) · N kf k ≤ Ckf k.
N n=0
E que se f ∈ F (V ) = ker(I − V ), então PN (f ) = f, ∀N . PorPN −1
tanto, N1 n=0 V n (f ) → P (f ), ∀f ∈ F (V ). Vejamos agora o
que ocorre no espaço ran(I − V ) =: E(V ). Se f ∈ E(V ), então
existe g ∈ H tal que f = g − V (g), logo temos:
−1
−1
1 NX
1 NX
V n (f ) = V n (g − V (g)) =
N n=0
N n=0
1
1
g − V N (g) ≤ (kgk + Ckgk) → 0 quando N → +∞.
N
N
Notamos que converge também para zero para toda f ∈
E(V ). Neste caso, existem E(V ) 3 fj → f e daí,
−1
N −1
N −1
1 NX
1 X n 1
X n
V n (fj ) −
V (f ) = V (fj − f ) ≤
N n=0
N n=0
N n=0
≤
N −1
1 X
Ckfj − f k ≤ Ckfj − f k → 0,
N n=0
implicando a afirmação que fizemos.
Note que devido aos limites acima serem distintos em
F (V ) e E(V ) temos que F (V ) ∩ E(V ) = {0}. Se mostrarmos
que F (V ) ⊕ E(V ) = H, então teremos concluído a prova.
Augusto Armando de Castro Júnior
193
Para ver isso, devemos considerar F (V ∗ ) : = ker(I−V ∗ )
e E(V ∗ ) = ran(I − V ∗ ). Como kV n k ≤ C, ∀n ∈ N, vale também
que k(V ∗ )n k ≤ C, ∀n ∈ N. De fato, para qualquer operador
linear contínuo A : H → H vale que (A∗ )n = (An )∗ e além do
mais
kAk = sup kA(v)k = sup
kvk=1
sup
sup < A(v), w >=
kvk=1 kwk=1
sup < v, A∗ (w) >= sup kA∗ (w)k = kA∗ k.
kwk=1 kvk=1
kwk=1
Logo, obtemos pelas mesmas contas que já fizemos para
V que F (V ∗ ) e E(V ∗ ) têm intersecção trivial. Mas
F (V )⊥ = ker(I − V )⊥ = ran(I − V ∗ ) = E(V ∗ ),
e
E(V )⊥ = ran(I − V )⊥ = ker(I − V ∗ ) = F (V ∗ ).
Donde concluímos que
(F (V ) + E(V ))⊥ = F (V ∗ ) ∩ E(V ∗ ) = {0},
ou seja, H = F (V ) + E(V ), como queríamos demonstrar.
Observação 5.25. Note que se V fosse autoadjunto, a projeção
seria ortogonal. Uma versão ainda mais elaborada do Teorema
Ergódico Von Neumann foi apresentada por Thiago Bomfim em
sua monografia de curso e trabalho de iniciação científica. Tal
trabalho foi medalha de prata no V Simpósio Nacional / Jornadas de Iniciação Científica, em 2011, e encontra-se disponível no
link:
http://www.colmat.ufba.br/monografias?page=1
194
Capítulo 5. O Operador Adjunto
Note o que o Teorema acima nos diz em particular: se
um operador de norma menor ou igual a 1 possuir autovalor
1, ele nos dá um modo de calcular seu autoespaço (note que
nesse caso, o autoespaço generalizado de 1 é um autoespaço ) Se
por outro lado, tal espaço for trivial, então qualquer média de
Birkhoff como do Teorema converge a zero.
Para os próximos exemplos aplicando o teorema anterior, falaremos um pouco de transformações que preservam medidas. Dado um conjunto X, uma medida finita µ : A → [0, +∞),
A ⊂ P(X) é uma função de conjunto tal que
1. µ(∅) = 0.
2. µ é σ−aditiva:
∞
µ(∪˙ n=1 An ) =
∞
X
µ(An ),
n=1
para toda união de conjuntos dois a dois disjuntos An da
coleção A.
Em geral, pede-se que a coleção A seja uma σ−álgebra, isto é, que
seja fechada para uniões enumeráveis, intersecções enumeráveis
e passagem ao complemento de seus membros.
Dizemos que uma aplicação f : X → X preserva a medida µ se para todo A ∈ A, então f −1 (A) ∈ A e vale que
µ(A) = µ(f −1 (A)).
Dado um intervalo limitado I ⊂ R um exemplo bem
conhecido de medida finita é a que atribui a cada subintervalo
de I o seu comprimento. Claramente, a menor σ−álgebra que
Augusto Armando de Castro Júnior
195
contém tais intervalos contém todos os abertos (e fechados) em I
e de fato coincide com a menor σ−álgebra que contém os abertos
de I, também chamada de σ−álgebra de Borel de I.
Pensemos na seguinte situação-exemplo:
Seja f : S 1 → S 1 a aplicação dada por f (z) := α ∗
z, α = eiθ ∈ S 1 , π/θ é irracional, onde o produto em questão
é a multiplicação usual em C. Ou seja, f é dita uma rotação
irracional do círculo S 1 .
Dado um segmento de arco em S 1 , via coordenadas polares, podemos identificá-lo com um intervalo da reta de mesmo
comprimento, e dessa forma transportar a medida do intervalo
I = [0, 2π) para S 1 de maneira natural. Também uma função
ϕ : S1 →
R
C
é dita integrável se
Z
2π
Z
|ϕ|(eit )dt < +∞,
|ϕ|dm :=
S1
0
e nesse caso, sua integral é
Z
2π
Z
ϕ(eit )dt < +∞.
ϕdm :=
S1
0
Dado p ≥ 1, a exemplo dos espaços `p , podemos considerar
Lp (S 1 , m) como o espaço das funções contínuas dotado da norma
sZ
kϕkp :=
p
|ϕ|p dm
S1
e definir Lp (S 1 , m) como o completamento de Lp (S 1 , m). Note
que a integral também se estende de maneira natural ao completamento.
196
Capítulo 5. O Operador Adjunto
Em particular para p = 2, é possível provar que tal
completamento é um espaço de Hilbert.
Interessantemente, U (ϕ) := ϕ ◦ f é uma isometria em
cada um dos espaços Lp (S 1 , m), se estendendo continuamente de
maneira única ao completamento. Note que ϕ ≡ 1 é autovetor
do autovalor 1 desse operador.
Concluímos do Teorema 5.24 que dado ϕ ∈ L2 (S 1 , m)
que existe ϕ̃ ∈ L2 (S 1 , m) tal que
−1
1 NX
ϕ ◦ f n − ϕ̃ → 0 quando N → +∞.
N n=0
2
5.2 Exercícios
1. Se um operador A : Cn → Cn tem λ1 , . . . , λr autovalores distintos, e para cada Tj := (λj I − A), j = 1, . . . , r,
ker(Tj ) e Tj (Cn ) são espaços complementares, mostre que
A é diagonalizável.
2. Mostre que se E é um espaço dotado de produto interno
e Ê ⊂ E é um subespaço de dimensão finita, então E =
Ê ⊕ Ê ⊥ .
3. Mostre que se E é um espaço dotado de produto interno
e Ê ⊂ E é um subespaço completo, então E = Ê ⊕ Ê ⊥ .
Enuncie e prove com tal hipótese uma versão mais geral
do teorema de Pitágoras (lema 5.8 da página 178).
4. Prove que na topologia forte no espaço dos operadores a
soma de Birkhoff do exemplo 5.23 da página 189 converge
a zero.
199
Conclusão
Chegamos ao fim de nosso texto, e não somos ainda capazes de construir um computador quântico, nem o reator de
fusão nuclear. Vimos alguns algoritmos para um problema básico em Matemática, e muito útil em todas as modelagens que
envolvam problemas lineares ou quadráticos: o cálculo de autoespaços e autovalores. Podemos aplicar tais técnicas a calcular
posições de times esportivos, buscar páginas na Internet com
respeito a uma palavra chave. Tais cálculos, aplicados por exemplo sobre uma matriz de variância-covariância das temperaturas
de nosso planeta, permitem perceber correlações estatísticas de
temperatura entre as diversas regiões da Terra. Em uma superfície suave, permitem calcular as linhas de curvatura principais em
cada ponto. Tantos diferentes problemas, resolvidos com apenas
um método... Imaginem quantos outros podemos resolver com
toda a Matemática feita e por fazer! Imaginem...
201
Referências
[1]
Armando Castro, Curso de Teoria Espectral, preprint
UFBA (2014).
[2]
Armando Castro, Curso de Topologia e Análise, preprint
UFBA (2013).
[3]
Armando Castro, New criteria for hyperbolicity based on
periodic sets, Bulletin of the Brazilian Mathematical Society
42 (3), 455-483 (2011).
[4]
Armando Castro, Curso de Equações Diferenciais Ordinárias; submetido a publicação pelo Projeto Euclides, IMPA.
(2008)
[5]
Armando Castro, Curso de Teoria da Medida, 2a. edição;
Projeto Euclides, IMPA/CNPq, 2008.
[6]
Armando Castro, N. Medeiros, V. Pinheiro, Isolated Periodic Points and Zeros of Operator Functions, preprint
UFBA (2008).
[7]
V. Baladi. Positive transfer operators and decay of correlations. World Scientific Publishing Co. Inc., 2000.
[8]
Thiago Bomfim, Uma generalização do teorema de John von
Neumann, Monografia de Curso, UFBA, (2009). Disponível
em http://www.colmat.ufba.br/monografias?page=1.
[9]
T. Kato, Perturbation Theory for Linear Operators, Springer Verlag, 1980.
202
Referências
[10] E. L. Lima, Curso de Análise I, Projeto Euclides, IMPA/CNPq, 1982.
[11] E. L. Lima, Espaços Métricos, Projeto Euclides, IMPA/CNPq, 1983.
[12] E. L. Lima, Curso de Análise II, Projeto Euclides, IMPA/CNPq, 1985.
[13] E. L. Lima, Análise no Espaço Rn , Coleção Matemática
Universitária, IMPA/CNPq, 2002.
[14] N. Dunford, J. T. Schwartz, Linear Operators, Interscience
Publishers, New York, 1958.
[15] M. Reed, B. Simon, Methods of Modern Mathematical Physics, vol I: Functional Analysis, Academic Press, New York
and London, 1975.
[16] C. Liverani, Decay of correlations, Annals of Math., 142,
239–301, 1995.
[17] R. Mañé, Ergodic Theory and Differentiable Dynamics,
Springer Verlag, Berlin, 1987.
[18] W. Rudin, Functional Analysis, McGraw-Hill Book Company, 1973.
[19] W. Rudin, Real and Complex Analysis, 3d. Edition,
McGraw-Hill Book Company, 1987.
[20] M. G. Soares, Cálculo em uma variável complexa, Coleção
Matemática Universitária, IMPA/CNPq, 2001.
[21] M. Viana, Stochastic dynamics of deterministic systems,
Colóquio Brasileiro de Matemática, 1997.
Referências
203
[22] K. Yosida, Functional Analysis, 6th. Edition, SpringerVerlag, 1980.
Download