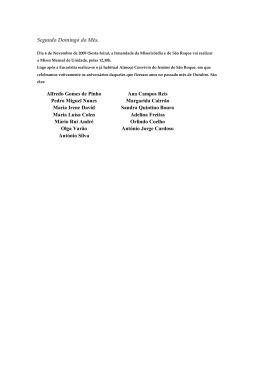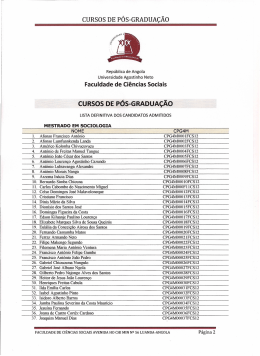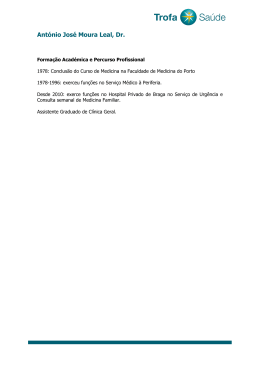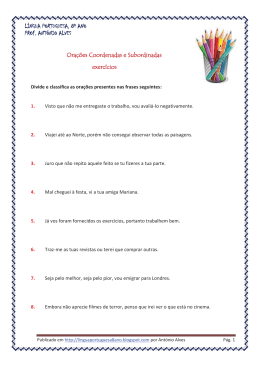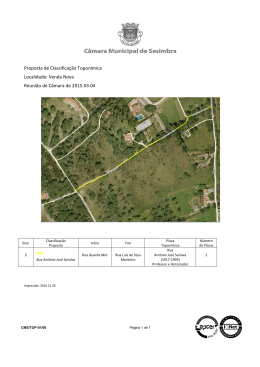1 Dear Students, It would be helpful if you could read this story before you come to the course and look up any vocabulary that’s unfamiliar to you. We can then work on translating it together during the morning sessions. Best wishes, Margaret No intervalo do almoço No intervalo do almoço António José entra na igreja. Leva os olhos no chão e os braços junto ao corpo para que ninguém olhe para ele, assim ninguém olha para ele. Não é por nada, é só que não é muito normal um polícia fardado entrar numa igreja a meio do dia, sem razão aparente, e António José tem certo receio que aquilo possa ser mal visto. O lugar está vazio e silencioso como seria de esperar, mas ainda assim. Ao fundo, o grande altar dourado. António José avança pelo corredor central em passo rápido, fingindo saber bem o que quer, até que se lembra do boné e pára, envergonhado. Consulta o relógio, para disfarçar, como se se tivesse lembrado de alguma coisa muito importante naquele momento. Inclina a cabeça para a frente, deixa o boné deslizar para a mão. Tenta fazer isto subtilmente, inteligentemente, do modo mais elegante possível, a ver se Deus não dá conta da gafe. Depois senta-se no banco da esquerda. Vem-lhe à boca o sabor do folhado de carne que comeu ao balcão da pastelaria, de pé, sozinho, entre dois reformados. Carne picada, pasta de carne, um sabor monótono como o caraças. Assim sentado, com o boné em cima dos joelhos, António José tenta pensar na mãe morta há quatro anos e sete meses. A mãe que o tratava pelos seus dois nomes e dizia que um dia ele ainda havia de ser alguém na vida. “Um dia ainda hás-de ser alguém 1 2 na vida, António José.” Mas a verdade é que não sabe por onde começar. Não lhe ocorre nenhuma imagem, nenhuma lembrança. Vê apenas as coisas concretas ali, os bancos, o chão, os sapatos pretos que precisam de ser engraxados outra vez. No ar, o perfume do detergente cor-de-rosa que as senhoras da limpeza usam na esquadra. “Chama-se Apix”, pensa. “Ou Avox? Bem, seja como for.” Por fim, ajoelha-se na tábua de madeira, que é mesmo para isso que ela lá está, fecha os olhos. Em vez da mãe, quem lhe aparece é o pai. Um homem careca, de sobrancelhas desgrenhadas, rosto vermelho e boca fechada, muito fina. Está sentado na cadeira da cozinha como é seu costume, a olhar para ele. Virado para o filho, mas fixando, dá ideia, a orelha direita ou o cabelo ou alguma coisa atrás dele que não é ele. “Então, que tal as coisas por Lisboa?”, pergunta, sem abrir a boca. “Tudo bem. E por cá?” “Também. Tudo normal.” “Óptimo. Assim é que é preciso”, diz António José, e já não sabe mais o que dizer. “Assim é que é preciso.” O homem desvia a cara, encosta-se para trás na cadeira. E, pronto, acabou. Ficam ali os dois a queimar tempo. O pai sentado e o filho de pé. O pai virado para o chão brilhante e o filho a olhar uma mancha escura no tampo da mesa só para pousar os olhos nalgum sítio e fazer de conta que não está perdidinho de todo. Um momento de silêncio esvaziado. As coisas da cozinha largando um cheiro a mofo ou lá o que é, o cheiro das coisas que já não são usadas, o cheiro do que um dia foi quotidiano e simples e de repente é apenas inútil e chato e pesadão e morto. Depois António José começa a pensar na Maria Otília. Na boca grossa da Maria Otília. Nas pernas fortes da Maria Otília, pernas cada vez mais fortes e cheias à medida que se vai subindo, avançando. Mas trava logo o pensamento. Caramba, isso não são assuntos sobre os quais um tipo se deva debruçar assim numa igreja. A Maria Otília vive no Boqueirito como o pai dele. Foi lá que António José nasceu e é lá que a mãe está enterrada. O estatuto dela, da Maria Otília, é um pouco ambíguo. Por vezes, António José pensa nela como namorada, ou noiva até, outras vezes esquece-se pura e simplesmente que ela existe. É uma rapariga, uma mulher, que ele conhece há muito tempo e, parecendo que não, isso dá-lhe uma grande margem de 2 3 manobra. Quando estão um com o outro, quase não têm de falar, entendem-se sem conversas. Ele gosta disso. Com o pai não gosta, com ela sim. A Maria Otília. Não se pode dizer que seja uma beleza daquelas de cair para o lado mas é bastante engraçada, bastante original e, quando tira a roupa, António José não sabe se isso se passa com todas as mulheres, tem cá um corpo. Meu Deus, uma coisa mesmo impressionante. Quando ele vai lá nalguma folga, ao Boqueirito, os dois põem em marcha o velho plano. Esperam pela uma da tarde, que é a hora a que ela consegue sair da loja de roupas para criança, e vão para casa do Tio Nando. Uma vivenda grande à saída da vila, passa-se a bomba e o sobreiro pintado e são mais uns duzentos, duzentos e cinquenta metros. Uma casa roxa e creme, à direita, com uma varanda enorme e estores daqueles modernos. Está sempre desabitada e a Maria Otília tem a chave para ir lá limpar, de modo que eles aproveitam, nunca falha. É muito bonita e muito espaçosa, tudo feito com dinheiro trazido da França, de modo que é um prazer para eles. Mas não foi para isto que António José veio aqui, que ele se ajoelha agora aqui. Veio aqui porque fazem quatro anos e sete meses desde a morte da mãe querida e, às vezes, a certas entre-horas, ataca-o uma saudade insuportável. Uma dor na cara, atrás da boca, nariz e olhos, atrás da pele e do osso, uma dor esquisita que ele acha que é uma saudade insuportável. “Mãe? Mãe, estás aí?” António José fecha os olhos ainda com mais força e baixa ainda mais a cabeça e põe as mãos juntas na posição de rezar. E zero. Nenhuma lembrança dela, a mãe tão querida. A mãe Rosa Conceição que o tratava sempre pelos seus dois nomes. A mãe que dizia que ele havia de ser alguém nesta vida e agora está enterrada no cemitério do Boqueirito debaixo de uma placa de pedra até bastante feiinha por acaso. Na cabeça dele, no lugar onde devia estar uma imagem da mãe a sorrir ou a virar-se assim muito devagar como nos sonhos dos filmes e a olhá-lo nos olhos com olhos ternos, só escuridão. Só um espaço escuro, nada. António José levanta-se, faz o sinal da cruz e retira-se. Tem de se despachar, que o Carvalhais já deve estar à espera. Só quando chega cá fora é que se lembra do chapéu e corre de volta à igreja. Nada mais triste neste mundo que um polícia sem o chapéu. 3 4 A descer para o Rossio, onde combinou encontrar-se com o colega, António José ouve o alarme de um automóvel. Pensa que não deve ser nada de especial, talvez uma pomba ou um vento mais forte, não vale a pena o esforço. Talvez o ramo de uma árvore, uma bola de criança, alguém que se encostou sem querer. Pode ser tantas coisas, não deve ser nada de especial. E, nisto, passa um homem a correr. Um indivíduo magro, moreno, muito sujo. Um cheiro que se sente à distância, credo. “Ei, tu!”, grita António José. Mas o homem nem se vira. Continua a correr rua abaixo, a correr, a correr, os pés saindo para os lados como num boneco estragado. António José apita. Algo que faz muito raramente mas que, desta vez, lhe parece necessário. O homem não liga meia, continua rua abaixo a grande velocidade. De maneira que, ao polícia, que maçada, não resta outra hipótese senão correr também. Inesperadamente, sentindo que alguém o persegue, o outro pára, vira-se. “Desculpe, há algum problema, senhor guarda?” “Porque é que não parou quando eu chamei?”, pergunta António José, esforçando-se por não mostrar quanto o impressionam as pústulas no rosto do homem. “Não ouvi.” “Porque é que vinha a correr assim?” “Não se pode, é uma lei nova? É que estou com um bocadicho de pressa...”, diz o homem, virando costas. Isto irrita profundamente António José, que avança para ele, agarra-o pelo braço, “Faça o favor de vir comigo.” “Mas porquê? O que é que eu fiz?” O polícia aguenta uns longos segundos antes de responder. Uma expressão grave e decidida, olhos no chão, passada larga, enquanto puxa o homem de volta para cima. “Há ali uma testemunha”, diz, por fim. “Uma testemunha... um transeunte... uma pessoa... que o viu tentar roubar um carro.” “A mim? Não é possível.” “À minha frente, vá, não pare.” 4 5 “Vou dizer-lhe um segredo, senhor guarda.” Olhos muito abertos, o homem como que espantado. “Eu sou Deus.” “Vá, andor. Siga.” Os dois sobem sem palavras, um caminho difícil. A rua íngreme, o sol forte pesando-lhes nas cabeças. “Pronto, é verdade que pus lá a mão e aquilo começou assim a rebuzinar, mas não foi por mal. Olhe que não mesmo. Não era para roubar, senhor guarda. Era só para ver.” “Para ver?” “Para ver, portanto, se estava aberto, percebe?” António José interrompe a subida, olha para ele. O homem ostenta uma calma olímpica, uma serenidade oriental que parece protegê-lo das próprias palavras. “Desapareça-me da frente, vá.” “O quê?”, pergunta o homem, desconfiado. “Vá-se embora, rápido. E Deus o livre de eu o voltar a apanhar numa destas.” A sorrir, desdentado e cheio de feridas e com uns olhos pretos, muito pequenos, que parecem sempre meio desfocados, o homem grita, afastando-se, “Mas eu é que sou Deus, olha a merda!” Mais tarde, quando se encontra com o colega Carvalhais no Rossio para a ronda habitual, António José não lhe conta nada daquilo. Diz que se atrasou porque teve de ir levantar dinheiro e os multibancos ali à volta estavam todos sequinhos, que este país precisava era de um pulso firme e de uma vassourada a sério, que as coisas pioram de tal forma que um dia os políticos hão-de se assustar como deve ser e olhar para a polícia a pedir socorro, socorro, ajuda, e nessa altura, vamos ver, a polícia não vai ser capaz de fazer nada nem vai estar interessada em fazer nada e vai mas é mandar isto tudo para a outra parte, vamos ver. “Estás inspirado”, diz-lhe o Carvalhais. “Desconfio que o senhor subcomissário António José Morentes andou mas foi a beber ao almoço.” “Nem uma gota”, responde António José. E calam-se os dois daí para a frente. 5 6 À noite, no quarto do seu pequeno apartamento no Cacém, António José deita-se a pensar na mão do homem sem nome. Que a mão do homem sem nome lhe tocou no braço, que ele teve um “contacto físico directo” com aquele indivíduo doente e feio, de horríveis feridas na cara e olhos nublados. Lembra-se do que o homem lhe disse. Uma frase absurda, vinda do nada. “Eu sou Deus.” Absurda, claro, mas também terrivelmente séria. Quem é que se atreve a dizer uma coisa dessas? E pode-se dizer isso assim, sem mais, sem consequências, impunemente? E com que propósito, já agora? Uma cara esburacada de pus e sangue seco, e uma boca suja a dizer coisas sujas. António José adormece com esse pensamento desagradável e, quando dá por si, está dentro de um sonho. Há um céu roxo de fim de tarde, e ele é um homem invisível atravessando, divertido, uma multidão imensa, quando Deus lhe toca num braço. Deus é uma mão gigante, magra, amarelada, e com dedos compridos como as chamadas “mãos de artista”. No sonho António José não se espanta com nada disso, tem a certeza que a mão é Deus, Deus é assim, é isto, não há dúvida. O que o espanta é o que vem a seguir. A partir do ponto do pulso onde Deus lhe toca com o indicador, o corpo de António José começa a aparecer. Aos poucos, sob os seus próprios olhos, perde toda a invisibilidade. Torna-se mais um no meio do povo. Há uma luz roxa sobre o mundo e as pessoas passam sem lhe dar atenção. Ele quer dizer-lhes “Viram isto? Viram o que me aconteceu?”, mas ninguém lhe retribui um olhar sequer. Agora vêem-no, António José percebe isso pelo modo como recusam olhá-lo, mas não querem, não querem, que tristeza. Ele é um homem indiferente. Entediado, sem nada com que se entreter. Parado num lugar de passagem, mas apenas por medo e dúvida. Até que, de repente, deixando-se ir na habitual confusão entre estar num sonho e estar morto de todo, ocorre-lhe uma ideia. Encontrar a falecida mãe. “Tenho de encontrá-la, dizer-lhe olá”, pensa. “Ver-lhe a cara, nem que seja só mais uma vez.” Olha à volta, a ver por onde ir. Passam pessoas em todas as direcções, sem qualquer lógica aparente, tanto faz começar por um lado ou por outro. Ele sabe isso, é isso que ele pensa, “tanto faz, vai dar ao mesmo”, e, no entanto, o pensamento paralisa-o e ele fica para ali, muito direitinho, hesitante, a rebentar de visibilidade. Como se esta 6 7 fosse uma espécie de doença. Ou, vá lá, talvez um pouco menos, uma maleita, um ardor, uma comichão que se sentisse por baixo da pele. Quando acorda, António José decide que está mesmo doente. Ao espelho, verifica o seu mau aspecto matinal e liga para a esquadra a dizer que não vai. Tem um daqueles telemóveis grandes com um ecrã verde, botões demasiado juntos, uma antena que parece a fingir. Do outro lado da linha, uma mulher pergunta-lhe pelo nome. Ele nem ouve, diz as palavras já preparadas. “Intoxicação. Alimentar.” Às dez para a uma, chega ao Boqueirito. Estaciona o automóvel perto da loja de roupa de criança onde trabalha a Maria Otília, do outro lado da rua, de modo a vê-la sair. Vai fazer-lhe a surpresa do costume, mas ainda se sente esquisito. Já não é do sonho, é outra coisa. Uma espécie de abafamento, a estranha sensação de a cara se estar a fechar ao meio, para dentro. Enquanto isso não desenvolve, liga o rádio. Está a dar uma entrevista com um “jovem escritor” chamado Rolando Silveira D’Anunciação. O jornalista pergunta-lhe como é que o autor se inspira, de onde é que lhe vêm as histórias. Rolando solta um breve suspiro e diz que toda a sua “obra” parte de “um ponto negro, central e secreto” da sua biografia. Quando Maria Otília sai da loja, António José buzina. Duas vezes, toques curtos. Ela vira-se, sorri ao vê-lo dentro do carro, atrás do vidro. “Então, feriado em Lisboa?” “Não.” “Greve da polícia?” Em casa do Tio Nando, tiram a roupa e comem-se violentamente. Não, primeiro calmamente. Há a meia escuridão perfeita do estore mal fechado, escuro-cinzento com pontos de luz, e Maria Otília deixa-se ficar de costas a olhar para ele, por cima do ombro, um sorriso a meio gás, como se não percebesse nada daquilo, o que se está a passar, o que vai acontecer, o teatro de uma inocente só ligeiramente divertida com o jogo das roupas, corpos, posições, olhos, nenhuma palavra, mãos. Uma rapariguinha distraída e alegre, ha ha, uu-uu. Depois António José agarra-a e a coisa precipita-se em cima da colcha de flores francesas. Meio escuro, fios de luz. Deitada para trás na cama por desfazer, Maria 7 8 Otília espreguiça-se, satisfeita, e diz o que diz sempre. Que foi muito bom, que já tinha saudades, que foi mesmo bom. De pé, a puxar as calças, António José olha para ela, e não responde. O que o puxa é aquele cheiro, o mistério daquele cheiro a campo. Uma coisa que está lá haja o que houver. Por mais litros de perfume que ela atire para cima dela, por mais esfregas com escova dura. Um mistério, uma segurança. E, no entanto, as árvores tão direitinhas no regresso. As árvores de todos os dias tão direitinhas e ocas na berma da estrada no caminho de volta a Lisboa. Ao volante do carro, rádio desligado, António José esquece a Maria Otília, o corpo dela, o cheiro dela, o sorriso no olho. Não foi visitar o pai, afinal, não valia a pena, veio logo embora. As árvores intermitentes, o vento que é só o carro a andar, nenhuma palavra, tantas palavras nenhumas. António José esforça-se por se lembrar da mãe. E nada, zero. As coxas redondas da Maria Otília, e depois nada outra vez. Nenhuma imagem, coisa nenhuma, e o homem liga o rádio e pensa que a mãe está bem, “a mãe está bem porque está no céu”, “e não há nenhuma dúvida”, “é assim e pronto”, e ele não vai pensar mais nisso, “não penso mais nisto”, e no rádio dá aquela música das Doce. “Então, ontem, grande balda, hã?”, diz-lhe o Carvalhais, na esquina, enquanto esperam pelas dez horas para continuar a ronda. “Ou foi mesmo... estavas mesmo adoentado?” “Sim”, diz António José. Do outro lado da rua, o arrumador compõe o boné americano. “Intoxicação alimentar.” “Eh pá, que chatice, isso é do piorzinho.” Muito moreno e magro, o homem roda o boné na cabeça, pala para a frente, pala para trás. Está parado, a marcar posição, no único lugar livre da rua para estacionar. É o território dele, quem quiser parar ali tem de lhe entregar uma moeda de 50, mínimo. Às vezes, espreita os polícias do outro lado da rua, mas não arreda pé. Aquilo é o trabalho dele, é o que ele faz na vida. 8 9 Percebendo os olhares do arrumador, António José disfarça. Não quer encará-lo, por nada deste mundo. Tem vergonha, talvez, estranhamente. Ou medo, um ligeiro medinho? O homem é magro de um modo doentio, miserável, e o que António José pensa é “não me digas que este também é Deus”. “Isso é mesmo bera.” “Hã?... Ah, sim. Um bocado chato. Bastante chato. Mas já estou melhor.” “Vê lá, olha que, casas de banho, só mais daqui a bocado...” “Não, estou bom. Tudo bem.” E, como o colega desata à gargalhada, António José sente-se na obrigação de rir um pouco também. “Ha, ha... hã.” “Vê lá. Tu vê lá...” “Sim. Já estou porreiro. A sério.” E, ao dizer isto, sente um frio na espinha. Não são as palavras, não é o que diz, é só que o arrumador demasiado magro e moreno vem a atravessar a rua, na direcção deles. António José não sabe porquê, mas, aconteça o que acontecer, não quer encará-lo, não quer que ele lhe toque, não quer proximidade. “E se ele também for Deus como o outro?”, pergunta-se. Rápido, tem de inventar qualquer coisa para fugir dali, virar-se, disfarçar, rápido. “O que é... Qual é... Carvalhais?” “Sim?” “Onde é... Qual é a morada da... daquele médico dos atestados?” Virado para o colega, ostensivamente recusando a rua, recusando o mundo, António José sente um calor no lado esquerdo da cara enquanto o arrumador passa, vai passando. O calor de um cheiro denso, enjoativo, a suor, lixo e mais o quê. “Onde é que é, não sabes? Não foste já lá uma vez...” “Já fui, já”, responde-lhe o Carvalhais. E, pronto, o arrumador já passou, continua rua cima. “Não era o outro”, pensa António José. “Não era o tal outro Deus.” “É ali no começo da Defensores de Chaves, não é?” “Ah, boa”, diz o nosso subcomissário, muito aliviado. “É capaz de ser isso, é.” 9 10 À noite, no Cacém, António José atravessa a parede da casa de banho e entra na floresta. Um lugar nocturno de árvores muito altas, muito direitas, muito paradas. Está de pijama e caminha descalço sobre a caruma mas não se pica nem tem frio, só um nadinha, só o suficiente, e vai seguindo, seguindo, até que vê. “Deus!” Hã? Acorda assustado. “Hã?” Demora um segundo a perceber o que é aquela coisa amarela-escura, monstruosa, pousada na almofada, tão perto dos seus olhos. “A mão. A minha mão.” Na casa de banho, desaperta os botões da camisa do pijama. Abre a torneira e lava a cara e o tronco, a boca, debaixo dos braços. Quer livrar-se daquele cheiro. Limpa o suor das sobrancelhas, esfrega-se com força várias vezes, já está, mais. De toalha na mão, surpreende-se ao espelho. De quem são aqueles olhos, porra. Pensa “Mãe”. Pensa “Pai”, não se lembra. Tenta vê-los na imaginação, só por um momento, só um pormenor. Mas não consegue, vivos ou mortos, não sabe a maneira. Perdeu a forma, a sequência, as palavras, de fazer as lembranças. Pensa “Maria Otília”. Pensa “coxas”, pensa “grossas”. Põe a mão dentro das calças e pensa “rabo”, “costas”, “campo”. Pensa “carne boa”, “luz em furos”. Pensa até, oh como é horrível meu Deus, “cemitério”, “colcha da França”, “200-250 metros”, mas não dá, não consegue. Não pode ser. A mão dentro das calças batendo repetidamente, com toda a força, cada vez mais força, mas cá em cima, na cara, nada. A cara não se lembra de nada. No dia seguinte, de manhã, é atendido pelo médico dos atestados. Um homem pequeno, quase sem sobrancelhas, que, de boca fechada e ar seriíssimo, sussurra uma melodia alegre enquanto o examina. António José não olha para ele, distraído com a cabeça excessiva da sua sombra na parede bege. Pensa que tudo é “sim”, e sorri. Não se arrepia nem um pouco com o metal frio do estetoscópio contra o peito nu. “Portanto, o atestado é para o dia de ontem?” “Sim.” “Intoxicação alimentar?” “Sim.” “Muito bem. Eu já lhe passo o papelinho. E já viu este meu quadro novo? Fui eu que fiz. A sério. Gosto de pintar nos tempos livres... É abstracto, mas parece de profissional, de artista, não acha?” 1 0 11 António José olha para os gatafunhos na tela. “Sim, sim.” “É mesmo bom, não é? Diga a verdade. Não o vendia nem por mil euros. Mas diga a verdade, a sério, eu não me importo, a sério.” “É óptimo, sim, ”, diz António José. “De artista, mesmo.” E de repente é como se perdesse a relação com as palavras e atravessasse, calmamente, a parede bege do consultório, entrasse pela sombra da brutal cabeça cómica e chegasse ao outro lado. Um lugar inédito. Uma grande tira de alcatrão espalmado, espremido, entre altas construções furadas. Muitos furos, milhares, uma catrefada de furos pelos quais entram, saem e espreitam pessoas ou o que parecem pessoas. António José, um homem sem nome de repente, desce pela grande tira de alcatrão, vai descendo, um pé e depois o outro, sempre assim, sempre igual. Até que, a dado momento, percebe que tem de sair dali também. Atrás dele, parado em cima da tira de alcatrão, um monstruoso objecto com rodas de borracha repete barulhos agudos para o assustar. Tem de fugir dali, escapar daquele outro lado para um lugar mais outro ainda. Andando sempre em frente, encontra um espaço com menos mistura de movimentos e sons, sentase. Tira o instrumento que tem à cintura, “segura-se por aqui”, pensa, “e aqui é o tubo por onde sai aquela coisa em forma de coisa”. Encosta o fim do tubo a um ponto do lado direito da cara, entre o olho e a orelha. O dedo naquela curvinha engraçada do instrumento. O homem que já não é “António José” tem um sorriso permanente agora. Olha para o alto e, como vê em cima os ramos daquela estrutura da natureza com um nome absolutamente óbvio que de repente não lhe ocorre, e o azul infinito em baixo, julga fazer a descoberta de que o céu é que é o sítio onde pomos os pés. “É esta a palavra”, pensa, antes de puxar o dedo e rebentar com a cabeça, “o céu”. Jacinto Lucas Pires 1 1
Download