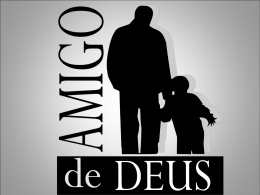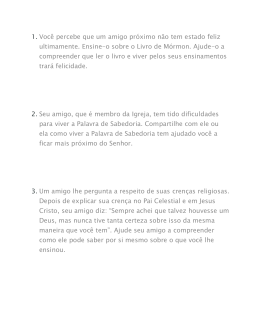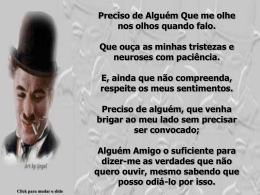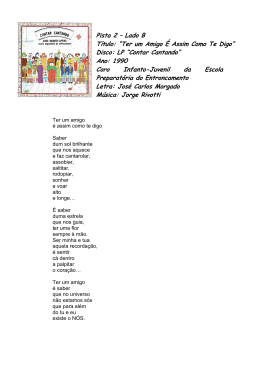AGOSTO L P Baçan Copyright © 2014 L P Baçan Reprodução e divulgação proibidas sem autorização expressa do autor. Edição para divulgação exclusiva pelo site 2014 ÍNDICE I ....................................................................................................................... 4 I I ..................................................................................................................... 8 I I I ................................................................................................................. 11 I V ................................................................................................................. 14 V ................................................................................................................... 17 V I ................................................................................................................. 18 AGOSTO O que levavas, e que levavas no coração? Tiram as pedras, vão procurando, vão pesquisando na confusão. — Onde o poema, onde o tesouro, onde a invenção? Que ele levava, que ele ocultava no coração? “(D. Marcos Barbosa in Tarcísio) I Após colocar em ordem seus cadernos, ficou pensando. Amanhã seria primeiro de agosto. Chegavam as aulas e as esperanças. Como ele gostava desse mês. com que ansiedade e prazer a fundo escondidos ele o esperava. Agosto, seu aniversario, punha febre em seus atos, um brilho estranho em seus olhos. Distraidamente folheou um dos cadernos. Chiquinho é um bebê, viu escrito numa orelha. Seus olhos a princípio erraram pela frase, distantes, como se aquilo nada fosse que um amontoado ilegível de grafite. Depois, pouco a pouco, o amontoado se ordenou e ganhou sentido. Eles, sempre eles, os malvados. Por que não a amizade? Divagou um pouco e, depois, uma pergunta: quando escreveram aquilo? Talvez no último dia de aula, em junho, quando deixaram o material na classe para a festinha de despedida ou, então, à hora do leite. Mas quem teria escrito? Aquela letra garranchada poderia ser de qualquer um deles. Qualquer um deles... Um deles havia escrito. Só poderia ter sido um deles. Mas não importava. Havia prometido esquecê-los, ignorá-los e assim faria. E depois não podia — não às vésperas de agosto — deixar-se levar por isso. Não. Agosto chegava cheio de esperança. Por que renovar as coisas velhas? Fechou o caderno calmamente, como se ali encerrasse uma coisa insignificante. Estava alegre e nada o faria alterar-se. Conseguira, com o passar do tempo e dos acontecimentos, a passividade nos atos e aquela mansidão no olhar, mais tristeza que resignação. Agosto chegava, era o importante. Nada mais no mundo existia. As tardes limpas de céu cinzento, as queimadas ardendo ao longe e enchendo o céu de fumaça, os campos limpos e secos e os acordes das máquinas de rami. Chegava o céu de agosto, cheio de beleza e mistério, nos pôr-de-sol sangrento que machucava a terra de reflexos. Agosto chegava. De meados de julho em diante, aquela ansiedade, pouco a pouco dominava-o. O passar dos dias acelerava-se e as noites frias iam passando para a recordação. Do céu de nuvens escuras de julho nada restaria. Agosto limpava o céu. Da sala, restos de conversas chegavam até ele. Falavam de tudo e de todos. Só não falavam dele. Sobressaltando-se, o menino arrependeu-se da observação. Não, não podia e nem devia fazer aquilo. Não podia lamentar recordações, quando as esperanças que nasciam precisavam de cuidados. Sim, cada agosto era diferente. Tinha que ser. Apesar de todos os passados haverem sido iguais, a esperança persistia. Tinha que persistir. Um deles tinha que ser o feliz. O menino sabia que não podia se entristecer, parar para lamentar e nem sequer pensar naqueles que se foram. Todos haviam sido iguais, mas um deles tinha que ser diferente. Em um deles “ele” chegaria e só de pensar nisso, a alegria espantava todas as más recordações e alentava esperanças. Levantou-se e foi até a janela. Os meninos da vizinhança brincavam de pique-salvo. Uma brisa com cheiro de noite de julho espantou seus cabelos que se alvoroçaram, lambendo seu rosto com o carinho de um talo de capimamargoso. Sim, já havia naquela brisa um pouquinho de agosto, já havia naquele céu cheio de estrelas um pouquinho de agosto. As estrelas cintilando já traziam um pouquinho das alegrias do agosto que chegava. Nada mais podia ser tão ansiosamente esperado que a grandiosidade daquele mês. Nem Natal, quando recebia presentes, o enchia de tantas alegrias; nem as festas barulhentas de Ano Novo, quando os sinos repicavam e o povo soltava foguetório, ganhavam em interesse; nem a Páscoa, com seu coelhinho invisível... invisível como Papai Noel... nada. Nada. Aquele mês era único no ano. As festas que trazia eram as dele, só as dele. Talvez fosse por isso que gostava de agosto. Era um mês todinho seu, de mais ninguém. Ninguém vibraria com ele aquela alegria, ninguém partilharia aquela ansiedade, ninguém enxergaria aqueles céus maravilhosos. Ninguém... Só ele. Sabendo que se com julho logo dormisse, com agosto em breve acordaria, saiu da janela e foi guardar seus cadernos e livros na pasta escolar. Depois, com ela às costas, passou pela sala para a benção noturna. Beijou a mãe e a avó, abraçou o pai e foi para o quarto. Em parte ele gostava dos pais. Apesar daquela rigorosa vigilância, amava-os. Mas não a toda hora, é claro. Amava-os à noite, à hora do deitar-se e pela manhã. Amor e ternura. Um pouquinho de bondade também. Depois, após as aulas, no almoço, começavam. Não se podia ter paz para nada. A toda hora queriam saber dele. O pai nem tanto porque trabalhava. Mas a mãe e a avó, nem se fala. Era aquela amolação: Chiquinho, vem pra casa! Chiquinho, onde você está? Chiquinho, não brinque aí! Chiquinho, não faça isso! Chiquinho, venha para dentro! Como, meu Deus, ele poderia ter paz para procurá-lo? Nunca. Era somente naquela hora e meia ou duas em que a mãe e a avó passavam jogando buraco com as amigas, à hora do café da tarde. Mesmo assim não podia ir longe. Só quando elas se distraiam por demais no jogo e se esqueciam dele. Então podia ir até o fim da rua, no pastinho do seu Juca, cismar um pouco. Mas não por muito tempo. Logo alguém sairia à janela e gritaria para a vizinhança toda ouvir: Chiquinho!!! Pendurou sua pasta na cadeira e cheirou o guarda-pó. Era novo. Sentiu nele o cheiro de tecido ainda não lavado e ferro quente. Havia ali ainda, um restinho de calor e o menino encostou a cabeça para recebê-lo. Aulas, escolas, eles... Não. Eles, não. Eles não existiam. Eles haviam morrido. Tirou a camisa e dobrou-a cuidadosamente. O mesmo fez com as calças. Botou o pijama e ficou um tempo olhando os elefantinhos azuis e as girafas verdes. Todos de ponta-cabeça. Eram bonitos e agradáveis de se ver. O pijama era macio, gostoso, aconchegante. Um pouco, não tanto como o céu de agosto. Agosto trazia esperanças, o pijama não. Que bobagem: como? Agachou-se e puxou o pinico. Na posição em que ficou, debruçou a cabeça sobre a maciez da cama. Seus olhos correram enviesados pelas paredes do quarto e os olhos de Santa Luzia, no quadro de moldura envernizada, fizeram-no envergonhar-se. Empurrou o pinico, puxou as cobertas e deitou-se. Quietinho, quietinho, logo o sono chegaria. Não, antes dele viria o senhor da areia. Depois o sono. Um leve estremecimento passou pelo seu corpo. Uma onda de alegria fez brilhar seus olhos. Enfim agosto chegava. Era só dormir e ele chegaria. Não, antes de dormir, rezar. “Pelo sinal da Santa Cruz...” Por que rezar? A mãe havia dito que os meninos precisavam agradecer a Deus. Mas agradecer o quê? Deus dava-lhe tudo, dizia a mãe. Mas não, não lhe dava tudo. Faltava-lhe um AMIGO. Um simples amigo com o qual pudesse brincar livremente pelas tardes de agosto. Com o qual pudesse repartir as alegrias daquele céu que se enfeitava só para ele. Como agradecer a Deus se Ele lhe dava um mês todinho, mas não lhe dava um amigo? De que valia um mês todinho sem um amigo? Só lhe dava aqueles meninos malvados e briguentos do Grupo Escolar, que só sabiam provocá-lo. Aqueles terríveis meninos de coração mau... Como agradecer? Adiantava? “Agora e na hora de nossa morte, amém!” Terminada a oração, virou-se de bruços e puxou o travesseiro para o lado esquerdo. Abraçando-se a ele, sentiu-se acomodado. Gostava de dormir daquele jeito, abraçado ao travesseiro. O travesseiro era um amigo, mas não um amigo completo. Era um amigo mudo. Um amigo para a hora de dormir e de desabafos, não para as horas do dia. Dos dias de agosto. O travesseiro não falava. Só sabia enxugar... E nas noites de pesadelo, quando a solidão pisava seu peito e ele se ressentia da falta de alguém, ele ficava mudo, o travesseiro. Um mudo amigo. Um amigo bobo e inútil, isso é o que ele era. Fosse um amigo de verdade ele não precisaria chorar. Seria sempre alegre. Não tinha raiva dos pais por isso. Apenas sentia-se magoado por não ser compreendido. Que pensavam os pais e a avó? Por que não podia ele brincar com os outros meninos da vizinhança? Por que não podia correr e soltar papagaio com os vizinho da esquerda? Por que não podia brincar de selar pião com os da direita? Por que não podia jogar beta com os da frente? Por que não podia brincar de dim com eles à noite? Ou de pique-salvo? E depois, agradecer... Agradecer o quê? A solidão? A vontade? Não. Mas... sim... talvez. As noites de agosto... Estava certo. Agradecê-las, agradecer os dias, as tardes de pôr-de-sol sangrento, as queimadas, os acordes das máquina de rami, a beleza e o mistério do céu, sim estava certo. Tudo isso tinha que ser agradecido. E não agradecia? Pois que Deus se considerasse muito agradecido. Sim, isso mesmo! Achou, por fim, tudo isso uma grande bobagem. Aquela era a última noite de julho. Agosto chegaria no dia seguinte. Isso era o importante. Agosto, seu aniversário. Precisava dormir. Apertou mais o travesseiro de encontro ao peito. Enfim agosto chegava. Era preciso dormir. Isso era importante. Dormir e sonhar com agosto, com o estilingue que barganhara às escondidas com o vizinho da esquerda. Ele fora mau, no fundo, muito mau o vizinho. Dera-lhe o estilingue em troca de um caminhãozinho. Mas era um estilingue dos bons. Borracha morta não. Borracha boa mesmo. Malha de língua de botina envernizada, forquilha encapada com elástico, bom de verdade. Trocara-o pelo caminhãozinho vermelho. Aquele sem rodinhas. O outro gostava dele. Trocaram... Se fossem amigos... Pouco a pouco os olhos foram pesando. A respiração diminuiu e os pensamentos voaram céleres pelo quarto. As pálpebras se abaixaram. O menino estremeceu, adormecido. II O menino adormecera tranquilo. Os sonhos bons de véspera de agosto o acalentaram por toda a noite. Sob os cobertores, vibrando ao compasso dos sonhos, seu coração se preparava. Lá fora, sob a claridade tênue das estrelas, ele sabia, a natureza despia-se de julho e, com cuidado especiais, vestia o manto de agosto, só para ele. Foi, talvez, quando o primeiro galo repicou suas asas e rouquejou no poleiro do vizinho da esquerda, ou quando a claridade alcançou a fresta, iluminando o quadro de Santa Luzia, ou quando, na cozinha, a avó mexia nas panelas para o café que o menino acordou. A princípio um treme-tremer das pálpebras. Depois, abriu os olhos e, um pouco incrédulo ainda, ouviu os últimos sons dos galos na manhã e olhou o quadro da Santa. Agosto chegara. Lá fora podia adivinhar o sol atirando-se contra os telhados e quintais, lambendo as árvores, fazendo sombras alongadas. Uma ternura imensa invadiu seu corpo e um soluço cortou sua garganta ao meio. Cheio de felicidade, abraçou seu travesseiro. Foi só o tempo de uma lágrima entranhar-se no tecido. Um som longínquo de velho a pigarrear chegou-lhe aos ouvidos. Cortou um soluço ao meio e levantou a cabeça. Não, não era possível. Seria? Após um minuto de indecisão, levantou-se febrilmente e correu até a janela. Seus dedos sôfregos escorregaram pelo trinco e seu coração era a fanfarra do ginásio. Enfim destrancada, puxou a janela e olhou o céu, sentindo um calafrio percorrer-lhe a espinha e o desalento tomar conta de seus olhos. O céu de agosto era escuro, carregado de chuva. Nenhum som longínquo de máquina de rami, nenhuma queimada esfumaçando o céu. Nada! Só aquelas nuvens escuras carregando chuva. Agosto chegara triste como os outros meses, desolador como o resto do ano. Voltou para a cama e esperou que a mãe o chamasse. — Chiquinho, meu filho, é capaz de chover. O tempo está armando chuva. Hoje você não vai pra escola. Vai ficar em casa, mas sem dar trabalho para a mamãe, viu? Não fique muito perto da água que você pode pegar friagem, viu? Um beijo pra mamãe. Pronto, já começou, pensou ele. Não tinha jeito mesmo. Não se podia ter paz nem liberdade para nada. Dava vontade de falar palavrão. Fazer o quê? Após o café, saiu ver os pitos de velha que os pingos da chuva faziam ao cair sobre a água empoçada. A chuva começara com ventania e trovoadas. As folhas foram varridas e tragadas pela nuvem de pó que se formou na rua açoitada. Bacias e latas de lixo tombavam e rodopiavam com estardalhaço. Portas batiam e no fogão de lenha a avó jogava ramos de palmeira benta. No céu, acima da cortina avermelhada, faíscas dançavam adoidadas ao som de tambores malucos que ecoavam e ecoavam e ecoavam. Os olhos ardiam e os cabelos drapejavam desesperados. Levava no bolso da calça folhas de caderno para uns barquinhos às escondidas. Distraiu-se a olhar o oscilar alucinado dos abacateiros do vizinho e sobressaltou-se ao sentir a dor do puxão de orelhas que o arrastou até a cozinha e despejou-lhe pitos sobre pitos. Amuado e sem graça, sentou-se no sofá da sala. Não tinha importância. Não tinha importância mesmo. Nem doera. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho mesmo. Olhando pela vidraça, nariz embaçando o vidro, cismava. As máquinas de rami, lá longe, paradas, sem o crem-crem cadenciado varando os ares. As folhas de rami lavando-se preguiçosamente, agora que a chuva caia mansa e monótona. Imaginava a água correndo por entre os caules. Pensou nas estórias de homens que perdiam seus braços nas máquinas. Dava medo vê-las trabalhando. Dava medo ver as mãos dos homens indo e vindo, indo e vindo... Seu pai o levara uma vez. Davam medo as máquinas, mas o barulho era gostoso de ouvir e as máquinas, mas apesar de tudo, eram bonitas. Fazia algum tempo, ele se lembrava ainda. É por isso que gostava delas. Uma vez vira um homem sem braço. Vendia bilhetes de loteria e tinha os olhos bons. “Olha a borboleta para sexta-feira!” Borboleta... Eram bonitas. Uma vez pegara uma pelas asas. Era rajada e se debatia. Ele a soltou e ela deixou em seus dedos o pó da cegueira. Era só passar nos olhos... Credo em cruz! Da janela poderia ver as queimadas e o pôr do sol, mas naquele dia não haveria pôr-de-sol sangrento e a noite seria um cobertor escuro. Suas estrelas dormiriam apagadas, no quentinho das nuvens e a tarde não seria limpa. O sol não faria arco-íris pelo céu inteiro através da fumaça. Não haveria lua, a lua dos lobisomens. Cé louco, siô! Diziam que, quando nascia uma criança e enquanto não a batizavam, o lobisomem vinha lascar madeira ao redor da casa. Sempre que alguém nascia na vizinhança, ele não conseguia dormir direito. Acordava a todo momento com o estalar da madeira da casa, ruídos no quarto dos pais. Só em agosto não tinha medo de nada. Mas no agosto de verdade, não um como aquele que o envolvia, começado com chuva. Mas não importava. Era preciso esquecer o medo e outras coisas. O importante era lembrar os campos limpos, lavados de água. Talvez até, como esse era uma agosto especial, agosto em que encontraria um amigo de verdade, Deus resolvesse lavar tudo primeiro, para apresentá-lo embelezado e limpo. Será que agosto usaria brilhantina? Ih, que engraçado! É claro que não. Agosto era um mês e não gente. Bem, quase gente, mas não era gente. Era agosto, o seu agosto, só dele, só dele... Lá fora os pitos de velha espalhavam-se pelo quintal. Os mais bonitos eram os que caiam pelas beiradas do telhado; grossos e constantes. Sentiu vontade de sair, pisar os cachimbos de velha, soltar barquinhos na enxurrada, ficar embaixo dos relâmpagos e sentir o peito tremer com os trovões, mas sabia ser impossível, uma loucura. Como disse o pai mesmo ao explicar o que era? Ah, suicídio. “Cé besta, siô!” Não podia nem pensar nisso. Só podia mesmo era olhar os meninos da vizinhança. Saiu da janela, mãos no bolso, e foi ver a avó espanar os móveis. Passou, depois, para o quarto e, de sob o colchão, tirou o estilingue. Segurouo, testou a borracha e mirou no quadro de Santa Luzia. O projétil imaginário saiu violento, arrebentou os dois olhos do prato da Santa e espargiu sangue pela parede inteira, como nos filmes do Tim Holt. Fazia tempo que não assistia a um filme. O pai não o levava mais. Seu pai era gozado mesmo. Só trabalhava, trabalhava e nem falava mais direito com o menino. Ao som dos passos pesados da avó que chegava, guardou a arma. Voltou à janela e a cismar. A chuva passaria. Um dia passaria e então agosto se apresentaria novo, com as máquinas de rami roncando ao longe, com as queimadas esfumaçando o céu, com o pôr-de-sol sangrento, com as tardes limpas e as noites claras de estrelas. Aí ele chegaria realmente. Lá fora os pitos de velha se espalhavam pelo quintal, passavam a cerca, atingiam a rua e sumiam ao longe, lá onde nascia o crem-crem, as queimadas e os amigos... III Por cinco dias os pitos de velha, lá fora, se espalharam pelo quintal, passaram a cerca, atingiram a rua e sumiram ao longo, lá onde nasciam o crem-crem, as queimadas e os amigos... Cinco dias se passaram sem que dançassem, aos acordes das máquinas de rami, a fumaça das queimadas sob o céu cinza de agosto, acima do verde esmaecido das plantas. Nenhum pôr-de-sol sangrento, apenas dia e noite, aquela chuvinha do pinico, persistente, chata, embrulhona. Foram cinco dias de reclusão, sem aulas, sem D. Nair, sem “eles”, nem chances de procurar... Do mundo exterior vinham somente as notícias que o pai trazia à hora do almoço e do jantar: — Muito rami se perde nesta chuva e... — A aí, o pessoal, pego de surpresa, desprevenido, sem tempo de armazenar a fibra... — ... pontes levadas por inundações... — ... e Rancho Alegre ficou isolada... — ... todos aqueles carros e caminhões encalhados, atravancando as estradas, atolados no barro... E por cinco dias, só pitos de velha. Cinco dias de uma inquietude de enjaulado que o fazia andar daqui pra lá, de lá pra cá, ora relendo um “Pequeno Xerife”, ora dando corda no carrinho e deixando-o de rodas para o ar. Isso quando não cismava de puxar conversa, ora com avó, ora com mãe, a fazer perguntas e a receber evasivas. Nada, nada havia de bom a fazer que não fosse pregar os olhos na vidraça e sonhar com agosto ou arriscar um puxão de orelha. Já soltara mil barquinhos de papel, jogando-os pela janela, torcendo para que caíssem em pé e escorregassem pela enxurrada. Que desgraça! O sexto dia amanheceu sem chuva, mas as nuvens escuras persistiam, a se empurrarem, abrindo ora um claro aqui, ora outro ali, a mostrar nesgas de céu e deixar escorregar raios de sol. A alegria tomou conta dele e ele pedia intimamente que Deus as levasse para as cidades vizinhas e poupasse a sua: a coitada já estava cheia de tanta água. Após o meio-dia, raios de sol tímidos e vacilantes foram pontilhando os telhados. Às duas, a exuberância de um verde lavado causava reflexos, de tão forte. Da chuva restava apenas o barro, um resto de enxurrada escorrendo pelo seu leito de erosão e um rolo compressor de nuvens sumindo no horizonte. Um bando de crianças surgiu na rua, pés descalços, patinando caminhões imaginários, em evoluções acrobáticas de corpo para controlar a direção, tal e qual o faziam os motoristas dos caminhões encalhados pela ruazinha sem calçamento. Já havia, na operação de desatolar um caminhão do barro, o universo solidário de esforços, risos, cuidados e suor, habitual a quem mora à beira de estradas de terra. Um cava sob a roda atolada, outro providencia galhos, terra seca de sob os porões para dar firmeza à tração. O motorista acelera, o veículo adianta-se um pouco, alguém corre e trava-o com uma pedra para que não recue a distância ganha. Nova escavação, mais pedras, galhos, terra seca, empurrões e travas, até que um riso aflora em todos os lábios e o veículo finalmente ganha firmeza e avança. O motorista, porta semiaberta, corpo metade dentro e metade fora, agradece e segue em frente, deixando mãos, roupas, rostos e ferramentas encardidas acenando. Há uma pequena pausa e logo a pequena multidão acode o veículo seguinte. Da janela o menino assistia, impaciente e desejoso de estar patinando também, ajudando com pedras, galhos, qualquer coisa, mas sabia ser impossível. Quando é que poderia fazer aquilo? Nunca na vida! Quem dizia que a mãe ou a avó deixariam? À tardinha, a molecada, aproveitando os pelotes de barro deixados pelos caminhões, esculpiam bonecos ou preparavam pelotas que, após passadas pela cinza e deixadas ao sol, virariam projéteis contra os passarinhos da redondeza. Quantos tombariam por elas? Coitadinhos! Tantos e tantos, mas nenhum pelo seu estilingue inútil, sem uso, sem cumprir os propósitos que nortearam sua manufatura cuidadosa. Nem treinar pontaria podia. Às vezes o menino, apalpando-o, examinando-o, perguntava-se porque fizera tanta questão em possuí-lo. Provavelmente nunca o usaria. A borracha se ressecaria, surgiriam boqueiras, a malha perderia o brilho do verniz, os elásticos se arrebentariam, todo o estilingue se desmantelaria. Por que, então? Apenas pelo secreto prazer de possuí-lo, apalpá-lo às escondidas, sentir-se seguro nas noites de lobisomem com ele sob o travesseiro e três bolinhas de vidro no bolso do pijama? Ou então para tentar, desejo vão, destruir os olhos inquisidores de Santa Luzia nas noites em que ia para a cama com algum peso na consciência? Ou para sonhar caçadas memoráveis no pastinho do seu Juca, abatendo tizius, pardais, rolinhas, pombas, elefantes, girafas... Provavelmente naquele dia não haveria crem-crem, queimadas, mas, em compensação, as crianças não brincariam de pique-salvo lá fora, com seus gritos de alegria, suas correrias, com a liberdade deles. Mas haveria — Obrigado Deus! — um pôr do sol que, sem ser por demais sangrento, já era de agosto. Mais tarde, a lua concorreria em brilho com as estrelas e a noite seria fresca e agradável. Agosto já andava pelo ar, a alegria já morava nas esperanças quase concretas, próximas da realização. Antes, o banho diário, a água tépida sobre o corpo, a espuma desenhando barba e bigode de Papai Noel no rosto imberbe, dos gestos tímidos e assustados ao percorrer as partes íntimas, o ritual costumeiro de pôr roupas e, frente ao espelho, repartir o cabelo de lado e puxar o topete. Depois, à janela, recebendo o frescor da quase noite, o cheiro de barro e mato lavado, o verde das plantas, o contorno nítido dos morros lá longe, na linha do horizonte, que não era reto, mas denteado como a boca de um cachorro. Pelas bandas do acaso, um vermelho desmaiado firmava-se e, gradativamente, ia aumentando, até atingir uma cor viva e vibrante. Sem nuvens nem fumaça, não haveria um arco-íris de cores pelo céu, mas apenas o vermelho, o dourado brilhante, quiçá um violeta. Nos abacateiros e santas-bárbara e laranjeiras e eucaliptos os pardais faziam algazarra. Pela rua desciam seu pai, um ginasiano aplicado e retardatário, algumas mulheres. Subindo-a, um bêbado teimava em equilibrar-se sobre o barro. Ao ver o pai, desejou poder correr até ele, pisar o barro, senti-lo escorrer por entre os dedos. Ou então, correr pela rua, sentindo sobre si o céu de agosto, extravasando uma emoção que cinco dias de reclusão maior transformaram numa dúvida ridícula. Era, realmente, o primeiro pôr-de-sol de agosto. Não tão belo como seriam os próximos, mas belo, belo demais para não ser aproveitado. Alguma coisa lá dentro dele remoia-se e nem o frescor da tarde, o cheiro de barro e mato lavado, o verde das plantas e o pôr-de-sol conseguiam aplacar. Era agosto que chegava, era a natureza mais bela do ano, era a primeira noite bela, era tudo que ele sonhava, e ele ali, atrás da janela, mísero quadrilátero sem barras de ferro, mas aprisionador. Era a própria vida que chegava e a janela, a família e o barro e separá-lo do primeiro contato com a origem dos seus sonhos. Paradoxalmente, diante do primeiro pôr-de-sol sangrento, o menino chorava. Agosto chegara e duas lágrimas desceram quentes pelas faces, refletiram o vermelho do céu e foram misturar-se ao barro de seus pensamentos. O menino sentia que alguma coisa indefinida ameaçava quebrar-se. IV — É, ué. Cê nunca brincou? — Não. — Por quê? — Por que? Porque sim. — Sua mãe não deixa, né? — É. — O pai falou que cês são entojados. — Que é entojado? — É pessoa que não liga pros pobre... que tem o rei na barriga. — Rei na barriga? — É, rei na barriga. Cê não sabe o que é ter o rei na barriga? — Não. Como é que é, conta pra mim? — virando-se para o outro, cheio de curiosidade. O sol do meio-dia enlanguescia a sombra do abacateiro e nem chegava a ressecar o chão, ainda úmido. Pelo ar corria o crem-crem cadenciado, mas não haviam vestígios ainda de uma queimada longínqua que fosse. — Ter rei na barriga, continuou o outro, é pensar que é o can-can da vila, sabe, né? É pensar assim sem ligar pros outros. — É nós é isso que cê falou? — Meu pai que falou. O menino tornou a encostar-se na cerca. Seus olhos acompanharam uma abelha, revolutearam com alguns urubus lá em cima, na reta dos aviões, e depois baixaram para o cordão dos sapatos. Um graveto estalou em suas mãos. De repente virou-se e encarou o outro, perguntando sério: — Cê quer ser meu amigo? — Ué! Mas eu não sou seu amigo? — Não, mas não amigo assim de vizinho. Amigo assim de verdade, pra ajudar a gente, ficar perto da gente, amigo de verdade mesmo, ara! — Por quê? — Porque... Ué! Porque sim! — soube somente responder. Para que, realmente, queria um amigo? — Cê que sabe, né. — Mas tem de que ser amigo de verdade. — Ah, mas não vai dar certo. — Por que? — Porque cê não sai pra brincar com a gente... — Mas amigo não é só pra brincar. — Então pra quê? — Pra quê? Ué, pra que sim. — (para que realmente queria um amigo?) — Mas amigo só de nome... — Não, não é só de nome. Amigo pra ficar junto com a gente, conversar com a gente... — Como, ué? Cê não sai da barra da saia da sua mãe. Parece mariquinha... — Não é verdade, viu? — interrompeu. Na sua mão pesava uma pedra. Para quê? — Não? — Não, se eu sair ela me bate. — Não falei? Sua mãe é enjoada, não quer ver ocê brincando que nem a gente. — Não é verdade, viu? Recostou-se de novo, amuado, à cerca. A inutilidade da pedra em sua mão o exasperou. Com raiva, arremessou-a em direção a um frangote que passava por perto e que, com acrobacias e pulos, safou-se do perigo. O outro riu e comentou: — Que pontaria ruim que cê tem. —... — Ficou brabo? —... — Se ocê quiser eu fico seu amigo. — Verdade? — virou-se sôfrego. — Verdade. — Quer morrer sequinho? — Quero. — Quer encontrar sua mãe morta atrás da porta? — Quero. — Então cê me dá uma porção de pelotas? — Pra quê? Cê não vai tacar mesmo, ué! — Pra que sim! Para que, realmente, as queria? Pelo secreto prazer... — Quantas cê quer? — Três. Não, três não. Quero quatro. — Só quatro? — É, só quatro. — Dou. — Cadê? — Cê me espera aqui que eu vou pegar. — Das bem redondinhas — gritou. Lesto o outro garoto correu e pronto voltou. — Pronto, toma! O menino olhou fascinado as pelotas. (Para que?) Levantou-se, correu para casa, entrou como um pé-de-vento, apanhou um automovinho de lata, carro de polícia com somente as duas rodas da frente, e voltou, entregando-o ao outro que o recebeu receoso e fascinado. — Pra quê?!!! — Pra que sim, ué. Cé é meu amigo, né? Cé gosta de máquina de rami? — Cé louco, eu não! — Por quê? — Porque ela cortou o braço do meu tio. Deixou ele pitoco. — Puxa vida! Doeu? — Ele gritou, né. Chegou a mijar nas calças. Aquela sangueira... — Cê viu? — Eu tava levando a marmita pro pai. Quando eu tava chegando eu vi... — Coitado! — Coitado nada. Foi até bom. — Por quê?! — Porque ele recebeu bastante dinheiro, comprou chapéu, óculos raibam e um radinho de pilha. — É? — É. — Que ele faz agora? — Não sei. Sumiu. Não vejo mais ele em casa. — Seu pai também trabalha lá? — Trabalha. — E não tem medo? — Acho que não. Ele nunca falou nada. — Cê gosta de fumaça de queimada? — Que?!!! — É, fumaça de queimada, pôr-de-sol sangrento, noite de estrelas, mês de agosto... — Eu não. Mês de agosto é mês de cachorro louco. — Não é! — É. — Não é! — É. — Cê é bobo. — Cê é biruta. — Cê que é. — Biruta e mariquinha! — Cê... — Rabo de saia! — Bobo! — Vá tomar no cu! Mudo de espanto, patético, o menino vacilou antes de levantar a mão, devolver com força as quatros pelotas e receber na testa o carrinho de lata. Naquele dia não houve pôr-de-sol sangrento, queimada, nem estrelas. Houve, sim, briga de vizinhos, palavrões, choro de criança, mertiolate, esparadrapo e cama mais cedo, sem janta, confidências ao travesseiro, velho amigo mudo e, principalmente, muitas lágrimas de dor, mas lágrimas que traduziam alguma coisa quebrada lá no fundo do peito, como se uma fila de pique-salvo fosse libertada e se desconjuntasse toda, a escorrer por todos os lados com algazarras e correrias. V Desse dia em diante, ensimesmou-se, acabrunhou-se de tal modo que o pai prometeu levá-lo ao médico. A ameaça das injeções vieram dar-lhe um pouco de ânimo, forçando-o a sair daquela casca de lassidão. Talvez uma vizinha, ou mesmo uma das costureiras parceiras da mãe no jogo houvesse aconselhado. Não soube como, mas, de repente, a mãe autorizou-o a dar algumas voltas pela redondeza e brincar com as crianças. Mas que não sujasse a roupa, viu? Na primeira escapada, reatando a amizade com o vizinho, acompanhou-o levar comida ao pai, no ramizal. A ida foi um deslumbramento pelas promessas que trazia. Depois, sentado à sombra dos varais de fibra que secava ao sol, começou a achar por demais grotesca aquela faina, bruta, amedrontadora. A cada vez que um feixe de rami sumia máquina adentro, engolida por um urro que nada tinha de musical, um arrepio de medo passava-lhe amolecimento pelo corpo todo. Era terrível participar daquele perigo constante. Pouco a pouco o menino começou a não gostar da máquina; pouco a pouco foi deixando de ouvir a música cadenciada para perceber um aviso de perigo a cada urro. De longe pareciam tão bonitas, coloridas, limpas, comandadas por motores que roncavam mais bonito que os dos carros grandes. De perto, porém, eram negras, enferrujadas, nojentas, movidas por motores e correias que mais pareciam armadilhas. Cruz credo! Na ida ao ramizal sujou a roupa. Castigo! À noite, no travesseiro, procurou descobrir onde e como havia se enganado. O que havia acontecido com ele? O que mudava dentro dele? VI Uma noite acordou com um estranho movimento na rua. Pela janela notou um pôr-de-sol sangrento no céu, apesar de madrugada. Saindo à janela, viu pessoas que corriam rua abaixo, vindas de toda parte, rumo a algumas casas da sua, onde o fogo consumia o velho armazém do seu Nicolau. Correu para a porta da saída, mas encontrou o pai e a mãe que ordenaram cama de novo e que ficasse quieto até que voltassem. Aquilo não era para crianças. Mesmo assim, tão logo os pais saíram, pulou a janela e correu misturar-se à multidão. O espetáculo era belíssimo. As chamas já haviam dominado o interior da casa e se infiltravam pelas frestas, pedindo saída. Toda a construção era um imenso lampião, clareando o céu com um vermelho-sangue. Emocionado, o menino batia palmas e pulava de contentamento. Quando o teto ruiu e o fogo alcançou algumas latas de querosene que explodiram em línguas de fogo que buscavam as estrelas, todos correram, menos ele. Parado ali, ardendo pelo calor do fogo, queria participar de tudo, não perder nada. Quando, porém, um puxão de orelhas o levantou do chão e uma vara de santa-bárbara assobiou nos ares, esperneou como um desesperado. Arrastado para casa, ouvia, de passagem, pedaços de conversas: — Foi curto-circuito e... — ...uma vela acesa... — Com querosene é um perigo... — ...e toda aquele foguetório vai... Com o corpo ardendo e uma revolta formigando pelo corpo todo, não conseguia ficar quieto na cama. Toda aquela movimentação, aquela festa, e ele ali, preso, sem poder admirar o pôr-de-sol sangrento, o mais belo que já tinha visto. Os pais à janela, não permitiriam que saísse. Na parede, os olhos acusadores de Santa Luzia, iluminados pelo clarão avermelhado que penetravam no quarto, condenavam-no por algo que desconhecia. A sensação de que tudo era falso prostrou-o desanimado sobre o inútil travesseiro. Agosto, amigos, crem-crem, queimadas, sol, tudo, tudo era falso, um sonho absurdo, uma busca sem fim. Estava condenado eternamente a vagar de agosto em agosto, sonhador idealista, sem amigos de verdade, a procurar utopias, com desejos de transformar o mundo e uma lassidão permanente nos músculos a impedir e dificultar tudo. A contemplação não era válida: levava a conclusões. Era só firmar os olhos e tudo que lhe parecia belo transformava-se em coisas perigosas, feias, amedrontadoras ou impossíveis. Onde achar o sonho perfeito? E realizável? Onde buscar a perfeição para os amigos e para os desejos íntimos e corriqueiros? E o olhar de Santa Luzia a acusá-lo à eterna insatisfação. Sol, chuva, fogo, agosto, tudo, enfim, ruiu de repente, sem razão, inútil. Nada mais o atraia, condenado que estava a buscar o inatingível, a sonhar o impossível. Agosto era pleno de esperanças finadas. O mundo era mau; “ele” nunca chegaria. A sensação de que toda aquela espera ansiosa era besteira transformou-se numa certeza que machucou-o de tanta dor. Tudo que fosse... Que fosse... tomar no cu! Com o cuidado de quem espreita passarinho, sacou o estilingue de sob o colchão, armou-o com uma das bolinhas de vidro, apontou para os olhos acusadores e cruéis de Santa Luzia e abateu seu primeiro pássaro.
Download