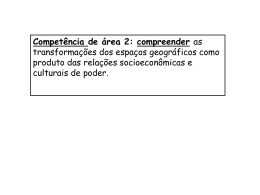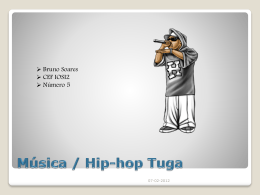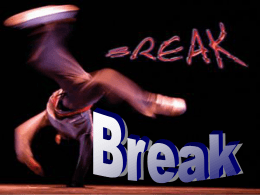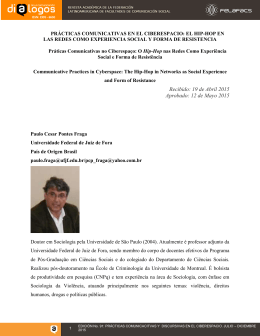2 Traficando conhecimento Jéssica Balbino Programa Petrobras Cultural Apoio Copyright © 2010 Jessica Balbino COLEÇÃO TRAMAS URBANAS (LITERATURA DA PERIFERIA BRASIL) organização HELOISA BUARQUE DE HOLLANDA consultoria ECIO SALLES produção editorial CAMILLA SAVOIA projeto gráfico CUBICULO No entanto, nas últimas décadas, uma série de trabalhos vem mostrar que não se trata apenas de artistas procurando inserção cultural, mas de fenômenos orgânicos, profundamente conectados com experiências sociais específicas. Não raro, boa parte dessas histórias assume contornos biográficos de um sujeito ou de um grupo mobilizados em torno da sua periferia, das suas condições socioeconômicas e da afirmação cultural de suas comunidades. TRAFICANDO CONHECIMENTO produtor gráfico SIDNEI BALBINO designer assistente DANIEL FROTA revisão CAMILLA SAVOIA LETÍCIA BARROSO revisão tipográfica CAMILLA SAVOIA B145t Balbino, Jéssica Traficando conhecimento / Jéssica Balbino. - Rio de Janeiro : Aeroplano, 2010. il. - (Tramas urbanas) ISBN 978-85-7820-041-1 1. Balbino, Jéssica. 2. Projeto Cultura Marginal. 3. Hip-hop (Cultura popular) - Poços de Caldas, MG. 4. Rap (Música) - Aspectos sociais. 5. Música e juventude - Aspectos socias - Poços de Caldas, MG. 6. Movimento da juventude - Poços de Caldas, MG. 7. Movimentos sociais Poços de Caldas, MG. 8. Jornalismo. I. Programa Petrobras Cultural. II. Título. III. Série. 10-1574. CDD: 305.2350981512 CDU: 316.346.32-053.6(815.12) 12.04.10 20.04.10 A ideia de falar sobre cultura da periferia quase sempre esteve associada ao trabalho de avalizar, qualificar ou autorizar a produção cultural dos artistas que se encontram na periferia por critérios sociais, econômicos e culturais. Faz parte da percepção de que a cultura da periferia sempre existiu, mas não tinha oportunidade de ter sua voz. 018538 Essas mesmas periferias têm gerado soluções originais, criativas, sustentáveis e autônomas, como são exemplos a Cooperifa, o Tecnobrega, o Viva Favela e outros tantos casos que estão entre os títulos da primeira fase desta coleção. Viabilizado por meio do patrocínio da Petrobras, a continuidade do projeto Tramas Urbanas trata de procurar não apenas dar voz à periferia, mas investigar nessas experiências novas formas de responder a questões culturais, sociais e políticas emergentes. Afinal, como diz a curadora do projeto, “mais do que a internet, a periferia é a grande novidade do século XXI”. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS AEROPLANO EDITORA E CONSULTORIA LTDA AV. ATAULFO DE PAIVA, 658 / SALA 401 LEBLON – RIO DE JANEIRO – RJ CEP: 22.440-030 TEL: 21 2529-6974 TELEFAX: 21 2239-7399 [email protected] www.aeroplanoeditora.com.br Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A. Na virada do século XX para o XXI, a nova cultura da periferia se impõe como um dos movimentos culturais de ponta no país, com feição própria, uma indisfarçável dicção proativa e, claro, projeto de transformação social. Esses são apenas alguns dos traços inovadores nas práticas que atualmente se desdobram no panorama da cultura popular brasileira, uma das vertentes mais fortes de nossa tradição cultural. Ainda que a produção cultural das periferias comece hoje a ser reconhecida como uma das tendências criativas mais importantes e, mesmo, politicamente inaugural, sua história ainda está para ser contada. É neste sentido que a coleção Tramas Urbanas tem como objetivo maior dar a vez e a voz aos protagonistas desse novo capítulo da memória cultural brasileira. Tramas Urbanas é uma resposta editorial, política e afetiva ao direito da periferia de contar sua própria história. Heloisa Buarque de Hollanda Dedicado a você. A Deus, minha fé eterna. Para Meus pais, pelos pequenos gestos e grandes demonstrações diárias de carinho e afeto. Minha irmã e minhas sobrinhas. Toda a equipe da redação do Jornal Mantiqueira e Mais Poços. Os garotos do portal Central Hip-Hop/Bocada-Forte. Agradecimentos Heloisa Buarque de Hollanda, por acreditar que o projeto poderia virar livro. Camilla Savoia, pela paciência durante o processo de revisão e editoração. “Quando vi a estrada pela primeira vez nem sequer sabia o quanto ia ter que caminhar pra chegar até aqui, e mal sabia que esse tipo de estrada não tem fim, só paradas breves para que o coração possa registrar os momentos. A vida não para, nem aqui, nem hoje e talvez, nem nunca. Quem sabe o futuro? Ninguém vence enquanto a luta não acaba (...)” Sérgio Vaz Anita Motta (in memorian), Ademiro Alves (Sacolinha), Alessandro Buzo, China Trindad, Coletivo Hip-Hop Mulher, CUB, Dina Di (in memorian), DJ Cortecertu, DJ Mancha, DJ TR, Eduardo Herrera, Elemento.S, Ferréz, Guilherme Bryan, Juliana Martins, Kaká Soul, Leopac, Lu Afri, Mary do Rap, Michel da Silva, Renan Inquérito, Renato Vital, Rúbia Fraga, UClanos, Sérgio Vaz, Tubarão DuLixo, Wakka Alves, Zulu King Nino Brown e a todas as pessoas que colaboram para a viabilização de projetos como este. Um salve especial aos fotógrafos Luciano Santos, Márcio Pinto e Marcos Corrêa, pela paciência de sempre. Citação do caminho certo Do povo para o povo: “Hip-Hop – A Cultura Marginal” 170 Cap.04 No ar: o hip-hop Agora sim, profissão repórter! Salvando vidas Blog Ciranda O hip-hop não foi inventado Oficinas Uma letra, um beat Sacolinha, vídeo-documentário e TCCs Mixando Pelas periferias do Brasil Do lado de dentro da periferia Plano B Cultura Marginal 256 Cap.05 Em foco 3... 2... 1 gravando! Caixinhas poéticas Às margens da sociedade Pela vida O que você está lendo? 362 Cap.06 Estatística Literatura, pedras e sementes Do verbo produzir Sem parada Beatz Passa Livros Palavra cruzada: literatura e conhecimento Rap educativo Fronteiras quebradas Profissão: transmissora de conhecimento Palestrando: parte II Repercussom Querem nosso sangue Em dia com a leitura 496 Imagens: índice e créditos 503 Sobre a autora Sumário 13 Prefácio 14 Introdução 16 Cap.01 Periferia adentro: o hip-hop O início Trajetória Os interesses Tempo para leitura Escola da vida Campo de batalhas Uai, hip-hop Os tios do hip-hop Passo sincopado em direção ao futuro Cotidiano Marcando vidas “Crime desorganizado” 72 Cap.02 Passos pela vida Um zine diferente Rap de dentro Jornalismo no zine Tempo de mudanças Patrimônio cultural e histórico Monitorando a infância e o futuro Do desemprego ao mais perfeito possível Entre livros Despejo no quarto 114 Cap.03 Concepção Caldeirão de ideias O despertar Traficando informação Preparando o terreno Hip-hopeando Um grito de emergência 13 Prefácio Não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar, e luta é para uma vida inteira. E a maior prova disso é a história da guerreira Jéssica Balbino. Ela é daquelas pessoas que nascem com tudo para dar errado, mas por uma força estranha — que só as pessoas que não se entregam sabem que têm, ela está vencendo. E insistentemente, quer através das suas oficinas de literatura na periferia ou por intermédio de suas matérias, ela faz questão que outras pessoas que vieram do mesmo destino e lugar que ela, também vençam. E para que isso aconteça, ela não descansa sua caneta, e sua atitude vai muito mais além do que palavras despencadas no papel. Sua letra é forte sem ser arrogante, ela não bate, mas revida, a doçura fica por conta de quem lê. Ela não teve tempo pra isso. Aqui a verdade prevalece, por isso acho que deve ter doído escrever esse livro, talvez doa quando você ler, e como todos sabem viver dói, e de onde ela vem, dói mais ainda. Num dos primeiros parágrafos do livro, ela diz “O hip-hop salvou a minha vida”, e é isso que você vai encontrar nesse livro: uma sobrevivente. Só que com os punhos cerrados, e um enorme sorriso no rosto. As ruas agradecem. Sérgio Vaz Poeta da Cooperifa 15 Introdução O interesse pela arte e pela cultura plantados na infância e na juventude produzem as árvores de um futuro sem massacres cotidianos. Nem sempre o tesouro está nos grandes centros urbanos. Pode ser encontrado um pouco mais longe, em pequenas trouxas de conhecimento e em grandes invólucros contendo uma substância de aparência cultural. Nas bocas do conhecimento é que o tráfico da periferia precisa se fundamentar. É logo ali, onde termina a linha do trem e começa a cultura marginal. Prazer, conhecimento! Da mesma maneira que salvou a minha vida, eu penso que o hip-hop, o conhecimento e a literatura podem ser ferramentas de resgate dentro das periferias. Como uma sociedade que quer evoluir dá as costas para a periferia? Para alcançar propósitos é preciso incluir os que são esquecidos. O livro desvela a periferia de Poços de Caldas sem medo de expor as chagas de uma gente subtraída. Propõe um olhar livre de preconceitos para a periferia. Imagine as pessoas cantando as letras mixadas em forma de protesto sem julgá-las antes mesmo de ouvir. As balas de borracha não vão parar a produção cultural dos guetos. Os quilombos modernos são grandes centros culturais. Não existe mais utopia na periferia e sim gente que sonha com as mãos e faz acontecer. Os salários-misérias ainda são os mesmos, mas a cidadania exercida por meio do conhecimento e da literatura são novos. 14 Jéssica Balbino Traficante de conhecimento Cap.01 Periferia adentro: o hip-hop Cap.01 Periferia adentro: o hip-hop O início “O hip-hop salvou a minha vida...”. É assim que começo a falar da minha vida durante as minhas palestras e oficinas sobre cultura marginal, mas, antes de contar esta história, é preciso voltar no tempo e lembrar como tudo começou. Sinônimo de voz, de atividade e de exteriorização de um submundo. Assim é a literatura produzida na periferia e acompanhada por projetos culturais que invadem as casas sem reboco, arrebanha os jovens sem perspectivas e tira as quebradas do limbo cultural. Este é o projeto Cultura Marginal, que começou naturalmente e sem que eu mesma percebesse, já existia fazendo barulho e ecoando dos lugares mais distantes um grito ensurdecedor de produção literária. Veio para fugir do jargão periférico de tráfico, opressão e sofrimento, presentes em qualquer periferia brasileira e daí a expressão de Gog: “periferia é periferia em qualquer lugar”. No entanto, é impossível contar a história deste movimento na periferia de Poços de Caldas sem, antes, contar sobre a minha indignação diante do descaso e a minha necessidade de expressão. 18 Periferia adentro: o hip-hop Trajetória 21 Aos três anos, aprendi a escrever meu nome e de meus familiares, em aulas intensivas nos dias de muito frio e chuva, quando minha mãe, que cursou apenas até o 4° ano primário e sempre trabalhou de forma assalariada, me ensinava. Para fugir das únicas referências culturais do bairro: a novela das 20h da Globo e o programa do Sílvio Santos, ficava com livros e papéis espalhados sobre a mesa, cena que ainda não mudou no meu cotidiano. Inverno de 1985. Época em que o frio na cidade de Poços de Caldas era constante e a temperatura sempre inferior a 0° C. Neste mesmo período, o Brasil era governado por José Sarney após a morte de Tancredo Neves e o fim da ditadura militar. Na periférica zona sul da cidade, sem asfalto, saneamento básico adequado, posto de saúde ou escolas eu nasci e cresci. Considerada a cidade com o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado e, segundo esta mesma pesquisa, o 4° melhor município para se viver no ranking nacional, Poços mascarava, como faz até hoje, o sofrimento das quebradas. Mascara-se a existência de favelas e treme-se ao ouvir dizer periferia. Não pode ter. Mas tem, e ela apresenta todos os problemas e encantos de qualquer outra. Entre brincadeiras nas ruas e terrenos baldios do bairro mais distante do centro da cidade — o Jardim Kennedy — cresci na linha entre a total falta de infraestrutura e a vontade real de mudar esta realidade. Além das típicas brincadeiras como pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, elefante colorido e passa-anel, desenvolvi, muito antes de saber juntar as letras e formar palavras, o gosto por folhear livros, gibis e revistas, fingindo ler. 20 Como em qualquer periferia, as opções para diversão são nulas. A ausência de praças, centros culturais, atividades que envolvam crianças e jovens se transformava em criatividade enquanto as ruas ainda não eram tão movimentadas, e permitiam que, para o sossego das mães, ficássemos brincando em grupos. Quando alguém ganhava uma bicicleta, um par de patins ou construía um carrinho de rolimã, as brincadeiras poderiam ser variadas. Para os adultos, entre as casas, muito próximas fisicamente, as janelas e portas estão sempre abertas aos vizinhos, que, como forma de lazer e contato com o mundo, estão sempre um dentro da casa de outro, formando uma grande família, à margem da sociedade, dita, elite. O alfabeto e as primeiras operações matemáticas foram aprendidas em um prédio velho, em uma rua de terra, cheio de goteiras. Mas era divertido ir à aula nos dias chuvosos, tínhamos arrastar carteiras e nos sentarmos em outro ambiente, o que sempre representava quebra de rotina. Biblioteca, asfalto, posto de saúde, linhas de ônibus, iluminação pública e saneamento básico eram secundários na região, afinal, as casas populares do bairro ao lado já haviam sido entregues. Justamente nesta época, aprendi a ler, no pré-primário e, de presente dos meus 22 Traficando conhecimento pais, ganhei um livro que havido sido deles: “Simbad, o marujo”. Encantei-me pela história que se passava do outro lado do mundo. A quantidade de papéis sobre a mesa aumentou. Também ganhei, nessa época, minha primeira Bíblia e arriscava pequenas leituras, acompanhando as ilustrações. Devia ter uns sete anos quando comecei a produzir os primeiros textos, que, hoje, se perderam em limpezas de armário e vontade de mudança. Vim de uma família simples, entretanto, nunca faltou o pão e a literatura. Os livros sempre foram parte da decoração e da rotina. Muito cedo percebi que a literatura mudava minha forma de visão e entendimento de mundo. Sempre que me sugeriam um presente, pedia um livro e a rotina continua a mesma, até hoje, no bairro. Brincadeiras na rua, falta de infraestrutura básica para as famílias e a obrigatoriedade em mudar de escola. Por ainda não termos idade suficiente para cursar o primário na escola do bairro, eu e alguns outros companheiros do pré-primário fomos obrigados a fazer uma prova na superintendência de ensino, que nos garantiria uma vaga em uma escola do Estado. Passamos e fomos encaminhados. Ficava há uns 12 quilômetros de distância e fazer o caminho era sempre um transtorno. Carro, vans, ônibus e longas caminhadas a pé. Assim foi resumido meu primeiro ano. Mais tempo entre o trajeto do que dentro da escola e pouco tempo para brincar, ou mesmo ler. Foi o tempo em que as responsabilidades, embora ainda pequenas, começaram a surgir, tomando o lugar das farras nas ruas. Periferia adentro: o hip-hop 23 Periferia adentro: o hip-hop Os interesses 25 mortos para sobreviver durante o tempo em que estiveram nos destroços do avião, aguardando um, quase impossível, resgate. Não parei mais. Entre livros de adulto e de criança, pouco tempo mais tarde, abri uma ficha na biblioteca da cidade e comecei a ler sobre tudo. É difícil saber quantos livros li na época, mas uma coisa nítida na lembrança é que tinha dois interesses profissionais: escrever e me tornar jornalista. Estudar fora do bairro sempre foi um problema pelo conflito de realidades. Alguns vinham de regiões mais nobres e, desde cedo, aprendi como é ser diminuída só porque moro em determinada região. Minha vida, aos sete anos e meio se resumia em acordar, me arrumar, ir para a escola, voltar, fazer as lições, tomar banho, comer e dormir. Devido ao longo trajeto, o tempo para as diversões ficou apenas para os finais de semana, quando alguns colegas iam para minha casa e ficávamos na rua, como sempre, brincando. Quando isso não acontecia, por ter crescido sozinha – sem irmãos na mesma casa —, o tempo livre era para fugir do ócio da televisão e acontecia com a leitura dos clássicos infantis da série Vaga-Lume, os volumes de Pedro Bandeira e os infanto-juvenis com histórias de Sherlock Holmes, todos pegos na biblioteca da escola. Aos nove anos eu já havia lido quase todos da sessão infantil e, durante uma das greves do colégio — entre as inúmeras que aconteceram —, sem nada para fazer em casa, peguei o exemplar do meu pai de “Os Sobreviventes – A tragédia dos Andes” e, em três dias, li toda a história dos jogadores de futebol que caíram de avião na cordilheira e foram obrigados a comer pedaços dos 24 Dividida entre a escola e o pouco tempo de lazer, o cenário era sempre o mesmo: professores mal remunerados e com pouca vontade de transmitir conhecimento, alunos agressivos que vandalizavam o pouco do espaço público que tínhamos para estudar, um longo caminho de ida e volta para casa, que em 1996, quando eu estava no 5° ano do Ensino Fundamental, ficou ainda mais longe, com a mudança do prédio da escola, que saiu do centro da cidade para a Zona Leste. Eu continuava morando na Zona Sul com a ânsia de fazer algo mais do que simplesmente estudar. Periferia adentro: o hip-hop Tempo para leitura Foi justamente nessa época que descobri um problema crônico nos dois pés — a existência de um osso a mais que me levava a uma dor insuportável e me impedia de caminhar mais do que um quarteirão sem chorar por não conseguir prosseguir — que me obrigou a ficar vários dias afastada da escola e a viajar vinte vezes, no mesmo ano, cerca de 180 quilômetros até a cidade de Campinas (SP) para fazer uma cirurgia que removeria estes ossos. Aos 11 anos, no trajeto e nas longas horas de espera, o tempo era preenchido com livros, gibis (uma grande paixão desde que aprendi a ler) e escrita aleatória em folhas de caderno, que, tristemente, se perderam em uma das limpezas de quarto, assim como os primeiros textos da infância. A falta de um local adequado para tratamentos desse tipo em Poços de Calda me obrigava a ir para Campinas. Creio ter lido uns 50 livros naquele ano. Na época passei a me interessar por algo mais adulto, e conheci o universo de escritor que mais tarde se tornaria minha referência em estrutura textual, Marcelo Rubens Paiva, nos textos de “Feliz Ano Velho” e “Blecaute”. Li também um pouco de Shakespeare, nos clássicos adaptados para infanto-juvenil como “Otelo”. Apaixonei-me pelo texto de “Sonho de uma noite de verão”. 26 27 Parti, também, para leituras de infanto-juvenis como “Confissões de Adolescente” e “Ensaio de um beijo”, além de clássicos como “Iracema”, “O Guarani”, “Lucíola” e “O Cortiço”. No fim do ano, fiquei com os pés recuperados e a mente renovada, cheia de ideias. Periferia adentro: o hip-hop 29 Escola da vida A falta de informações era tremenda, mas conseguimos eleger uma chapa e criamos um pequeno grêmio, para o qual fui nomeada assessora de imprensa. Achei lindo o nome, afinal, tinha a palavra imprensa e eu poderia considerar um trabalho jornalístico. Longe de qualquer conhecimento sobre o que realmente era a profissão, acho que não me saí tão mal, afinal, eu sempre divulgava nossas ações em panfletos e fazia barulho junto com os demais alunos, além de ter documentado boa parte das nossas pequenas ações dentro do colégio. Ao voltar para a escola, dividi com professores e colegas de classe meu desejo de escrever e me tornar jornalista. Fui ridicularizada. Pobre não pode ter esse tipo de profissão, me diziam. Conseguimos poucos resultados, afinal, em uma escola onde o único objetivo pregado pela direção e pelos educadores é a conquista de um diploma, não importando como, os alunos não davam muito importância ao grêmio. Por que meu desejo, assim como o das demais garotas da minha classe não era terminar o 2° grau, arrumar um marido e ter filhos? Leitura. Muita leitura. Entre todas estas atividades, minha vida continuava marcada por muitos livros e textos. A aquisição de um computador e o acesso à internet, naquela época, ainda eram coisas raras e, com muito sacrifício dos meus pais, conseguimos isso. No universo gigante que a internet mostrava, comecei a pesquisar novos textos e, diante do computador, escrevi minhas primeiras linhas, desconexas, mas que, mesmo assim, achava que formavam literatura. Mas não importa. Foi o primeiro passo. Não, não era. Não naquele momento. Eu queria aprender coisas novas a cada dia. Queria estudar. Queria escrever. Não poderia falar mais sobre isso em sala de aula e demorei para perceber, pois, todos os dias, repetia o mesmo sonho para toda a classe. Queria ser jornalista. Gostava de escrever. Continuei lendo e juntando os trocados da mesada que meu pai me dava, com base no salário de aposentado do ramo da metalurgia, para comprar alguns livros que me chamavam atenção. Pouco tempo mais tarde, por ter sempre estudado na mesma escola e militar em causas para o bem-estar dos alunos, um grupo de alunos me convidou para montarmos um grêmio estudantil. Inspirados pela participação dos meus pais no colegiado, que sempre tentaram melhorar o ambiente estudantil, consolidamos nossa ideia inicial. 28 Periferia adentro: o hip-hop Campo de batalhas 31 conseguiam conter. Várias vezes a polícia teve de intervir e alguns alunos foram conduzidos à delegacia. Foi então que uma viatura passou a fazer parte da paisagem estudantil dos quase dois mil estudantes daquele colégio. Para evitar as brigas frequentes, os policiais circulavam pelo pátio e arredores. Nem isso impediu que, sem qualquer motivo, um aluno da minha sala fosse espancado até quase a morte enquanto saía da escola apenas porque esbarrou em outro. A educação cedeu, facilmente, o lugar para a violência incontida. Falta de informação, de atividades, de lazer conduzindo a um resultado comum e aterrador: violência dentro da escola. Foi por volta de 1999 que as gangues surgiram, dentro das escolas, com mais impacto. Grupos da Zona Sul, onde vivo, rivalizavam com grupos da Zona Leste, onde a escola estava situada, e as disputas por espaço e poder dentro da instituição eram cada vez mais constantes. Um estrondo forte, de tremer todo o prédio trouxe a notícia de que uma bomba caseira, fabricada por um aluno, fora colocada em um dos banheiros. As ofertas de drogas fáceis na porta do colégio também eram uma realidade. Apesar da presença policial, da Guarda Municipal, dos professores e diretores, o tráfico não deixava de acontecer, à luz do dia, e atingir todos os alunos. Graças a Deus, eu tinha outros sonhos e ideais. Nunca me chamou atenção ficar “louca” por conta de alguma substância. Preferia viajar pelos livros. O grêmio se desfez pelas ameaças e ridicularizações das gangues, que traziam personagens reais dos filmes de terror, colocando medo em todos os demais alunos que ousassem desobedecer às regras estabelecidas por eles. O motivo? A imagem que a forma arquitetônica do prédio transmitia a alguns alunos, que passaram a chamá-la de pavilhão 9, talvez pela semelhança física e pela existência de uma grade que separava as salas de aula do pátio e do portão de saída. Era triste observar e não poder mais lutar pelos direitos dos alunos. Quase todos os jovens, com problemas em casa e também na escola, não tinham mais sequer o direito à merenda que era distribuída nos intervalos e garantia a única refeição diária de muitos deles. A inexistência de disciplina fomentou, cada dia mais, as brigas entre os grupos e gangues, fazendo com que um espaço onde a educação deveria acontecer se transformasse em um campo de batalhas. Num tempo em que a única referência em educação é um campo minado de batalhas entre grupos rivais, apenas por diferenças geográficas, o desenho de profissionalização e curso superior passa longe dos sonhos das periferias. Nesta mesma época, brigas eram formadas durante o intervalo entre as aulas e nem mesmo os professores A porta da escola, mesmo com a presença policial, foi transformada em ponto de tráfico pelos moradores do 30 34 Traficando conhecimento morro vizinho. Os que tinham mais de 16 anos, e uma família um pouco mais ordeira e trabalhadora, abandonavam os estudos ou migravam para o período noturno e passavam a trabalhar, quando conseguiam um primeiro emprego com carteira registrada. Outros deixavam de lado os estudos e partiam para atividades informais como serventes de pedreiros, babás e diaristas. Foi também neste período, que, não pela falta de informação, constante em atividades do governo e palestras, mas pela falta de oportunidades e de ousadia por uma vida diferente, muitas garotas da minha classe e de toda escola, todas com idades entre 12 e 16 anos, ficaram grávidas. Sem estrutura em casa, com pais e mães separados ou já falecidos e namorados, quase sempre, ligados à atividades ilícitas, elas ostentavam as barrigas e carregavam no ventre não apenas os bebês, mas o sonho de uma vida diferente, com casa própria, marido e carro do ano. Todas elas, também, deixaram os estudos e as que tiveram mais sorte foram viver com os companheiros. A maioria continuou vivendo na mesma casa e, hoje, cria os filhos sozinhos, sem reconhecimento ou apoio paterno. Meu sonho de ser jornalista continuava e muito deste retrato cotidiano, formado pelos acontecimentos da escola, se transformaram em crônicas na própria escola, durante as aulas de português, geografia e literatura. Estava escrevendo a nossa própria história e caminhando rumo ao meu sonho: ser jornalista. Desde cedo me incorporei à contracultura, à cultura negra, aos movimentos populares. Não sei de onde surgiu tamanha paixão e nem o porquê, mas o fascínio que ela exerce sobre mim é incrível. Naquela época já não me imaginava sem estes sonhos, sem estes engajamentos. Periferia adentro: o hip-hop 35 Acho que meus pais nunca entenderam esse gosto, esse desespero por conhecer mais dessas culturas populares. Com o tempo, passaram a aceitar e acompanhar, afinal, era melhor estar vivendo isso do que aliando aos problemas e às ofertas perigosas da periferia. Outro sonho, atuar nos palcos de teatro, já tinha ficado na infância, mas, mesmo assim, na ânsia de saber e aprender cada vez mais sobre tudo, me matriculei em um curso de teatro do Conservatório Municipal. Aprender a falar em público, articular melhor os movimentos corporais e perder a vergonha diante da plateia. Estas foram as matérias mais proveitosas do curso. Apresentei uma peça no fim do ano e, no ano seguinte, me dediquei à produção e à atuação em outra peça, sobre os problemas cotidianos de uma família tipicamente brasileira. Periferia adentro: o hip-hop Uai, hip-hop Era uma tarde qualquer de sexta-feira no ano de 2000 e a mesma cena, comum em todas as periferias do país, onde as casas não têm reboco, dependuradas nos morros e encostas. As vielas, sujas e abandonas, e o mau cheiro dos esgotos a céu aberto misturam-se com o mau cheiro da violência. Para contrastar, o hip-hop chegava naquela região, que é a mais pobre da cidade de Poços de Caldas, e propunha novos rumos à vida de tantos jovens do local. Em meio ao caos urbano dos que estão fora da escola, envolvidos com o tráfico e a violência generalizada, porém, a cena vista era totalmente inesperada e envolvente: um grupo de sete garotos dançava, numa roda formada por eles próprios, ao som das batidas do rap. A expressão em inglês hip-hop, na tradução literal, significa saltar movimentando os quadris. Tão diferente quanto possível desta analogia, a cultura propõe um sem-número de outras manifestações. Na ânsia de conhecer mais sobre o movimento, desisti de seguir até a biblioteca montada recentemente naquela região – cerca de 1,5 quilômetros de caminhada distante da minha casa – e entrei no poliesportivo. 36 37 Isso acontecia dentro do poliesportivo do bairro Conjunto Habitacional Pedro Afonso Junqueira (Cohab), que já estava caindo aos pedaços no final da década de 1990 e, então, passou a ser o abrigo da cultura nascida nas ruas do bairro. A novidade da dança praticada por jovens com roupas largas e uma música com batidas diferentes, trazia a esperança de um estilo singular de vida. Para o grupo de quatro garotas que passavam pelo local, até então, sem qualquer esperança de encontrar algo fora da rotina, a surpresa pela cena vista era, talvez, a possibilidade de um mundo mais colorido e ritmado naquela periferia. No dia seguinte, a mesma cena podia ser vista, no mesmo horário e a aproximação entre os grupos foi inevitável. Eu estava lá, entre outras três garotas, feliz por ver, de forma próxima, algo que então fazia parte da distante reprodução televisiva. Era a época em que os programas de TV, aqueles dos quais eu tentava fugir sempre, traziam um pouco da cultura importada dos Estados Unidos e mostravam como ela valorizava a periferia brasileira. Diante da magia exercida por aqueles passos sincopados e executados pelos garotos, senti que, de repente, era esta a oportunidade de levar aquilo para as escolas e substituir o cenário violento e sem perspectivas por uma dança colorida, uma música envolvente e a vontade de mudar a realidade. Na semana seguinte, o mesmo poliesportivo deu lugar a um evento batizado apenas como Hip-Hop que invadiu o espaço e trouxe grupos de cidades vizinhas, tão ligadas à cultura de rua que era fascinante observar tudo. Um casal de pouca idade circulava pelo local exibindo os cabelos em estilo black power e as roupas típicas dos adeptos do hip-hop daquela época. 38 Traficando conhecimento Com uma voz forte, a moça, que não teria mais que 18 anos, chamava a atenção de todos os presentes ao embalar-se no ritmo e na poesia da música feita pela cultura nascida nas ruas. Ao lado dela, o marido, dava sentido ao rap, relatando os fatos cotidianos do lugar e incrementando com um pouco do amor que sentia pela esposa. Nasceu então, acompanhando a paixão do casal e o amor dos garotos pela dança e pela cultura de rua, o meu envolvimento com o hip-hop. A magia do evento podia ser sentida diante da cena real vista por centenas de jovens reunidos com um único objetivo comum, descoberto depois, de promover paz, amor, diversão e união, como profetizou o criador da cultura Afrika Bambaataa, nos anos 1970, nos guetos novaiorquinos. Mais tarde, este mesmo casal ficaria conhecido como Os tios do hip-hop. Tentei encontrar alguma forma de contribuir com aquilo que deu um novo sentido a minha vida: a cultura hip-hop. Devagar, alguns garotos que moravam próximos a mim, começaram a levar os passos para a escola e, alheios ao que as gangues pregavam, passaram a disputar as diferenças através dos passos de break. Diariamente, comentava com duas das minhas amigas — Juliana e Karina — que me apresentaram, mesmo que involuntariamente, à arte do hip-hop, tão próxima da minha realidade, que mais de uma opção sempre existia nas nossas vidas e entre o tráfico, o sexo tão aflorado e as culturas populares, ficamos com a terceira opção. Rapidamente, os intervalos de aula sangrentos e cheios de medo foram substituídos pelo som que ecoava dos micro-systems e faziam dançar. Era hora de fazer alguma coisa. Periferia adentro: o hip-hop 39 Periferia adentro: o hip-hop Os tios do hip-hop Era o ano de 1991. Havia apenas um tape velho e uma fita K7 vindos de São Paulo com os primeiros rappers nacionais como: Thaíde e DJ Hum e Racionais MC´s. Esta fita chegou nas mãos de um jovem idealista e sonhador que tratou logo de espalhar o novo som para aquela periferia. Quando o assunto ou referência é hip-hop, rap ou cultura negra, eles são, automaticamente, lembrados e citados: “Eles já são titios do hip-hop aqui em Poços”. É o que dizem os adeptos da cultura na cidade, quando se referem a Suburbano, 30 anos, e a Lu Afri, 26 anos, os pioneiros do rap e consequentemente da cultura hip-hop na cidade. É injusto contar minha história sem citar a do grupo. Casados há dez anos, eles fazem rap há muito mais que isso. Suburbano conheceu o hip-hop aos 10 anos, através do rap, em fitas que vinham até ele por meio de amigos que faziam a ponte entre São Paulo e o sul de Minas Gerais. Desde muito novo ele se interessou por música e resolveu cantar rap. Lu Afri cantava em um grupo chamado Valor Moral e também dançava, quando um amigo em comum resolveu apresentá-los. “Eu esperava encontrar um negão, cantor de rap. Encontrei o Suburbano (risos)”, diz Lu, brincando, enquanto conta sobre como se conheceram. 40 41 O primeiro encontro significou flertes e, com o pretexto de cantarem juntos, iniciaram o namoro que, anos mais tarde, resultaria no casamento e na união das vozes em cima do palco. Com músicas sobre cotidiano, política, problemas sociais e amor, eles fazem questão de dizer que integram a nova escola do hip-hop, mas sempre inspirados pela old school, mesclando elementos e formando um grupo diferenciado. Para se manterem e sustentar o filho, Jeam, sete anos, o casal trabalha em tempo integral com as noites divididas entre ensaios, gravações e composições. Mas, para chegar nisso, dividiram muitas histórias recheadas de vitórias e dissabores. “Nós tentamos sempre correr pelo certo, e passar o que há de bom, formar uma juventude cabeça”, afirma Lu Afri, quando questionada sobre as propostas do grupo. Desta maneira, conquistaram a cabeça de Roberto Moreira, conhecido como Bebeto. Assim que entrava na adolescência, ele assistiu a um show do casal no poliesportivo da Zona Sul da cidade e se encantou. “Mexeu demais comigo o jeito que o Flávio fazia rap, rimava e a Lu também.” Tempos mais tarde ele foi convidado para integrar o clã de suburbanos, que dá origem ao nome UClanos. Em uma casa simples, de quatro cômodos, nos fundos da residência da mãe de Suburbano, eles recebem todos os amigos com muita simplicidade e hospitalidade. Quem tem o primeiro contato com o hip-hop na cidade logo procura o casal e num armário branco, meio que caindo os pedaços no canto da sala, encontram as informações que buscam sobre a cultura, desde o surgimento desta no Brasil até os dias atuais, passando por várias fases e vários artistas. 42 Traficando conhecimento Transmitindo muita paz e energia positiva, seguindo os princípios de paz, amor, diversão e união pregados por Afrika Bambaataa, o casal dispõe de um bom acervo e o disponibiliza para consulta. Assim que os conheci, também me diriji à casa deles e me encantei com o acervo bem organizado e montado em pastas. Não diferente da maioria das casas dos guetos, o casal mora em um canto simples, sem muito luxo ou conforto, em um bairro a dez quilômetros de distância do centro da cidade. Mas possui, na sala de estar, um moderno computador, junto da aparelhagem de som. Contrastando o luxo eletrônico à humildade carinhosa, eles se sentam para trocar ideias com quem quer que esteja em busca de informações sobre hip-hop. “Estamos sempre procurando nos informar, e tentar levar a cultura adiante, mudar alguma coisa na sociedade, tirar as crianças da rua, ensinar”, diz Suburbano, lembrando de um projeto que ele desenvolveu junto ao G do Gueto, um MC amigo do grupo, no qual participam em músicas juntos. Espelhados por King Nino Brown, eles têm a intenção de, um dia, disponibilizar o acervo de hip-hop em Poços de Caldas ao estilo Casa do Hip-Hop, em Diadema (SP). Além de MC, Suburbano se arrisca no graffiti já tendo exposto seus desenhos nos muros de duas escolas públicas do subúrbio onde mora. Sempre bem-humorado e disposto, o casal divide atenção entre o trabalho, os amigos e o pequeno Jeam. Suburbano trabalha como auxiliar em uma empreiteira e Lu Afri é tosadora em um pet-shop. No restante do dia, ela cuida da casa e deixa Jeam na escola, onde ele fica por todo o dia. Na maioria das vezes, para economizar dinheiro e ajudar no orçamento mensal, eles caminham quase 13 quilômetros para ensaiar com o grupo, na casa de Bebeto — que depois de inserido no grupo, se transformou em MB2 — do outro lado da cidade. Periferia adentro: o hip-hop 43 Entre tantos quilômetros percorridos quase todo final de semana, eles contam, aos risos, uma aventura que viveram uma vez, indo para a cidade de Lavras (MG), que fica mais ou menos 220 km de distância de Poços de Caldas. O casal e mais quatro amigos foram fazer uma apresentação em um evento de hip-hop e perderam a condução que os levaria. Foram pedindo carona pela estrada, durante a madrugada. Os seis amigos viajavam um pedaço de carona e andavam outro tanto a pé, pela beira da estrada, sem iluminação e sem conhecer o caminho. “Gastamos muita sola de sapato para fazer aquele show, mas temos histórias para contar”, diz Lu Afri, lembrando o ocorrido. “Nós não tínhamos dinheiro para pegar ônibus, nada. O Sidão, um amigo que estava conosco, conseguiu sacar tudo que ele tinha no banco e pegamos algumas conduções picadas até lá”, diverte-se Suburbano, aos risos, lembrando da história. Eles caminharam toda a madrugada e, quando chegaram ao local do show, estava amanhecendo. O único grupo que faltava era o UClanos, que, mesmo com toda correria, se apresentaram, recebendo muitos aplausos. Ao término do show, entretanto, como eles voltariam para Poços de Caldas novamente, sem dinheiro, sem carona, com fome e muito cansados? Fizeram amizade com alguns moradores da cidade que os hospedaram, e Lu Afri lembra, com saudade, do tempo que passou lá: “O Suburbano e eu estávamos em lua-de-mel e a dona da casa cedeu a cama dela para gente”, diz. Durante uma semana eles ficaram na casa dos amigos recémconquistados, tentando arrumar algum dinheiro para voltar. “O nosso amigo, o b.boy Dinho, arrumou até um relacionamento lá. Uma namorada que não queria deixálo ir embora”, conta Suburbano. Com o dinheiro emprestado pelos amigos, eles conseguiram voltar para Poços de 44 Traficando conhecimento Caldas uma semana depois, mas, quando chegaram, sentiram saudades da vida diferente que tiveram em Lavras. Hoje eles são orgulhosos por terem vivido histórias como essas, conhecido gente famosa. Eles são considerados os tios do hip-hop na região, e sempre são convidados para vários eventos em cidades vizinhas, em parceria com um grupo K2, uma banda da cidade que toca o estilo ska. Junto com o grupo, o casal sempre se esforça para mostrar o lado positivo da cultura e acreditam que o hiphop, pode sim, resgatar as pessoas. “Quando eu comecei, queria mostrar o que tinha dentro de mim, na minha cabeça, o que pensava. Queria mostrar para as pessoas que o hip-hop veio para não termos preconceito, para lutarmos pelo certo, fazermos nossa correria. Para os jovens trabalharem, estudarem. É isso que queremos dentro do hip-hop, ver os jovens, as crianças aprendendo coisas legais que o hip-hop proporciona”, diz Lu Afri, defendendo seu envolvimento com o hip-hop. Suburbano acredita na expansão das informações e atitudes positivas, e conta que eles sempre realizam eventos beneficentes de hip-hop, onde recolhem alimentos e doam para entidades carentes. Desta forma, pretendem dar um bom exemplo à sociedade, além de contribuir com os mais necessitados: “Sem o hip-hop isso não seria possível, ele veio para resgatar todo mundo. Esses quatro elementos vieram para tirar os jovens da rua, das drogas, do álcool, da prostituição, do crime. Veio para ocupar a cabeça das pessoas, para incentivar a prática do bem”, diz Lu Afri. Ainda na memória, eles trazem as lembranças dos primeiros eventos realizados na periferia, quando muitos quilos de alimentos eram arrecadados e distribuídos para creches e entidades da região. Mas, atualmente, Periferia adentro: o hip-hop 45 as atenções estão voltadas para os trabalhos com novas músicas e eles pretendem inovar o cenário interiorano, compondo um rap misturado com reggae, ambos ritmos com raízes afro. Entre aventuras e desventuras, o casal pretende levar, por muito tempo, a bandeira do hip-hop, e representar o sul de Minas. Suburbano tem projetos para criar um jornal sobre hip-hop, ao estilo dos “zines”, informativos e independentes, com distribuição gratuita e ilustrado com grafites feitos por ele mesmo. Cheios de sonhos, expectativas e disposição, os tios do hip-hop continuam trabalhando na divulgação do movimento enquanto cultura, e resgate, para o povo da periferia. 46 Traficando conhecimento Periferia adentro: o hip-hop 47 Periferia adentro: o hip-hop Passo sincopado em direção ao futuro Embalada pelo ritmo da poesia das letras de rap, que eram cantadas e dançadas no poliesportivo, eu já não passava um dia sequer sem ir ao poliesportivo e observar a explosão da cultura de rua. Contudo, longe de ter aptidão para cantar, dançar e, quem dirá, grafitar, me contentava em apenas acompanhar e pesquisar sobre o assunto. Comecei a ler tudo que encontrava sobre a cultura e a guardar o material em pastas. Porém, a vontade de integrar, fazer parte, e ajudar no fortalecimento da cultura era mais forte e junto à crew, que dançava break, e ao grupo de rap UClanos passei a fazer parte da organização dos eventos beneficentes que aconteciam regularmente na comunidade. Fiquei com a parte da divulgação e cobrança dos ingressos, que não era mais do que 1 kg de alimento, sempre destinado à entidades e creches do próprio bairro. O ano ainda era 2000 e o novo século prometia ser culturalmente diferente. Novos estilos surgiam a cada dia e, poder fazer música e dança, sem precisar de muito investimento financeiro, trazia mais sonhos aos jovens que, até então, apenas carregavam suas fitas e seus micro-systems ladeiras acima. 48 49 Garotas com roupas largas, tênis grandes e um desafio: aprender a dançar como os meninos. Assim, neste ritmo, crews, compostas apenas por garotas, começaram a surgir no poliesportivo e, talvez, atraídas — assim como eu e minhas amigas — por alguns garotos em particular e, consequentemente, pela cultura, passaram a treinar o break e descobriram que dava certo. Inspiradas pelas rimas feitas por Lu Afri, passaram, também, a cantar e, quando não estavam ensaiando o sapateado no chão, mandavam as rimas de uma forma consciente, entretanto, por terem de ajudar em casa com as tarefas domésticas, a presença delas não era tão constante, mesmo que abrilhantasse a cultura que, até aquele momento, havia sido, praticamente, masculina na comunidade. Contudo, a exemplo de certas garotas da escola, algumas delas deixaram de treinar com tanta frequência e passaram a namorar firme alguns rapazes, atitude que, posteriormente, lhes trariam filhos e uma distância ainda maior da cultura. As que continuaram envolvidas com o hip-hop tiveram, assim como eu, vontade de mostrar o trabalho, o que se concretizou com a proposta de organização de um evento. Mas, para ser um evento bacana, que chamasse atenção, precisava ser beneficente, que além de entreter trouxesse benefício à comunidade. Por intermédio de cartas e telefonemas rápidos, grupos de outras cidades receberam convites para participar do evento. Os desafios do evento iam muito além de conhecer bastante gente e repassar convites. Era preciso arrumar um som emprestado, autorização para que o evento acontecesse e termos em mente a garantia de que não teriam brigas e nem depredação do espaço público. 50 Traficando conhecimento Reuníamo-nos todas as tardes para discutir como o evento seria montado, que nome teria, como receberíamos os convidados, onde encontraríamos troféus, e cada um ficou responsável por uma parte. A falta de dinheiro da condução para ir até o centro da cidade, a conciliação da escola e do trabalho com a organização do evento, tudo isso, se transformava em entraves e, justamente por isso, é que o desejo de fazer uma grande festa crescia. Decidimos que o nome seria apenas Hip-Hop Sul, por estarmos na Zona Sul e por ser simples, fácil de ser assimilado. A notícia correu entre os amigos da região e, logo, todos aguardavam ansiosos o domingo, dia escolhido porque a presença poderia ser maior. O poliesportivo se transformou, então, em palco de uma das maiores festas da periferia, com as competições de break e os shows e batalhas de rap. O brilho nos olhos de cada um da organização, inclusive nos meus, que, naquele dia, trancei o cabelo liso ao estilo rasta para tentar incorporar um pouco da cultura negra no staff do evento. Claro que o amadorismo deixou algumas falhas e algumas pessoas acabaram entrando sem deixar como ingresso o quilo de alimento, mas, nem por isso, o evento deixou de ser um sucesso, tanto pelos sons novos, que foram apresentados, quanto pela constatação de que foram feitos com a mão de obra mais preciosa da periferia: a dificuldade do dia a dia. Sem qualquer briga ou desentendimento, as rachas de break se seguiram por horas, com jurados e premiação em troféus, que mesmo simples, imprimiam a qualidade de algumas crews, tanto da cidade como de fora. Periferia adentro: o hip-hop 51 Tal qualidade era medida pela quantidade de tempo que cada uma treinava e a que realizava o evento, por se considerar acima dos que se apresentavam, ficou como jurada e apresentação final. Feliz por estar lá, mesmo sem saber qualquer passo do break, continuava encantada pelos passos, pelas gírias, pelos discos riscados pelos DJs e pelas competições de gírias. Como nada é perfeito, para um evento montado por jovens que não tinham 18 anos ainda, até que estávamos muito bem, quando alguns gritos do lado de fora atraíram a atenção de quem estava do lado de dentro. Dois grupos, vindos de fora, se desentenderam e distantes da proposta do evento, queriam resolver a diferença com violência. Proibidos, pelos garotos da crew local, um deles mudou o foco e queria briga com ele, naquele momento. A apreensão por ter o evento finalizado com brigas corporais fez a roda aumentar ainda mais em torno dos dois, quando ficou resolvido que uma racha de dança tiraria a diferença. Uma observação positiva é que os grupos de fora trouxeram garotas junto com as crews, o que significava uma presença maior do grupo feminino na cultura e um fortalecimento desta parte na região. Abstraí o preconceito da família e de alguns colegas de escola, que diziam que os b.boys estavam lá apenas para encerar o chão – que era, obviamente, liso e apropriado para dança – do poliesportivo. Foi apenas o primeiro evento e as creches da região comemoraram a chegada de 500 Kg de alimentos, arrecadado como cobrança de ingresso para o evento. Naquele domingo voltei para casa leve e feliz: as manifestações encheram minha alma e a sensação de realização me trouxeram a certeza de que, com muito trabalho e desejo de construções positivas, tudo era possível. 52 Traficando conhecimento Da segunda vez que uma festa foi organizada, conseguimos convidar outros grupos de rap e break de outras quebradas da cidade. A escolha da data para acontecer foi a mesma, um domingo durante a tarde, e o Centro Comunitário se tornou palco de um grande encontro. Com a experiência da outra vez, o evento foi batizado como Hip-Hop Sul II, mas trouxe os mesmos entraves, como crews que tinham desejo de tirar a diferença com brigas e não com rachas. Resolvido o problema, o clima lembrava os bailes Black da década de 1970 e a chegada do break ao Brasil. Ao redor das rodas observavam-se garotos, garotas e desta vez, alguns pais, que foram convidados a assistir a apresentação dos filhos, e também algumas crianças no local. Conseguimos, mesmo que, na época, sem idealizar isso, trazer para a nossa quebrada uma opção de lazer aos domingos à tarde que não fossem os programas televisivos como Faustão e Sílvio Santos. Não fomos atrás e, também, não recebemos nenhum tipo de apoio ou incentivo do poder público ou privado. Além da cessão do local, que tínhamos direito a usar, não pedimos mais nada e, mesmo assim, fizemos uma grande festa. Devagar, ambulantes trouxeram os carrinhos para a porta do local e tiveram uma renda diferente naquele domingo. Além dos benefícios para os jovens das periferias de toda cidade, as creches ficaram, novamente, felizes por conta dos alimentos recebidos. Não foram 500 kg como da outra vez, mas representaram que, além do resgate na vida de cada um daqueles jovens, poderiam ser, também, revertidos em prol da comunidade e assim foram. Novos eventos nos mesmos moldes foram realizados, além dos treinos diários e incessantes, na tentativa de competir em outras cidades da região ou mesmo em Periferia adentro: o hip-hop 53 nível nacional. Sem internet ou divulgação televisiva, o acesso a novas informações surgia pelas experiências de quem viajava aos grandes centros ou pelas revistas segmentadas da época. Não demorou para que a literatura marginal entrasse em nossas vidas por meio das revistas, “zines” e publicações acerca do hip-hop. Os primeiros textos de identificação chegaram alguns anos depois, pelo lendário escritor Ferréz. Uma revista encontrada, ao acaso, por alguém do grupo. A atenção despertada por um texto escrito de forma diferente. Uma linguagem nova despontava na periferia e trazia temas recorrentes na nossa realidade. Longe de qualquer ligação criminosa, o termo literatura marginal refere-se apenas à condição em que, não só a literatura, mas o hip-hop se encontram. À margem da sociedade e à beira de mudanças positivas, os textos dos poetas do gueto, denunciam, de uma forma “romanceada”, a violência e a miséria experimentas na periferia. Começa assim uma nova fase na cultura marginal poços-caldense, envolta de conhecimento e sabedoria. As letras de rap se tornaram mais conscientes e o número de grupos foi aumentando. Os locais onde as festas beneficentes aconteciam foram se alternando, ora acontecendo no poliesportivo, ora no centro comunitário, localizado à poucos metros de distância. Nos bolsos das calças largas, vários manos traziam em papéis amassados, encontrados ao acaso, espalhados pela casa, novas letras de rap e alguns arriscavam até mesmo alguns contos, textos e crônicas, que entoavam a lembrança de tantas tardes passadas no poliesportivo em meio aos treinos de break, as batalhas e os sonhos da juventude. Poesias românticas eram escritas em pedaços de folhas de cadernos e os mais ousados tratavam dos problemas 54 Traficando conhecimento Periferia adentro: o hip-hop 55 56 Traficando conhecimento Periferia adentro: o hip-hop 57 58 Traficando conhecimento sociais e da própria realidade. Tínhamos descoberto uma nova forma de externar nossos pensamentos ao mundo: a palavra. A revista Rap Brasil se tornou, também, uma referência de conhecimento sobre a cultura e a cada mês, um somava as pequenas economias e ia até o centro da cidade para comprar um exemplar, que trazia sempre o que havia de mais novo no cenário do rap e algumas pinceladas dos demais elementos da cultura. Líamos tudo que podíamos sobre o assunto e quem podia viajar para São Paulo ou Rio de Janeiro trazia sempre um som novo, um passo diferente e novos textos. Dos poucos que tinham acesso à internet, e eu era um deles, visitava sites em busca das novidades e de mais informações sobre qualquer coisa que estivesse ligada à cultura. Saber mais significava melhorar a comunidade e trabalhávamos, mesmo sem pretensão, para isso. Periferia adentro: o hip-hop 59 Começava então, uma produção textual na roda, mesmo por aqueles que não frequentavam mais a escola ou que escreviam precariamente. Todas as tardes, ao término dos treinos, quando nos sentávamos para conversar, contar os acontecimentos cotidianos, os textos eram lidos. Pena que alguns eram ridicularizados, mas, nem por isso, deixavam de ser feitos. Hoje, entre as poucas lembranças que guardei daquela época, um texto sobreviveu às várias limpezas no guarda-roupa todos estes anos. Inspirado no que eu lia, via e observava. Homem do Gueto Hoje o hip-hop chora, o homem do gueto foi embora. Cantou, pregou, tentou. Não conseguiu. Cansou, não aguentou. Se matou. Sons de Racionais MC´s, Thaíde e DJ Hum e Sampa Crew eram os mais ouvidos e serviam como inspiração. O conhecimento sobre novos passos, novos sons, a existência de uma liga de DJs e o despontar da literatura e produção cultural feitas no gueto vieram, então, da revista. Mas não se matou assim, de repente, como quem dá um tiro na cabeça, puxa uma corda no pescoço, se atira dum prédio e pronto! Não... O homem do gueto morreu aos poucos, como bom brasileiro que era, pensava que seu lema era, “não desistir nunca”. Arrisquei-me, também, a produzir alguns pequenos textos com as cenas que observava diariamente no local. Escrevia e apresentava aos garotos que treinavam. Comigo, levava duas das garotas que me levaram até lá pela primeira vez, onde conheci todo universo mágico da cultura de rua. Com 10 anos de idade, quando o homem do gueto ainda era um menino, viu o pai se separar da mãe e fugir como um covarde. Alguns anos depois, tomou um tiro de raspão do padastro e carregou a mãe, baleada pelo padastro, até o hospital. Viu a coroa morrer. Chorou, cansou, mas não desistiu. Dos textos, lembro que descrevia a segurança que sentia em estar no poliesportivo observando os treinos e guardando as lembranças. Todos gostavam e me incentivavam a escrever mais. O sonho era, e continua sendo, ter as sacadas parecidas com as do Ferréz e a produção, também. Se lembrou das madrugadas em que levantava sob a geada, para apanhar café com a coroa e ajudar a sustentar o lar. Chorou. Mas não desistiu. Aguentou. “Mãe, fique na paz, pois seu filho, aqui na terra, te ama demais...”, cantou. Pensou que fazer umas letras de rap e cantar para a juventude amenizaria a dor e ajudaria na construção de 60 Traficando conhecimento Periferia adentro: o hip-hop 61 um país melhor, afinal, o homem do gueto era brasileiro e não poderia, em hipótese alguma, desistir. brada, eram as ideias que martelavam na cabeça do homem do gueto, agora, homem feito, maior de idade. Queria respeito, dignidade, cantar um rap que abalasse toda a cidade. Não deu. Se fodeu. Leu num livro que não devia se meter com as drogas, mas foi numa balada, uma noite qualquer, cantando um rap, que ficou de barato com a primeira “bola” que deram. “Periferia mano, é bem diferente, só mano linha de frente”, dizia. O homem do gueto, apesar de ser ele mesmo, também caiu em tentação. Rodou na mão dos “homi”. Acontecia com todos os manos mesmo, por que com ele seria diferente? Desistiu. Não de viver, mas da maconha. Continuou cantando. Trabalhando. Acordava toda madrugada. “Não sabem como faz frio aqui no gueto dessa cidade de desacerto”, pensava. Mas nem pensava no dia que passava, apenas trabalhava. Quanto tinha 16 anos, o homem do gueto, que ainda era um garoto, arrumou uma garota, conhecida como “mina de fé”, que o acompanhava nas baladas de hip-hop, aprovava o rap, e não fazia cara feia para as novas composições. Uma mina que o chamava de homem do gueto. Mas a mina de fé, assim como a mãe do homem do gueto, se apaixonou. Não por ele, mas pelo “vida loka” que morava na esquina da mesma rua. Ele era melhor e tinha o “carro do ano”, sem falar que não pagava um veneno no trampo. O homem do gueto chorou de novo. Se cansou, mas não desistiu. No trampo, resolveu chutar o balde, não aguentava mais inveja, cara feia e bronca do patrão. Mesmo com as contas pra acertar, deixou de trabalhar. Se jogou no hip-hop. Letras de rap, viagens para São Paulo. “O berço da cultura do gueto no Brasil”. Decepção. Histórias, mais letras. Trabalhos sociais, voluntários, ajudar a molecada mais nova, da rua, da mesma que- Se enganou. Quando mais precisou de ajuda para botar os projetos do bem pra frente, não conseguiu. Em cada porta que batia, era um “não” que recebia. “Por que é tão difícil correr pelo certo?”, pensava. E foi assim, sem emprego, vendo a mina com outro, o pai bebendo como o padastro e quase todos os amigos mortos, por conta das drogas e do crime, que ele morreu. Dia após dia, com a barriga vazia. Morreu fraco. A fraqueza da fome o consumiu e todos que o admiravam, hoje, choram, o homem do gueto foi embora! O interessante é o que aconteceu nos eventos e encontros que se seguiram a essa época. Mesmo mais espaçados e com menos gente, um novo movimento surgiu. O movimento daqueles que escreviam. Por várias vezes, o apresentador da festa, ou mesmo o MC, antes de anunciar atrações ou mandar as rimas, lia algum trecho de texto ou mesmo declamava, deixando a plateia um pouco confusa quanto à novidade e, ao mesmo tempo, excitada, com a existência de uma literatura que falava a língua deles, algo que eles podiam entender. A falta de dinheiro e apoio nunca permitiram que levássemos cópias dos textos nos eventos para distribuir entre os participantes. Mas, certa vez, pedi a um amigo, Elton, um b.boy, que se apresentava em shows no Centro Comunitário do Cohab, para ler o meu texto “Homem do Gueto”. Mesmo querendo ser jornalista e tudo mais, tive vergonha de me arriscar no palco. Coisas da idade, medos infundados, sei lá. Só sei que imprimi o texto em casa e pedi que ele lesse. No início, houve um certo medo, um certo receio, mas insisti e ele acabou concordando. 62 Traficando conhecimento A ideia de fazer isso surgiu de um filme, daqueles exibidos todas as semanas na sessão da tarde, quando estudantes têm um problema, um caso de amor e alguma batalha para vencer até os 120 minutos finais daquela fita. Observando em um filme, que eu não me recordo o nome, mas que um garoto interrompia a performance de uma banda e lia um poema no palco, pensei que, de repente, pudesse imitar a ação para as nossas festas, entretanto, de forma mais sutil. Assim, usei o hip-hop para divulgar meus textos e contos e acho que a fórmula deu certo. Entre uma música e outra o meu amigo, Elton, pediu licença e leu, não da forma como alguém que declama, mas melhorou a qualidade de leitura a medida que ia colocando sentimento nas palavras ali escritas. O zumzumzum foi desfazendo e as pessoas passaram a prestar um pouco mais de atenção, fazendo silêncio e acompanhando o que ele dizia. Aos poucos, a história narrada pelas minhas palavras se desenhou e todos pareceram gostar. Alguns sorriam, outros estavam emocionados. Eu não aguentei e desabei a chorar. Pelo texto, por ter escrito algo e tê-lo visto ser lido em público e pela realidade da história, que acontece todos os dias em todas as periferias do Brasil. Não ficou na primeira vez. Sempre que havia qualquer pequena manifestação envolvendo o hip-hop, lá estava eu, com meus textos, sempre pedindo para alguém ler em público para mim. Aos poucos, a coragem de outros colegas foi surgindo e eles também passaram a ler alguns de seus textos nos eventos. Arrependo-me de não ter feito cópias de todos, mas, basicamente, as histórias seguiam a mesma linha. Baseadas em acontecimentos na vida de todos eles, surgiam pequenos contos e textos que incrementavam Periferia adentro: o hip-hop 63 a abertura dos eventos ou intervalos, porém, a falta de experiência não permitia que fossem coisas organizadas e, portanto, sempre se tornavam dispersivas ou o interesse dava lugar a alguma outra coisa, como uma música ou um grupo novo. Mais tarde tomei conhecimento de que outros escritores, poetas e até mesmo músicos, usavam o mesmo artifício para divulgar o que escreviam de maneira não escrita. Entretanto, a necessidade de expressão, que acompanha o homem desde os primórdios, com as inscrições rupestres nas paredes das cavernas, trouxe, junto com os textos produzidos na periferia, algumas pequenas pichações nas paredes do poliesportivo, para a grande tristeza de quem estava esclarecido pela cultura. A boa notícia é que bairros vizinhos também passaram a promover competições de dança com troféus como prêmio, e a cultura se consolidava na região. O centro comunitário de outro bairro serviu como palco para uma das batalhas de break mais acirradas da região, além da apresentação dos grupos de raps locais, que, a cada evento, se mostravam mais profissionais e traziam novas técnicas, novas rimas e também novos figurinos, compondo um cenário único naquelas periferias. Curioso observar que todo movimento acontecia independente de qualquer ajuda, apoio ou mesmo incentivo de órgãos públicos ou iniciativa privada. Diferente do colégio, onde o objetivo era estudar e não brigar, o hip-hop promovido em eventos fazia o papel inverso e transformava as disputas em educação por meio das manifestações artísticas. Periferia adentro: o hip-hop Cotidiano 65 O bacana era que as tardes eram sempre embaladas com muito rap e registradas em pequenos diários de onde saíam alguns rabiscos de textos também. O ponto alto era poder ver o Kaio, irmão da Juliana, quase 10 anos mais novo que eu, aprendendo tudo sobre hip-hop e aprendendo a dançar break. A sensação boa era ver que ele estava aprendendo a escrever e, entre as primeiras palavras que rabiscava, estavam hip-hop, b.boy e o próprio nome. Ainda embalada pelo som do rap, nas tardes em que eu não estava no poliesportivo, me reunia com algumas amigas, principalmente as que me apresentaram o hiphop, entre elas a Juliana, que tem papel fundamental na minha curta existência. Quatro anos mais nova que eu, nos conhecemos desde o dia que ela nasceu e crescemos juntas, tendo nossas mães como amigas. As lembranças daquelas tardes são incríveis e apesar de conviver diretamente com a escassez de recurso do local onde a Juliana morava – sem asfalto, saneamento precário, casa sem muro, sem portão, numa rua totalmente deserta, à beira de um rio nada cheiroso, éramos felizes naqueles momentos. Muitas vezes, nos pequenos cadernos que chamávamos de diários, escrevíamos como era sair de casa pisando no barro, enfrentando o mau cheiro do rio ou, ainda, sem ter comido direito. Sentadas em algum canto da casa dela ou da minha, nos dedicávamos a falar sobre a vida, sobre sonhos, sobre as vontades e, também, para comer. O engraçado é que era muito bom estar na casa dela por conta da liberdade. Como os pais dela nunca estavam, pois trabalhavam fora, podíamos nos arriscar na cozinha livremente, entretanto, a falta de recursos financeiros sempre nos deixava com as receitas pela metade. Ela sempre ficava semanas sozinha, tomando conta do irmão, enquanto os pais trabalhavam em São Paulo. Com R$ 10 ou R$ 20, na época, era quase impossível passar a semana, fazer comida e alimentar dois cães. A luz elétrica estava sempre cortada pelo departamento de energia da cidade e os banhos eram sempre frios nestas ocasiões, mesmo com as baixas temperaturas da cidade. Nossas preferências eram brigadeiro de panela, tareco e bolo. Às vezes um macarrão ou batatas fritas faziam parte do cardápio, mas somente quando a situação estava boa. Entretanto, na hora de bater o bolo ou o tareco sempre faltava leite, ou açúcar ou, ainda, os ovos. Era uma correria boa para buscar na casa dos vizinhos, contar as moedas para poder comprar e por aí vai. 64 De forma sutil, esses pequenos acontecimentos que eu acompanhava, tão de perto, fizeram crescer a minha vontade de escrever ao mundo as misérias humanas e cotidianas. A vontade de ajudar também foi crescendo e foi por meio do hip-hop que eu encontrei as maneiras, mesmo que pequenas, de iniciar um movimento para fazer isso. Periferia adentro: o hip-hop Marcando vidas Foi numa roda formada, depois dos treinos, que suados e cansados conversávamos para contar os últimos acontecimentos. Pela primeira vez e de forma aleatória, ouvi a frase que mais me marcou na vida, e chama atenção até hoje: O hip-hop salvou minha vida. Valdair Ribeiro, na época com 17 anos, contava como conheceu a cultura e os benefícios. Envolto por uma aura de paz que, até hoje, acho que apenas o hip-hop proporciona, ele disse, claramente, que enquanto dançava e treinava não tinha tempo para pensar em outras coisas. Assim, soubemos que ele ensaiava alguns raps e riscava alguns discos, além de ter sido convidado, recentemente, para grafitar os muros do colégio do bairro, onde grande parte estudava. A imagem mais marcante que ainda vive, debaixo das várias demãos de tinta jogadas por cima, é uma figura de Jesus Cristo com os traços livres da arte contemporânea das ruas. Em uma conversa das mais profundas e intensas que já rolaram naquele espaço público, soube, também, que o mesmo garoto, loiro, de olhos claros e muitos sonhos, não conhecia o próprio pai e era criado pela avó, já de bastante idade, a quem ele chamava de mãe. 66 67 68 Traficando conhecimento Vindo de uma infância pobre, Valdair sempre trabalhou, ora como servente de pedreiro, ora como ajudante em oficinas e, naquele momento, como chapeiro em um trailer de lanches do bairro, ao lado de um parceiro, Charles, também do hip-hop. O dinheiro suado, ganhado durante seis noites em claro toda semana iam para as mãos da mãe, que comprava alimentos e leite para os dois sobrinhos dele. Muitas vezes, tendo que cuidar das crianças enquanto a irmã e a mãe trabalhavam, Valdair ensinava a eles os primeiros passos de sapateado. Feliz. Completo. Assim ele se resumiu com a vida que levava e acrescentou: graças ao hip-hop e, também, por organizar eventos beneficentes para a comunidade. Como a história dele, a dos outros garotos se assemelhava em quase tudo e o movimento era fortalecido, no entanto, não eram raras as vezes em que éramos surpreendidos pela ausência daqueles que tinham mais de 16 anos. Muitos conseguiam o primeiro emprego, mesmo sem a carteira assinada, e passavam a garantir uma renda maior dentro de casa. Certa vez ele também comentou que, muitas vezes, era duro trabalhar em prol do hip-hop, arrecadar tantos quilos de alimento e não ter alimento em abundância em casa. “Por várias vezes pensei em levar um saco de farinha ou de feijão para casa, mas não estaria sendo honesto com o evento e nem comigo mesmo”, comentou em um certo momento. Mas, de repente, entendi que a fome, a vontade de comer algo diferente era de mudar a própria realidade: de fazer o povo da periferia ser mais consciente. A história de Digo era diferente. Ele conseguiu um emprego com registro na carteira. Coisa rara, ainda mais para ele que, mesmo com a pouca idade, não tinha vários dos Periferia adentro: o hip-hop 69 dentes da frente. Foi zoado por quase todos. O trabalho era de ajudante de coveiro, no cemitério próximo à comunidade. Ele não ligou e só chegava para participar dos treinos nos fins de semana nos quais estava de folga ou quando eles aconteciam durante a noite. Mais tarde, com o dinheiro ganho como coveiro, ele conseguiu arrumar os dentes, encontrou outro emprego e Valdair foi quem assumiu o cargo de ajudante de coveiro. Certa vez, perguntei a eles se a profissão de enterrar as pessoas e ficar no cemitério não os incomodava ou se não achavam um pouco mórbido. Ambos concordaram que não era a coisa mais prazerosa e que preferiam viver de uma renda obtida com rap ou break, mas, já que não era possível nas condições da comunidade, era melhor garantir o sustento por isso do que aliados ao tráfico. Concordei e nunca mais toquei no assunto. Tempos mais tarde surgiu um texto sobre isso na roda. Foi ignorado. Trabalho honesto e mórbido, mesmo, era ver uma porção de gente que havia crescido junto conosco fazendo corre como aviõezinhos do tráfico que se instala devagar na região. Periferia adentro: o hip-hop “Crime desorganizado” Inspirados pela vida e as cenas assistidas diariamente pelas quebradas onde vivíamos, surgiu o convite para a montagem de uma peça de teatro a ser apresentada em um evento no Teatro Municipal existente na cidade. O curso de teatro, a atuação e a produção de uma peça, que eu havia feito no ano anterior, foram fundamentais para a montagem de “Crime Desorganizado”, uma peça curta apresentada às escolas municipais de toda a cidade, durante uma mostra de dança no Espaço Cultural da Urca, o único de uso comum em toda a cidade, localizado no centro. Com ensaios, todas as tardes no poliesportivo, na hora de chegar até o local da apresentação, o dinheiro da passagem foi rachado entre quem tinha uns trocados a mais e quem não tinha nenhum. Nervosismo antes de entrar em cena. Oração de mãos dadas. Último repasse das falas. Conferir figurino, que era muito pobre, com roupas já surradas e até remendadas, imprimindo, automaticamente, a realidade periférica da cidade apenas por isso. Preferi não atuar por não saber os passos mínimos do break que seriam usados para compor o espetáculo e fiquei na montagem e direção de cena. Não que eu soubesse muito sobre isso, mas deu para auxiliar um pouco. 70 71 Desde que eu fosse parte integrante, estava feliz. Com cenas leves, mas carregadas de realidade, fomos aplaudidos pelo esquete do cotidiano com um assalto mal sucedido e o aborto da juventude dos jovens da periferia, que escolhem a vida do crime como única opção. Como lição, até meio óbvia, a peça trazia a moral da história, incentivando a adesão ao hip-hop, ou às culturas populares, como forma de resgate. Mas, como em qualquer periferia, o crime crescia em paralelo e levava consigo alguns dos adeptos, que, cansados da discriminação nas ruas e no mercado de trabalho, por serem negros, morarem longe do centro da cidade e se vestirem com roupas humildes, se renderam ao tráfico. O senso comum leva a vida de todos a continuar envolta pela cultura marginal. Cap.02 Passos pela vida Passos pela vida 75 porta que representava uma mínima possibilidade de emprego na cidade. No ônibus cheio, tanto na ida como na volta, por cerca de 40 minutos em cada viagem, continuava com minhas leituras e passei a me interessar, também, por poesia. Tudo que era autor eu passei a ler, com destaque para o chileno, Pablo Neruda. Despertei também um interesse pela história do revolucionário Che Guevara e tudo que era comunicação sobre isso, eu lia. Encontrar um trabalho com carteira assinada. Essa era a esperança do ano de 2003, que começou promissor, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumindo o país e prometendo melhorar inúmeras coisas para as classes menos favorecidas, principalmente, a questão do desemprego, que na época era aterradora. O último ano tinha sido fechado com uma taxa de desemprego de 11,7%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e todos jovens com mais de 16 anos – como eu – queriam trabalhar registrados. Seguindo meu coração e instintos, no fim de 2002 prestei vestibular para a faculdade de jornalismo. Fiz a prova em duas universidades particulares. A mais próxima na cidade de São João da Boa Vista (SP) – há 40 km de Poços de Caldas – e a outra em São Paulo. Optei pela que fica em São João. Poderia continuar morando com meus pais, comer e dormir em casa e arrumar um emprego na minha cidade. A última opção foi a mais difícil de ser alcançada. O número de desempregados crescia e o tempo de procura por uma vaga, também. Frequentar diariamente o poliesportivo já era mais complicado porque, grande parte do tempo, eu passava confeccionando e distribuindo currículos em qualquer 74 Fiquei assim durante os nove primeiros meses da faculdade, que vale explicar, era paga com uma poupança que meu pai fez para mim desde que nasci – depositando a parcela do auxílio natalidade – e mensalmente, guardando um pouco de dinheiro lá. Ela permaneceu intocável até o pagamento da primeira parcela da van, que me levava até a cidade vizinha. Consegui uma bolsa de 30%, o que, provavelmente, garantiria o pagamento dos quatro anos do curso. Por já ter nascido em meio à guerra social travada entre os ricos e pobres, me senti desafiando o sistema quando emergi da classe C (ou seria D?) direto para um banco de universidade. Contrariando as estatísticas, não deixei que estacionassem a minha mente e, apesar do sem-número de convites recusados para o uso de drogas, dentro e fora da faculdade, tentei combater o dia a dia do pobre, sempre sentindo na pele o que é ser uma excluída neste Brasil que meu povo humilde construiu. Apaixonei-me logo de cara pelo curso e pela chance de aprender, cada vez mais. Entretanto, devagar, deixei o hip-hop um pouco de lado, envolvida pelos textos e matérias jornalísticas, os trabalhos que tinha que fazer para o curso e a nova rotina. 76 Traficando conhecimento Passos pela vida 77 Aos 17 anos e tomada pelas descobertas da juventude, passei a me interessar, além da cultura marginal, pelo rock’ n’ roll e por livros sobre magia e paganismo. Abandonei, de repente, a leitura dos clássicos e adolescentes e frequentava a biblioteca e as livrarias, em busca de algo mais obscuro. Nesta fase de transição e mudanças, deixei de atuar com tanta frequência nos eventos de hip-hop e até mesmo de ler tanta literatura nacional e revistas sobre hip-hop e, para minha própria decepção, entrei em uma de ler Paulo Coelho e ouvir Raul Seixas. Não conseguia encontrar na paz do hip-hop a dose que eu desejava de rebeldia para marcar, nem que fosse ao final, a adolescência. Como tudo na adolescência passa mais rápido, a fase durou pouco e, após uns dois meses de faculdade, abri a cabeça novamente, abandonei as roupas pretas, o preconceito que o grupo de “amigos” roqueiros nutria pelo hip-hop e voltei a ouvir o bom e velho rap, que trazia nas letras a consciência que eu necessitava para seguir adiante, em meio a tudo isso, contudo, emprego ainda era um sonho distante e a entrega de currículos era diária. Os garotos e garotas da crew que eu frequentava iniciaram um processo de resgate da minha autoestima no universo do hip-hop e, cheios de novidades, me procuravam para contá-las e tentavam me levar, novamente, aos eventos. Novamente, uma fase que durou pouco. Passos pela vida Um zine diferente Meu primeiro emprego foi conquistado em setembro de 2003. Não havia carteira assinada, mas a promessa de uma renda própria e o trabalho em um jornal, mesmo que fosse apenas um zine, era um novo horizonte. Comecei no dia seguinte e seria vendedora de publicidade. Como não havia uma sede para o Fãzine, eu deveria tomar uma condução até o centro da cidade, encontrar o “patrão” e sair para vender os espaços do jornal. Descobri-me uma boa vendedora, porque os preços eram exorbitantes e o impresso pouco conhecido. Muita sola de sapato foi gasta para fazer algumas poucas vendas, mas encarei seriamente, acordando super cedo todos os dias, mesmo indo dormir por volta de 1h da manhã – horário que a van me deixava em casa. Por cada venda, eu tinha direito a 10% do valor do anúncio e, no primeiro mês, devo ter recebido uns R$ 100, o que na época, para mim, era bastante. Oportunidade. Tentei encarar assim e partir para o segundo mês, quando o sócio do meu “patrão” abriu espaço para que eu fizesse uma matéria sobre umas noites black que aconteciam em um pub da cidade. Animadíssima com a chance, abstraí a falta de experiência e me encontrei com o dono do bar no próprio 78 79 local, durante uma tarde bem quente do mês de outubro e sem um gravador, sentei nos bancos de madeira e fui anotando tudo que ele falava. Como sempre gostei de perguntar e saber coisas novas, a minha primeira “entrevista” durou mais de uma hora e fiz muitas outras perguntas além das básicas que havia anotado. Ficamos amigos e ele me deu um convite permanente para entrar no bar quando eu quisesse. Voltei a curtir as músicas black por conta dessa entrevista. Levei dias para escrever uma página de matéria e fiquei extremamente frustrada com as correções feitas pelo “editor”, mas feliz porque na edição seguinte teria meu nome assinado. Como era um zine, a circulação entre roqueiros, rappers e outros adeptos de vários estilos, era grande. Assim que chegou aos locais de distribuição gratuita, recebi alguns telefonemas comentando o meu trabalho na área jornalística. Como uma forma de encontro entre mim mesma, e o que mais gosto de fazer, com a cultura hip-hop, passei a fazer minhas primeiras reportagens sobre o tema. Na edição seguinte surgiu uma nova oportunidade. Uma matéria exclusiva sobre rap. Pesquisei, batalhei pela matéria e, novamente, assinei a pequena reportagem. Estava retornando ao meu mundinho de paz, amor, diversão e união quando o grupo de pessoas que ia comigo na van para a faculdade, cada um de um curso diferente, resolveu criar uma banda de forró. No auge do forró universitário no Brasil, descobri a chance de adquirir um pouco de ritmo e aprender a dançar, pelo menos o forró, que era bem menos complicado do que o break ou o street dance. Como sempre, a rivalidade entre as tribos urbanas marcou também este período e me equilibrar entre universos musicais e 80 Traficando conhecimento ideológicos diferentes, era um desafio. A crew não aceitava me ver comentando sobre os forrós e reggaes novos que havia conhecido e os forrozeiros se divertiam ao tirar sarro da minha paixão pelo hip-hop. Tentava, então, me dividir entre o forró, o hip-hop, o trabalho e os estudos. Nesta época agitada, mais um acontecimento me levou de volta a cultura marginal. Um ponto importante é que, na faculdade, assim como no colégio, eu era obrigada a conviver com o livre uso de drogas na porta, dentro, fora, nas esquinas e a recusar convites a todo o momento. Nunca tive a curiosidade de saber como era fumar maconha, cheirar pó e, tampouco, pedra. Mas via, num ambiente em que eu jurava ser acadêmico, muita gente – cujo pai ralava para pagar a faculdade – queimando o dinheiro investido nas aulas em drogas para fugir da realidade. É claro que, no meu bairro, o contato com as drogas arrebanhava quase todos os jovens da minha idade, mas nem isso me fez desistir da caminhada. Não quis saber. Disse não e prossegui à minha maneira. Não achei tentador trocar todos os sonhos por uma pequena viagem, que segundo o que eu lia, duraria, no máximo, um minuto. Conheci um rap, originalmente, poços-caldense e mais, feito na Zona Sul, do ladinho da minha casa. Surgiu, novamente, uma pequena reportagem no Fãzine. Passos pela vida Rap de dentro Contradizendo sua história de vida, G do Gueto, o MC da região afirma: “Eu tinha aquela visão, assim, que fazer rap em Minas não tem jeito, aqui não tem morte. Até então eu pensava que rap era só falar de morte, tiro, treta, e aqui não dá. É uma cidade pacífica”, diz. “Doa a quem doer”, é desta maneira que ele se lançou na cidade e se tornou conhecido pela faixa 8 do CD. Intitulada “Fatos Reais”, contando a história de um garoto, que muito novo, trabalhou em lavouras e na sequência levou um tiro e perdeu a mãe, assassinada pelo padrasto. Com o álbum gravado dentro de casa, através de programas de computador e uma mesa de som, G fez as próprias bases, contou com a participação de outros rappers como Suburbano, Lu Afri e Leopac, que sustenta esse apelido pela semelhança física com o rapper norte-americano. Sábado, oito da noite, a rua está totalmente escura e pouco habitada. Há casas somente de um lado. O outro é ocupado por extenso matagal que prejudica a visão. A iluminação é precária e é necessário utilizar os faróis altos do carro para poder enxergar. É impossível sair do carro sem atolar o pé na lama da chuva que caiu à tarde. 82 83 A descrição é da casa dele, periferia de Poços de Caldas, Zona Sul da cidade. Há quatro anos ele mora num sobrado e tem seu quarto num cômodo acoplado. O dormitório tem personalidade própria, mesmo sem qualquer luxo, é aconchegante e acolhedor. Para fazer a divulgação, ele conseguiu criar uma “bolacha adesiva” com a própria foto estampada. Com o disco caracterizado, encartaram de forma caseira e distribuíram entre os amigos da região. Diariamente era possível ver G no poliesportivo, distribuindo o CD. Imediatamente, o micro-system da crew deixou de tocar as batidas próprias para dançar break e deu lugar às composições do amigo. Em pouco tempo, as letras sobre os problemas locais e com críticas ao cotidiano estavam na boca dos moradores dos bairros da região sul da cidade. A grande sacada foi quando G conseguiu espaço para vender em um torneio de golf, no Golf Club da cidade, onde ele fazia bico nos fins de semana como Ked – garoto que recolhe as bolinhas. “O cara abriu espaço para eu vender lá, levei os CDs e vendi a dez reais para os golfistas né, porque os caras têm dinheiro”, conta com entusiasmo. Com essas vendas, G conseguiu levar o rap até a alta sociedade e introduzir, quem não conhecia, no universo periférico do hip-hop. Em mais ou menos três ou quatro meses, G conseguiu vender uma média de quinhentos CDs em Poços, o que o deixa, até hoje, muito feliz e orgulhoso. Impossível não me sensibilizar com a história e as letras feitas por ele. O lançamento do álbum marcava um novo tempo no hip-hop da região sul da cidade. Os eventos continuavam a acontecer e, agora, além da dança, que era o forte da região, contavam também com shows de rap e as letras de G eram a sensação, seguidos pelo UClanos, que sempre estavam dispostos a cantar em nossos bailes. 84 Traficando conhecimento Como eu continuava no Fãzine, soltei uma matéria sobre o lançamento do CD do G, e a repercussão continuava. Enciumados pela minha “atenção jornalística” ao rap, o grupo de forró da minha van me pediu uma matéria, e eu não tinha desculpas. Novamente, uma matéria sobre os sons do meu cotidiano. Ganhei uma coluna fixa no zine e fiquei relativamente conhecida neste meio, no entanto, a grana que rolava das propagandas ficou cada vez mais escassa e vender se tornava ainda mais difícil. Passos pela vida 85 Passos pela vida Jornalismo no zine Além das pequenas matérias, ganhei um espaço para publicar alguns artigos. Era bom poder expressar algumas ideas e saber que existia um público, embora pequeno, específico para ler minhas primeiras linhas. 87 O dicionário é superior ao mercado em muitos aspectos. Em primeiro lugar, porque no dicionário o preço das palavras não cresce a cada dia – como ocorre com os legumes no mercado – posto que todas são de graça. Ademais, os dicionários podem ser guardados na estante da sala, o que seria impossível fazer com um mercado – não por sua forma, muitas vezes retangular como os dicionários, mas devido ao tamanho (mais provável seria guardar a estante da sala no mercado, mas isso seria inútil tendo em vista que nosso objetivo não é dar cabo da estante e sim, escrever um texto). Há uma diferença básica entre os mercados e os dicionários: se nos primeiros os produtos entram novos e saem assim que ficam velhos, no segundo não se encontra um só artigo novo, pois, ser velho, é condição para estarem ali. Um dos primeiros que escrevi foi sobre o dicionário. Apesar das considerações anteriores, é impossível provar logicamente a superioridade de um mercado sobre um dicionário ou vice-versa. Prova disso é que podemos tanto encontrar dicionários em um bom mercado, como mercado em um bom dicionário. O poder do dicionário Assim sendo, deixemos de lado essas comparações inúteis e voltemos ao tema, o poder de um dicionário. Tenho a clara consciência de que evoluí muito e, obviamente, devo continuar em processo constante de aprimoramento, mas, na época, era o que eu conseguia. Poucas pessoas o sabem, muitas o desconhecem, somente algumas sabem manuseá-lo com eficácia. Estou falando dele sim. Quem? Você também não o conhece? Pois é, ele está bem ali. Poderoso e capaz de salvar muitas vidas, trocando apenas algumas letras. Livre de qualquer comparação, ele é único, rico, culto, e faz questão de transmitir isso para quem quer que esteja interessado. Sempre interessada em desbravar o jornalismo, ainda bem cru para mim naquela época, saiu isso: A pauta de hoje é a ECONOMIA Ele é o dicionário. Em suas mais variadas formas e cores, só recorrem a ele os inteligentes, que reconhecem sua ignorância. Se vamos ao mercado quando precisamos de ingredientes para uma sopa, para nós, jornalistas, quando vamos escrever um texto, vamos ao dicionário. 86 As coisas mudaram de nome, segundo Mário Prata, abajur passou a ser luminária, e não vai demorar muito até que jornalista seja jornaleiro. Dá mais lucro e credibilidade. 88 Traficando conhecimento As redações estão se tornando multimídia, e os jornais todos estão padronizados, presos a uma fórmula chamada lead, em que todos os repórteres respondem as mesmas perguntinhas básicas, e, nas bancas, encontram-se todos os dias, as mesmas notícias, contadas do mesmo jeito, sem novidades. O furo jornalístico foi substituído pela igualação das redações. A pauta do dia é economia, economia nos jornais. Cortam-se os gastos, as notícias, e os profissionais. Ao final sobram só as publicidades, às quais todos se renderam para sobreviver. Daqui a pouco o repórter será desnecessário, o computador fará todo o serviço dele. As matérias serão apenas formulários a serem preenchidos com palavras claras que responderão com objetividade a apenas cinco questões: quem, onde, quando, como e por quê? O diploma será descartado em breve, e com uma experiência de cinco anos vendendo jornal, podermos fazê-lo, inclusive. Ou o jornalista passará a vender o jornal, ou morrerá à míngua, soterrado pelas publicidades e pela economia. Pela falta de criatividade no mundo jornalístico, saiu este. Cadê a ideia que estava aqui??? — Cadê a ideia que estava aqui? – alguém berra, lá dentro na redação. Acontece, todos os dias, toda hora, em todos os lugares. Roubo? Chacrinha já dizia que, na TV, nada se cria, tudo se copia. Eu ousaria afirmar que na vida é assim, tudo é copiado. As ideias são roubadas em toda parte. No jornalismo, então, é de praxe. Além do roubo há o plágio de ideias, matérias, programas, enfim. Uma rivalidade que não acaba nunca. Passos pela vida 89 92 Traficando conhecimento Passos pela vida 93 Andam dizendo por aí que é antiético roubar ideias e plagiar redações. Um exemplo disso é o livro de Luiz Maklouf, “Cobras Criadas”, que relata casos escabrosos e ditos como “antiéticos” de nosso país. Só há um defeito no livro, é que o Maklouf esqueceu de citar ali o caso da “operação mela PT”, no qual ele esteve envolvido e foi abafado. Neste episódio, que renderia uma ótima história nas páginas de “Cobras Criadas”, Maklouf plagiou uma matéria inteira de um jornal de pequeno porte em Campinas, escrita por duas jornalistas recém-formadas, na época. As jornalistas abstiveram-se do caso, mas o jornal em que elas trabalhavam moveu uma ação, que deu em nada. leitor não pode perder tempo, só a informação, prazer da leitura e do conhecimento. Portanto, a ética mesmo, só existe na teoria e na relatividade individual, e enquanto isso não for mudado... Onde? - Êpa, cadê a minha ideia na linha acima??? E, por fim, algo sobre o vazio da vida, do jornalismo. (x . y) + z = vazio Vazio. Sim, vazio jornalístico. É o que encontramos nos jornais, um total vazio. A investigação jornalística, o dito jornalismo investigativo, sumiu de vez. Nas redações a única coisa que se encontra são jornalistas indiferentes que apenas transcrevem releases prontos. O gosto pela profissão vai se esvaindo ao encarar as fórmulas prontas, que são chamadas de objetivas. Cujo objetivo é desinformar. O jornal apenas desinforma, ou traz nas suas páginas assuntos que já conhecemos e que não merecem destaque algum. A novidade, o inusitado, ficou por conta dos veículos mais rápidos, como a TV ou o rádio. O texto aprofundado é literatura, quando muito, revista muito centrada. No jornal não, as coisas devem ser rápidas, práticas, factuais. O Daqui a pouco, o jornalista não mais precisará se deslocar das redações para as ruas em busca de notícias quentes, de furos. Os jornais já se aliaram. Daqui a pouco, vão apenas comprar de um publicitário bem criativo, um texto que seja curto e objetivo. Neste texto existirão lacunas a serem preenchidas, e o repórter terá, então, que passar o tempo apurando no texto de três parágrafos dos releases as seguintes informações: Quem? Quando? Como? O porquê ele não terá de responder, senão toma muito tempo e não fica pronto para a gráfica antes do fechamento. Antigamente, estas cinco perguntas básicas eram nomeadas de lead, ou “cabeça da matéria”. Hoje é, simplesmente, coisa de jornalista que não tem cabeça e que banalizou a profissão. Passos pela vida Tempo de mudanças Como o tempo passava e nada parecia tão estável, a condição para que eu continuasse escrevendo no zine era vender propagandas e o dinheiro que gastava com a condução era maior do que o lucro com as vendas. Resultado: estava pagando para trabalhar. Conversei com minha amiga de classe e parceira de profissão, Anita, de quem me tornei amiga logo no primeiro dia de aula, e, depois de uma série de ponderações, resolvi desistir do zine e continuar buscando um novo emprego. Era final de 2003 e aquele ano tinha sido marcado por descobertas. Continuava na linha entre o hip-hop, o forró e o reggae. O rap me seduzia pelas letras e vinha acompanhado dos demais elementos que formavam a minha cultura local. O forró me embalava pela dança, que eu podia aprender e o reggae pelo sentimento de paz que surgia nas músicas. Entre as várias baladas que frequentava, percebi que cada vez menos pessoas se interessavam pela organização dos Hip-Hop Sul e mais jovens deixavam de frequentar as reuniões diárias, porque, assim como eu, estavam trabalhando ou em busca de um trabalho. Outros já haviam entrado para a vida do crime e não apareciam mais nos eventos ou no poliesportivo. 94 95 A cena foi mudando e a montagem de grupos grandes de dança de rua se fortaleceu. O fim da época da crew aconteceu poucos meses depois, quando o poliesportivo foi fechado para uma reforma da prefeitura. Os treinos, bem menos frequentes, aconteciam no centro comunitário ou em um gramado existente na frente do poliesportivo, mas era possível praticar apenas os saltos e movimentos importados da capoeira. A falta de um local fixo de encontro me afastou ainda mais da cultura, que passou, de forma inédita, a conquistar a área central da cidade, quando grupos de dança usavam uma fonte, em frente a um prédio tombado pelo patrimônio histórico, como local de treinos. Alguns jovens da antiga crew migraram para lá, unindo o patrimônio cultural ao edificado da cidade e inovando a história do hip-hop e das periferias locais. Passos pela vida Patrimônio cultural e histórico A união entre o local, tombado pelo patrimônio histórico e cultural da cidade, e a cultura hip-hop, marginal e propriedade do gueto, feita do povo e pelo povo, trouxe uma nova marca na história local. São oito horas da noite de sábado. Tanto faz o sábado, desde que não esteja chovendo. Lá estão deles, misturados, compondo um espetáculo de dança que faz todas as pessoas que passam por ali pararem. Turistas ficam maravilhados com a cena observada. A mistura entre um local histórico e os movimentos da dança nascida nas ruas, ao som da música composta com as mazelas do cotidiano, desperta a atenção de quem passa pela cidade para uma nova visão. De São Paulo, a artista plástica, Sueli Magalhães Piva, comenta com o marido que precisou viajar quase 300 quilômetros para reparar na arte urbana em contraste com os locais históricos. “Eles estão escrevendo a própria história por meio de uma que já existe e isso é magnífico. Vai muito além de ser apenas uma dança, uma música ou um movimento. É parte da identidade escondida de uma cidade”, afirma enquanto observa e tira fotos. Resgatando as origens da dança desde o início. Assim teve início o grupo The Power Dance, para onde quase 96 97 todas as crews de dança dos bairros migraram. Tanto os garotos como as garotas que praticam a dança nas escolas, nos centros comunitários e nas ruas – tal como no início da cultura hip-hop em Nova Iorque – resolveram integrar o grupo, que trazia na ideologia, e também na prática, a essência da cultura. Com ensaios em uma praça de Poços de Caldas, um ponto turístico, ao lado de uma fonte de água, o grupo treina passos, se desenvolve e forma, assim, os dançarinos. A cada dia a crew ganha novos adeptos, que chegam de saias até o local do ensaio. Tempos depois, o grupo mudaria os ensaios para outro local, também público, e passaria a competir dentro e fora da cidade, além de promover anualmente o Poços Fest Dance, sempre com o foco no hip-hop. Os exemplos da cultura nos eventos despertam também o interesse em outros jovens, que criaram uma nova crew e passaram a treinar no antigo ponto do The Power Dance, na fonte, conhecida como fonte do leãozinho. Trazem no nome o que o grupo quer passar a quem os assiste: Origens. E, por meio da comunicação, da informação e dos textos, tentam descobrir os primórdios da dança e da cultura de rua. Minha participação se tornou esporádica e quando tinha algum evento, ou quando, durante as noites de treino da crew, eu passava pelo local, parava para apreciar e voltar, mesmo que por pouco tempo, literalmente, às origens. Contudo, embora entre todas estas transições, voltei a escrever algumas coisas. Abaixo um dos textos escritos nessa época, como a verbalização de uma saudade: 100 Traficando conhecimento Uma brasileira Lavando roupa, limpando a casa, dando banho no filho, esquentando a janta, pensando no trabalho do próximo dia, aguardando o amanhã... “Será que algum dia será diferente?” Na cabeça, algo além do lenço que prende o cabelo chama atenção. Talvez seja o sonho. A esperança. Ou a nova rima que está tentando compor para gravar mais uma música de rap. Assim é Maria Lúcia, uma brasileira, mais uma, do tipo mais comum que existe. Morena, bonita e de cabelo crespo. Pobre. Foi criada pela avó na periferia de uma cidade do interior de Minas Gerais. Uma criança comum, brincava na rua e cantava na igreja, onde todos diziam que tinha uma voz linda. Ficou mocinha e casou-se por amor. Apaixonou-se por um homem branco, pobre, humilde e cantor de rap. Em comum? Eles tinham um sonho. Cantar rap e levar uma mensagem positiva aos jovens do gueto. “Eles precisam de palavras de incentivo para seguir suas vidas correndo pelo certo”, diziam. Mas correr pelo certo nem sempre era fácil. Assim sentia-se o casal, com um filho de três anos para criar. Acordar às 4h da manhã e, na hora de ir para cama, sentir que o dia não passou é coisa de gente pobre, do gueto, que se sente um nada quando chega o final do mês, nada para comer. Palavras de incentivo alimentavam, dentro da pequena casa nos fundos de um quintal, cômodos pequenos, apertados, aconchegantes, como só as casas da periferia têm. Passos pela vida 101 Mais dia. Menos dia. A mesma coisa sempre. A falta de mistura era motivo de briga. O casal que se amava, passava a se insultar. A barriga vazia trazia a desesperança e a fraqueza, impedia que a caneta se movesse sob forma de letras e novas composições de rap. Como milhares de outros casais, esse era só mais um, que, durante a brava guerra da sobrevivência, tinha que optar por continuar ou por sonhar. Tão iguais e tão diferentes, cada um resolveu seguir seu caminho. De comum eles continuaram compartilhando somente a cama. Maria Lúcia quis continuar sonhando e, de tanto sonhar, se esqueceu de trabalhar, de buscar alguma forma de se alimentar e deixou o filho para o marido cuidar. Já o marido, que não sabia como era o preconceito do racismo, mas sentia o da pobreza, desistiu de sonhar para poder continuar vivendo. Ambos morreram. Não que eles tenham sido sepultados ou algo parecido. É que um já não sonha mais para continuar vivo e outro de tanto sonhar se esqueceu de viver. E assim eles prosseguem. Mais um casal, com filho para criar, e uma vida que passa distante do verbo em ação. Contudo, apenas escrevi. Já não encontrava mais espaço para divulgar os textos nos eventos, embora o desejo de gritar para o mundo minhas palavras continuasse cada dia maior. Passos pela vida Monitorando a infância e o futuro Sentada no ônibus, lendo um texto de Ferréz na revista “Caros Amigos”, tento encher a cabeça de novas ideias e novos conhecimentos e, assim, conseguir um emprego. O sonho de ter a carteira assinada ainda continua sendo apenas um sonho. Para continuar comprando livros, CDs, estudando e indo a algumas festas nos fins de semana não desisto da busca. Nas poesias e contos que leio diariamente, encontro um pouco de alimento para a alma, faminta de saber e de vida de verdade. Sou chamada para um freela. Infelizmente, em uma área bem diferente da que eu estava estudando. Devo ser monitora infantil num hotel da cidade. A parte boa: estar em contato com as crianças, coisa que eu adoro, e poder levá-las ao cinema e, assim, assistir o que há de novo nas telas da cidade. Conversar com crianças de vários estados também significava conhecer mais sobre as diferentes regiões, o que não deixava de ser aprendizado. Quando não estava no hotel, fazia outros trabalhos temporários e, desta vez, era para entregar panfletos na principal rua da cidade. Por diversas vezes fui questionada por parentes e pessoas da faculdade se eu não me sentia envergonhada de fazer isso. De jeito nenhum. 102 103 Se eu não tinha um emprego formal, o jeito era me virar como podia e, para bancar meus pequenos hobbies, o esquema era esse. Das culturas musicais e urbanas eu estava distante. Até mesmo do forró da banda da minha van. Com quase 19 anos, queria mesmo era um emprego fixo. Ainda não era hora e fui chamada para trabalhar em um buffet infantil, também como monitora. Não tinha carteira assinada, mas era fixo. Quando tinha festas, eu era chamada. Ganhava ao final de cada mês. A quantia era inferior a um salário mínimo, mas a diversão no trabalho era garantida. A curiosidade é que, na entrevista – e até para esta vaga havia disputa —, uma das perguntas foi decisiva para eu garantir o emprego. “Cite seus três livros favoritos”. Tive de pensar bastante, porque foram tantos. Citei “Feliz Ano Velho”, “Quarto de Despejo” e “Chatô – O Rei do Brasil”, inspirada pela faculdade. Não pude deixar de citar que diariamente eu lia revistas, outros livros e muita literatura que começava a ser produzida na periferia. Já havia sido apresentada à Ferréz muitos anos atrás e não perdia a paixão, tampouco deixava de frequentar o blog dele. Mais tarde, fui informada de que, por conta disso, garanti o emprego que durou oito meses. Com a redução da procura por festas, os freelas ficaram mais espaçados e já não compensava mais ficar à disposição por tanto tempo sem saber se iria ou não trabalhar no dia seguinte. Saí fora e caí dentro de outras tentativas de sustento. Passos pela vida 105 Do desemprego ao mais perfeito possível Chamou-me novamente para trabalhar com ele. Não podia pagar nada. Nem tinha o esquema das propagandas, mas existia a chance de mexer diretamente com jornalismo cultural, algo que eu gostava demais. Entre reuniões, com muita comida, refrigerantes e bingos, topei vender tuppeware – aqueles potes que na década de 1980 faziam sucesso entre as donas de casa, mas que em 2005 eram impossíveis de comercializar. Competir com os plásticos úteis vendidos nas lojas de R$ 1,99 parecia injusto e elitista, principalmente em um bairro onde a maior ocupação das moradoras era como auxiliares de limpeza ou domésticas. Foi durante esse período, de efervescência cultural por todos os lados, que comecei a ler Clarice Lispector, Paulo Leminski e Charles Bukowski. Mesmo na busca por um emprego e diante de todas as dificuldades, a leitura e a poesia continuaram fazendo parte do meu dia a dia. Sem ter sucesso com os potes mais caros do Brasil, fui chamada por uma vizinha para vender filtros d’água supermodernos, uma empresa japonesa se instalava no Brasil e precisava de vendedores. Como sempre, os trabalhadores entravam com o dinheiro da condução, dos telefonemas, do lanche, a cara e a coragem para tentar vender algo fora da realidade do mercado. Tanto pelo preço, quanto pela cultura dos consumidores. Sem dinheiro e já desanimada, prestes a terminar meu curso de inglês – pago pela minha irmã que estava em uma situação boa, na época – e seguindo com a faculdade, já não sabia mais o que fazer, quando o cara que trabalhava como meu “chefe” no Fãzine abandonou o zine e resolveu montar uma toalha de mesa cultural. Como aquelas do MC Donald´s, mas com dicas e agenda cultural da cidade. 104 Jogo rápido. Aceitei. Esse era, também, o nome da mídia distribuída em vários estabelecimentos da cidade, para onde fiz várias matérias sobre exposições, mostras de arte, lançamentos de livros e dicas culturais. Eram textos pequenos, mas que me permitiam a flexibilidade que precisaria, mais adiante, ao mexer com jornalismo. Estimulada por estas culturas, por frases sábias, pela descoberta de novos horizontes, descobri em mim mesma a capacidade de produzir um texto mais livre, mais solto, mais com a minha cara, dentro daquilo que eu acreditava. Passei por assuntos variados e me apaixonei ainda mais pelo jornalismo cultural e foi nessa fase, graças à minha paixão por livros, que conquistei meu primeiro emprego com carteira assinada. Passos pela vida Entre livros 107 momentos mais interessantes eram as chegadas dos livros. Abrir a caixa dos lançamentos era como abrir um presente. Atender os clientes também estava entre o que eu mais gostava de fazer. Sugerir leituras, presentes e trocar informações sobre o universo literário se tornaram um hobby e não apenas um trabalho com carteira assinada. Imersa nas letras do livro que estava relendo — “Feliz Ano Velho” —, no ônibus, tentava pensar no que dizer ou justificar meu interesse em trabalhar em uma livraria. Encontrei a resposta na própria cena. Reconhecime como uma leitora compulsiva e, naquele inverno de 2005, de férias da faculdade, fui admitida na Livraria Alfarrábios, de propriedade de uma amiga que sempre ia comigo aos shows de MPB que aconteciam na cidade. Juntas, tínhamos certeza que trabalhar seria diversão e não obrigação. Eu poderia começar no outro dia. Deveria abrir, limpar e organizar a livraria. Quando não estivesse atendendo os clientes poderia ler alguns livros. Se fossem livros repetidos poderia levar para casa e ler no ônibus e antes de dormir. Logo na primeira semana li um livro por dia e estava amando estar ali. Em estilo europeu, com apenas uma portinha e um espaço aconchegante, a livraria atraía diferentes pessoas e muitos turistas que se hospedavam em um hotel bem próximo. Demorei três anos para conseguir este emprego, mas, como disse um amigo da época, “se eu tivesse que imaginar um emprego perfeito para você seria exatamente esse”. Perfeito e que me deixava imensamente feliz. Os 106 Logo na primeira semana, satisfiz minha curiosidade sobre o nome da livraria — “Alfarrábios” — através dos livros mesmo. O nome veio inspirado no filósofo Al-Farabi, que viveu em Bagdá no século IX e vivia absorvido no estudo, além de trabalhar com os livros. O convite desse trabalho não poderia ter vindo em melhor hora e o contato com a literatura, de forma tão íntima, fez surgir na minha mente prateleiras de ideias em volumes, feito a organização dos livros na loja. Empolgada com os inúmeros livros que poderia ler e com as amizades que poderia fazer no trabalho, fui pega de surpresa, em um sábado de manhã, antes mesmo de ir trabalhar, com um telefonema me avisando que a Adeine — patroa — tinha sofrido um acidente de carro e estava hospitalizada. Mesmo assim fui para a livraria, afinal, ela não poderia ficar fechada no dia de maior movimento. Receosa por ser a primeira vez que eu iria fazer tudo sozinha no local, fui acudida pelo irmã da minha patroa, que, logo cedo, me levou troco para o caixa e ficou me fazendo companhia, ansiosa para receber notícias sobre o estado da irmã. Por volta de meio-dia, quando a loja estava cheia, ficamos sabendo que o estado era grave. Ela havia quebrado três vértebras e deveria passar por uma cirurgia na manhã do dia seguinte. Até lá, não deveria se mexer para não agravar o quadro. 108 Traficando conhecimento Passos pela vida 109 Desde esse dia, passei a tocar a livraria “sozinha”, apenas com a ajuda do sobrinho da minha patroa, que fazia serviço de office boy e me ajudava em várias coisas, além de fazer companhia. Uma semana depois, chegou a notícia de que o quadro de saúde dela era bem mais grave do que parecia e que ela deveria passar por outras cirurgias para operar as vértebras, e ficar afastada por tempo indeterminado. Foi, também, neste período, que o pai dela passou a ficar mais tempo na loja, e, mesmo doente, me ajudava e trabalhávamos em um ambiente muito bom, sem falar que era a chance que tinha de aprender muito. Oportunidade. Assim eu encarava o meu emprego e, por incrível que pareça, o hip-hop voltou à minha vida. Muito por meio dos livros, de literatura marginal, que não paravam de chegar contando histórias de várias periferias de toda parte do país. A loja ao lado da livraria, que trabalhava com pijamas, contratou uma das garotas que faziam parte da crew da zona sul, assim que eu conheci o hip-hop. Passávamos o tempo vago na porta da loja lembrando daquele tempo e conversando sobre a cultura. Como eu comprava livros com descontos, passei a oferecer a ela grande parte da literatura que eu li na época, como: “Cabeça de Porco”, “Literatura Marginal”, “Capão Pecado”, “Memórias de um sobrevivente”, “O povo Brasileiro”, “O Invasor”, entre tantos outros. Com muita ânsia de conhecimento, nos primeiros seis meses de trabalho li quase 60 livros. A preferência era pelos que traziam alguma alusão à periferia ou à literatura marginal, embora eu lesse de tudo e sobre tudo, o que facilitava na hora de fazer uma sugestão ou venda. Voltei a escrever e, quando cansava os olhos da leitura, 110 Traficando conhecimento escrevia alguns textos no computador da livraria. O meu remorso foi não ter salvo em algum outro lugar e ter perdido todos em uma pane do computador. Lembro que eram textos sobre o cotidiano, sempre mesclando o jornalismo e a literatura marginal, tentando dar estilo à minha maneira de escrever. Como eu estava quase terminando meu curso de inglês e, para chegar até o fim da faculdade com ele concluído, mudei de horário passando a frequentar as aulas na hora do almoço. Passos pela vida 111 tração total, sempre recheados com muitas músicas, que eram de vários estilos. Foi, durante a faculdade, que aprendemos a confeccionar o jornal laboratório – Entrelinhas – e minha primeira matéria foi sobre grupos musicais independentes. Claro que, no meio, apareceu os grupos de rap da minha região. Época em que o UClanos se fortalecia e programava a gravação de novas músicas. Acho que foi a época mais tumultuada, em questão de tempo, que já vivi. Acordava às 7h, tomava banho, pegava o ônibus — torcendo para achar um banco vazio e me sentar para ler durante todo o trajeto, ou mesmo, anotar as ideias, que não paravam de surgir — e chegava na livraria pouco antes das 9h. A volta para Poços de Caldas acontecia às 23h, quando saíamos de São João. A van me deixava na porta de casa por volta de 00h50. Neste horário tomava outro banho e, por muitas vezes, fiquei estudando ou fazendo trabalhos da faculdade. Dormir era considerado um período muito raro, contudo, o desejo de aprender, de viver, de me entregar à época e ao que eu poderia fazer eram mais fortes. Fazia a limpeza matinal diária, cuidava da parte dos livros vendidos, comprados e, pouco antes do almoço, me sentava para ler um pouco, alternando entre um cliente e outro. Devagar, algumas amizades foram surgindo e sempre algumas pessoas passavam pela manhã na loja me deixando cafés, pães de queijo e algumas palavras de bom dia. Sem tempo para organizar os eventos, buscava, em alguns domingos, eventos espalhados em partes diferentes da cidade e ia curtir um pouco do hip-hop, afinal, minha paixão tinha voltado com tudo e não poderia mais abrir mão de me encontrar com a minha verdadeira essência: a periferia e a cultura produzida dentro dela, do povo para o povo. Na hora do almoço, voltava para casa, almoçava e já saía correndo novamente para a livraria. Às terças e quintas meu pai levava uma marmita e me levava até a escola de inglês, comia rapidamente, assistia a aula e voltava para a livraria. O horário de saída era às 18h20 e eu ia direto pegar a van que me levaria até São João da Boa Vista. Muitas vezes lamentei ter de ir para a faculdade sem banho. Comer antes de viajar já não era um problema e tudo que gostaria era de poder tomar um banho e mudar a roupa. Os momentos na van eram de descon- Passos pela vida Despejo no quarto Um livro pequeno e com um título que, a primeira vista, não me chamava a atenção. Mas bastou uma folheada para eu ter vontade de não vender a encomenda de uma cliente. “Quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus, o primeiro livro no Brasil escrito por uma favelada me abriu, um tanto mais, a mente e a vontade de produzir algo sobre e para a periferia. Ressaltando a fome, a miséria que oprime e o que é viver numa favela, a guerreira Carolina brindou o mundo todo com o livro — traduzido para mais de 13 idiomas — recheado com histórias reais de quem cozinhava ossos para fazer sopa aos filhos e quase não dormia para poder sobreviver e, mesmo assim, mantinha um sonho: transformar as letras que anotava em um livro que denunciaria todo o sistema. Lançado pela primeira vez em 1960 o livro fez sucesso na minha vida quarenta e cinco anos depois, quando constatei que os problemas continuaram os mesmos ao longo de todo o período. Lendo o que ela escreveu, lembrei de todas as histórias contadas por meus pais, que foram tão pobres quanto, embora nunca tenham vivido na favela, passaram fome e foram obrigados a se alimentar com restos deixados no lixo. 112 113 “Eu me alimentava com comida azeda”, é o que conta minha mãe, todas as vezes que vê alguém torcendo o nariz para um prato de comida. “Eu catava balas pisadas e sujas ao lado de uma fábrica perto de casa”, diz meu pai com frequência. Até então, nunca tinha dado tanto valor as palavras deles. Foi quando vi o desafio de uma mulher que transformou a fome em inspiração para escrever e levou ao mundo um pouco da própria história. Fez do pão duro a poesia do dia a dia. Se ela, que não tinha o que comer, conseguiu transformar — de alguma forma — a própria realidade, embora alguns parentes e amigos meus ainda vivessem com fome, eu também tinha o direito e, sobretudo, o dever de fazer o conhecimento chegar até quem nunca tinha sabido de sua existência, de alguma maneira. Passei a pensar em infinitos projetos que poderia desenvolver relacionados aos livros, como criar minibibliotecas, promover saraus, doar livros, imprimir textos e distribuir para as pessoas. Infelizmente, no ano que se seguiu, quase nada foi possível, exceto uma pequena arrecadação de livros usados que promovi na própria livraria. Entre os clientes que se tornaram amigos. Fui pedindo alguns exemplares, ganhei outros do meu patrão e ainda tive de guardá-los durante um bom tempo antes de poder pôr em prática tudo que eu tinha vontade de fazer. Concepção CON CEP ÇÃO Cap.03 Concepção Concepção 117 Quando recebi meus textos me reconheci na mesma hora. Feliz por já ter lido a maioria deles há vários anos, quando conheci a revista “Caros Amigos” e, na sequência, os textos da literatura marginal, além de acompanhar também a nova cena editorial, com livros originais, de autores naturais do gueto, com textos singulares sobre o tema. Em discussão, foi a primeira vez que tive a oportunidade de falar abertamente – e com quem tem entendimento – em sala de aula sobre minha paixão pelo hip-hop, os eventos organizados anteriormente e a paixão pela literatura. Com os olhos apertados e enxugando as lágrimas, a professora Rosa Helena Carvalho Serrano, responsável pela disciplina de Antropologia para o curso de Jornalismo, se desculpa pelo choro em plena banca examinadora de um trabalho de conclusão de curso. A emoção é justificada pela surpresa de sequer imaginar que, algum dia, um tema tratado naturalmente em sala de aula poderia se tornar um livro-reportagem ou, ainda, um trabalho junto à periferia e um caldeirão de efervescência cultural dentro e fora do curso. E a pergunta dela na banca examinadora foi: “Após o trabalho, o que ficou e mudou na vida de vocês?”. Para chegar nesta cena, vale voltar no tempo a um ano antes. Na sala de aula, durante uma abordagem comum, esta mesma professora entregou aos 32 alunos um chumaço de folhas contendo inúmeros textos do escritor Ferréz. A sugestão do assunto em sala de aula surgiu de um outro aluno que trabalhava com jovens de periferias e foi apresentado aos textos produzidos pelo escritor, morador do Capão Redondo. 116 Um momento singular. Assim pode ser definido o tempo da aula em que os textos de Ferréz foram lidos em voz alta por alguns alunos e debatidos de forma acadêmica. A periferia foi explorada e questionada por quem ainda a desconhecia. Tomei a palavra por várias vezes e contei parte das minhas experiências com o hip-hop, com a literatura e com o local onde vivo. Novamente, a cultura entrava na minha vida de forma sutil. Eu mal sabia que desta maneira, seria “para sempre”. Os textos fariam parte da prova no fim do ano e, em uma manhã, que parecia como qualquer outra, eu fui para o trabalho estudando dentro do ônibus. Peguei-me quase perdendo o ponto em que teria de descer com lágrimas nos olhos ao ler um texto do escritor paulistano. Ele falava sobre hip-hop de uma forma tão natural que eu senti muita falta do universo que fez parte da minha vida no início desta década. Chorei por saudade, por vontade de fazer parte novamente, movida por um desejo enorme de voltar a realizar eventos e beneficiar creches e instituições da região. Naquela noite eu decidi. Meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) seria sobre hip-hop e eu voltaria a integrar a cultura, independente do que eu precisasse fazer. 118 Traficando conhecimento Concepção 119 120 Traficando conhecimento Fui embora feliz, mas nem por isso consegui me afastar do meu cotidiano. A faculdade, de certa forma, “distante” dos problemas periféricos, me deixava algumas poucas horas por dia longe da minha quebrada, mas, todos os dias ao voltar para casa eu era obrigada a despertar do mundo “universitário”, ao qual apenas 1% da população brasileira tem acesso, e enfiar o pé no barro quase todas as noites, ao descer da van, passar pelos moradores de rua que sempre buscam abrigo na marquise de um comércio na porta da minha casa e ouvir os barulhos de tiro se confundirem com as letras dos livros que eu lia antes de pegar no sono para repor as energias e enfrentar mais um dia lotado de afazeres e sonhos. Para completar, mesmo cursando o nível “superior” de ensino, não deixava de pegar o ônibus cheio e enfrentar o massacre diário que todos os trabalhadores são obrigados a tolerar no transporte público e foi justamente no “aperto do busão” que dias depois da aula com os textos da literatura marginal me bateu o estalo: “Vou fazer um livro-reportagem sobre o hip-hop.” Com as lembranças da melhor fase da minha adolescência, de quando eu conheci a crew de break e todo o universo mágico do hip-hop é que eu cheguei a pensar no que poderia fazer como projeto experimental. Naquela manhã, dentro do ônibus, enquanto pensava na prova que faria à noite, em que os textos de Ferréz seriam objetos de interpretação antropológica, senti que minha vida estava ali e que não poderia ser diferente. Após a prova, comuniquei à Anita, pessoa fundamental durante meus quatro anos de faculdade, de altos e baixos, brigas, momentos de paz e muita troca de conhecimento. A melhor amiga que tive na vida. A pessoa com quem melhor trabalhei até hoje. “Vou fazer um livroreportagem sobre hip-hop, decidi. Você vem comigo Concepção 121 nessa?” e foi exatamente assim que eu falei e vi os olhos dela brilhando. “Sim. Hip-hop rola demais como TCC, fala de pessoas, é super social e jornalismo puro no relato do cotidiano.” Essa foi a resposta dada por ela. Poucas palavras que soaram como alívio após meses de discussão sobre qual tema poderíamos fazer para o TCC – trabalho que assombra todos os alunos de jornalismo e que decidimos, desde o segundo ano, que faríamos juntas e, caso isso não desse certo, faríamos sozinhas. Convicta. Assim eu estava. Certa de que abordar o hip-hop no meio acadêmico de uma cidade do interior era novidade e falar dele na região seria inédito. Abracei a causa e sozinha, ou com a Anita, eu decidi pelo livro-reportagem que traria elementos como DJ, MC, Break, Grafite e Conhecimento. Concepção Caldeirão de ideias Outubro de 2005: o final do terceiro ano de faculdade e a mente fervilhando de ideias. Saímos em disparada no preparo inicial do livro-reportagem. Ainda com a mesma ânsia por conhecimento que sempre me acompanhou, durante toda a vida, fiz uma lista com a bibliografia que poderia ser útil para a execução do trabalho e saí à captura de toda e qualquer informação técnica a respeito da cultura. Decidi: faria do livro a melhor reportagem da minha vida. Troquei as comédias românticas e muitos livros técnicos pela literatura brasileira e por toda aquela, que poderia ser utilizada como forma de conhecimento no processo de entendimento da cultura brasileira. Por trabalhar em uma livraria, aproveitei para encomendar vários livros e, assim, poder comprá-los com desconto – já descontados em folha. Por meio das leituras, passei a me identificar ainda mais com as manifestações culturais e sociais vinda da periferia e, diferente de quando eu tinha 15 e 16 anos, compreendi melhor como tudo isso funcionava no país, em todos os termos. Em pouco mais de um mês, senti despertar o desejo de reportar o hip-hop nacional e local em um livro, com todas 122 123 as faces, passando pelas dificuldades enfrentadas pelos militantes da periferia, com o descaso existente em qualquer gueto, com a ligação entre pobreza e cultura marginalizada e com o prazer que cantar as próprias mazelas produz em quem compõe as letras de rap e faz com que muitos dancem ao som deste ritmo diferente. Ao mesmo tempo, senti minha perspectiva mudar e, diariamente, me sentava com a Anita para falar sobre isso, comentar sobre o tema, discutir que rumos poderíamos dar ao trabalho e de que forma, na prática, aplicaríamos o universo que estávamos descobrindo. Após o término das provas e aprovadas para o 4° ano da faculdade, ficamos os meses de dezembro e janeiro distantes – ela morava em Mogi Mirim, estado de São Paulo e, assim como eu, viajava diariamente para estudar – mas prometemos estudar e pesquisar ainda mais para o TCC. Concepção O despertar Nem tudo foi fácil nesta trajetória. Descobri, diariamente, como é difícil crescer na vida. Como é complicado fazer uma faculdade quando saímos de um local pobre. Como é duro ter de contar cada centavo para poder tirar uma cópia, comer um lanche na hora do intervalo e ainda assimilar isso tudo e se sentir no céu por fazer parte de uma sociedade “elitizada” que nem mesmo a minoria de onde eu vim tem acesso. Ser jornalista num país como o Brasil é uma guerra diária. Ser estudante de jornalismo, assalariado, ainda mais. Vir de uma periferia e sentir a juventude vibrar no peito pela vontade de mudança sem nada a fazer é duro. Eu precisava fazer algo na prática. Ainda não sabia como poderia aproveitar os livros que arrecadei na livraria, mas tinha uma certeza: queria fazer com que tantas histórias chegassem até o meu povo. Ao menos, até aqueles que soubessem ler. E foi neste ponto também que um desespero imenso tomou conta de mim: o analfabetismo. Sei que, para os que estão do lado de fora, muito se julga sobre o hip-hop e a literatura da periferia quanto à falta de normas cultas, de pontuação, de palavras escritas da forma correta. Entretanto, se esquecem de que milhares de seres humanos não sabem ler. O analfabetismo 124 125 também mata. Mata de desgosto e tristeza aqueles que querem compreender o que assinam, que querem ver um filme, mas não compreendem as legendas, que passam pela banca de jornal e não entendem como o homem pode gastar dinheiro em algo que é de papel e que se acaba rapidamente, sendo bom apenas por um motivo: aquece as noites de frio. Eu não poderia alfabetizar a todos e me sentia extremamente mal porque nem todos poderiam ler o livro que eu escreveria. Se eu falaria com o povo, como eles entenderiam? Mas jornalismo não é apenas palavra escrita e eu encontraria uma forma de transmitir isso de alguma outra maneira, qualquer que fosse. De desgosto agi da única forma que consegui naquele momento e com a única arma que tinha: o hip-hop para reportar. Com o relógio marcando 20h e o horário de verão ainda deixando uma claridade, mesmo quando já é noite, saio da livraria e vou até o ponto do ônibus. Já estava trabalhando até mais tarde por ser mês de dezembro, por conta das vendas de Natal. Observo um grupo formado numa roda no ponto do ônibus e paro para observar. Surpreendo-me ao ver que é uma crew de break se apresentando, como parte das comemorações natalinas, patrocinadas pela prefeitura. Interpreto como um sinal positivo para o bom andamento do projeto e me convenço, cada dia mais, de que o hiphop realmente é meu caminho. Foi neste tempo que me lancei novamente nas reuniões das crews e nos shows de rap em busca de personagens e representantes da cultura na cidade e também no sul do Estado. Tirei do arquivo as antigas Rap Brasil e listei quem eu poderia entrevistar, que teria algo interessante para 126 Traficando conhecimento acrescentar ao livro. Mais do que isso, com um novo olhar — talvez o de uma jornalista em processo de formação —, passei a notar mais do que um simples grupo reunido para curtir uma música, uma dança ou uma arte. Percebi que cada uma daquelas pessoas trazia histórias únicas e que se fundiam em um ponto comum, que era a marginalização dos que vivem nas periferias e guetos. O desejo de conhecer a fundo o movimento foi ao encontro da vontade de fazer algo para, na prática, promover mudanças nos guetos onde estava acostumada a frequentar. Na semana seguinte, um novo evento de dança marcou meu calendário e o contato com novos grupos – que surgiram durante o tempo em que estive distante – foi sendo firmado. A volta às aulas foi marcada pela divisão dos grupos e a definição oficial dos temas. Ao explanarmos o nosso objeto de pesquisa e o tema que seria praticado no livroreportagem, fomos tolhidas pelo coordenador do curso, que achou ser algo que não dizia respeito à proposta acadêmica da universidade. Como não? O tema era livre, desde que rendesse uma boa reportagem e, muito antes do ano letivo começar, já estávamos empenhadas nas pesquisas. Outro ponto: se o assunto já havia sido debatido em sala de aula, como poderia fugir da proposta acadêmica? Como sempre, fomos teimosas e persistentes, batemos o pé e não recuamos. O nosso tema seria o livro-reportagem sobre hip-hop, seria o TCC e pronto. Uma nova briga começou com a escolha do professor orientador. O designado pelo orientador do curso não gostou. Tentou, mais uma vez, nos fazer mudar de ideia e trocar de tema. Sem sucesso. Tentou junto ao coordenador que outro orientador assumisse o trabalho. Concepção 127 Não conseguiu. O único jeito era trabalhar no assunto e definir a linha de pesquisa. Resolvemos que Anita faria a parte do relatório técnico, que é semelhante a uma monografia, com a coleta de dados e referências teóricas e eu ficaria responsável pela parte das entrevistas e escrita do texto que entraria no livro. Já cansada das baladas universitárias, do forró e de outros estilos, me envolvi novamente com as leituras e procurei saber mais sobre cultura popular. Nesse embalo, passei a fichar tudo que encontrava referente ao tema, ou mesmo, à cultura popular e, por mais que já estivesse, desde a adolescência, inserida no contexto da cultura, descobri novos aspectos e vertentes que me fizeram mudar um pouco o pensamento e despertar a vontade de mudar a realidade em que vivia. Concepção Traficando informação Beats dos anos 1970 e 1980 foram escolhidos a dedo para serem a vinheta de abertura do programa de rádio que teríamos de montar para a disciplina de radiojornalismo. Como sempre, fiz dupla com a Anita e já dá para ter certeza de qual foi o tema escolhido para o programa. É claro que falaríamos de hip-hop. Não poderia ser algo muito longo. Um pequeno documentário para o rádio, com entrevistas, músicas e vinhetas. O programa, Traficando Informação, levou a toda a universidade um pouco de informação sobre o que é o hip-hop. Pela primeira vez, sentimos o impacto disso. Primeiro diante do técnico de som do laboratório de rádio, na sequência pelos alunos da nossa turma e depois, por todos que ouviram o documentário. Algumas entrevistas já estavam sendo feitas e foram aproveitadas para abrir o programa, além de levar para dentro da universidade elementos e manifestações da rua. A vantagem do programa de rádio era falar a todos, sem exceção. O nome surgiu da música do rapper MV Bill, que também foi escolhida como vinheta de algumas partes do documentário. A alusão era ao tráfico de informações da rua para dentro da universidade, sempre combatendo o 130 131 preconceito, que era grande, por parte de professores e muitos alunos. A intenção foi mudar a visão destas pessoas através de um retrato da realidade. Entre as entrevistas do programa estavam um b.boy que fazia parte da crew que eu conheci no poliesportivo perto de casa e que se dispôs a usar o horário de almoço para me dar a entrevista na livraria onde eu trabalhava. Outro caso era de uma espectadora do movimento e também universitária, estudante de jornalismo, que, depois de fazer uma matéria sobre um festival, se apaixonou pelo tema. Na sequência, uma visão antropológica da professora Rosa Helena para amarrar o documentário. De forma simples, ela contextualizou o que queríamos dizer sobre a expansão do movimento no Brasil. “A desigualdade social é tão danada. É tão intensa, que não temos como ver movimentos como este diminuindo. Temos mais de 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, é natural que este tipo de movimento cresça.” Esse era o início da mudança de realidade que levava histórias reais e marginais para pessoas que sempre taparam o ouvido para isso. Em breve seriam as palavras documentadas em livro. Concepção Preparando o terreno Em uma noite fria, típica em Poços de Caldas, em um final de domingo, decidi ir até a casa de um dos b.boys que tinha conhecido há mais de seis anos, numa tarde qualquer, e que mudou tanto a minha concepção de mundo. Sentados na calçada em frente à casa dele ainda não terminada, Valdair me contou que havia se afastado um pouco do hip-hop por ter que trabalhar para ajudar no sustento da casa, onde ele vivia com a avó que o criou e a tia, a quem ele chamava de irmã, junto com dois sobrinhos. Contou-me ainda como começou no hip-hop e os sonhos que tinha, de montar oficinas e competições para ensinar os garotos tomados pelo ócio do local. Aquela conversa se transformou em uma matéria para a disciplina de Técnicas de Reportagem II na faculdade. Mais tarde entrou para o livro. Esta foi a primeira entrevista que surgiu, de forma espontânea, como um bate-papo e definiu a linguagem usada em todo livro — o new jornalism ou, como também é chamado, jornalismo literário — com a descrição de cenas, pensamentos e personagens que, como Valdair, foram explorados e explanados em meio ao colorido de muitas histórias e o preto e branco de outras tantas. A trajetória dele me inspirou e foi se somando as que eu 132 133 ouvia diariamente, tanto durante as pesquisas como no ônibus, na livraria e na faculdade. As dificuldades do povo que vive nos guetos, nas quebradas, se revelaram dentro do hip-hop, contida nas letras dos raps, na forma de dançar dos b.boys e b.girls, na forma de se vestirem e nas linhas de vários escritores brasileiros. Li Ferréz novamente. Li Marçal Aquino. Li Plínio Marcos. Li Luiz Eduardo Soares, Darcy Ribeiro, João Ubaldo Ribeiro e até mesmo Gay Talese. Minha vontade de mudar meu espaço e minha quebrada ficava a cada dia maior, entretanto, eu sabia que trabalhando, fazendo faculdade, inglês, pesquisando e escrevendo o livro ficaria difícil elaborar algo ainda aquele ano. Contudo, a cada entrevista que fazia – como uma que rolou com um b.boy e rapper dentro da livraria –, quando eu precisava de depoimento para um programa de rádio da faculdade, me sentia mais inserida no movimento e com mais vontade de permanecer e fazer acontecer. O prazer em gravar as entrevistas era algo que alimentava minha alma e me dava uma certeza: eu seria jornalista, sim! Decupar as fitas e montar o texto também me faziam pensar muito e me deixavam inspirada a conhecer, ainda mais, sobre esta cultura popular tão fascinante. Sem perceber, havia voltado a fazer parte da cultura e frequentar os eventos por toda parte. Onde havia qualquer vestígio de hip-hop, eu estava lá. Cacei todos os contatos e visitei todos os colegas da época do poliesportivo. Shows de rap, apresentações de break, eventos beneficentes e qualquer música nova composta eu fazia tudo que podia para estar presente. Descobri que, durante o tempo em que fiquei afastada, muita gente nova surgiu e 134 Traficando conhecimento estava fazendo a diferença. Descobri outro estilo de rap. Voltei a aprender e fazer parte. Ansiosa e um pouco receosa, entrei no teatro municipal da cidade, que estava lotado de gente vinda de toda circunscrição. Pessoas ocupavam os assentos, o chão e se apoiavam na parede em volta. Todos muito estilosos, aguardando o início das apresentações. Cacei um lugarzinho bem na frente e me sentei. Do meu lado, um garoto de São Paulo puxou conversa e me contou um pouco sobre o grupo do qual ele fazia parte. Com um nome diferente – Silêncio Crewativo – ele me contou como funcionava. Por coincidência foi o primeiro grupo a se apresentar e, embora não tenham sido os campeões, apresentaram uma coreografia com uma proposta bastante diferenciada. Grupos de cidades como Caconde (SP), Campestre (MG), Vargem Grande do Sul (SP) e Cabo Verde (MG) também se apresentaram, além dos tradicionais de Poços de Caldas. Ao término das apresentações procurei fazer mais contatos e algumas primeiras entrevistas. Por incrível que pareça, tive a sensação incrível de me sentir muito bem enquanto estava cercada pelas manifestações culturais da periferia. Como se uma espécie de paz diferente me invadisse e me fizesse sonhar com coisas melhores, me injetasse ânimo para lutar e me fizesse ver que coisas boas ainda eram possíveis e que pessoas boas ainda existiam. Tive vontade de, novamente, entregar alguns textos a conhecidos e pedir que eles lessem antes do evento ou durante os intervalos, mas, como estava voltando naquele momento, não poderia ir com tanta sede ao pote. Talvez depois do livro pronto. Concepção 135 E, quando eu menos esperava, o primeiro semestre terminou, o livro continuava sendo feito e a tão esperada viagem a São Paulo – berço do hip-hop no Brasil – aconteceu. 136 Traficando conhecimento Concepção 137 Concepção Hip-hopeando Debaixo de uma forte chuva, que caía fora de época – em julho – embarcamos para São Paulo onde passaríamos uma semana para apurar um pouco mais sobre a chegada do hip-hop ao Brasil e as diferenças dos grupos da maior cidade do país para os grupos do sul de Minas. Mesmo sem conhecer a metrópole e deslumbradas com a vida que, em São Paulo, não para nos lançamos em uma aventura pelo Largo São Bento, galeria 24 de maio e outros locais famosos por terem sido “oficialmente” o berço da cultura. Entre a Casa do Hip-Hop em Diadema, alguns rolés por quebradas como Jaraguá na Zona Oeste, uma favela no Morumbi e os ataques do Primeiro Comando da Capital (PCC), que retornaram justamente naquela semana, entrevistamos muitas pessoas, anônimas ou renomadas, dentro da cultura e aprendemos tudo que poderíamos naquele curto espaço de tempo. Personagens como um vendedor de loja na galeria 24 de maio que trocou as drogas pelo hip-hop e passou a compor e cantar rap gospel nos fez avaliar um tanto do propósito cultural e muito do propósito da vida. 138 139 Em razão do tempo em que passei afastada, muita coisa nova havia sido lançada e todo dinheiro que economizei durante meses não foi suficiente para que eu comprasse todos CDs e DVDs novos que iriam me ajudar no trabalho, além de atualizar a indumentária e passar a ser reconhecida, esteticamente, como alguém do movimento. Com as entrevistas, passamos a entender mais como uma cultura pode mudar a vida de muitas pessoas, transformando-as sempre em ex-viciados, ex-criminosos ou dando um sentido ao ócio. O engraçado foi que essa, como algumas outras entrevistas, surgiram de forma inesperada, enquanto tentávamos entender mais sobre esse universo. Caminhando entre as lojas, fomos abordadas por conta da camiseta que vestíamos, em que se lia “Jornalista por formação”. Neste mesmo rolé encontramos o telefone de um DJ na porta de uma loja. Ele procurava um back vocal. Talvez fosse um sinal, pensamos. Ligamos naquele mesmo dia e marcamos uma entrevista para o dia seguinte. Sem nunca ter andado de trem, embarcamos em vários até cruzar a cidade e chegar na Zona Oeste. Um bairro agradável se revelou aos nossos olhos, embora muito pobre e com vários barracos. A semelhança com o local onde moro foi detectada logo no início. Cenas que só podem ser vistas na periferia. Nenhuma praça inteira, nenhum centro cultural, nenhuma biblioteca e o posto de saúde mais próximo há muitos quilômetros de distância. Crianças empinando pipas, correndo pelas ruas e vielas, sempre em meio à falta de saneamento básico e de infraestrutura para abrigar diversas famílias. O som que ecoa também é o mesmo: letras de rap que relatam o cotidiano. O trabalho era incrivelmente prazeroso. Parecia festa. Em todos os cantos, parávamos para tirar uma foto, registrar tudo para botar no making of. 142 Traficando conhecimento Personagens como um DJ que deixou as drogas para se dedicar a arranhar os discos na Zona Oeste de Poços de Caldas que, tão logo percebeu que poderia ser feliz sem estar muito louco, recebeu um convite para tocar junto ao grupo UClanos. Também como o professor e arte-educador, Éder, que deixou os empregos com carteira assinada para ensinar break e dança de rua para as crianças da cidade, ocupando também a Fonte do Leãozinho e mantendo a tradição de unir os patrimônios materiais e imateriais da cidade. As lágrimas nos olhos de Stephanie, com 13 anos na época, me fizeram segurar o choro enquanto a entrevistava. Indo ao encontro da proposta de Éder, que era tirar as crianças e jovens das ruas, evitando que eles se envolvessem com o crime, ela me contou que optou por aprender a dançar e preencher as noites de sábado com as aulas para se ver livre das drogas e da saudade do irmão que morreu, após uma parada cardíaca provocada por uma overdose. “Meu irmão é exemplo. Eu acho que se ele fosse envolvido com hip-hop, estaria com a cabeça ocupada.” Mais uma vez senti a certeza do caminho certo pulsando no meu coração. E eu? Se não estivesse trabalhando com hip-hop e cultura, estaria fazendo o quê? Se não tivesse sido seduzida pelos livros e por uma cultura popular, o que estaria fazendo? Relatos como os de um grupo que arrecadava cada centavo para ajudar as crianças e jovens que estavam nas ruas e como espaço usavam uma sala de uma casa de repouso onde viviam idosas em fase terminal ou como as de King Nino Brown ao tentar cuidar para que o hiphop fosse retransmitido de forma certa são parte do livro e que me emocionam muito. Bem como a história de André Du Rap, que sobreviveu ao massacre do Carandiru e encontrou no hip-hop um caminho longe do Concepção 143 crime e de resgate me fizeram ter um objetivo: trabalhar com hip-hop e levar o projeto do livro adiante. Mesmo sem saber como, a emoção que sentia quando ouvia todas aquelas histórias que desenham a cultura como ela é, foi o que me fez ser parte integrante da cultura novamente e de uma forma muito mais ativa. Vale lembrar que isso se deu mesmo sem que eu soubesse cantar, dançar, riscar discos e tampouco grafitar. Concepção Um grito de emergência Retornei à Poços de Caldas e Anita ficou em Mogi Mirim. Cheguei à cidade cheia de ideias e vontades para aplicar e montar projetos locais. Toda experiência em São Paulo e também em Poços me fizeram constatar que, realmente, as periferias eram tratadas como “Quartos de Despejo”, de acordo com o que relatou Carolina Maria de Jesus no primeiro livro brasileiro escrito por uma favelada. Era para lá que eram jogadas as pessoas sem renda alta, sem grandes perspectivas, analfabetas, negras, feias, e tudo aquilo que a elite não queria “sujando” a sociedade “bem organizada”. Perto disso tudo e louca de raiva, de fúria, senti o mesmo ímpeto de todos aqueles que usam o hip-hop como arma: gritar e mostrar ao mundo, de alguma maneira, o quão é cruel tratar seres humanos como lixos. Como não saberia fazer isso através de letras de rap, ou sequer cantando, como inúmeros dos grupos que entrevistávamos faziam, tampouco conseguiria dançando ou grafitando, realmente a única forma era escrever. E assim foi, me lancei a escrever tudo que vi, ouvi, vivenciei através do hip-hop para pôr no livro. Cada palavra digitada, pensada, rascunhada, foi posta ali, com todo coração, numa tentativa de dar ainda mais voz àqueles que eram calados diariamente pela fome, 144 145 pelo descaso, pela falta de informação, pela falta de acesso de cultura. Descobri o hip-hop como uma ferramenta capaz de ajudar na luta diária pela sobrevivência dos guetos e foi, justamente, em cima disso que tentamos trabalhar no texto e no relatório técnico. Como um grito de dor, uma emergência. Assim descobri a existência da Cooperifa. Um sarau poético, um movimento da periferia, um local de uma energia singular e capaz de mudar tantas vidas. Surgiu na Zona Sul de São Paulo como um desespero em levar poesia e literatura até donas de casa, metalúrgicos, estudantes e cidadãos. Cidadãos de qualquer raça, sexo ou credo. Cidadãos “marginais”, que nunca haviam pego um livro ou lido uma poesia. Arte e cultura não existiam no jargão periférico de tráfico, opressão e sofrimento. Como um quilombo cultural foi criado o sarau que funciona no bar do Zé Batidão. Este movimento não poderia ficar de fora do livro e, por meio de uma apuração que me tomou bastante tempo, consegui traçar um pequeno perfil do movimento, que, mais tarde, me inspirou totalmente na criação de projetos e na forma de colocá-los em prática. Fazendo mais e pensando menos. O que mais me chamou atenção na história do sarau é que muita gente, que nunca havia pego em um livro ou sequer sabia ler e escrever tinha voltado a estudar e estava escrevendo a própria história através de reuniões semanais em um bar onde a única exigência era o silêncio em forma de prece e respeito ao poeta. Dessa maneira, verbalizar a opressão e o descaso social se transforma em valorização das lutas que moradores da periferia vivem diariamente e a Cooperifa abre 146 Traficando conhecimento espaço para esta realização, funcionando como a academia de letras do subúrbio. Esta ideia inspira outros saraus pelas periferias de São Paulo, a maioria em botecos, com gente simples e humilde, e que transforma todo conteúdo sofrido do dia a dia em poesia. O principal da Cooperifa é a transformação social. Gente que não sabia ler e, agora, já está escrevendo livros. Fez-me acreditar que as mudanças podiam realmente acontecer. A proximidade disso tudo com o hip-hop? Total. Descobri o Sérgio Vaz ligado à cultura marginal, à pessoas envolvidas com o hip-hop e, por conseguinte, à literatura. E por ser também uma forma de manifestação, um novo elemento da cultura. Com esta história contada de forma tão real e citada no pré-projeto do livro, um mês depois da viagem a São Paulo, Anita e eu fomos aprovadas na pré-banca e bastante elogiadas pelas professoras que analisaram o projeto. Na apresentação básica mostramos o que poderíamos contextualizar através do livro e durante a viagem constatamos o que já vinha observando há tempos. Parafraseando Mano Brown, periferia é periferia em qualquer lugar. Seja em São Paulo, em Poços de Caldas ou em qualquer outra cidade. Mudam as gírias, o sotaque e a localização geográfica, mas os moradores se assemelham da mesma forma e carecem das mesmas coisas. A falta de estudo e a desinformação acarretam diversas consequências, bem como a falta adequada de condições de vida. Os jovens aliam-se às drogas, e, por não conseguirem empregos dignos, passam para o tráfico, quando o dinheiro vem fácil e rápido. As garotas são mães muito cedo, e viram donas de casa e chefes de família muito cedo. Os moradores da quebrada também não costumam levar o estudo adiante devido às pesadas jornadas de trabalho, na maioria das vezes, em troca de Concepção 147 148 Traficando conhecimento um salário mínimo. E quase sempre estão cansados ao anoitecer, quando é hora de ir para a escola. No fim do dia, os moradores da favela preferem conversar na porta de suas casas, namorar, ir a eventos próximos – a maioria de hip-hop ou samba –, igrejas e bares. Antropologicamente, todos os autores discutem isso em livros, teses e dissertações e as atitudes aqui retratadas são as mais típicas dos guetos, e deles, o país está repleto. De repente, é isso que faz com que as periferias sejam tão mágicas, mas, ao mesmo tempo, faz com o que o povo seja cada vez mais miserável, principalmente no que diz respeito à parte cultural. O livro foi, então, tomando forma e ganhando corpo. Cada fonte foi trabalhada de forma individual, e em um conjunto, constatamos, pelas histórias, que grande parte nunca foi a uma biblioteca e nem sabe onde elas ficam, uma vez que as mais próximas, ficam a quilômetros de distância, assim como as demais opções de lazer, que terminam, mais uma vez, restritas aos bares, biqueiras e televisão. Desta forma eles desenvolvem uma cultura própria, que inclui linguajar, vestimenta, comportamento. São as subculturas ou a cultura popular, visto que este povo, excluído e humilhado, ainda sente na pele a mesma coisa que os escravos. O gueto é apenas a senzala moderna e eles vendem a mão de obra por um prato de comida, ou, muitas vezes, nem isso. A dignidade fica esquecida, a identidade perdida. Vítimas dos constantes descasos governamentais, aos moradores das periferias restam apenas uma válvula de escape: a confiança em suas próprias forças. Buscar dentro deles as afirmações culturais, as ideologias e uma saída para tantos problemas sociais que os afligem. Concepção 149 Desta forma, as situações de exclusão transformam-se em indignação, em um grito preso na garganta, oprimido, triste, sofrido. Um berro prestes a explodir. Os moradores dos guetos necessitam encontrar um espaço para expor toda a indignação. O hip-hop é uma destas saídas. Ele reúne manifestações culturais expressivas. É um movimento que nasceu da necessidade do povo em expressar sua arte. Concepção Citação do caminho certo Recordo-me que, durante todo processo de feitio do livro, Anita e eu comentávamos que nosso sonho era ver nosso trabalho citado em algum outro trabalho acadêmico. Apesar de todo prazer da execução queríamos também reconhecimento e se fôssemos referência em algum trabalho, ficaríamos extremamente felizes. Eis que já quase no mês de outubro fui procurada, na internet, por uma garota de Goiânia-GO, conhecida como Kaká Soul, que estava se formando em Relações Públicas e fazendo uma monografia acompanhada de um documentário como TCC. Ela queria algumas referências. Tornamos-nos amigas, trocamos livros, filmes e todos os materiais que tínhamos sobre hip-hop. De tão parecidas, passamos a nos tratar como “mana”, como se fôssemos, realmente, irmãs perdidas e mesmo tanto tempo depois, permanecemos irmãs de cultura, de hip-hop, de afinidade popular. Como o trabalho dela seria apresentado somente em dezembro, deu tempo de enviar o nosso pronto a ela e vê-lo citado nas páginas da monografia que ela escreveu. Emoção completa. Lembro-me, também, que pela internet nos falávamos todos os dias e trocávamos ideais sobre projetos que poderíamos montar nas periferias 150 151 que vivíamos. Apesar de algumas poucas diferenças de costumes, elaboramos algumas ações, como oficinas. Kaká foi um anjo na minha vida. Com valores bem parecidos, me mandava mensagens dizendo para me acalmar em meio ao caos que a minha vida estava, ela tinha certeza que daria tudo certo. Aquelas simples mensagens me faziam um bem enorme. Saber que meu trabalho poderia ajudá-la me fazia pensar que ele não era, enfim, tão ruim. Ela, como dançarina, reuniria os amigos e daria aulas para crianças carentes, além de trabalhar a parte do conhecimento, da leitura, das bibliotecas comunitárias. Eu deveria fazer o mesmo aqui, assim que 2007 invadisse o calendário, e fomos seguindo, trabalhando, estudando e registrando um pouco mais sobre a cultura marginal. E assim, diante de vários problemas financeiros, a livraria em que eu trabalhava estava prestas a falir. A luz foi cortada. Poucos livros preenchiam as prateleiras e eu estava, há um bom tempo, sem receber meu salário. Na hora do almoço saía para procurar outros empregos. Ir para a faculdade diariamente já se tornara insuportável, afinal, aguentar viajar durante quatro anos seguidos em vans e chegar em casa super tarde não era mais tão divertido. Escrever o livro era prioridade e a falta de tempo começava a pesar. Sem energia elétrica na livraria – ou seja, não podia usar o computador – e sem muito que fazer, escrevia em folhas de caderno e, como era impossível trabalhar até às 18h20, por conta da falta de luz, saía mais cedo, ia até uma lan house e digitava o que já tinha escrito a mão. Trabalho dobrado. Por várias vezes pensei que não daria conta de terminar no prazo. Fiquei três noites inteiras acordada acompanhando a diagramação – na companhia de Anita – e fiz os últimos acertos, como 152 Traficando conhecimento Concepção 153 introdução e legendas, na última hora. O diagramador, publicitário e amigo, Guilherme Dore, que foi fundamental durante toda minha trajetória profissional e sempre me deu muita força na área pessoal, também, teve a disposição de ficar acordado nas madrugadas, mesmo tendo de trabalhar no outro dia, para diagramar o livro comigo, além de toda paciência quando resolvia mudar algum detalhe e bagunçava toda ordem das páginas. Com todo profissionalismo e amizade, ele conseguiu terminar a diagramação, e começamos uma corrida contra o tempo para encontrar uma gráfica e imprimir o trabalho, antes do prazo final de entrega. Na última noite, com o livro quase pronto, descobri que não tinha ainda um texto para a orelha e tampouco um texto de abertura. Às pressas, mandei um e-mail para Mirella Domenich, autora do livro “Hip-Hop - a periferia grita”, que nos inspirou muito, e pedi uma orelha. Acho que meu tom desesperado e urgente surtiu efeito. Meia hora depois ela me mandou uma orelha tão precisa que a sensação era de que ela havia lido o livro inteiro naquela meia hora, realmente. Quanto ao texto de abertura, sentei, peguei uma folha de rascunho e pensei: o que sair aqui será o texto. Não dá mais tempo de mudar. E assim foi: HIP Vem ardendo, sangrando e machucando. É o berro que emana dos morros, guetos e favelas. Vem dos locais mais pobres, o grito desesperado que vem da periferia. Chega ao asfalto carregado de protesto, indignação, carência, vontade, luta e marginalidade. A força que vem do lado negro, pobre e inferiorizado e atinge toda a sociedade com sua forma, sua arte e sua cor. O nome dela é hip-hop e está aí para fazer barulho, debater as questões controversas de uma sociedade que se finge de surda para este grito de protesto. 154 Traficando conhecimento Hip-hop é um terno que vai além. Significa cultura, mas também significa movimento, arte, expressão, paz, amor, soluções, lutas e igualdade de direitos. O hip-hop é ilustrado por personagens sobreviventes de guerra. Uma guerra diária pela vida. Ele acolhe e tenta proteger os que já nascem condenados à morte. Personagens reais, cercados pela miséria, fome, desinformação, violência, crueldade, desemprego, drogas, descaso, desabrigo, armas de fogo, tráfico e desrespeito. Em meio a tantas armas que eles podem escolher no jogo real do “matar ou morrer”, o hip-hop escolhe a maior de todas as armas: a cultura. Uma cultura marginal, mas que não é propriedade dos grandes, não é da elite nem da burguesia. É a cultura de quem foi capaz de criá-la e levá-la adiante. É a cultura das ruas, do povo. O hip-hop não foi inventado, ele nasceu naturalmente no gueto, recebeu a forma dos negros e excluídos e, hoje, auxilia o povo a encontrar uma identidade. Esta cultura marginal traz de volta os sonhos daqueles que carregam o sofrimento como estilo de vida. Ela eleva a autoestima daqueles que antes eram forjados de estorvo pela sociedade. Através de expressões artísticas intensas, o povo da periferia encontrou no hip-hop a vontade de viver, a motivação e a consciência de cidadania. O mínimo que o hip-hop propõe com suas manifestações e expressões que mudam e desenvolvem-se a cada dia é um olhar livre de preconceitos. Livro diagramado. Às 18h40 consegui pegá-lo na gráfica e estava sem a última página! “Ai meu Deus, serei reprovada”, pensei. E, desesperada, fizemos uma gambiarra na própria gráfica e deu certo, imprimimos a última página, que amarrava todo o texto, concluía todo o livro e o trabalho de mais de um ano. Uma hora depois e ele estava entregue. Faltavam apenas alguns dias para a banca final e era o tempo que tínhamos Concepção 155 para preparar a apresentação, as roupas, a decoração. Finalmente, consegui fazer um acordo na livraria e ter pouco mais de uma semana para finalizar o trabalho. Lembro-me desta época como a única da minha vida em que eu não estava lendo absolutamente nada, apenas escrevendo. Não havia tempo. Era preparar o material da apresentação. Revisar. Fazer os convites. Revisar. Ajustar o detalhes. Revisar. E tentar controlar a ansiedade até o dia 31 de outubro de 2006, quando apresentaríamos o trabalho. Seria o último de toda turma. Fecharíamos as apresentações daquele ano. Anita se tornou jornalista. Eu me tornei jornalista! Concepção Do povo para o povo: “Hip-Hop – A Cultura Marginal” São 22h. Preparo-me para dormir. Pela primeira vez na vida tomo um calmante. Na verdade é um remédio homeopático, mas que eu engulo com fé e pensando que vai me fazer dormir mais tranquila. Esta é a véspera da apresentação do TCC. Tento pensar que está tudo certo. Que ninguém na banca sabe mais sobre o tema do que nós – Anita e eu – afinal passamos o último ano inteiro nos dedicando a ele. Durmo a noite toda, mas acordo cedo. Seria querer demais dormir até tarde. Ainda faltam algumas coisas. Como pouco. Quando fico ansiosa não consigo comer muito. Ainda falta um violão para o grupo que vai tocar e dançar como show durante a apresentação. Ligo para Anita. Ligo para todas as pessoas que conheço. Entro em desespero e, por fim, consigo três violões. Por volta de 15h, saímos de casa. O casal Lu Afri e Suburbano, que integram o UClanos vão comigo e mais uma amiga. Minha mãe vai dirigindo. Meu pai fica em casa para ir mais tarde, levando o outro integrante que sai do serviço às 18h. Ele vai matar aula para estar na apresentação. Chegamos a São João. Anita chega logo em seguida. Montamos todo nosso cenário. Erguemos nosso painel 156 157 grafitado com o nome do livro e em poucos minutos, chamamos atenção de quem passava pelo local. Pelo menos no campus, falar de hip-hop de forma tão explícita era novidade. Uma boa sacada do coordenador do grupo foi colocar nossa apresentação na sequência da apresentação de uma colega de classe que produziu um livroreportagem sobre congadas na região de Poços de Caldas. Ambos os trabalhos traziam cultura popular como tema. Ambas as culturas produzidas do povo para o povo e congregando os negros, excluídos socialmente. Após tudo decorado, subimos para o banheiro mais sossegado da faculdade para tomar um banho de gato, trocar de roupa, passar maquiagem e ensaiar uma última vez toda a apresentação. A ansiedade era quase palpável. Sentimentos de alívio, medo e conquista eram visíveis no nosso comportamento. Um último ensaio. Quem fala o quê. Quem dá boa noite para a banca. 21h. Hora de encarar o auditório, que estava movimentado por conta do intervalo, do término da primeira apresentação e de quem aguardava a nossa. Vestidas como os hip-hoppers, nos posicionamos, colocamos o CD com a apresentação no computador e nos preparamos para aquele que seria, sem dúvida, o momento mais importante de toda nossa trajetória dentro da universidade. Ainda muito nervosas, demos início a apresentação e, aos poucos, conseguimos nos soltar, entrar no tema e adentrar novamente no mundo que vivemos durante todo último ano, além de eu ter vivido durante um bom tempo na adolescência, diariamente. Conforme fui falando, senti dentro de mim o desejo de realmente ser parte de tudo aquilo, de continuar pesquisando, de permanecer estudando a cultura. Contamos de forma resumida toda a trajetória, como o livro foi concebido, pesquisado, escrito e formatado. 158 Traficando conhecimento Concepção 159 160 Traficando conhecimento Concepção 161 164 Traficando conhecimento Finalizada a apresentação, as considerações da banca. Algumas pequenas observações e pedidos de esclarecimentos sobre trechos do livro vieram de uma professora que, durante todo o tempo também, nos apoiou, direta e indiretamente, sobre a escolha do tema. Da outra professora, a antropóloga Rosa Helena, apenas uma pergunta. A que deu início a todo este capítulo e que, talvez, deu sentido a todos os projetos envolvendo literatura e conhecimento que existem hoje. A banca pediu que nos retirássemos para decidirem a nota. Por normas da universidade, as notas não poderiam mais ser divulgadas para os alunos durante a banca, somente após o fechamento oficial do ano letivo. Fim. A apresentação terminou. Fomos aprovadas. Hora dos parabéns, dos abraços, dos cumprimentos, de tirar as últimas fotos da turma toda reunida. Estávamos todos formados. Agora seria a vida profissional. O mercado de trabalho. O mundo lá fora. Posei para as fotos e cumprimentei todos. Com a certeza de que continuaria trabalhando com hip-hop e ansiosa para pôr todas as minhas ideias em prática. Ainda não sabia como faria para executar tudo o que eu tinha vontade, mas a certeza na alma me mantinha apaixonada e ligada à cultura negra, ao hip-hop e a literatura. Hora de voltar para Poços de Caldas. Suburbano me olha nos olhos e dispara: “Foi a melhor apresentação que já fiz com o UClanos.” Emocionada, pergunto: “Por quê?” E ele: “Porque antes de tudo foi trabalhado o conhecimento. Você explicou o que é a cultura, sem falar que nos apresentou como os tios do hip-hop. Foi muito gratificante”, disse. Concepção 165 Já não cabia mais em mim de tanta felicidade por ter feito a apresentação, por ter chegado ao fim desta etapa e por saber que eu continuaria. Abracei meus pais e os agradeci, por terem dividido comigo os quatro anos da faculdade e por terem apresentado o trabalho ao meu lado, além de terem passado várias noites perguntando o que poderiam fazer para me ajudar a terminar o livro. Claro que fizeram por mim muito mais, começando pelo sacrifício em poupar durante dezessete anos e depositar para que eu pudesse cursar a faculdade, por terem me incentivado a escrever, a ler, a ser a pessoa que sou e por acreditar naquela que eu gostaria de me tornar. Por fim, respondendo a pergunta da professora: o livro mudou tudo e na vida ficou a vontade de mudar, de fazer diferente, de construir projetos, de ajudar quem nos ajudou, de abrir nosso coração e nossa mente cheia de ideias para aqueles que abriram suas vidas e portas de suas casas para nos receber e nos deixaram conhecer um pouco mais do hip-hop e desta cultura marginalizada. O choro de Rosa foi justificado quando eu e Anita dissemos, em coro, que nossa vontade era fazer pós ou mestrado em antropologia, para dar sequência. Pude então usar a frase que mais me marcou durante toda a trajetória: o hip-hop também salvou a minha vida. 166 Traficando conhecimento Concepção 167 No ar: o hip-hop Cap.04 No ar: o hip-hop No ar: o hip-hop 173 — Sim. Claro que vou. Que horas preciso chegar? Às 10h da manhã de sábado, subi a escadaria que me levaria até o estúdio AM da emissora. Aline foi uma colega de classe, também fã do hip-hop, que, inclusive, usou alguns dos personagens do livro para uma matéria do programa de televisão que o grupo dela produziu para o TCC. Ao chegar no local, me lembrei do dia em que fui lá pedir emprego ainda no segundo ano e recebi um não. Pensei que, realmente, o mundo gira. A tênue linha entre o crime e os cidadãos de bem é cruzada diariamente por milhões de jovens que vivem nos guetos de todo país. Na minha quebrada não é diferente e o livro “Hip-Hop – A Cultura Marginal” revelou-se uma arma. Diferente das empunhadas pelos soldados do tráfico, a munição veio em forma de palavras, que passaram a chamar a atenção dos jovens em oficinas promovidas nas escolas, centros comunitários e sedes de Organizações Não-Governamentais (ONGs). Assim, o desejo de voltar à cultura marginal e levá-la adiante se tornou realidade. Não foi possível iniciar pós ou mestrado em antropologia, mas dar sequência no que tinha vontade, foi algo vital. Meu telefone toca. — Alô? — Oi Jéssica. Aqui é Aline Bertolli. Você pode participar do programa da Tereza no sábado de manhã aqui na Rádio Difusora, onde trabalho? — Posso. Mas para falar o quê? — Sobre o seu livro. Pensei um pouco. Um friozinho na barriga e na espinha me fizeram hesitar por um breve momento. Claro que eu iria participar. Uma primeira oportunidade oficial para divulgar o livro. Não teria porque recusar. 172 Uma senhora muito simpática me recebeu e disse que seria mais um bate-papo o que não me tranquilizou nem um pouco. Não por falar no rádio ou num microfone, porque isso, eu adorava, mas por saber que a emissora AM era uma das mais ouvidas na região, principalmente naquele horário e eu falaria sobre algo relativamente novo até então para aquele público. Com uns três copinhos de água na minha frente, o operador da mesa de som me deu bom dia e pediu para ver o livro. O sorriso no rosto dele me deixou mais confortável. Ele aprovou a capa e o design. Meio caminho andado. Três. Dois. Um. No ar. A entrevista começou e ela me apresentou como uma jovem, recém-formada, com um livro em mãos e me perguntou tudo sobre o trabalho. Pela primeira vez tive a oportunidade de expressar, de forma tão simples – pelo meio de comunicação mais democrático – a emoção que senti ao conhecer a cultura, ao me envolver, ao me distanciar e ao voltar, para fazer o livro. Narrei várias aventuras em busca do produto final e li alguns trechos, acompanhada por ela, que de forma muito sagaz, se declarou uma nova fã do movimento e porque não dizer, uma nova adepta, segundo ela própria. Quando recebi o convite, imaginei que duras horas em uma rádio era tempo demais. A leveza da conversa me 174 Traficando conhecimento fez perceber que o tempo foi ínfimo perto de tudo que poderia ser dito. Para finalizar, li o texto de introdução e ela fez questão de ler a poesia “Jorginho” de Sérgio Vaz, que usei para destacar a Literatura Marginal no livro. Ainda naquela manhã, quando deixei a rádio recebi vários telefonemas de conhecidos e muita gente que sequer sabia que estava envolvida com o movimento. Vibrei com a repercussão e me senti realizada em poder, de alguma maneira, levar o conhecimento através do hip-hop até mesmo para quem não sabia ler ou escrever. Minha paixão pelo rádio começou a crescer, também, neste dia. No ar: o hip-hop 175 No ar: o hip-hop Agora sim, profissão repórter! Novamente a busca por um emprego com carteira assinada fez parte da minha rotina, entretanto, com muito mais seriedade. Agora eu estava formada e precisava encontrar algo na minha área para não enlouquecer. Saí pela cidade munida com currículos e não me limitei. Embora minha vontade fosse trabalhar com jornalismo, procurei emprego em lojas, supermercados e restaurantes. A única coisa que não queria era voltar a viver de freelas e não ter estabilidade. Com o vento soprando a favor, pelo menos desta vez, consegui um emprego na segunda semana do ano. Após um teste de três dias, garanti a vaga para ganhar um pouco mais que um salário mínimo e trabalhar de segunda a sábado com horário de entrada e sem horário de saída. Aceitei, pois era melhor do que nada, sem falar na chance de aprendizado. Pela primeira vez vi o livro me proporcionara um retorno. Durante a entrevista, mostrei o que tinha produzido de concreto e, no teste, a experiência com as reportagens do livro foi fundamental para o desenvolvimento das reportagens para o jornal. Fui contratada no dia 16 de janeiro de 2007. A partir daí, com a rotina bastante mudada, precisei encontrar algum tempo e forma de divulgar o livro, de implantar os projetos na minha região, enfim, de fazer tudo aquilo que havia prometido a mim mesma. 176 177 Logo de cara, marquei um estilo próprio, sempre aproximado do jornalismo literário, optava sempre pelas pautas mais humanas e que lidavam com comportamento, regiões, problemas periféricos. Na primeira reunião de pauta, sugeri uma série de reportagens nas comunidades. Dispus-me a visitar um bairro por semana e captar todas as necessidades em cenas, palavras, expressões e imagens. Com um patrão durão e elitista, fiquei surpresa ao ver que ele havia apoiado a ideia e colocado a minha disposição o carro do jornal ou, em último caso o motoqueiro-faz-detudo, que também era fotógrafo. Iniciei a série pela Zona Leste, do outro lado de onde eu residia, e só para confirmar o que já sabia, os problemas eram os mesmos. Crianças soltas pelas ruas sem uma quadra, parque ou centro de lazer decente, nenhuma biblioteca e apenas um posto de saúde em total deficiência. Isso sem falar na pavimentação, inexistente em 80% das ruas. Com material suficiente para encher uma página de jornal, batizei a série que acabava de ser lançada como “JP Comunidade”, lembrando o nome do Jornal de Poços de Caldas e dando voz aos moradores das quebradas. Ficou combinado que as matérias sairíam toda quintafeira e minhas quartas ficaram lotadas. Passei a receber ligações de vários outros bairros que pediam a visita da reportagem no local. Na segunda semana visitei um bairro na Zona Sul. Não o que vivo, mas um vizinho e assim por diante, fui dando voz aos moradores que sofrem com a dureza da vida, o mau cheiro dos esgotos, a falta de asfalto, de saúde e do básico. Entre uma visita e outra aos bairros, durante as entrevistas com moradores, por diversas vezes, me deparei com adeptos da cultura hip-hop e lamentei não ter 178 Traficando conhecimento dinheiro suficiente para fazer diversas cópias do livro e distribuir entre eles. Foi aí que a internet entrou como peça fundamental para a divulgação do trabalho e para a emissão de um outro tipo de voz: a que canta as mazelas através do rap, que grita as injustiças nas cores que tingem o muro e que relata a dureza cotidiana nas palavras das poesias marginais. No ar: o hip-hop Salvando vidas 181 — Como assim? — Ela morreu esta noite. Teve uma parada cardíaca. Ainda não sabemos direito. Será enterrada em Mogi Mirim, mas ainda não sei o horário do enterro. Tentei desligar o mais rápido possível. Ainda não são 8h da manhã e me reviro na cama ao ouvir o toque do telefone. Terça-feira. É feriado. Pelo menos até às 18h, quando vou sair de casa para cobrir o desfile das Escolas de Samba campeãs do Carnaval de Poços de Caldas. Desejo que não seja para mim. Tinha planos de acordar umas 10h e dar sequência em um trabalho de decupagem de entrevistas para uma prima da Anita. Ganharia um dinheiro legal e, como tinha uma boa experiência com isso, topei fazer o freela. Fui interrompida pela minha tentativa de voltar ao sono. A ligação era para mim. Do outro lado da linha era a mãe da Dani, a moça para quem eu estava fazendo o trabalho. Estranhei. — Alô? — Jéssica, desculpe te ligar tão cedo. É que tenho uma notícia não muito boa para te dar... Será que ela vai cancelar o trabalho? Foi meu único pensamento naquela hora, ainda entre o sono e o despertar. — É que a Nitinha se foi... Era assim que eles chamavam a Anita. Tomei um susto e me obriguei a raciocinar. 180 Como a minha amiga, uma das pessoas mais importantes da minha vida, poderia ter morrido? Ela tinha apenas 25 anos, se formara oficialmente há apenas 15 dias e tínhamos o livro e diversos outros projetos para cuidar. Sem falar que ela começaria um emprego novo no dia seguinte. Se eu não estivesse trabalhando, estaria passando o Carnaval com ela. Como ela estava morta? E todos os nossos sonhos, projetos, planos? E as vontades dela, os pensamentos, o talento para a escrita? Como eu seguiria sozinha? Éramos amigas desde o primeiro dia de aula, quando tomamos o trote da faculdade juntas. Consegui pensar tudo isso enquanto desligava o telefone, dava a notícia ao meu pai e começava a chorar de forma descontrolada. Quando tinha nove anos, uma amiga minha, que na época tinha sete, morreu atropelada e a dor foi terrível. Conhecia a dor de perder uma pessoa tão querida e tão próxima. Apesar de todas as nossas brigas e arranca-rabos diários, éramos amigas mesmo. O que faria sem ela? Como prosseguiria com o livro, com os ideais de criar projetos sociais e jornalísticos? Tentei responder tudo isso e chorei durante meses, todos os dias. No mesmo momento, um amargo terrível me subiu do estômago à boca e me lembrei da frase que mais ouvi durante toda a trajetória: o hip-hop salvou a minha vida. Infelizmente, não salvou a vida da Anita. Talvez não a tenha cativado com tanta força, como me cativou e salvou. Como atuou na vida de tantas outras pessoas de quem colhi depoimentos ou convivi. 182 Traficando conhecimento Não acreditei que ela estivesse morta. Durante muito tempo fiquei em estado de negação e quando soube a causa, me senti uma comunicadora muito impotente. Diante de tantas informações, como ela poderia ter morrido inalado gás propano butano de uma daquelas buzinas barulhentas usadas durante o Carnaval? Ouvi relatos de que o gás, quando inalado, provoca um barato ao estilo do lança-perfume, entretanto, com riscos imensos, sendo que, um deles leva, a pessoa à morte. Lancei-me em campanhas sobre o assunto, fiz matéria para o jornal, procurei entender e orientar as pessoas. Até a data — 19 de fevereiro de 2007 — cinco pessoas, contando com a Anita, haviam morrido da mesma maneira no país. Vi ainda algumas matérias televisivas que divulgaram o caso, os perigos e tudo mais, mas as notícias de morte pela mesma causa continuam chegando. Durante muitas noites, que passei em claro tentando entender como faria para seguir adiante, sozinha, sem ela para me dar conselhos sobre como poderia enriquecer uma matéria, um título. Sem ela para ouvir minhas histórias pessoais, compartilhar os raps recém-lançados, tirar fotos dos grafites pelas cidades afora, divulgar o livro, me perguntei como poderia usar o hip-hop e a cultura marginal para impedir que mais pessoas morressem de uma forma tão estúpida. Questionei-me por que tantas pessoas morrem e nós perdemos a batalha da vida para o mundo das drogas. Não compreendi como ela, uma jornalista com um livro tão rico sobre uma cultura marginal, pôde esquecer todo conhecimento e embarcar num prazer momentâneo que lhe roubou a existência. Ainda procuro a resposta, mas me consolei por saber que ainda tenho a cultura onde posso me amparar e também desenvolver tudo que me faz doer a alma. Naquela mesma época, precisei imprimir alguns poucos exemplares do No ar: o hip-hop 183 livro e não sabia como fazer. Ele não era mais da forma como concebemos. Faltava um pedaço. No livro, na minha vida, na da família dela e nas minhas lembranças da vida universitária, que eram só nossas e nunca mais puderam ser compartilhadas. Resolvi escrever um texto para ela. Publiquei no jornal onde trabalhava, no jornal de Serra Negra, cidade onde ela morreu e resolvi que seria uma espécie de dedicatória no livro. As pessoas que receberam a segunda remessa dos exemplares puderam conhecer um pouco do que ela representou para mim. Senti, novamente, o meu rosto molhado pelo meu choro. Senti o hip-hop chorando por ter perdido mais uma pessoa para o mundo das drogas e mais uma vez foi ele que me salvou, que deu rumo e sentido a minha vida. Foi nas manifestações artísticas e culturais que senti força para seguir adiante. Por que ela se foi? “Ela tinha acabado de se formar, cheia de vida, cheia de planos, cheia de sonhos. Tudo era perfeito: família, amigos, ia começar a trabalhar naquela semana. Aconteceu, injustamente, mas aconteceu. Fazer o quê? Ela se foi, e como diz a música, cedo demais. Ela não poderia ir assim, sem dizer adeus, sem escrever os livros que queria, sem conhecer os lugares que havia prometido, sem realizar tudo que pretendia. Ela simplesmente não poderia deixar para trás tantos sonhos... Mas deixou! Por mais que tentemos explicar a vida, ela tem seus mistérios que só o outro lado pode nos fazer entender. Quero me lembrar de uma menina de olhos azuis, que me olhava nos olhos quando falava, que ria de tudo, que me abraçava quando as coisas não estavam bem, que me passava cola nas provas e que, assim como eu, tinha um sonho: ser jornalista. 184 Traficando conhecimento Vou me lembrar eternamente de uma amiga de verdade e de quatro longos anos de cumplicidade dividida. Vou me lembrar da gente brigando e discutindo sempre, mas sem sair uma do lado da outra. Nunca nos abandonamos. Quero me recordar da melhor amiga que fiz naquela faculdade, da grande pessoa que ela foi. Uma menina corajosa, sonhadora, idealizadora, que, um dia, sonhou com uma profissão que pudesse mudar algo e deu o melhor de si por ela. Vou sempre me lembrar de uma menina que me ensinou muito, não só profissionalmente, mas sobre a vida. Sempre terei no coração a lembrança de uma pessoa que lutou pelo hip-hop, “correu pelo certo” e que, mesmo num curto período de tempo, fez história, como grande jornalista que foi. Anita, aqui não dá espaço para eu citar todas as coisas boas que você representa, tudo que a gente viveu e nem cabe em palavras o quanto eu te amo, os grandes momentos que vivemos, as loucuras que dividimos e tudo que construímos. Tá doendo muito não poder mais dizer o quanto eu te amo, saber que nunca mais vou ouvir sua voz me xingando ou brigando comigo, saber que nunca mais vou te fazer ouvir um rap diferente, ou tirar uma foto em um grafite. Saber que nunca mais vou te pedir conselhos, contar meus sonhos, discutir os caminhos do hip-hop ou planejar um mundo melhor e mais humano. Como você gostava de ser chamada e me chamava: “Kbça, o hip-hop chora por você e sente sua falta. Desculpe por não ter conseguido te impedir de ir embora, também acho que você se foi cedo demais. Tô com saudade e tá doendo muito. Vai com os anjos, vai em paz.” Valeu a pena!!! No ar: o hip-hop Blog Assim como a dureza do pão que alimenta milhares de famílias nas periferias do Brasil, a vida também é rígida e não para. Mesmo com muita dor e saudade da Anita, deveria prosseguir e prometi a mim mesma que faria tudo que pudesse para divulgar nosso trabalho. Preciso de um nome para um blog. Foi o que pensei ao perceber que não poderia usar meu espaço – diário virtual – pessoal para propagar o livro. Optei por Cultura Marginal. Soava tão semelhante ao livro e dava espaço também a quem não era necessariamente ligado ao hip-hop. Passei a escrever textos quase diários sobre os assuntos que via, lia e ouvia falar, mas, sempre, com um toque de opinião, impossível no meu trabalho como repórter no Jornal de Poços de Caldas. Como já havia mantido blogs na internet, mas nem sempre sobre o assunto, não foi tão difícil divulgar e encontrar um público-alvo específico. Ao mesmo tempo, descobri o site “Leia Livro”, mantido pela Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo, em que um programa de incentivo à leitura chamou muito a minha atenção. O leitor poderia enviar uma resenha de algum livro e se esta fosse inédita e bacana, poderia se tornar um boletim de rádio, divulgado em algumas emissoras conveniadas. 186 187 O prêmio era um livro novo, enviado gratuitamente pelo correio ao vencedor. Resolvi participar e, ao resenhar o livro “Crack – o caminho das pedras”, de Marco Antônio Uchôa, simplesmente para ver se seria publicado, ganhei um livro novo. O texto se tornou um boletim. Inspirada, resolvi divulgar o programa por meio dos meus amigos que gostavam de ler e, também, pelo blog. Encontrei também no site o escritor Sérgio Vaz, fundador da Cooperifa, e que, durante o TCC, me inspirou muito. Entre os textos dele e de outros escritores, fui desenhando, mentalmente, o que gostaria de criar em Poços. Outras resenhas surgiram e me fizeram ganhar mais livros novos e inéditos. Era uma chance de ler e aprender mais sobre novos assuntos também. De presente, dei o livro a alguns conhecidos e ganhei um maior ainda. Uma resenha sobre a minha obra publicada no “Leia Livro”. Confira, abaixo, o que foi dito sobre meu trabalho naquela época: Hip-Hop, esta cultura marginal por Gabriel Barbosa Machado (ator) “Paz,amor, união e diversão”, essa é a proposta do livro “Hip-Hop – A Cultura Marginal”, que é, o tempo todo, fiel à história do hip-hop no Brasil e no mundo. Com uma linguagem jornalística das grandes reportagens, clara, doce, dinâmica, eficiente, coloquial e informativa, marcada por histórias singulares com uma riqueza de dados surpreendente. Definitivamente é um livro que traz o retrato de uma cultura urbana, emergente das classes populares das metrópoles. Uma verdadeira aula de hip-hop, que já começa no título, nos fazendo questionar, que cultura é essa? Que marginal é esse? 188 Traficando conhecimento É um livro gostoso de ler, com conteúdos específicos, poesias, histórias e curiosidades únicas. Um material que é, com certeza, um registro histórico-cultural, daquele que é o maior movimento social dos últimos 30 anos. Esta obra, contribui, inegavelmente para dar mais visibilidade a uma cultura que carrega em sua face, o olhar do preconceito, da ignorância, da desigualdade e da exclusão a partir daqueles que desconhecem, rotulam ou ignoram. Afirmo que é louvável a produção das jornalistas que se lançaram a campo para registrar a voz de um movimento, ritmo e cultura, certificando que, mesmo numa forma de deficiência, a universidade ainda forma seres pensantes, que estão à frente na análise das manifestações culturais e fenômenos sociais, muito antes do que qualquer meio de comunicação. Elas dizem assim, no capítulo inicial: “Vem ardendo, sangrando e machucando. É o berro que emana dos morros, guetos e favelas. Vem dos locais mais pobres, o grito desesperado de quem vem da periferia. Chega ao asfalto carregado de protesto, indignação, carência, vontade, luta e marginalidade”. Para adentrar no mundo do hip-hop e conhecer faces totalmente ignoradas da hiphoptude, o livro “Hip-Hop – A Cultura Marginal” é um bom começo. Como não conseguia parar, peguei umas revistas Rap Brasil emprestadas com a Lu Afri e em uma delas uma entrevista com o Alessandro Buzo me fez tremer. Ele criticava os acadêmicos que escreviam teses e livros sobre hip-hop e dizia que tais pessoas não tinham propriedade para tratar do tema. Descolei o e-mail dele, não lembro onde e nem com quem, e mandei um texto até meio mal-educado, questionando a postura e apresentando a minha versão. Eu havia escrito um livro. Mas tinha toda propriedade que qualquer outra pessoa, pois havia vivenciado tudo na pele. Recebi a resposta no mesmo dia, após uma troca de e-mails, chegamos No ar: o hip-hop 189 a um pedido mútuo de desculpas e nos tornamos amigos. Trocávamos mensagens diárias a respeito da cultura, dos nossos projetos e de nossas vontades. No ar: o hip-hop Ciranda Como na música da brincadeira de roda infantil, descobri um site que faria o saber circular e por intermédio da “Ciranda Internacional de Informação Independente”, consegui publicar alguns artigos com todas as opiniões que tinha sobre o mundo, sobre as opressões, sobre o hip-hop e sobre o jornalismo, que não podia ser praticado em sua totalidade no órgão em que eu trabalhava. Quando um jovem de 17 anos presta vestibular para jornalismo, ele tem um sonho. Grande parte quer aparecer na televisão e ser famoso. O restante quer mudar o mundo. Eu me enquadrava na segunda opção. Mas, na prática, mudar o mundo com minha visão era bem mais complicado e eu já sabia, claramente, que não seria através do jornal que faria isso. Já neste site poderia publicar meus textos de forma livre. Escrevi alguns artigos e enviei, todos foram aprovados. Era gratificante ver meu nome circulando na rede. Consegui, também, aprovação para colocar o livro disponível para download no site “Overmundo” e, assim, várias pessoas puderam ter acesso a ele. Mas foi cerca de um mês depois que uma bomba estourou em todo universo do Hip-Hop. A jornalista da Folha de São Paulo, Bárbara Gancia, criticou uma verba do governo 190 191 federal para a cultura e questionou: “Desde quando isso é cultura?”. Como resposta, recebeu vários textos de Sérgio Vaz, King Nino Brown e outros adeptos. As pessoas ligadas à cultura através do 5° elemento – conhecimento – puderam, então me conhecer, e, a partir daí, as coisas começaram realmente a acontecer. Com um texto para botar mais lenha na fogueira, consegui chamar a atenção de vários adeptos e passei a receber alguns convites para participar de outros blogs e publicações. No ar: o hip-hop O hip-hop não foi inventado Frente às discussões provocadas pela jornalista Bárbara Gancia e o escritor Sérgio Vaz, sinto-me na obrigação de botar mais lenha na fogueira. Além de fazer das palavras de Sérgio Vaz as minhas, gostaria de esclarecer algumas coisas. Estive lendo a declaração de Alessandro Buzo na revista Rap Brasil, em que ele afirmava que era um escritor marginal porque era marginalizado, mas agia preconceituosamente em relação às teses acadêmicas sobre o hip-hop. No meio do fogo cruzado, postei no meu blog assim, adaptando do texto dele: “Me considero uma escritora marginal porque sou marginalizada. Se chegamos atrasados no trampo, o patrão olha torto. Somos escravos modernos. Hoje não existe escravidão, mas existe salário, que nunca dá para o que precisamos, o transporte é mó veneno. Essa vida é marginal. Se escrevo e vivo nessa vida, sou uma escritora marginal. É original porque vivo isso, apesar de ter feito faculdade e escrito uma tese sobre a periferia, esse é o meu dia a dia.” Para os hip-hoppers, que acham que acadêmicos e estudiosos não podem ser da cultura porque não passam os mesmos venenos. Puro preconceito. Sou uma jornalista que vive o hip-hop no dia a dia e luta para preservar a cultura. Sou uma jornalista que foge à regra, ando de busão 194 195 trem lotado, não é porque estive em uma sala de aula de um curso superior e escrevo sobre política, arte e filosofia que sou diferente ou elitizada. Não é porque carrego um diploma debaixo do braço que deixo de carregar a marmita amassada na bolsa. Também estou nesse país vendendo o almoço para pagar a janta, por mais contraditório que isso pareça. Para a “jornalista” (que envergonha a classe) Bárbara Gancia, eu escrevo para enganar a fome e boto no papel as indignações que é ser um “escravo moderno”. Respondendo a sua pergunta, em seu próprio texto “Desde quando hip-hop, rap e funk são cultura?”. Desde que você deixou sua ignorância tomar conta e não se informou para escrever. Em primeiro lugar, hip-hop é uma cultura. Uma cultura marginal, porque é feita pelo povo, vivida pelo povo e difundida pelo povo. É marginal porque está à margem da sociedade em todos os sentidos, porque é vítima do preconceito, explícito ou velado, porque é excluída e congrega os excluídos, dando-lhes oportunidades. Portanto, o hip-hop é uma cultura marginal, nascida na periferia, como um grito ensurdecedor de protesto, que fere, machuca e atinge. Até então o hip-hop reflete o comportamento de uma classe social, uma grande parcela da população e por fim, de uma cultura com personalidade própria, singular. Esta cultura carrega consigo a força do protesto e da indignação. Ela sobrevive e se opõe ao obscuro mundo da criminalidade, contra a exclusão e incluindo, mesmo que ainda na marginalidade, toda uma nação, num misto de alegria e tristeza, a cultura hiphop sobrevive, marca e faz história para quem se sente maravilhado por tudo que o hip-hop proporciona. Continuando, o rap é uma manifestação artística dentro da cultura hip-hop, através do MC (Mestre de Cerimônias), assim como o break, o grafite e o DJ. 196 Traficando conhecimento O hip-hop é uma cultura desde o dia 12 de novembro de 1974, quando o DJ Afrika Bambaataa o batizou, no bairro do Bronx, gueto de Nova Iorque, na tentativa de congregar os negros do local para atividades artísticas, substituindo as brigas entre as gangues pelas rachas entre as crews (grupos) de break ao som do DJ, da voz do MC, sob os grafites nos muros. Quando Bambaataa resolveu batizar o hip-hop (termo em inglês que, na tradução literal, significa saltar movimentando os quadris, mas que, na prática, vai muito além disso), o fez na esperança de disseminar: “Paz, amor, diversão e união”, segundo as palavras do mesmo. Quem sabe, se antes de julgar, sejam jornalistas ou hip-hoppers, as pessoas pensassem, observassem, pesquisassem e praticassem as palavras de quem criou uma cultura? “Vem ardendo, sangrando e machucando. É o berro que emana dos morros, guetos e favelas. Vem dos locais mais pobres, o grito desesperado que vem da periferia. Chega ao asfalto carregado de protesto, indignação, carência, vontade, luta, marginalidade. A força que vem do lado negro, pobre, inferiorizado. Atinge toda sociedade com sua forma, sua arte e sua cor. O nome dela é hip-hop e está aí para fazer barulho, debater as questões controversas de uma sociedade que se finge de surda para este grito de protesto. Hip-hop é um termo que vai além. Significa cultura, mas também significa movimento, arte, expressão, paz, amor, soluções, lutas e igualdade de direitos. O hip-hop é ilustrado por personagens sobreviventes de guerra. Uma guerra diária pela vida. Ele acolhe e tenta proteger os que já nascem condenados à morte. Personagens reais, cercados pela miséria, fome, desabrigo, armas de fogo, tráfico e desrespeito. Em meio a tantas armas que eles podem escolher no jogo do “matar ou morrer”, No ar: o hip-hop 197 o hip-hop escolhe a maior de todas as armas: a cultura. Uma cultura marginal, mas que não é propriedade dos grandes, não é da elite, nem da burguesia. É a cultura de quem foi capaz de criá-la e levá-la adiante. É a cultura das ruas, do povo. O hip-hop não foi inventado, ele nasceu naturalmente no gueto, recebeu a forma dos negros e excluídos e, hoje, auxilia o povo a encontrar uma identidade. Esta cultura marginal traz de volta os sonhos daqueles que carregam o sofrimento como estilo de vida. Ela eleva a autoestima daqueles que antes eram forjados de estorvo pela sociedade. Através de expressões artísticas intensas, o povo da periferia encontrou no hip-hop a vontade de viver, motivação e a consciência de cidadania. O mínimo que o hip-hop propõe com suas manifestações e expressões que mudam e desenvolvem-se a cada dia é um olhar livre de preconceitos”. Texto retirado do livro “Hip-Hop - A Cultura Marginal”. O que mais dizer senão minhas próprias palavras no capítulo de abertura do meu livro, resultado de mais de um ano de trabalho árduo para concluir, com muita dificuldade o curso de jornalismo. Fugindo da generalização de que os jornalistas são elitizados, cá estou, militando pelo hip-hop e gritando, com ardor, o que eu penso sobre o texto da jornalista Bárbara Gancia. Salve! Paz, amor, diversão e união. Jéssica Balbino O número de comentários sobre o texto foi expressivo e o de amizades e contatos que fiz, também. A jornalista da Folha continuou com a mesma opinião e eu, com os mesmos sonhos. Entre a polêmica, me dedicava ao jornal que estava trabalhando. Ralava, no mínimo, dez horas por dia e tinha pavor de perder o emprego. 198 Traficando conhecimento Para me especializar, fiz a inscrição em um curso de extensão universitária na faculdade existente na cidade. Seria durante quatro sábados das 12h às 18h. Empolgada com a possibilidade de aprender um pouco mais sobre antropologia, a disciplina que era carro-chefe do curso, me inscrevi e aguardei com total ansiedade o início das aulas. Combinei com a editora do jornal que trabalharia até 12h e voltaria após às 18h, além de adiantar algumas matérias frias para não deixar ninguém na mão. Mas, no sábado marcado, logo no terceiro mês de emprego, me descobri uma escrava moderna. Com uma raiva que não cabia em mim e me fazia lembrar e recitar mentalmente trechos do livro “Manual prático do ódio” do Ferréz, eu, que já havia escrito seis matérias naquele dia para deixar o trabalho adiantado e não pude ir no curso por pura implicância e jogos de poder, escrevi para o site Ciranda o seguinte texto: Escravidão Moderna Hoje não existe mais escravidão. Será que não mesmo? Acredito naquilo que chamamos de “escravidão moderna”. Ela atinge a todas as raças, negros, brancos, índios ou amarelos. A escravidão foi substituída pelo salário, que nunca dá para o que precisamos. Se chegarmos atrasados no serviço, o patrão olha torto. Com endereço da favela ou da periferia, ninguém consegue emprego. Se o pé estiver sujo de barro da enchente da noite anterior então... Esquece. As universidade formam milhares de analfabetos todos os anos e a mídia continua afirmando que “sobram vagas no mercado de trabalho, o que falta é qualificação profissional”. Como é que é mesmo? Um círculo vicioso. Se o negro está desempregado, não consegue pagar para se “qualificar” e consequentemente, está cada dia mais, fora do mercado. No ar: o hip-hop 199 Grande mercado, que, quando emprega, escraviza. Tem gente que trabalha dez, doze horas por dia, sem falar do horário em que levanta, para pegar as conduções e chegar cedo no trabalho, antes que o patrão olhe feio. A capa da revista “Carta Capital” (que pouca gente lê, porque é cara, linguagem culta, não fala para o povão) – e as revistas de fofoca são mais interessantes, nos tiram da rotina maçante – deste mês traz jovens diplomados que não conseguem emprego. Em determinado trecho da reportagem, alguns jovens da classe média, atualmente em crise, dizem que não farão estágio, tampouco vão trabalhar por um salário de R$ 1 mil. “Isso seria o mesmo que prostituir a minha profissão.” É o que dizem, porque pensar, ninguém pensa mesmo. Já na capa da “Caros Amigos”, que menos pessoas leem, traz a reportagem “Como é a cabeça dos estudantes de jornalismo”. A resposta está dentro da reportagem. É uma cabeça vazia, alienada e na maioria das vezes, elitista. Agora eu pergunto, como é a junção da cabeça de um estudante de jornalismo, com os baixos salários que pagam aos recém-formados, somada a uma jornada de no mínimo dez horas de trabalho diários (isso inclui fins de semana), que mora na periferia??? É, sobreviver ao sistema é difícil. Sou jornalista, recémformada, ganho muito aquém do que eu paguei, com muito esforço, por mês na faculdade, trabalho, em média, dez horas por dia (sem horário de almoço), paro, no máximo, vinte minutos para comer a marmita esquentada, que carreguei dentro da mochila, toda amassada, no busão lotado. Fico com medo do patrão chegar e brigar porque esquentar a comida deixa todo o prédio do jornal cheirando. Não tenho a menor condição de fazer um curso de aperfeiçoamento da profissão. Preciso trabalhar, me manter. Se for na área, pagam menos, mas gosto do que eu faço, preciso adquirir experiência no campo prático. 200 Traficando conhecimento Queria me qualificar. Paguei um curso que poderia fazer, quatro sábados à tarde. Mas eu trabalho no sábado à tarde. Talvez se eu ficasse doze horas por dia durante a semana, adiantando as minhas matérias e mais umas quatro horas no sábado, eu conseguiria ir para o curso sem que meu patrão percebesse ou me xingasse. Arrisquei. Paguei o curso, relativamente caro, perto do que ganho. Animei-me em conhecer um pouco mais sobre um determinado assunto. É na área que eu pretendo mestrado. Fodeu. Meu patrão está descontente. Quer um jornal feito só para ele. Estrutura? A gente tem que se virar, no final do dia ele quer matéria polêmica. Sábado à tarde... Fiquei sem o curso, sem a grana e frustrada. Na cabeça dos estudantes de jornalismo não passa muita coisa. Na minha, que já me formei, milhões de questionamentos, dúvidas, incertezas e uma imensa tristeza, por não conseguir sair do lugar, dentro do nosso sistema. Se estiver animada, à noite vou a um evento de hip-hop, buscar na minha cultura, marginal, algo que ainda me faça sonhar... E se estiver animada, escrevo uma matéria. O texto continua no ar e recebe comentários até hoje. É normal que pessoas que frequentam o site tenham opiniões parecidas, sobre luta, desigualdade e escravidão mental. Naquele dia entendi que não há parto sem dor e que o descaso é a melhor arma para que saiam bons textos. Fui convidada pelos moderadores da “Ciranda” a escrever textos com uma periodicidade maior. Topei. Afinal, era meu trabalho sendo reconhecido. A partir daí, percebi que havia voltado a escrever como deveria ser. Com a alma, com o coração, com a experiência da quebrada. Como uma manifestação de amizade ao Buzo, após as brigas por conta da entrevista numa revista, resolvi fazer uma matéria com ele e soltar no blog, no “Ciranda” e muito tempo depois ela também entrou no jornal como parte de uma série especial que criei. No ar: o hip-hop 201 Gosto bastante do texto porque foi um dos primeiros em que pude misturar jornalismo e literatura marginal numa mesma fórmula e que deu certo. Eu podia imaginar, mas não tinha a certeza de que, mais adiante, muitos textos e construções semelhantes me aguardavam. Poeta do gueto Hip-Hop, literatura marginal e o sistema são discutidos pela escritor da periferia Alessandro Buzo. Palavras... pedras... duras palavras que mais parecem pedras e que ecoam dos lugares mais distantes, lá da favela, como um grito ensurdecedor, sem ligar para regras gramaticais, a poesia da periferia transforma as letras em desabafo, em poesia e recria um estilo: a literatura marginal. “É um tapa na cara do sistema”, afirma o escritor Alessandro Buzo, 34 anos, ao se referir ao estilo de escrita dos poetas do gueto. O escritor, que teve seu primeiro contato com a cultura hip-hop quando esta chegou ao Brasil, há mais de vinte anos, é autor de quatro livros independentes no país. O primeiro deles é intitulado “O Trem - Baseado em fatos reais”. O segundo, traz o nome que Buzo usa na sua marca e no blog no qual relata seu cotidiano e as indignações contra o sistema: “Suburbano Convicto - O Cotidiano do Itaim Paulista”. Em 2005, Buzo lançou seu terceiro livro, chamado “O Trem - Contestando a versão oficial”. Em 2007, lançou “Guerreira”, o primeiro romance de uma série de fatos reais e, por último, em 2008, o “Favela Toma Conta”. Quando questionado sobre a maior dificuldade em ser um escritor marginal, Buzo afirma: “Minha maior luta é conseguir vender os livros de mão em mão, de mano em mano.” 202 Traficando conhecimento No ar: o hip-hop 203 204 Traficando conhecimento No entanto, ele conta, feliz, que o livro “Guerreira” será relançado no meio deste ano por uma editora grande, com distribuição nacional nas livrarias. Fora os trabalhos independentes da literatura, Buzo participou de coletâneas como “Rastilho de Pólvora - Antologia poética do Sarau da Cooperifa” e “Literatura Marginal - Talentos da escrita periférica”, organizado por Ferréz. Informação é fundamental “Hoje, 90% do que eu ouço em casa é rap nacional, desde que me envolvi mais com a cultura, passei a promover eventos, vender shows de grupo, só depois de pesquisar e me informar sobre o movimento através de jornais e revistas é que eu virei escritor”, conta Buzo, lembrando que a boa informação dentro do hip-hop é fundamental. Ao referir-se ao real significado da cultura, o escritor, que dedica-se a vários eventos e projetos sociais, afirma que a palavra que lhe vem primeiro a mente é atitude. “Quem é do hip-hop não fica rebolando a jaca nem ouvindo modinhas, são jovens mais instruídos”, afirma. Dentre os trabalhos atrelados ao hip-hop, Buzo conta que promove o evento “Favela Toma Conta”, que já teve 11 edições, em que grupos de rap, famosos da cena paulistana como o extinto RZO, De Menos Crime, Thaíde, DMN, Expressão Ativa, Tribunal MC’s, Cabal, entre outros. “Geralmente são festas na favela, sem cobrar ingressos. O objetivo é promover o entretenimento para a periferia”, diz. Através do conhecimento, o 5º elemento do hip-hop, incorporado na cultura posteriormente, pela Universal Zulu Nation, Buzo montou uma biblioteca comunitária no bairro onde mora, a fim de levar informação e entretenimento, através da literatura, para as crianças e jovens carentes do Itaim Paulista, Zona Leste da cidade de São Paulo, onde vivem 320 mil habitantes. “Pelo 5º elemento eu também participo como colaborador de vários sites e No ar: o hip-hop 205 blogs ligados ao hip-hop e atuo, também, como repórter colaborador para a revista Rap Brasil. Tento ajudar de várias formas”, conta. E no dia a dia... “Meus contos são ficção, mas sempre relatam histórias que poderiam ter acontecido. Vejo acontecer parecido na minha quebrada”, informa Buzo, quando questionado a respeito de como é a literatura marginal que ele produz, e diz ainda: “Me baseio no meu cotidiano, passo para o papel as dificuldades do dia a dia”. Para o escritor, a literatura marginal assusta o sistema, porque segundo ele: “A elite pensava que não sabíamos nem ler e, agora, estamos escrevendo livros. Só tem conhecimento quem pisa no barro, quem sobe e desce o morro, quem atravessa suas vielas. Acho que a literatura marginal é importante, porque a cena está forte e não é só modinha.” Buzo, atualmente, tem uma rotina tranquila, um pouco diferente até do que da maioria dos moradores do Itaim Paulista. “Acordo cedo, passo a manhã com minha esposa e meu filho de sete anos, pois gosto de tomar café em casa, tranquilamente, com eles. Depois vou trabalhar na DGT Filmes, uma produtora de vídeos, onde faço o horário de 12h às 19h. No meio tempo, escrevo minhas colunas, atualizo meus blogs e faço palestras e oficinas. Assim é meu dia a dia”, relata o autor, que diz adorar música, cinema e leitura, mas “detesto orkut, programas de fofoca, novelas, reality shows, falsidade e gente que só reclama”, desabafa. Dos problemas e soluções “A elite precisa entender que não dá para se morar em um palácio ao lado de uma favela, então, é utopia acreditar no fim da desigualdade social”, afirma Buzo, convicto. O escritor não vê o fim da desigualdade social no Brasil, alegando que ela sempre existiu, mas acredita em uma 206 Traficando conhecimento redução. “Precisamos de programas de distribuição de renda, de empregos com melhores salários”, reivindica. Durante a entrevista, Buzo é questionado sobre a notícia publicada pelo jornal Folha de São Paulo que dizia que mendigos da Praça da Sé serão retirados do local durante a visita do Papa Bento XVI ao Brasil e afirma: “Acho que deveriam tirar os mendigos não só da Praça da Sé, mas de todo o Brasil e levá-los para lugares limpos, onde eles possam retomar suas vidas e não só tirar porque o Papa vem, porque o Bush vem e depois devolvê-los para as ruas, sem nenhuma perspectiva de vida”, reflete. Para ele, a saída dos problemas sociais seria mais estudo e leitura. “O povo tem que parar de se alienar através da TV e ler mais, o hip-hop é uma porta para isso, pois é uma cultura que vive constantemente em movimento. É a cultura dos favelados e não vão tomar o hip-hop da gente, ele é nosso”, diz. Planos para o futuro Sem nunca parar, o escritor está abrindo uma loja, Suburbano Convicto, e diz que terá mais um “corre” no cotidiano, além de estar se dedicando a um novo livro, com o título provisório de “Profissão MC” e a um outro, praticamente pronto: “Do conto à poesia”. Tudo isso sem deixar de lado as palestras e oficinas sociais, sempre disseminando a cultura hip-hop na cidade de São Paulo e em todo país. Ao deixar uma mensagem, Buzo é direto: “Desligue a TV e leia um livro.” Era chegada a hora de procurar os eventos e iniciar o que já estava planejando há tempos. Voltar a ler os textos de literatura marginal nos intervalos dos shows. Com muito mais propriedade do que quando o meu primeiro texto foi lido em uma roda de amigos de uma crew ou em um evento de bairro, passei a frequentar os No ar: o hip-hop 207 festivais de hip-hop, de dança, as batalhas, novamente e sempre levando um pouco do meu trabalho. Os poucos exemplares do livro que tinha, sempre pedia que anunciassem em sorteios ao final das competições. O bacana era ver a cara de espanto de muitos jovens da periferia de Poços de Caldas ou das cidades vizinhas, que vinham em excursões para as competições. Eles sempre exclamavam: “Puxa! Existe um livro sobre hip-hop. Foi escrito por alguém do nosso meio.” Toda lisonjeada eu fazia questão de parar para conversar, cumprimentar, além de sempre acompanhar quando alguém subia no palco e lia um texto, sempre alguns dos antigos, dos produzidos na época na faculdade sobre jornalismo e outros sobre periferia, dos que havia guardado. Diferente e inspirador. Assim eu via os textos sendo lidos e o pessoal, sempre na plateia, observando e se perguntando de onde surgira aquela novidade. Mesmo quando eram eventos pequenos, com pouco mais de 100 pessoas, eu ficava encantada por participar. Por um lado eu gostava de estar rodeada pela cultura e por outro porque era uma chance de divulgar o livro e alguns textos. Ainda sem um movimento específico, minha cabeça não parava de fervilhar de ideias. Mais rápido do que imaginava, minha pequena obra se tornou conhecida e alguns eventos beneficentes do bairro passaram a me convidar para aberturas e para ler alguns textos, que sempre versavam sobre os menos favorecidos socialmente. Conciliando com o trabalho no jornal, que, de alguma maneira, também rendia alguma popularidade, eu podia frequentar os eventos e somar, apresentando sempre algumas pequenas frases relacionadas à periferia. Oficinas Em roda, uma meia dúzia de alunos esperava, de forma dispersa, que alguém começasse a lhes falar sobre literatura – talvez uma das matérias que eles menos gostassem por ter de ler e escrever, hábito muito distante da realidade na periferia. Sem expressão de contentamento, eles me receberam pela primeira vez, desde que propus ao diretor da instituição de ensino algumas oficinas voluntárias àquelas crianças e jovens sobre literatura. Claro que, para não assustá-lo e colocá-lo no pano do preconceito, não revelei, logo no início, que era uma oficina sobre literatura marginal/periférica. Com o livro nas mãos, era impossível disfarçar o nervosismo e tudo que havia pensado para falar parecia um ponto distante naquele momento. Não sabia como encarar, pela primeira vez, aqueles alunos que pareciam não estar gostando nem um pouco de estar ali, aguardando uma manifestação minha. O pior era quebrar o silêncio. Não havia nem um zunzunzum para eu esperar ou mesmo relembrar a programação mentalmente. Devagar e improvisando – como as melhores coisas acontecem – me apresentei e expliquei o porquê de estar ali. Li o texto de introdução do livro e me senti lendo em 208 210 Traficando conhecimento voz alta no meu quarto. Nenhum murmúrio. Propus uma roda e um bate-papo. Cansei de ouvir minha própria voz. A sensação era de que os garotos queriam testar minha vontade e disposição de voluntária para lhes apresentar à literatura feita nas quebradas. Com a persistência nata de quem vem do gueto, mantive o sorriso no rosto e a mesma garra com a qual idealizei utilizar o hip-hop para mudar vidas. Mudei a abordagem e contei uma história pessoal. Notei uma leve mudança de expressão. O tempo da oficina daquele mês estava acabado. Foi assim que comecei e, logo na primeira vez, me senti não exatamente triste, mas decepcionada, porque os estudantes não se mostraram exatamente empolgados. Não tive muito tempo para chorar e, tampouco, alguém para me consolar. No meu universo de convívio, as pessoas que estava lidando achavam loucura eu perder o pouco do tempo livre que tinha com garotos que, segundo elas, não tinham qualquer futuro, e tampouco interesse pela literatura, mesmo que ela fosse ligada a uma cultura marginal. Como vim de onde eles estavam julgando e talvez, em algum momento, tenha sido também uma estatística ou alguém que, para eles, não deveria estar estudando ou mesmo apreciando a leitura, dei a cara para bater e continuei, sem esmorecer. Na segunda vez, passei a notar que o motivo da falta de interesse era muito além das oficinas que eu propunha. A escolha de quem iria participar era feita de acordo com aqueles que se recusavam a assistir as aulas e causavam algum tipo de transtorno na escola, então eram obrigados a ir, uma vez por mês, no período noturno, assistir a uma oficina. De forma simples, comecei com No ar: o hip-hop 211 alguns textos do livro e alguns materiais colhidos nas pesquisas, como textos em revistas, letras de musica e histórias de personagens reais do hip-hop. Quando passei a falar a linguagem deles fui aceita de forma melhor e quando lhes mostrei o texto “O homem do gueto”, muitos passaram a se interessar. A oficina era básica. Líamos, numa roda formada, os textos que levava e discutíamos alguns aspectos. Na sequência, lhes passava algumas atividades e perguntas para serem respondidas em casa e levadas na próxima vez. Mesmo com as dificuldades do espaçamento das oficinas, o saldo estava sendo positivo. Pelo menos comigo, todos eles mudaram a postura e se mostraram mais interessados. Claro que isso aconteceu de forma gradativa, quando fui mostrando que já havia enfrentado as mesmas dificuldades financeiras, os preconceitos, mas sempre com uma diferença: a de gostar de ler e escrever. Algum tempo depois um garoto trouxe um pequeno texto. Devia ter umas oito linhas e falava sobre o pai bater na mãe, mas escrito de uma forma bem sutil, então o incentivei a escrever mais e, exceto pelos erros gramaticais, que até eu tenho, aos montes, ele estava escrevendo muito bem. Sem que eu, os professores ou mesmo aqueles jovens percebessem, a literatura já havia tomado parte na vida deles e o velho estigma de que o brasileiro não gosta de ler estava sendo deixado de lado. Por serem iniciantes, além dos textos que distribuía, sempre retirados de livros do Ferréz, Sérgio Vaz, do blog do Buzo ou ainda que eu mesma havia escrito, gostaria que eles lessem muito para as próximas oficinas e fiquei bem feliz por ver que a sugestão que dei, adequada para a idade deles, foi a coleção do Pedro Bandeira, autor brasileiro que trazia a história de um grupo de adolescentes aventureiros e 212 Traficando conhecimento acostumados a resolver problemas incríveis, chamados “Os Karas”, que tinham uma garota como parte do grupo, foi bem aceita. Quase todos conseguiram pegar, na biblioteca da própria escola, os livros do Pedro Bandeira e pela história ser também próxima da realidade, passaram a discutir entre si e, assim, chegaram com a novidade: — Olha, dona. Você falou que ler é bom e, realmente, é mesmo. Estamos nos sentindo os Karas dos livros, tem mais alguma indicação, é? Puxa, já não cabia mais nos meus 100 quilos, de tanto orgulho e felicidade. Eles, que nunca haviam tido interesse por qualquer tipo de leitura, estavam me pedindo sugestões. O bacana mesmo era observar que aqueles jovens, até então sem qualquer perspectiva de futuro, estavam adquirindo senso crítico através da leitura, formando a própria vida com caráter e humildade, além de muita coragem para seguir adiante, vencendo as dificuldades diárias do submundo periférico. A vida é mesmo engraçada. Nestes momentos que eu lembrava de palavras de agitadores culturais que sempre me incentivaram. Eles diziam que, com pouco, podemos fazer toda a diferença e bastaram poucas oficinas para que aquela meia dúzia de garotos com comportamento ruim estivessem dedicando boa parte do tempo à leitura. Em outro encontro um deles veio me contar que tinha encontrado um livro do Ferréz na biblioteca da região, onde ele havia feito uma ficha para empréstimo, e que estava tentando ler e entender mais. Percebi que a literatura tinha ganhado a quebrada e ambas nunca mais seriam as mesmas. Pequenas conversas como estas me faziam ter mais ânimo de prosseguir e, por ser uma pessoa do bairro, talvez tenha facilitado também as coisas. No ar: o hip-hop 213 No jornal, em curtos períodos, matérias sobre voluntariado e pessoas que praticavam o bem em comunidades carentes eram frequentes e foi durante uma entrevista que descobri uma associação em outra parte da minha quebrada. No Jardim Kennedy II, uma senhora mantinha uma sede onde mães aprendiam tricô, crochê e pintura em panos de prato, tendo a chance de aprender algo e ampliar a renda familiar, ao mesmo tempo em que os filhos ficavam como monitores, recebendo aulas de capoeira ou dança. Propus a ela um evento pequeno de hip-hop, talvez em um domingo – quando tinha mais tempo – e as opções de lazer e ocupação para as crianças eram nulas. Organizei, junto com os amigos da antiga, um evento pequeno. Apenas um minishow dentro da sede com alguns textos lidos e distribuídos. O ponto alto foi quando dois dos garotos da oficina apareceram no local, conferindo o que estava acontecendo e me reconheceram nessa ação. De repente, senti que um resultado, mesmo que pequeno, estava surgindo, sem qualquer exigência. 214 Traficando conhecimento No ar: o hip-hop 215 No ar: o hip-hop Uma letra, um beat Vendendo meu próprio peixe, colocava tudo que podia na internet e através de sites, blogs e comunidades do orkut, além dos amigos, fazia questão de propagar o meu livro. Não me lembro como, mas ele chegou ao conhecimento de Bruno, um garoto da minha idade, que vive em Belo Horizonte que me pediu que lhe enviasse o texto em pdf. Assim o fiz e ele me escrevia todos os dias para dizer como o hip-hop era bom para ele e como ele estava crescendo após ler um pouco mais sobre o surgimento e propósito da cultura. Os e-mails se tornaram mais longos ao passar dos dias e, quando ele me perguntou sobre a outra autora — Anita —, eu lhe contei de forma resumida toda a história. Notei que ele se entristeceu e, mais uma vez, ouvi a frase que pontua toda esta caminhada: o hip-hop salvou a minha vida. E me disse que fez ele enxergar com outra perspectiva o futuro e não se aliar às drogas, apesar dos convites, que tanto ele como eu sabemos que chegam aos montes e quase diariamente. MC do grupo Elemento.S, que, na ocasião, estava começando, ele me pediu autorização para gravar o texto de abertura do livro. O objetivo era transformá-lo em introdução para o CD do grupo. Como eu sempre ficava 216 217 pesarosa por aqueles que não sabiam ler, que eram analfabetos e não entendiam o propósito do livro, não acreditei quando recebi o convite. É claro que eu topei na hora. Era mais uma oportunidade de divulgar o trabalho de uma forma não escrita e que daria a mais gente a opção de entendimento. Uma vez autorizado, ele me manteve informada sobre o andamento do CD, da gravação, da escolha de outras músicas e sempre contando episódios sobre a própria vida e novas descobertas feitas através do hip-hop e da literatura, que ele começou a tomar gosto. Sem que eu percebesse, ficamos amigos. Claro que apenas virtualmente, até aquele momento, mas um elo foi criado e graças a essa cultura, que vem dos locais mais pobres, que está sempre à margem e que congrega tanta gente. O Bruno é um amigo entre os muitos que fiz ao longo da estrada, sempre na cultura periférica. No ar: o hip-hop Sacolinha, vídeo-documentário e TCCs Ele era cobrador de lotação e, para passar o tempo, começou a ler dentro do trem entre Suzano e São Paulo. Com pouco mais de 20 anos já tinha o primeiro romance escrito e renovava, também, a cena da literatura periférica do país. De codinome curioso, Sacolinha chamou minha atenção através de um blog e de uma entrevista para uma revista. Embora não se considere como autor marginal ou periférico, despertou meu interesse pelos livros que ele mesmo escreveu. Através do contato que alguém me conseguiu, escrevi para ele, que me passou o telefone e travamos contato em tempo real. Ele me explicou como fez para editar o primeiro romance “Graduado em Marginalidade”, que traz uma história de lugar-comum, mas de forma completamente diferente. Um dos críticos o considerou um enxadrista, pelas sacadas geniais do texto e o xequemate da narrativa. Assim o vi também, e me apaixonei pelo texto, pelo blog, pela história de vida e pela amizade. Mais uma travada através da internet e que só veio a somar para as minhas vontades e iniciativas. Agitador cultural e disseminador da cultura no Brasil, através de e-mails e envio de materiais, Sacolinha me ensinou como eu poderia, de repente, mesmo à contramão 218 219 de tudo, trabalhar com literatura de forma voluntária e ainda, editar meu livro de forma independente. A troca de ideias me trouxe mais um amigo de literatura, de resistência, de movimento, de futuro. O Sacolinha foi uma pessoa que me deu total apoio e em agradecimento, fiz uma resenha bem bacana sobre o livro “Graduado em Marginalidade” e publiquei no site “Leia Livro”. Ganhei um incentivo a mais, para me tornar, quem sabe, crítica da literatura marginal, avaliando talvez as histórias escritas por quem é massacrado nos ônibus, em casa, nas bebidas, na panela vazia, no bolso furado e na janela sem esperança. Pensei sobre isso e continuei a ler , recebendo com enorme carinho os materiais de Suzano que ele me mandava, como livros editados através de programas da cidade, revistas e materiais de autores também iniciantes. Minha maior surpresa – e satisfação – é que eu já não tinha mais exemplares, dos poucos que fiz, do meu próprio livro para distribuir, doar, vender, enfim, fazer nada e mesmo assim, o trabalho era reconhecido e cada dia mais pessoas chegam até mim em busca de informações sobre hip-hop, ora para fazer trabalho, ora por curiosidade. Uma das pessoas que chegou até mim, também em busca do livro para usar no TCC, foi a Érica Guimarães, na época, estudante de jornalismo em Campinas. Junto com uma turma ela estava fazendo um vídeo-documentário sobre hip-hop para o TCC e me pediu o texto do livro para servir como referência bibliográfica. O mais engraçado é que, quando ela me mandou o texto pronto, eu comecei a ler e reconheci uma frase, sem dar conta de que era minha mesma, retirada do livro, numa das contextualizações sobre o rap. 220 Traficando conhecimento Imensurável o tamanho do orgulho que senti, por ver meu trabalho, mais uma vez, sendo utilizado de forma positiva e acadêmica. A minha tristeza foi não ter mais a Anita por perto para dividir o momento. Mas, como a vida segue, logo na sequência, um outro grupo de estudantes solicitou minha amiga para responder algumas perguntas sobre o hip-hop. Mandei o livro, mas não adiantou. Eles tinham pressa de montar um documentário e queriam algo de forma mais resumida. Fiz isso para eles e, daí em diante, os convites para gravações em novos documentários e os pedidos de livros não pararam de chegar. Era a revolução acontecendo, pelo menos, ainda que de forma modesta, na minha vida. No ar: o hip-hop 221 No ar: o hip-hop Mixando Um assunto bom, novo, que chame atenção, renda interesse e se transforme em venda de jornal, de espaço publicitário na rádio e que nos deixe com a sensação de dever cumprido. Este é o desafio diário de ser jornalista. A notícia fica velha com uma rapidez incrível e encontrar coisas novas, a todo o momento, é uma tarefa incrivelmente árdua e absurdamente prazerosa. Com poucos meses de trabalho no jornal, fiz amizade com grande parte da imprensa local. Algumas pessoas eu já conhecia da época da faculdade, então, somando forças, formei uma parceria com o jornalista Eduardo Correia, que trabalhava na Rádio Difusora e, também, na TV Plan, duas empresas de um mesmo grupo e com parceria com o jornal em que eu estava. Assim, saíamos juntos no carro da rádio todas as manhãs para fazer as matérias. O mínimo eram três matérias, algumas vezes conseguíamos mais, outras menos. A união tornava a prática do ofício ainda mais estimulante. Também, na mesma rádio, trabalhava a editora do jornal. Pela manhã ela fazia produção na emissora e apresentava um programa na FM e à tarde, editava o jornal. Como estava sempre com o Eduardo, quase todos os dias passava pela rádio e foram momentos fundamentais, que 222 223 me ensinaram muito sobre a arte do radiojornalismo. O Edu foi um grande professor e muito do que sei hoje na prática, eu devo a ele. Logo nas primeiras semanas da nossa parceria, fui com ele até a rádio gravar uma entrevista e um dos apresentadores do programa da FM estava atrás de um jornalista para participar como convidado do dia. Como o programa durava até às 13h e invadia o horário de almoço do Edu, ele passou a bola para mim e disse que eu me sairia muito bem no programa – Mix 104+ – que reunia informação e bom humor. Sempre dada aos desafios profissionais, topei no ato participar e a pauta ficou em torno do meu trabalho como recém-formada e mais, a minha atuação com o hip-hop. Pude, em uma segunda vez, na mesma rádio, contar um pouco da minha trajetória, dos meus objetivos e do trabalho que desta vez estava ainda mais consolidado. Exemplos vividos nas oficinas, trechos do livro lidos durante o programa e inúmeras perguntas marcaram a minha primeira participação no quadro. Enquanto eu dava a entrevista no programa de duas horas, o apresentador Francis, que mais tarde se tornou um grande amigo e incentivador, lia alguns textos e eu fiquei impressionada com o poder do rádio. O programa permitia participações ao vivo e muita gente ligava querendo saber onde comprar um exemplar ou como fazer para implantar oficinas, conhecer mais, enfim. Prometi outras participações e a Neusa, que trabalhava lá e editava o jornal, disse que não me deixaria escapar tão facilmente das programações. Na semana seguinte fui novamente convidada para participar do programa, desta vez para ajudar a entrevistar uma pessoa. Fiquei bastante lisonjeada. Eu não ganhava nada para estar lá e, na maior parte das vezes, sacrificava o horário de 224 Traficando conhecimento almoço e ainda tinha que almoçar em restaurante, o que descontrolava o orçamento, mas, mesmo assim, era muito bom poder falar para um grande número de pessoas e fazer parte do programa mais ouvido da rádio. Durante a segunda participação também pude falar mais sobre os projetos sociais das oficinas, eventos de hip-hop e mais sobre o livro, a experiência de vivenciar e reportar esta cultura marginal e também, como era ser repórter recém-formada e tudo mais. Eram duas horas que passavam tão rapidamente que eu ansiava por novos convites. O pessoal da rádio gostou das minhas participações e apenas alguns dias depois a Neusa me convidou para fazer parte de um programa matinal da AM que tinha o nome de “Debates Populares”, quando assuntos daquele dia eram postos em pauta e discutidos com jornalistas, políticos, apresentadores, populares. Tinha quinze minutos de duração e era apresentado pelo Ricardo Luiz, locutor, ex-dançarino de street dance – começou no hiphop no início dos anos 1990, assim que ele chegou na cidade – e, também, gerente geral da rádio. Pelo ponto em comum – a cultura hip-hop – também nos tornamos colegas e eu passei a participar, ao menos uma vez, dos “Debates Populares”. Com participações simultâneas na AM e FM da rádio, fiquei um pouco mais conhecida na cidade, o que facilitou as minhas incursões em outras escolas, centros comunitários e bairros para pequenas oficinas, mesmo com um único dia ou período de duração, mas que, pelo que podia observar, transformavam a realidade daquelas crianças e jovens. Sempre acreditei – e já mencionei aqui – que vejo o rádio como o veículo de comunicação mais democrático que existe, pois enquanto as pessoas ouvem o rádio podem No ar: o hip-hop 225 estar envolvidas com outras atividades e ele não atrapalha em nada, além de ser super dinâmico – é possível entrar ao vivo, pelo telefone ou celular, de qualquer local e passar uma informação em tempo real – e ter uma linguagem coloquial, entendível por qualquer pessoa, seja ela alfabetizada ou não. Enquanto ele é tudo isso, o jornal impresso é mais profundo, mais detalhista, com uma notícia mais apurada, mais firme, mais consistente: um documento. Foi uma época de muito encanto, quando podia me envolver com as duas atividades e me deliciar com cada uma delas. Eram dias de muito trabalho e super lotados de afazeres, entretanto, eu tinha de fazer tudo naquela época. Várias vezes, no Mix, o Francis me deixou ler textos meus, feitos recentemente, ao vivo, além de divulgar textos em blogs, sites, no jornal e sempre comentar das oficinas. Pelo MSN, onde mantínhamos contato direto, sugeria entrevistados e pautas e sempre puxava sardinha para o lado do hip-hop, claro, como quando pude levar, pela primeira vez, o UClanos para participar do programa e tocar ao vivo algumas das novas composições do grupo. Outra vez foi quando Francis me ligou desesperado pedindo que eu participasse do programa que iria um grupo novo de rap na cidade e que ele queria alguém que entendesse para entrevistá-los. Após este programa, a dona de uma autoescola que fica em frente ao estúdio da rádio conseguiu meu telefone pessoal no jornal e me ligou pedindo o contato do grupo, que fez uma música que se trata de um alerta sobre o trânsito e a direção perigosa e ainda fez questão de comprar um livro, me fazendo prometer que quando eu lançasse um segundo, guardaria um exemplar para ela. 226 Traficando conhecimento No ar: o hip-hop 227 228 Traficando conhecimento O reconhecimento do rádio também era uma coisa que me deixava bastante feliz. Por ser tão abrangente, muita gente ficava se perguntando como eram as pessoas que atuavam lá. O Francis, a Neusa, outros apresentadores e até eu mesma e quando descobriam orkut, MSN, e outras ferramentas virtuais, não paravam de escrever querendo ver pessoalmente e tudo mais. Aí então percebi o valor e a responsabilidade das informações. Minha parceria com o Edu continuou, estávamos sempre juntos, fazendo as matérias pela manhã e tentando praticar um jornalismo responsável no município, quando, numa segunda-feira bem cedo, meu telefone toca. — Alô. — Jéssica. Bom dia. (reconheci a voz bem impostada de locutor de rádio). Interrompi: — Fala Francis! O que você manda? — Você pode me salvar? A Neusa está doente e não vem trabalhar hoje. Estou desesperado, não sei fazer o programa sozinho. — Claro, pode contar comigo. Às 11h, estarei aí. E assim foi. Cheguei na rádio também ansiosa, afinal, eu sempre participava ajudando nas entrevistas, mas nunca havia sido âncora. Tomei coragem e fomos para o estúdio. No ar o programa fluiu tranquilamente e ao término conseguimos arrancar elogios dos donos da rádio. Embora eu não ganhasse um só centavo por estas participações e tudo mais e muita gente me criticasse, achando que eu deveria cobrar ou então abrir mão, eu ganhava bem mais que isso. A experiência em trabalhar num programa de entretenimento ou de participar de debates era algo incrível. Nenhum dinheiro poderia pagar tudo que eu estava aprendendo. Aos poucos, fui também arriscando algumas matérias para a AM. No ar: o hip-hop 229 Quando eu ia sozinha, no período da tarde, entrevistar alguém, no outro dia passava esta entrevista ao Edu e elas iam ao ar, com as minhas perguntas, intervenções e com a minha voz. Outro fator positivo era a popularidade concedida pelo rádio, que me impulsionava ainda mais a buscar outros trabalhos voluntários e sempre ligados à cultura marginal. No ar: o hip-hop Pelas periferias do Brasil Entre pautas, e-mails, MSN, telefone tocando e gente berrando, numa cena típica de qualquer redação de jornal do Brasil é que eu recebi, de forma bastante natural, o convite para participar da coletânea “Suburbano Convicto – Pelas Periferias do Brasil”. Era o início do projeto e o Buzo me disse ter gostado de alguns textos meus que circulavam na rede e queria que eu somasse ao livro. Quase sem reação – mas explodindo de felicidade – aceitei no ato e pensei em como a vida é engraçada. Poucos meses antes eu estava trocando farpas com ele via internet e agora ele me convidava para participar de um livro que seria mais um ponto de mudança na minha existência. A regra para participação era morar na periferia, estar envolvida, de alguma maneira, com a cultura marginal e ter ou participar de algum projeto social, além de ser iniciante no mundo da literatura, ou seja, não ter nada publicado por alguma editora grande. Inicialmente eu atendia os requisitos e estava dentro. O desafio era produzir ou usar textos já feitos, mas que versassem sobre o tema que eram as periferias. Quanto mais perto da realidade da própria quebrada, melhor. Aos poucos o Buzo montou uma lista de e-mails coletiva que era praticamente um fórum, onde todos escreviam, perguntavam e trocavam mensagens. Fiquei surpresa 230 231 por ver que eu era a segunda mulher do livro. Além de mim, do sexo feminino havia apenas a Mary do Rap, do Rio Grande do Sul. Curiosa por conhecer cada um dos outros 12 autores de outros seis Estados do país, passei a responder alguns e-mails e tentar firmar amizades. É incrível como a afinidade virtual acompanha a da vida real e cada pessoa reagiu de uma forma, mas todos me escreveram. Minha maior curiosidade era saber, por meio dos textos, como era a periferia e a vida de cada um. Alguns prazos foram dados para envio dos textos e também das fotos (com qualidade) para compor o livro, uma vez que cada autor teria o rosto estampado antes dos textos. No prazo final, mandei os textos, paguei a pequena participação de cada um e aguardei a resposta, quando veio um e-mail do Buzo lamentando e dizendo que faria de tudo, mas que outra parte da organização estava barrando meus textos. Fiquei tão desnorteada que nem lembro direito o motivo. Talvez fosse porque os meus projetos sociais fossem espaçados e não tivessem ainda um nome específico. Apesar das oficinas e eventos que eu participava como idealizadora e tudo mais, talvez não fosse suficiente para aprovação para ter o nome do livro. Três dias depois – de pura agonia durante a espera – Buzo me mandou um novo e-mail, dizendo que havia batido o pé – e na mesa também – praticamente exigindo a minha participação e apoiado no meu texto “Olhar para o hiphop que ...”, feito para a introdução do livro-reportagem “Hip-Hop – A Cultura Marginal” e que ele havia gostado, por isso, se tornou parte do Suburbano e, também, com o texto “Será mesmo uma ironia”, produzido com base numa charge do Angeli que toda a turma de jornalismo do 4° ano, isso na época da faculdade, devia analisar e escrever um texto sobre. Inspirada pelos textos da revista “Caros Amigos” naquela época, produzi o seguinte: 232 Traficando conhecimento Será mesmo uma ironia? Casas sem reboco, dependuradas nos morros e encostas, vielas sujas e abandonadas, o mau cheiro dos esgotos a céu aberto misturam-se com o mau cheiro da violência. Milhares de crianças estão sem escola, envolvidas com o tráfico de drogas. A violência é generalizada. Exploração do trabalho. Subemprego, ônibus, trens e metrôs. Chacinas e invasões policiais. Este é o retrato da senzala moderna, mais conhecida como favela, periferia ou gueto. Crianças estão jogadas, largadas por todos os cantos, tentando fazer do duro e sofrido dia a dia algo mais leve e alegre. Os campinhos de futebol estão presentes em toda parte, na terra batida, com traves improvisadas e bolas roubadas. “— Aqui não era para ser um campo de futebol?” perguntam alguns garotos ao se depararem com um cemitério clandestino no meio da favela. Sim, a sociedade promete, a elite ironiza, e a guerra continua. A céu aberto estão covas e corpos, sangue fresco de quem morreu há pouco, e é enterrado ali mesmo, como indigente, com a mãe chorando ao lado. Lágrimas desesperadas, de quem já previa o futuro do filho. A cena é típica em qualquer “submundo” brasileiro. E, por mais que os habitantes dos morros gritem por socorro, a resposta vem como um tiro de fuzil, disparado por policiais, toda semana na quebrada. Aliás, a polícia e a sociedade matam mais do que a AIDS. Uma situação irônica? Acho que mais triste e desesperadora do que qualquer outra coisa. Que futuro tem a criança que dribla a bola em meio aos corpos caídos na favela? Pelos becos e vielas também há outros, esperando uma vaga no novo “cemitério” que está sendo construído. No ar: o hip-hop 233 Do lado de lá, no asfalto, a “burguesia” delicia-se com o fato irônico, tentando explicar como ele foi descoberto, contanto piadas acerca da situação. A imprensa adora, é mais sangue estampado na primeira página. É uma branda denúncia ao sistema?! A solução? Ninguém conhece. Se conhece, desconhece. O menino que queria o campo de futebol prometido sonha a noite, com uma bola nova, um par de chuteiras, e um campo igual ao que ele vê na TV. Mas ele vai ter de esperar, crescer para poder virar ladrão, traficante e respeitado no morro, aí vai poder comprar tudo isso, se ele não morrer e cair na cova de mais um cemitério que poderia virar quadra esportiva. E mesmo contra a vontade de alguns, eu pulei para o lado de dentro do muro. O próximo passo era aguardar a impressão e acompanhar os passos por e-mail. O feitio da capa. Cada autor também deveria responder uma entrevista para o Buzo, que iria para o site Buzo Entrevista e em uma das principais perguntas, sobre como estava sendo participar da coletânea, eu disparei: “Só é positivo” e ainda pontuei ser por conta dos amigos feitos, a chance de praticar a profissão e também de fazer bons e grandes amigos. E foi justamente isso que ficou, até porque os 30 exemplares recebidos por cada autor acabariam rapidamente, mas as portas abertas e os contatos feitos seriam por toda jornada. E assim foi. No dia 25 de setembro de 2007 – data do aniversário do Buzo – estava marcada a festa de lançamento na Ação Educativa, em São Paulo. Tudo era novidade. Embora os autores marginais estivessem lançando livros com uma frequência cada vez maior, ainda não era semanalmente e o lançamento fez um pouco de barulho e chamou atenção. 234 Traficando conhecimento No ar: o hip-hop 235 236 Traficando conhecimento Antes de ir comuniquei aos garotos das oficinas e todos ficaram muito orgulhosos, afinal, o que eu falei logo nos primeiros encontros estava realmente acontecendo e era época de colher os frutos e um trabalho bastante árduo. Para faltar ao emprego, tive de deixar matérias frias prontas e pedir, meses antes e com muito jeitinho ao meu patrão, que eu sabia, não gostaria que eu fosse. Não havia como não ir. Emoção. Assim pode ser resumido, seguramente, um dos dias mais felizes da minha vida. Entre muitos livros, revistas e publicações de todos os cantos do Brasil, eu deixei a sede da ONG Ação Educativa mais de 0h, acompanhada pela minha família e com a alma leve. Eu havia conseguido e o livro “Suburbano Convicto” estava publicado, pronto para ganhar as várias periferias brasileiras. Este dia tão importante começou na terça-feira pela manhã. Fiz uma extravagância para o meu salário e fui ao salão de cabeleireiro. Tingi e fiz escova. Pintei as unhas. Poucas foram as vezes em que fiz isso fora de casa. A verba curta não permitia, mas para o lançamento de um livro era obrigatório. Durante a viagem até São Paulo me deixei chorar por um longo trecho, principalmente quando passamos por Mogi Mirim, cidade onde vivia a Anita. Lamentei de verdade o fato dela não estar mais viva e não poder partilhar da minha felicidade. Seguimos e o tempo voou até o horário do lançamento, às 19h, no centro. Levei toda a família — pais, irmã e sobrinhas gêmeas, na época com seis anos — além de convidar alguns amigos que nunca tinham ouvido falar em literatura marginal, primos que cruzaram toda cidade apenas para me ver e prestigiar o lançamento, além de um amigo de muito tempo — do litoral — que não via há No ar: o hip-hop 237 anos e uma amiga que conhecia pela internet há exatos dez anos, com quem já havia trocado todo tipo de confidências, mas nunca tinha visto pessoalmente. Em uma noite cheia de primeiros encontros e também reencontros, me lancei ao fundo de mim mesma e reencontrei minha essência, meus sonhos, minhas verdades. Nos olhos de cada um dos participantes que sei que estavam ali após um dia duro de trabalho e que, mesmo assim, estavam produzindo literatura, e falavam de suas vidas por meio dos livros. Registravam com palavras, poesias e lançamentos de livro nossa história de guerra urbana, civil, de opressão e descaso. Encontrei-me com o povo que quero ao meu lado e em que acredito. Percebi o tipo de trabalho que queria fazer e a urgência com que isso precisava acontecer na minha quebrada. Fiquei emocionada com cada autor que Buzo chamou ao palco e antes de entregar o microfone, falou um pouco da “biografia” e da quebrada da pessoa. Não senti meus pés no chão quando foi a minha vez, mas não me esqueço da cena. Embaixo do palco, meus primos me fotografavam. Minha amiga-irmã que era de Poços de Caldas e estava morando em São Paulo para tentar “ganhar a vida” me olhava cheia de ternura. Minhas sobrinhas se deslumbravam com toda a cena e meus pais e irmã sorriam orgulhosos. Os espectadores se expressavam curiosos e atentos. Estavam ali porque queriam, ninguém os tinha forçado a nada e era o nosso sarau, o nosso lançamento, a nossa poesia e a nossa vida. O Buzo sempre fez questão de frisar que nosso livro deveria ser o livro e não apenas mais um livro que falasse sobre periferia. Não sei para os outros 12 autores, mas para mim foi exatamente o que aconteceu. Chegou para somar e mudou tudo, para melhor. 238 Traficando conhecimento Numa festa com cerveja, refrigerante e amendoins, paramos para conversar com todos, trocar informações sobre as quebradas e nos conhecermos um pouco mais. Espantei-me quando alguém pediu que eu assinasse o livro e, ainda mais, para tirar uma foto comigo. Fiz toda a cena conforme deveria ser e fiquei ainda mais emocionada quando o Buzo veio comentar o fato de eu ter levado minha família, cheia de crianças, para conhecer mais a literatura. Ele me disse “puxa, é superimportante ver as crianças tão à vontade num ambiente assim, em meio aos livros”. E foi realmente superimportante. Meu primo mais novo – na época com oito anos – fez questão de conversar com cada um dos autores e também tirar fotos, além de pedir que todos autografassem o exemplar que ele comprou. Outra cena marcante, e também inspiradora, foi ver que um amigo do meu pai, convidado por ele, foi até o lançamento. Os dois se conheceram aos 18 anos, enquanto serviam o exército e quarenta anos depois se encontravam para bater papo e acompanhar o lançamento. O mais bacana é que o amigo do meu pai, um descendente de japonês, nunca tinha ouvido falar em literatura periférica e ficou deslumbrado. Comprou dois livros e ainda me pediu um exemplar do “Hip-Hop – A Cultura Marginal”. Neste mesmo momento conheci o rapper e escritor Renato Vital. Da Zona Sul de São Paulo, ele chegou de mansinho, pediu para tirar uma foto, trocar uma ideia. Ficamos amigos, trocamos e-mails e um tempo depois, confidências. Ganhei um texto de presente dele: No ar: o hip-hop Jéssica Balbino por Renato Vital Seu sorriso encanta Sua coragem é tanta Tem na mente e no coração Armas para revolução Sua beleza é mais do que isso Beleza inteligência no nível Com sua inteligência ativa Muda as pessoas a quem cativa Ama o Hip-Hop de coração Considera de verdade os irmão Vive a vida na correria Sempre batalhando no dia a dia Cabelos longos Longos como a jornada Jornalista do Jornalismo Jornada imensa, imenso caminho Jéssica Balbino Seu olhar brilha Seu rosto que penumbra Através da luz A caneta na sua mão Vai desenhando o futuro Carimbando com sua inteligência Todo e qualquer ser imundo Sua beleza faz parte De sua ideologia Que também é bela Justiça aqui na terra 239 240 Traficando conhecimento Quando anda pelas ruas As flores sentem seu cheiro O vento sopra mais leve E o sol ilumina seu jeito As palavras em seu nome Se transformam nas palavras Desse humilde poeta Que corteja sua face Ela vai caminhando Em busca de seus objetivos Com seu charme mineiro Olha para mim sorrindo O seu sorriso faz parte Da sua pessoa então Que complementa sua beleza Junto com sua simpatia Jéssica és bela Suas palavras te cercam Seu sorriso se preza É uma linda guerreira aqui na terra. Incrível como uma noite tão mágica pode proporcionar tantas mudanças e ao mesmo tempo desperta mais interesses. No ar: o hip-hop 241 No ar: o hip-hop Do lado de dentro da periferia Do lado de cá. O lado que poucos conseguem enxergar e que é colorido pela magia das ruas, das casas simples, das pessoas cheias de vida e da realidade encoberta e deturpada pelos noticiários e donos do poder. É deste lado que eu sempre estive e fazia questão de estar. Estas pessoas cheias de vida são as que eu queria defender com as armas que me foram dispostas: o hip-hop e as palavras. Como lugar de repórter é na rua, em uma manhã eu estava com meu parceiro de trabalho Eduardo Correia, repórter da Rádio Difusora, quando caçávamos uma pauta boa para o dia e nos deparamos com um menor que abordava quem passava pelo local. O frio na cidade era de rachar e havia chovido durante toda a noite, deixando as ruas todas molhadas. Resolvemos descer do carro e conversar com o garoto, que quando nos viu mais próximos ficou receoso e tentou fugir. Numa conversa rápida ele nos contou o que estava fazendo em Poços de Caldas e o que sonhava para a própria vida. Ainda de forma rápida, nos disse que gostava muito de cantar e que seu estilo preferido era o rap. A cena que já havia chamado a minha atenção causou revolta. O jovem de 17 anos, com documentos enfiados num saquinho plástico, roupas maltrapilhas e a voz falha de anos consumindo 242 243 crack me fizeram ligar o gravador e propor a ele uma matéria para o jornal. O Edu fez o mesmo e propôs uma matéria em conjunto para o rádio. A maior indignação é que, dias antes, o prefeito e o vice tinham aparecido em toda mídia local anunciando que Poços de Caldas havia sido considerada a 4ª melhor cidade do país em qualidade de vida. Mas se havia qualidade na vida daquele menor, onde ela estava? Embasados nestas perguntas passamos a questionar o jovem. Para o jornal, a reportagem abaixo é que foi escrita: Problemas sociais são detectados em Poços de Caldas Por Jéssica Balbino Participação Eduardo Correia “Quando eu ficar mais velho, quero arrumar um serviço e ser gerente. Quero trabalhar, ganhar meu dinheiro e não precisar mais ficar na rua. Quero alugar uma casa para morar, se Deus quiser”, conta Lucas Pedro da Silva, 17 anos, mas pela baixa estatura e os traços infantis aparenta ter bem menos. Engana-se quem pensa, ou afirma, que em Poços de Caldas não existe moradores de ruas ou mendicância. A reportagem do Jornal de Poços pode comprovar isto através da história de Lucas. Durante a fria manhã de terça-feira (17), o garoto está no Parque José Affonso Junqueira, atrás do Palace Hotel, “trabalhando” como fl anelinha ou “guardador de carros”, como ele diz. Lucas conta que veio da cidade de Caconde, interior de São Paulo, para Poços de Caldas há pouco mais de um mês e que está morando na rua. “Eu saí de casa porque meu pai morreu já faz tempo e minha mãe bebe, não dá para ficar com ela, ela me agride. Então eu vim para 244 Traficando conhecimento Poços, pedindo carona e hoje eu moro na rua. Durante o dia eu guardo os carros e à noite eu fico embaixo de alguma ponte ou cobertura.” O garoto, que usa roupas e sapato folgados para o corpo e tem o cheiro de quem não toma banho há bastante tempo, diz que com as moedas que ganha olhando os carros, compra comida. Os banhos são tomados em postos de gasolina e as roupas foram ganhas na rua. Para suportar as baixas temperaturas do inverno poçoscaldense o garoto diz que tem um cobertor e que deixa guardado embaixo dos trailers que vendem lanches na praça. Para os moradores da cidade, como o motorista particular Wellington Silva Alves, encontrar crianças moradoras de rua em Poços de Caldas é uma situação estranha. “Eu me surpreendi muito ao ser abordado por este garoto, porque eu sempre trago meu patrão aqui na praça e esta é a primeira vez que eu vejo alguém na situação dele. Infelizmente a desigualdade social está no Brasil todo e a gente pode ver que a tendência é piorar cada vez mais. Poços de Caldas sempre foi vista como uma das cidades com o maior Índice de Desenvolvimento Humano e agora está recebendo este tipo de coisa, vemos muitas pessoas por aí andando de carros importados, mas também vemos que a pobreza está cada vez mais intensa aqui na cidade, infelizmente”, diz. Ao ser questionado sobre a vida na rua, Lucas diz que é feliz com a vida que leva e conta que nunca foi agredido por outras pessoas, nem pela polícia. “Acho que a polícia até ficou feliz em saber que estou aqui olhando os carros, porque, antes, os garotos murchavam os pneus, riscavam, eu não, fico só olhando mesmo, este é o meu trabalho”, defende. Ele conta também que já usou drogas, como maconha, mas que parou há algum tempo. “Hoje não uso mais nada, também não estudo. Já tentei procurar um emprego nor- No ar: o hip-hop 245 mal, mas não acho serviço. Quero sim, poder trabalhar e alugar uma casa”, reforça. O psicólogo residente em Poços de Caldas, Fábio Rimenschneider, acredita que o que faz a criança ou adolescente abandonar o conforto do lar, por mais humilde que seja, e viver na rua são um grupo de fatores como a questão econômica e a questão das relações interpessoais. “Ao lidar com menores carentes e infratores, ao checar a história, descobrimos um lar absolutamente caótico, rompendo com o equilíbrio familiar e, se esse cuidado básico não vem, a criança tende a comportamentos delinquentes ou vai às ruas, buscar algum reconhecimento, e isto leva a uma perversidade e estas crianças acabam sendo vítimas de organizações e facções criminosas. Surpreendeme que isto tenha chegado em Poços. É duro sermos tão fatalistas, mas quando uma criança sai às ruas e tem de sobreviver ali, já há um rompimento com o futuro dela. Não estou generalizando, mas na maioria das vezes é assim que acontece”, pontua. Assistência Social A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) tem um trabalho chamado Atendimento Cidadão, que recolhe as pessoas em situação de risco das ruas da cidade e as encaminha para centros de tratamento e de Desenvolvimento Humano. Por intermédio de telefones emergenciais, a Semas presta o serviço de recolher as pessoas. No entanto, nesta manhã, o número de telefone divulgado pela Semas foi chamado para prestar atendimento ao garoto, no período de uma hora, nenhuma mobilização ocorreu por parte da Semas. Procurada pela reportagem, a coordenadora do setor emergencial da Assistência, Rosa Fleming, informou que desconhece o fato. “É muito estranha esta história. Não chegou ao meu conhecimento este fato. Estou surpresa”, afirma. 246 Traficando conhecimento Ela diz ainda, que, em casos semelhantes, envolvendo menores de idade, o Conselho Tutelar é acionado e procura entrar em contato com a família e cidade de origem da criança ou adolescente, buscando o melhor encaminhamento. O Conselho Tutelar do município também disse desconhecer o fato e informou que, em situações como esta, o Conselho Tutelar da cidade de origem é procurado e enquanto as informações são levantadas, a criança ou adolescente é mantida em abrigos. “Por isso estamos lutando por uma casa de passagem para crianças e adolescentes aqui na cidade. Fatos como este não são frequentes, mas já aconteceram e a nossa instrução é para que o Atendimento Cidadão seja chamado”, diz Sandra de Fátima dos Santos Lapa, coordenadora do Conselho Tutelar. A Guarda Municipal, que é o órgão que recebe as ligações através do plantão de emergência da Assistência Social afirma que apenas recebe as ligações e as encaminha para a viatura do atendimento social que fica pelas ruas da cidade realizando o patrulhamento. “O que observamos é que os chamados aumentam durante o inverno, pois muita gente fica penalizada de ver pessoas na rua com o frio que faz na cidade. Porém, um dado interessante que temos aqui em Poços é que não há moradores de rua. Existem, sim, pessoas morando na rua, mas em todos os casos, são pessoas que têm famílias e que por algum desentendimento acabam indo para a rua”, conta o inspetor Marcelo Bastos, da Guarda Municipal. Contudo, a Assistência Social disse que irá averiguar a situação de Lucas e encaminhá-lo ao melhor tratamento possível. Apesar da reportagem não ser nenhuma novidade nos grandes centros urbanos do país. No centro da cidade de Poços representou uma cena pouco comum. Mais além, No ar: o hip-hop 247 enquanto lugar-comum, passa despercebido aos olhos de toda a população e se ninguém gritar ao mundo que estes seres tratados como invisíveis existem, eles vão realmente se tornar ocultos no corre-corre do dia a dia e nada será feito, fazendo com que as cidades do interior se transformem, mesmo que em pequenas proporções, em abrigos de problemas, como as capitais. Para tentar defender isso e garantir não apenas ao Lucas, mas a outros menores que enfrentem a mesma situação, tentamos fazer algo. Há muito tempo eu já me espelhava em profissionais como a Eliane Brum, que enxergava, enquanto jornalista, além do óbvio e sempre retratava histórias comuns de uma forma recheada de poesia e transformava a realidade, nos fazendo enxergar mais do que uma pessoa inserida em uma estatística ou problema social. Sempre busquei trabalhar como ela e ir além da pauta, além do que todos vão dizer, além do que todos já sabem, além da situação visível. Esta foi uma primeira tentativa e dar voz a um ser marginalizado e me deixou extasiada. A repercussão também foi boa e, no dia seguinte, enquanto Edu e eu enfrentávamos mais um dia frio em Poços de Caldas, ouvíamos o rádio onde um ex-vereador da cidade apresentava um programa matinal e discutia a manchete do jornal, que havia sido a reportagem do garoto e chamava a atenção das autoridades para o problema. A matéria foi também tema no “Debates Populares” e, desta vez, o Francis não aceitou o horário de almoço do Edu como desculpa e praticamente exigiu que participássemos do Mix. O que era para ser uma simples matéria de rádio AM se transformou quase em um minidocumentário, com trilha sonora e tudo, que o próprio 248 Traficando conhecimento Edu gravou e que foi ao ar durante todo aquele dia, também na FM, através do Mix. O assunto rendeu durante todo o programa e o pedido de intervenção para o problema rendeu ligações de políticos e participações ao vivo também no quadro. Acho que o mais comovente era a voz do garoto e o jeito dele falar quando sonhava em alugar algo e não precisar mais viver na rua. O sonho de Lucas era o mesmo de mais de 10 mil crianças que vivem nas ruas. Embora elas fiquem de fora dos censos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma pesquisa do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) estima que, entre crianças e adolescentes, mais de 10 mil vivem pelas ruas de todo país. Pode ser pouco, pode ser quase nada, mas foi o que deu para fazer com aquela primeira matéria que, mais tarde, inspirou uma série de reportagens. No ar: o hip-hop 249 No ar: o hip-hop Plano B E se o que planejamos não der certo? E se surgirem imprevistos? Devemos sempre ter um Plano B. Foi assim que li em um livro com este título e, desta forma, começou a apresentação de um grupo de estudantes da minha classe para o TCC. Foram aprovados com a nota 10 porque a 11 não existe. Só por terem feito algo inédito na faculdade: um programa televisivo com formato de revista eletrônica com o público-alvo, em Poços de Caldas, de 18 a 24 anos. Foi louvável. Uma das três matérias do programa era sobre hip-hop, na fonte de Leãozinho, onde surge a união entre o patrimônio material e imaterial da cidade. Com isso, o grupo conseguiu apoio de uma produtora e comprou um horário nas tardes de sábado com reprise no domingo na recém-fundada TV Plan. O programa, assim como a TV, era uma promessa de entretenimento e fui convidada pelo idealizador, Jorge Junior, que era também o apresentador, para montar um quadro onde eu percorreria todas as periferias da cidade e falaria com as mais variadas tribos urbanas e expressões de cada quebrada, a começar, é claro, pelo hip-hop e as oficinas de literatura na Zona Sul. 250 251 Como ele já tinha alguns programas gravados, fui para estúdio apenas para gravar uma participação sobre o livro, uma breve explanação do que é a cultura marginal e para anunciar que a melhor frase sobre o programa concorreria a um exemplar do “Suburbano Convicto”. Como minhas afinidades eram, até então, com jornal impresso e eu estava descobrindo o rádio naquele tempo, não sabia como me sairia na TV, mas acreditei que poderia tentar, elaboramos um roteiro e empacamos um nome para o quadro. Após várias reuniões de brainstorm, me inspirei no nome do CD que o UClanos estava gravando e disparei: Pelos Cantos. O quadro vai se chamar Pelos Cantos, pois vou percorrer cada quadradinho da periferia de Poços. A ideia era trazer para a nossa realidade algo parecido com o quadro Central da Periferia, feito pela Regina Casé, no Fantástico, mas havia um único inconveniente. Meu patrão, senhor dos escravos modernos, não queria que eu participasse de programas televisivos e nem fizesse freelas, alegando que eu deveria ser funcionária exclusiva do jornal, podendo fazer apenas algumas participações na rádio. Mas, como eu já estava de saco cheio da imposição de regras sem pé nem cabeça, resolvi arriscar. Contudo, antes de começarmos as gravações para valer, a TV saiu do ar por falta de uma concessão do Governo Federal e não dava para manter o programa e nem para levá-lo para a outra emissora da cidade. Como demorou mais do que os dois meses previstos para que a concessão saísse, o Jorge abandonou o sonho que tinha e se mudou para São Paulo, onde iria trabalhar em uma empresa multinacional. Lamentei não ter podido colocar em prática o quadro, que seria quinzenal dentro do programa. 252 Traficando conhecimento As poucas edições que foram ao ar fizeram sucesso e o quadro que eu participei, sorteando o livro, me trouxe um pouquinho mais de publicidade, o que ajudou na articulação de projetos que eu tinha na mente, além de ter dado o livro de presente a um garoto que morava na Zona Leste da cidade. Quando ele foi até o estúdio retirar o prêmio, nos cumprimentou e disse: “Que ‘da hora’ a iniciativa do programa. Nem imaginava que existia gente em Poços para escrever sobre hip-hop. Tô bem feliz com o presente.” Assim, apesar do pouco tempo em que o sonho durou, valeu a pena ter tentado e as ideias ficaram para uma próxima oportunidade. Quem sabe de uma outra vez. No ar: o hip-hop Cultura Marginal 255 positiva que só a periferia tem e que só os talentos da quebrada conseguem proporcionar através das próprias manifestações artísticas. Claro que eu gostaria que o evento tivesse reunido a região toda, que as pessoas fizessem fila para entrar e que fosse um verdadeiro estouro, naquela tarde de domingo, contudo, mais uma vez, não tive tempo para lamentar porque a urgência em conseguir tocar novos projetos adiante era enorme. Durante as tempestades de ideias para dar um nome ao quadro que não foi ao ar, ficamos bastante tempo com o nome temporário de Cultura Marginal, até surgir o Pelos Cantos e trocarmos, mas a expressão não deixou de me acompanhar. Primeiro porque faz parte do nome do meu primeiro livro e segundo porque resume exatamente o que o hip-hop e a literatura são, juntos. Há tempos eu precisava de um nome para o projeto social das oficinas, das pequenas palestras e de todo o trabalho que eu pretendia realizar. O ano de 2007 já estava no final e para 2008 eu pretendia ainda mais atuação nesse sentido. Resolvi batizar o último evento daquele ano como Cultura Marginal. No centro comunitário do Cohab, onde aconteceu a primeira leva de encontros do Hip- Hop Sul, no início da década, formamos uma turma de colegas que dançavam e cantavam e tentamos atrair os garotos da oficina da escola do bairro e mais quem quisesse. Apesar de não ter tido um comparecimento em massa, foram mais de 100 pessoas, o que é pouco para o local. Continuamos a ler nossos textos em um sarau improvisado e sem muitas regras, mas com a energia 254 Cap.05 Em foco Cap.05 Em foco Em foco 259 Marginal” e “Suburbano Convicto”. Garanti que no final do evento alguns participantes ganhariam exemplares deste segundo. “Cinco elementos, humildade e talento, b.boy, DJ, Grafite, MC e Conhecimento... E conhecimento.” Com este pequeno refrão eu fiz a abertura do 1° Hip-Hop em Foco, que lotou o Teatro Municipal durante o Viva Urca – evento anual de atrações locais. Os mais de 700 lugares – poltronas e em pé – foram ocupados por jovens dos quatro cantos da cidade que, cheios de expectativa, pagaram o ingresso ao preço de R$ 3 que seria revertido para manutenção do Espaço Cultural da Urca e aguardavam, ansiosos, o início do evento que promete tudo que o hip-hop tem. As cinco manifestações reunidas em uma única noite, de forma histórica na cidade. Representando o 5º elemento da cultura – o conhecimento – subo ao palco com o nervosismo natural da “primeira vez que estou fazendo isso” e dou boa noite à casa cheia. Tremendo por dentro e tentando me controlar por fora. Digo baixinho para a emoção “fique ali do lado, na coxia e me observe, depois a gente comemora juntas o sucesso desta noite”, dei prosseguimento, explicando que estava ali em nome da literatura periférica, do meu trabalho com oficinas e dos livros “Hip-Hop – A Cultura 258 A cada manifestação que subia no mesmo palco, intercalando a dança, o grafite, o DJ, o conhecimento e o rap, eu apareço para explicar o que aquilo significa, como surgiu e para o que serve. De uma forma simples e não professoral, a noite se transforma em uma enorme palestra-show sobre a cultura periférica de Poços que deu a oportunidade a todos os grupos, inclusive àqueles que nunca se apresentaram para tanta gente. Um beat, uma batida, um passo sincopado, um movimento mais forte e uma racha de break estão formados. Duas crews de diferentes regiões se confrontam no pequeno espaço do palco e arrancam suspiros da plateia que está ali. É visível que muitos turistas estão em contato com a cultura do hip-hop pela primeira vez na vida e alguns comentários como “eu só vi isso pela televisão” podem ser ouvidos. Mas, nem mesmo as explicações sobre a proposta inicial do hip-hop, de paz, amor, diversão e união para acabar com as brigas de gangues nas ruas consegue parar alguns representantes das duas crews, que se estranharam durante a dança e quando foram interrompidos pelo mediador partiram para uma discussão do lado de fora do espaço. Foi neste momento que alguns integrantes do Concepção Urbana que fazem parte do staff do evento, foram até lá para tentar apartar uma briga prestes a ser iniciada. Voltaram e comentaram que alguns dos garotos estão alcoolizados e foram mantidos do lado de fora do teatro. Volto ao palco com mais uma intervenção do 5° elemento e explico que é exatamente este tipo de comportamento 260 Traficando conhecimento Em foco 261 que a cultura hip-hop visa acabar e que ele pode ser alcançado através de qualquer uma das manifestações, dispostas como armas, feitas para combater a guerra diária travada entre grupos rivais, seja entre jovens, adultos, classes sociais ou grupos políticos. Enquanto falo, um jovem grafiteiro pinta, ao meu lado, a palavra PAZ em um painel de madeirite. Com destreza, ele conclui o desenho ao mesmo tempo em que eu me retiro, dando lugar a mais uma demonstração de dança. O inconveniente provocado pela briga entre as crews foi esquecido quando um grupo de rap subiu ao palco e desrespeitou o tempo limite de apresentação. Também estavam alcoolizados e deixaram de cumprir o acordo firmado com a organização, além de ferir os ouvidos do público com letras improvisadas de forma distante do verdadeiro hip-hop. Contudo, mesmo com esses vexames, o evento prossegue e eu já digo à emoção: “Não se entristeça. Estamos indo bem. Não é nossa culpa. A falha de algumas pessoas não deixa de ser poesia dura e marginal.” Produzir amor onde não há e cantar belezas onde não tem era exigir demais daqueles grupos que estavam despreparados para o evento. A falta de conhecimento do 5º elemento, que versa, justamente, sobre a sabedoria é o que culminou para cenas tão lamentáveis. As competições entre crews continuam, as apresentações de rap também e o DJ Dunha trabalha firme nas pickups para a minha entrada com algum dado e fato histórico que recheia o evento com um tanto da compreensão acerca da cultura marginal. Após quase três horas ali, a emoção que latejava no meu peito tinha conseguido se acalmar e quietinha, em um canto, me observa. Sou interrompida por Nando, que deveria estar no camarim se aprontando para fechar 262 Traficando conhecimento as apresentações da noite com uma coreografia montada especialmente para o evento. Ao lado de Mário, diretor do grupo, agradeço a presença de cada pessoa no público e espero, de coração, que o hip-hop em foco daquela noite tenha agregado coisas positivas. Nando me abraça, toma meu microfone e passa a ler, como quem representa – afinal, iniciamos juntos no teatro há alguns anos – o texto “Olhar para o hip-hop” e quando termina o público que ainda resta o aplaude em pé. Claro que essa euforia é quanto à performance empregada por ele e outro tanto pelo texto, que me enche, novamente, de orgulho. Não um orgulho explosivo, mas uma felicidade concreta por saber que, naquele fim de noite, muitas das pessoas que pagaram para estar ali deixariam o teatro após ouvir um pouco da nossa cultura pelas minhas palavras, escritas em uma largada de emoção, pressa e urgência em reportar toda a grandeza desta cultura. Para agradecer ao público presente, já no embalo do clima de sarau improvisado criado pelo Nando, sorteamos três exemplares do “Suburbano Convicto” e as pessoas que ganharam o livro puderam levar para casa um pouquinho de cada uma das 13 periferias espremidas entre as letras e fotos daquelas páginas do livro. Criamos, também, uma forma de agradecer os grupos que estiveram no evento e separamos troféus para os três melhores lugares de cada categoria: dança e música. Todos os participantes também ganharam um certificado de agradecimento e participação. Já com as cortinas abaixadas, grito a minha emoção, que sai de onde estava escondida e vem ao meu encontro. Pula sobre mim e me abraça, rodopiamos pelo teatro já com as cortinas abaixadas e corremos para abraçar a minha família, meus amigos e os grupos vencedores, que posam para fotos exibindo os troféus. O evento chega ao fim e o hip-hop, de uma forma ou de outra, apesar dos contratempos, esteve em foco naquela noite. Em foco 263 Em foco 3... 2... 1 gravando! A ideia de produzir TCCs sobre hip-hop para as universidades de todo Brasil ainda estava em alta e a cada mês, grupos de diferentes regiões entravam em contato, sempre através do blog, com pedidos de dicas, sugestões e tudo mais. No início de 2008 um grupo de São Paulo estava gravando um vídeo-documentário sobre a produção cultural na periferia e queria unicamente o capítulo que eu falava sobre literatura marginal, o sarau da Cooperifa e as iniciativas do Ferréz, do Buzo. Travamos contatos e mais uma vez a troca de experiências se relevou fundamental. Aos poucos os DVDs e outros trabalhos já produzidos foram chegando em minhas mãos e passei a separá-los para poder aplicar em oficinas. Vídeos como o produzido pela Kaká Soul, de Goiânia, e o produzido pela Érica Guimarães, de Campinas, se tornaram parte dos momentos em que eu passava na companhia dos alunos, desta vez pouco mais de meia dúzia, também selecionados pelos professores e diretores da escola para frequentar, uma vez por mês, as oficinas no período noturno. Exibir coisas produzidas por gente da periferia sobre a nossa cultura se tornou parte, também, da formação 264 265 crítica desses estudantes, o que eu considerava fundamental para o sucesso das oficinas. Oficinas essas que deixaram de ser na escola e passaram a ser cada dia em um local, ora na quadra do bairro, ora na casa de alguém, ora no poliesportivo e assim por diante, de maneira informal, mas bastante produtiva. Outro ponto foi o lançamento de novos livros escritos por autores periféricos. Logo no início do ano surgiu um produzido pelo selo Elo da Corrente, que trazia a literatura do sarau comandado pelo Michel e pela Rachel, com textos e contos de gente superimportante para a quebrada. O livro “Prosa e Poesia Periférica” se revelou mais uma arma para o arsenal que estávamos montando em nossa quebrada. Alimento. Assim eu encaro as novas produções e, mesmo morando a pelo menos 280 km de São Paulo, onde a produção literária realmente acontece, acompanho por meio da internet o que surge de novo e sempre que posso compro os exemplares – e graças à amizade muitas vezes os ganho – e tenho a oportunidade de conhecer o que há de mais fresquinho saindo dos fornos periféricos e mostrar à turma de estudantes que, para que as coisas aconteçam, basta que nós tenhamos vontade de transformação. Com alguns exemplares do “Suburbano Convicto” em mãos o trabalho também ficou mais fácil. Resultados palpáveis chamam atenção dos jovens e em pouco tempo, pequenos textos também estavam sendo produzidos por eles. Com muita luta e confiança, pude – de forma bem real – mostrá-los à infinidade de blogs existentes na rede, todos tratando de hip-hop e literatura, sempre com novidades incríveis sobre o universo marginal. 266 Traficando conhecimento O que ouvi foi “da próxima vez que eu for à lan house vou visitar o site” e também “vou deixar de jogar country strike e ler um pouco mais”. Frases como estas, soltas em meio às oficinas me fazem crer que as transformações são possíveis. Com o recurso audiovisual dos documentários e da confiança em cada um dos garotos para emprestar os meus materiais e deixá-los circulando na roda, de mão em mão, ficou mais fácil, também, verbalizar um pouco do contexto. Trabalhar com tudo isso em um horário tão ingrato como o que eu tinha de tempo disponível era como um brinde, uma promoção incrível, um número acertado na loteria. A maioria dos garotos que participava tinha entre 9 e 13 anos e todos pediam mais clipes de rap, mais vídeos e em um dos encontros um pedido inusitado mexeu comigo, chamou minha atenção. Um dos garotos me lembrou que fazia tempo que não trazia um texto novo, feito por mim. Um conto talvez. Eu já havia lido “O homem do gueto”, “Uma brasileira”, os que estavam no “Suburbano” e algumas partes do livro-reportagem, sem falar nos textos do Elo da Corrente, do Sacolinha e do Buzo. O questionamento me fez reparar que eu estava tão embalada no Jornal de Poços, cobrindo a editoria de polícia que eu havia assumido no Carnaval e que não gostava nem um pouco, que não tinha mais tanta disposição para atualizar o blog ou mesmo escrever meus contos da literatura marginal. Percebi também que o tempo estava passando e que eu precisava, com urgência, me dedicar mais ao hip-hop. Reformulei o blog, fiz um layout diferente e soltei na rede textos novos. Produzi o conto “Periferia Adentro”, inspirado em uma realidade que observei durante as pesquisas do TCC e cheguei na oficina do mês seguinte toda feliz, mostrando o texto: Em foco 267 Periferia adentro Quarta-feira, uma hora da tarde. O trem para. Estação Jaraguá, Zona Oeste, São Paulo, capital. Para sair do trem é um sofrimento já que ele está parado muito longe da plataforma e é preciso pular. É mês de julho, inverno. Mas o sol está muito quente. Passa dos 30°C. É preciso caminhar um quarteirão e tomar um ônibus para a Praça Panamericana. Uma praça bonita, porém, sem muito verde. Tem uma pista de skate toda grafitada, denunciando a presença do hip-hop por ali. Em frente ao supermercado Panamericano também há vários muros e fachadas de estabelecimentos comerciais exibindo seus grafites. Subindo uma ladeira íngreme dá para entrar em uma viela, cheia de casas próximas. É uma quase-favela. O real retrato do gueto, da periferia. Aliás, estas são as palavras que mais aparecem na literatura ou em qualquer coisa relacionada ao hip-hop e são quase endeusadas pelos autores e ativistas. Mas o gueto é ali mesmo, naquelas casas, com seus “muros” de madeira pichados e grafitados, com seus aparelhos de som “top de linha”, contrastando com a pobreza do lugar, e tocando rap no último volume. O rap é a trilha sonora deste pessoal, que encontra nas letras de protesto uma forma de gritar para o mundo, de chamar atenção da sociedade para seus problemas cotidianos. É nessa poesia urbana que eles encontram uma forma de extravasar tudo que lhes oprime. Saindo dessa rua, uma escadaria enorme tem de ser enfrentada e os moradores locais reclamam diariamente deste percurso. No topo do morro tem um portão branco e, descendo vários degraus, está à casa de Pow, 28 anos, integrante de um grupo famoso na cena do hip-hop paulistana. Ele anda o mais rápido que pode, vai se encontrar com o MC Eduardo, do grupo de rap e vão compor alguns sons para tocar no próximo baile da quebrada. Em foco 269 Numa das vielas o cheiro de sangue fresco ainda é forte. São os vestígios de mais uma morte “da noite de ontem”. — Aqui não era para ser um campo de futebol? — perguntam alguns garotos ao se depararem com mais um corpo em um dos inúmeros cemitérios clandestinos no meio daquela favela. Pow não liga para os comentários. “É só mais um corpo”, pensa. Ele já está acostumado com a cena. “Corpo jogado na vala da periferia é o mesmo que moleque batendo bola no campinho. Faz parte do dia a dia, corre e volta a pensar na letra que está compondo. “Falta alimento em nossas mesas e o país é culpado”, cantarola baixinho. A céu aberto estão covas e corpos, sangue fresco de quem morreu há pouco, e é enterrado ali mesmo, como indigente, com a mãe chorando ao lado. Lágrimas desesperadas, de quem já sabia o futuro do filho. A indiferença está em quem passa. Pode ser conhecido ou não o corpo de quem está em uma das valas. Não vale a pena. A bola batendo entre os corpos transforma as covas em mais um campinho de futebol, entre os muitos já existentes nas periferias. Nos jornais, na banca em frente à Praça Panamericana estão diários, com manchetes como “Integrante de grupo de rap é morto após confronto com traficantes”, “Bandido é alvejado no Panamericano” e “Jovem rapper é morto por envolvimento com tráfico”. As fotos, ainda piores que as manchetes, trazem detalhes do corpo do jovem em meio às valas e a mãe, chorando ao lado. O menino que queria o campo de futebol prometido sonha à noite, com uma bola nova, um par de chuteiras, e um campo igual ao que ele vê na TV. Mas ele vai ter de esperar, crescer para poder virar ladrão, traficante e res- 270 Traficando conhecimento peitado no morro, aí vai poder comprar tudo isso, se ele não morrer e cair na cova de mais um cemitério que poderia virar quadra esportiva. Após enfrentar o morro e chegar em casa, Pow desembrulha a carne que comprou e no jornal vê o corpo do MC Eduardo. O grito, em forma de rap, ecoa por todas as vielas e chega ao ouvido dos mais desatentos: “Falta alimento em nossas mesas e o país é culpado.” Surpreendi-me ainda mais quando aquele mesmo garoto me trouxe um texto feito por ele. Era mais uma redação e dizia sobre o que ele gostaria para a vida dele no futuro. Desinibido e diferente de todos que eu já havia trabalhado até então, não teve objeções quando disse a ele para ler o texto em voz alta. Com a voz impostada, Rodrigo contou ao grupo que, antes das oficinas, tinha vontade de ser músico e depois, a vontade havia aumentado. Tinha vontade de ser músico e escritor. Como eu me senti? Não preciso nem relatar que absurdamente feliz e lisonjeada. Embora ele tivesse alguns erros de português e uma construção ainda um pouco precária, era ótima para a idade dele e pela falta de leitura também. A exemplo da oficina anterior, sugeri que ele passasse a ler um pouco de Pedro Bandeira, que tinha tudo a ver com a realidade e, novamente, o formato deu certo. Outra sugestão que resolvi trabalhar com os meninos foi o “Quarto de Despejo”, da Carolina Maria de Jesus. Sempre considerei uma grande obra e levei alguns trechos. Nas mãos dos garotos senti maior firmeza quando eles revelaram a identificação com a autora. Outro texto fundamental e que pode ser atrelado ao audiovisual foi “Cidade de Deus”, de Paulo Lins. Primeiro o livro e, por último, a exibição do filme. Um pouco antes havia também estourado no Brasil o documentário Em foco 271 “Falcão e os Meninos do Tráfico”, acompanhado do livro, algo que também se tornou importante para as oficinas e passou a ser trabalhado em salas de aulas de todo Brasil. Outros projetos com hip-hop e literatura passaram a usar os exemplos também para promover mudanças nas vidas dos jovens locais, e mostrar, com a clareza existente no documentário, o quão ruim é a vida do crime e o destino quase único que ela leva. Sucesso pela linguagem utilizada pelos autores e idealizadores. A mesma falada em qualquer roda de amigos de qualquer bairro de qualquer periferia de qualquer cidade de qualquer estado de todo este Brasil. Diante da empolgação desta turma, convidei o grupo anterior também, para voltar no mês seguinte e apreciar um dos encontros, reunindo as informações e vivências. Para incrementar, usei da experiência no jornal para sugerir que produzíssemos algumas matérias sobre nossa própria quebrada. Nem que fossem apenas notas e fizéssemos uma espécie de folheto, um minijornal, apenas para exercitar a arte da escrita e também da apuração. Alguns gostaram, outros preferiam continuar nos textos e documentários. Fizemos uma experiência, mas como tudo tinha de sair do meu bolso e do meu salário de miséria, não deu muito certo, mas, valeu pela tentativa e experiência. Não precisava ser um projeto perfeito. Bastava que fosse feito e vivido de todo coração e que acrescentasse algo àquelas vidas. Era suficiente que um encontro mensal despertasse nos jovens – nem que fosse um deles – a vontade de driblar o péssimo ensino e a desinformação, mudando as consequências e os planos já traçados pela elite, que se interessa pela ignorância do povo, que sempre plantou frases feitas como “o pobre não tem vez”, “o pobre não tem estudo”, “o pobre nasceu para sofrer” e 272 Traficando conhecimento “brasileiro não gosta de ler”, “esse povo não tem nem o que comer como vai comprar livros”. A elite esqueceu-se que a fome é um ingrediente a mais na inspiração e que o sofrimento é doce para o poeta que transforma a própria desgraça em revolução. E as mudanças — mesmo que pequenas como árvores que começam a florescer bem antes de dar frutos — eram inspiradoras para que o fantasma da desistência passasse bem longe do desejo de comer a fruta no pé, debaixo da árvore frondosa em tarde quente de verão. Assim se seguiram as oficinas de 2008, com mais facilidade e experiência que as de 2007, e a expansão para outros bairros tornou-se um projeto a ser pensando, contudo, eu precisava trabalhar e fazer pelo menos o dinheiro das cópias dos textos e da condução para os eventos de hip-hop. Por outro lado, o trabalho no jornal me favorecia em contatos e amizades com os colegas da imprensa, que sempre me prestavam favores, como a gravação de matérias sobre os livros e desta vez sobre as oficinas. No encontro preparado entre o grupo de 2007 e o de 2008 recebemos a visita de uma equipe de reportagem da TV local. Para driblar a vergonha e excitação dos garotos, fizemos um laboratório prévio em que expliquei que esta era a oportunidade que tínhamos — e muito rara — na nossa existência de falar num microfone, através de uma reportagem que seria exibida no “horário nobre” da cidade sobre os problemas do nosso bairro e da nossa tentativa de melhorá-los com a produção literária. Convidei Rodrigo, autor do texto sobre o que ele gostaria para o futuro, para ler, em frente às câmeras, a produção que ele havia feito. Foi preciso cortar e começar de novo. Em foco 273 3...2...1... gravando! Gaguejando de vergonha e felicidade, ele parou, se recompôs e como um poeta em um sarau daqueles movimentos do início do século, sendo revivido atualmente pela Cooperifa, Elo da Corrente, entre outros, ele declamou tudo que havia escrito com naturalidade surpreendente. A equipe de reportagem me fitou e como quem não acredita que um estilo literário e o incentivo a leitura tenham feito aquilo, perguntaram a ele o motivo do texto. A resposta: “A dona nos incentiva a ler e a escrever o que estamos sentido igual a ela mesma e aos autores que ela traz os textos. Pensando nisso em casa eu resolvi tentar e saiu esse texto aí.” Em foco Caixinhas poéticas E se toda poesia do mundo coubesse em uma caixinha? E se ela fosse achada, ganhada ou entregue na forma de um presente? E se a literatura presente na vida de alguns poucos brasileiros pudesse ser encontrada, casualmente, em um banco de praça, em um orelhão, no meiofio, no balcão de um bar, dentro do ônibus, na fila de espera de um posto de saúde, no meio de uma balada, em um restaurante, no trânsito ou comprando pão de manhã na padaria? A expressão sisuda de um senhor que se encaminhava para o trabalho em mais uma manhã se transformou em sorriso e o dia dele mudou. Quando parou em um orelhão qualquer da rua para fazer uma ligação encontrou uma caixinha. Pequena, formato 4x4 cm, feita com papel reciclado, toda colorida. Abriu e encontrou dentro um pedaço de esperança, de sorriso, de solidariedade, de gentileza. Um trecho de poesia selecionada com cuidado foi depositado dentro da caixinha, que imitando as atitudes gentis de José Dantrino, conhecido como profeta Gentileza e inspirada pelo filme europeu “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”, soltei pela cidade, inúmeras delas feitas a partir de cartões postais de propagandas, com poesias dentro. Ajudada em ideias pelo meu amigo e também poeta, Eduardo Herrera, que tem no projeto Gentileza uma grande referência, o objetivo maior era transformar o 274 275 dia das pessoas e lhes chamar atenção às pequenas coisas da vida. Mesmo correndo contra o tempo para chegar ao trabalho em um horário bom e acompanhar todas as ocorrências policiais do dia, perdia — neste caso ganhava — alguns minutos observando de longe quem seriam as pessoas a pegar as caixinhas e qual seria a expressão. Com o olhar atento ao que se passa ao redor, elas procuram pelo dono da caixinha e, como no mar de gente que inunda as ruas, é impossível identificar quem é dono do que, acabam por levar a caixinha na mão e deixavam no ar a expressão de um sorriso. Arrisquei-me, algumas vezes, a deixar caixinhas em alguns espaços da delegacia. Tive medo de ser presa ali mesmo, por tentativa de mudança, disseminação do saber e incentivo a alegria e gentileza. Além da brincadeira e do prazer terapêutico em recolher os cartões e confeccionar as caixinhas durante horas o melhor era poder semear, de uma forma tão poética, a literatura. Com frases, poesias e pensamentos escolhidos, cuidadosamente e retirados de anos de muita leitura, guardava cada trechinho impresso nas caixinhas, embaralhava, colocava na bolsa e saía pela rua na distribuição. Pensei inclusive em levar a ideia às oficinas, mas o entrosamento do grupo poderia, de repente, ruir, se mais alguma atividade fosse proposta. Ensinar o processo de confecção das caixinhas toma tempo e não seria tão simples fazer isso em apenas 1 hora e meia de encontro mensal. Apenas mencionei o projeto e deixei em aberto, se alguém quisesse me auxiliar com sugestões de frases e poesias para pôr nas caixinhas ou, ainda, na arrecadação de cartões postais, seria uma ajuda e tanto. 276 Traficando conhecimento Já esquecida da proposta me surpreendi quando, no mês seguinte, quase todos apareceram com cartões e papéis que poderiam servir para as caixinhas e algumas frases. Na maioria eram retiradas de contos do escritor Ferréz, por quem eles demonstravam nítida preferência, talvez por ter sido o primeiro que conheceram, contudo, até mesmo letras de rap eles sugeriram e não é que muitas se encaixavam? Resolvi aderir e a segunda leva de caixinhas e ela circulou pelas ruas com letras de rap e MPB. Uma observação é que as pessoas, sempre imersas na cultura da pressa, passavam de forma despercebida pelas caixinhas, que só faltavam pular e gritar: “Olá, sou o seu presente”, em analogia ao tempo. Curiosamente os seres “invisíveis” eram os que melhor enxergavam e acabavam contemplados com as poesias. Moradores de rua, catadores de lixo, bêbados, prostitutas, varredores e anônimos, sem a necessidade urgente de correr contra o tempo para alcançar – ou seria fugir – deles mesmos. Notar as caixinhas e poesias beneficiando estas pessoas era como vencer uma das batalhas nessa guerra da vida. Um presente encontrado, no presente, era como lhes restaurar parte da dignidade, tão afetada pelo desprezo dos demais. Gostaria, porém, de nunca ter me deixado vencer pela pressa, pelo individualismo e egoísmo, pela necessidade de trabalhar, trabalhar e trabalhar e ter parado de confeccionar as caixinhas poéticas e distribuí-las, contudo, durante um tempo em 2008 estive fechada no meu mundinho jornalístico-e-policial e não me dediquei à muita coisa mais. Em foco 277 Em foco Às margens da sociedade Talvez por ser nova. Talvez por ser boba. Talvez pela falta de experiência. Uma sequência de talvez é o que eu consigo para justificar a minha ausência, mais uma vez, nos eventos de hip-hop, a falta de entusiasmo para as oficinas e a pausa na produção literária. Quase corrompida pelo sistema, deixei de usar as armas — o hip-hop e a literatura — que sempre estiveram ao meu alcance para driblar os adversários que jogam a favor do sistema. Esgotada por trabalhar quase doze horas por dia e passar a maior parte do tempo atrás de sirenes de polícia, bombeiros e Samu, sempre montada na garupa de uma moto — com sol, frio ou chuva — deixei, mesmo que por um período de tempo pequeno, de acreditar que poderia mudar alguma coisa e me rendi à escravidão moderna de trabalhar em troca do salário, que nunca dá para o mínimo e aguentar esculacho de patrões bem abonados que tentavam me demover da ideia de ser eu mesma, de correr pelo meu povo oprimido, de escrever as minhas injustiças e de gritar para o mundo, através de cinco manifestações criadas há mais de trinta anos, o quão interessante pode ser a vida periférica. Esgotada por não ter nem o mínimo, que seria a dignidade no emprego e ter de comer marmita fria, ser obrigada a trabalhar bem vestida mesmo depois de um temporal 278 279 tomado enquanto estava na garupa da moto perseguindo a polícia, que perseguia os bandidos, e ainda ser ferida nos direitos morais, esmoreci durante um tempo da luta diária contra a desigualdade social. Nunca achei que o pobre devesse ser rico, mas sempre lutei pela melhor distribuição de renda, pela panela cheia de comida e a cabeça cheia de ideias e ideais. Sempre defendi a democracia e a liberdade de expressão, por acreditar que já nos privam de tanta coisa, o que faremos se nos tirarem também o pão da poesia marginal? Mas, como tudo na vida muda e, graças a Deus, passa. Uma semana depois, em uma manhã em que eu era, mais uma vez, massacrada dentro do ônibus cheio, percebi que era hora de fazer como tantos guerreiros da nossa história. Virar o jogo. Lutar com o que temos nas mãos — e eu tinha um espaço no jornal, as palavras e a mente fervilhando. Ao meu lado, 90% dos passageiros do ônibus iam para o trabalho e, deste percentual, quase todas diaristas e empregadas domésticas, vivendo de salários de fome e acreditando em dias melhores. Anunciei no jornal que, naquela semana, estava criada a série de reportagens “Às margens da sociedade” e traria matérias especiais em todas as edições de domingo com perfis e fatos inusitados vividos pelas pessoas invisíveis. A intenção da série era contar as histórias reais de personagens com faces desconhecidas ou ignoradas que frequentemente são forjados de estorvo e marginalidade, em uma guerra diária pela vida. Inspirada pelas manhãs cotidianas, a primeira reportagem da série foi sobre as diaristas, que teriam o dia comemorado justamente naquele domingo, 27 de abril. 280 Traficando conhecimento Lavar, passar e cozinhar – Empregada Doméstica Vidas que se cruzam nos ônibus, elevadores — de prédios pobres e residenciais chiques —, supermercados, venda, feira e pelas estradas da vida. As empregadas domésticas são muitas e algumas trazem o ofício na história da família, com a profissão passada de mãe para filha. Tema de muitas discussões, histórias e estórias, as empregadas domésticas já viraram filmes, documentários, textos e personagens de um Brasil real, que não foge, seja onde for, capital, interior, cidade de médio porte, praia, montanha, sertão, riacho, as domésticas sempre existiram, promovendo a limpeza e o bem-estar dos patrões, em um ofício insubstituível e, quem sabe, eterno. Apesar do corre-corre da profissão e do dia a dia, muitas empregadas domésticas exercem a função além das oito horas diárias e não são aquelas que moram no emprego, são as que saem dele e voltam para casa, onde são ainda “donas de casa” ou “do lar”, e realizam o mesmo serviço por duas vezes no mesmo dia. É um trabalho difícil e, por estas e outras, as empregadas domésticas vêm sendo, cada vez mais, valorizadas hoje em dia. Com isso, conseguem fazer valer seus direitos. A recente conquista do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS — mesmo que opcional para o empregador, é sinal de que os tempos mudaram. Guerreira Parece título de livro. E é neste ramo mesmo que ela quer trabalhar. Um exemplo de uma vida corrida de empregada doméstica é o caso de Marilice Bagesteiro, conhecida como Mary, 45 anos, que trabalha há dois como diarista, depois de ter deixado de comercializar roupas usadas de porta em porta. Em foco 281 Atualmente, Mary se levanta às 7h, entra no serviço às 9h e trabalha até às 17h. Apesar da violência no ônibus, prefere usar este meio de transporte, na ida e na volta, a caminhar até o serviço. No entanto, anteriormente a isso, quando trabalhava como vendedora de roupas usadas, aceitando inclusive doações, fazia disso seu ganha pão e a pé, caminhando trechos longos por dia, economizava o dinheiro da passagem para comprar comida. Aos 15 anos, Mary foi mãe do primeiro filho, Eduardo, que hoje tem 30 anos. Também é mãe de Adriana, 25 anos. Relata que sempre trabalhou para poder sustentar os filhos, visto que o primeiro casamento não deu certo. “Eu sempre trabalhei, saía cedo com as roupas para vender e só voltava à noite, quando conseguia trazer algo de comer para meus filhos. Saí de casa quando vi que meu casamento não daria certo e trabalhei com fome, a base de feijão e polenta no estômago, para aguentar. Nesta época, eu ainda trabalhava com roupas usadas e dormia em um casebre, no chão, até ganhar uma cama. Digo isso para as outras mulheres, para que elas saibam como é a força de uma mina com vontade de vencer. Temos que ter uma conexão com a vitória. O que eu gostaria de colocar é que, mudanças são necessárias, e é assim que eu vejo, nosso país está precisando de gente corajosa para fazer grandes mexidas”, relata. Ela diz, ainda, que, hoje em dia, chega a ganhar R$ 30 por dia, o que dá para o seu sustento porém, fala com tristeza que a patroa reduziu os dias de serviço na semana, fazendo, consequentemente, a renda diminuir. “Eu ia todos os dias, agora, vou trabalhar apenas três vezes por semana e não sei como vai ser. Tenho muitas contas para pagar, colocar comida em casa, coisas do tipo. Pretendo continuar trabalhando como doméstica, mas a renda está curta até para sair e procurar emprego”, conta. 282 Traficando conhecimento Mary afirma também desconhecer que exista um dia no calendário nacional que comemore a profissão que ela exerce, mas, deixa como mensagem, que as mulheres devem lutar para alcançar os objetivos e lugares na sociedade, independente da profissão. “Eu quebrei muitas barreiras, aquelas que são impostas na vida das mulheres. Eu tenho um filho que tem a idade do cara que eu vivo hoje, o Bagé, de 30 anos, e eu quero dizer que funciona cheio de moralismos e falsos valores que não nos levam a nada. Impedindo as mulheres, principalmente as domésticas e diaristas, de serem livres e felizes. Nós temos que ter, hoje, uma livre expressão do corpo, da alma e, ainda mais, do pensamento, para podermos nos expressar e lutar pelos nossos sonhos e direitos”, acrescenta. Além de trabalhar como doméstica, Mary escreve letras de rap e participa de sites e blogs — diários virtuais — que difundem a literatura marginal. Há vinte anos na profissão, com prazer “O preconceito é frequente, muita gente torce o nariz quando digo a minha profissão”, é o que afirma a doméstica Maria Benedita Marcondes de Lima, 56 anos, conhecida como Dita, que trabalha como empregada doméstica e diarista há mais de vinte anos. “Por vestir-me bem e estar sempre arrumada, as pessoas não acreditam que sou doméstica. Ainda tem aquela visão de que empregada está sempre malvestida, o que não é verdade”, destaca. Para criar os quatro filhos e ajudar a pagar, inclusive a faculdade de um deles, Dita, sempre trabalhou como doméstica, sendo registrada em um serviço e fazendo alguns bicos após o expediente. Ela levanta-se todos os dias antes das 6h, enfrenta o ônibus lotado da manhã em um trajeto de 10 quilômetros e trabalha até às 15h. Dali, sai e trabalha como diarista em Em foco 283 outros locais, aumentando o orçamento, visto que cobra R$ 30 por diária em apartamentos e casas. Satisfeita com a profissão escolhida, Dita relata que há sete anos está trabalhando na mesma casa e diz que a patroa sempre foi muito boa com ela. “Gosto muito de onde eu trabalho. Eu que determino como será o meu dia de serviço. Quando eu chego, a primeira coisa que faço é tomar café, depois, começo o meu serviço normal, mas, em um dia eu lavo, no outro eu passo e assim por diante”, diz. Desconhecendo o dia instituído para comemorar a profissão, Dita garante que é feliz na profissão escolhida. “Sinto prazer em ser doméstica. Me acostumei, embora exista o preconceito, eu gosto bastante do que faço. As pessoas sempre me dizem ‘Você não tem cara de doméstica!’, e eu retruco ‘E para ser doméstica, precisa de cara?’”, destaca. Da história... Uma outra história, de uma também guerreira não apenas poços-caldense, mas do Brasil, é a vivida por Laudelina Mello, que nasceu em Poços de Caldas, em 12 de outubro de 1904 e começou a trabalhar com 7 anos de idade em casas de família, como era típico na época. Aos 16, inicia a militância em organizações de mulheres negras e atua, principalmente, em atividades de lazer e cultura. Para ela, essa era a porta de entrada para a consciência de classe, gênero e raça. Na década de 1930 muda-se para Santos (SP) e começa a atuar em movimentos populares e reivindicatórios, filiando-se ao Partido Comunista Brasileiro. Em 1936, funda a primeira Associação de Trabalhadores Domésticos do país, na qual foi presidenta até 1949. No mesmo período ajuda a fundar a Frente Negra Brasileira, a maior organização da história do movimento negro, que chega a ter 30 mil filiados. 284 Traficando conhecimento Alguns anos depois, muda-se para a cidade de Campinas (SP), e participa, também, do movimento negro e de atividades culturais e recreativas. Sua liderança, consciência de classe e disposição para a luta a levam a organizar e incentivar o surgimento de diversos sindicatos da categoria, projeto interrompido em 1964 com o golpe militar. Instalada a ditadura, Laudelina é presa, entra para a clandestinidade e, posteriormente, passa a atuar em comunidades eclesiais de base, formadas pela ala progressista da Igreja Católica. Por conta de problemas de saúde e disputas políticas, afasta-se, durante os anos 1970, do movimento das empregadas domésticas, mas volta à direção do, hoje, Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Campinas, em 1982. Nesse período, entra para o Partido dos Trabalhadores e incentiva a filiação de seu sindicato à recém-fundada Central Única dos Trabalhadores. Laudelina morre em 12 de maio de 1991, tendo como único patrimônio uma casa em Campinas, que deixa de herança para o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos. Ali é fundada a sede a entidade. Na batalha do dia a dia Na luta diária pela vida e sobrevivência está Elizabeth Camilo, 47 anos, trabalhando há dois anos como empregada doméstica, após ter se separado do marido. Para garantir o sustento, Elizabeth acorda todos os dias também antes das 6h e vai para o trabalho, além de ter que se dividir entre o emprego e os cuidados com a filha caçula, de 7 anos. “Eu me separei e tive que arrumar um serviço e como a idade não facilita, de emprega doméstica fica mais fácil e como eu era do lar, já tinha prática, acabei me tornando empregada doméstica”, conta. Em foco 285 Elizabeth afirma ainda desconhecer o dia de comemoração da empregada doméstica, mas diz sentir-se bem em ser doméstica, apesar das dificuldades. “Com a minha filha, de 7 anos, é que as coisas se complicam em razão do horário. Eu tenho que deixar café pronto, arrumar alguém para dar almoço para ela, tenho que sair do serviço e pegá-la na escola, tudo é mais difícil”, relata. A única coisa da qual Elizabeth reclama é de ter de fazer o serviço no emprego, para a patroa e depois fazer o serviço em casa. “São duas vezes a mesma coisa e, às vezes, é bastante cansativo, mas é a luta pela sobrevivência. O que importa para mim é o meu crescimento pessoal”, conclui. No cinema Existentes por todas as partes, as domésticas, que sempre fizeram um papel de pano de fundo no cinema, passaram às telonas, em “Domésticas - O Filme”, como protagonistas da própria história, deixando de ser as figurantes de bandeja na mão, como as donas dos conflitos e tramas. O filme se passa em São Paulo na capital, centrado no cotidiano, nos anseios e nas expectativas de cinco profissionais do lar. E, na mão dela, não só o cafezinho, mas o cardápio completo: humor, tragédia e poesia. O fato é que, nas telonas, ou na tela diária da vida real, as empregadas domésticas são peças fundamentais do dia a dia brasileiro, seja para uma fonte de renda, para a família, ou para quem elas prestam serviços. Guerreiras, ou não, as empregadas domésticas assumem suas formas, seus lugares e merecem destaque, neste dia dedicado à profissão. Encontrei, mais uma vez, nas mazelas humanas, a força para abandonar o meu próprio limbo e voltar a lutar 286 Traficando conhecimento Em foco 287 pela minha vida, a “correr pelo certo”, como quem é do hip-hop costuma falar. acabando, morrendo aos poucos”, relata, soluçando e com os olhos inchados de tanto chorar. Para a segunda edição da série, preparei uma reportagem sobre as mães que têm filhos presos, dependentes de drogas e que, nem de longe, passam um dia feliz no segundo domingo do mês de maio. Lucas usa drogas há sete anos, ou seja, desde os 13 e a mãe não sabe dizer o que levou o filho a enveredar-se pelo caminho tortuoso dos tóxicos. Infeliz Dia das Mães A história única das mães que amam, sofrem e choram com os filhos por problemas com drogas e dependência química. Nesta data, a reportagem traz histórias de mães desconhecidas. Mães como todas as outras, que só querem o maior bem do mundo para seus filhos, mas que nem sempre ouvem um “Feliz dia das mães” na data de hoje. Em uma guerra diária pela vida, são alvos de preconceito ou, até mesmo, descaso por parte da população, mães que têm filhos desconhecidos e sofrem, pelo amor que têm neles. Os nomes das fontes foram preservados, portanto, alterados para nomes fictícios. Mãe do vício “Lágrimas, medo, sobressaltos e cansaço”, isto é o que marca a rotina de Marta P., 52 anos, nome fictício da mãe de Lucas P., 20 anos, e que vive o drama de ter um filho dependente químico em casa. A família mora na Zona Sul da cidade e, chorando, ela conta como é o dia a dia de um usuário de drogas e de como a família fica comprometida em razão do vício do filho. “Uma mãe sempre quer o melhor para seu filho, mas, chega em um ponto em que o cansaço é tremendo, ficamos sem saber o que fazer. Não aguento mais ver meu filho usando drogas, devendo para outras pessoas, se “É estranho e ao mesmo tempo intrigante, porque além do Lucas, tenho um outro filho de 18 anos, porém, o outro sequer bebe. Não consigo encontrar onde eu possa ter falhado na educação ou criação dele que o levou a usar drogas. Na infância ele sempre foi um bom filho, muito carinhoso, mas, ao entrar na adolescência, mudou um pouco o comportamento, e eu demorei a perceber que ele estava usando drogas. É difícil, porque não sei onde falhei com ele”, comenta a mãe. Atualmente, Lucas não trabalha, porque perdeu o emprego que tinha, como entregador de mercadorias para um supermercado. Passa o dia todo dormindo ou ouvindo música e, assim que a noite cai, vai às ruas, em busca de drogas. Quando não as consegue, volta para casa e conta histórias mirabolantes à mãe, para convencê-la a dar-lhe dinheiro. “Geralmente eu choro muito, não sei o que fazer e acabo dando o pouco do dinheiro que ganho, fazendo faxinas. No grupo que frequento, com ajuda psicológica para mães que têm filhos dependentes químicos, já fui instruída para não dar mais, mas, quando vejo meu filho sofrendo, desesperado, acabo dando a droga. Sei que estou financiando pequenas doses de morte para ele e isso me deixa muito deprimida”, conta Marta. Sem conseguir dormir enquanto o filho não chega, Marta passa quase todas as noites acordada, temendo o pior para Lucas. “Não adianta, é coração de mãe. Sempre fico pensando que vou receber uma má notícia. Já pedi até que desligassem o telefone da nossa casa, porque fico sempre achando que vão me ligar dizendo que meu filho foi preso, morto”, desabafa, chorando. 288 Traficando conhecimento Em foco 289 Ao ser indagada sobre o filho estar envolvido com o tráfico, Marta destaca que não sabe sobre isso, mas prefere acreditar que não. “Ás vezes eu acho que ele está envolvido, outras acho que não. O que eu sei é que, várias vezes, os traficantes foram até a porta da minha casa cobrá-lo, ameaçando toda a família e eu acabei pagando a dívida, mas, geralmente, são dívidas pequenas, que ficam entre R$ 20 ou R$ 30”, conta. Marta destaca que as drogas consumidas pelo filho, que ela tem conhecimento, são crack e maconha. Ela conta que várias vezes já encontrou os dois tipos da droga nas coisas do filho, enquanto limpava ou separava roupas. “Quando ele era mais novo, fazia questão de esconder, agora não esconde mais. Parece que ele também perdeu o sentido na vida e vive apenas por conta da droga”, relata. A mãe acredita, também, que o filho não se envolve com furtos e roubos, dizendo que se isso ocorresse, ele já teria sido preso, contudo, o grupo de apoio às mães com filhos dependentes já lhe alertou para o fato de que nem sempre os usuários de drogas são pegos praticando pequenos delitos, mas, que, na maior parte das vezes, eles furtam para financiar a droga. “Em casa ele já roubou quase tudo. Dinheiro, televisão, DVD, aparelho de som e, inclusive, coisas do meu outro filho. Agora, já tomamos o cuidado de não deixar as coisas pela casa e eu conversei com ele, pelo menos a TV e meu radinho ele deixou”, afirma. Ela diz ainda que perdeu muito da autoestima por conta do filho. Embora tenha um outro filho, Marta se deixa levar pelo sofrimento causado pela conduta de Lucas. “Eu sei que meu outro filho sofre por me ver assim, mas ele nem comenta nada. Eu não tenho mais ânimo para nada. Trabalho porque devo trabalhar. O pai deles também sofre bastante com isso e sente-se culpado de alguma forma”, diz. 290 Traficando conhecimento No auge do desespero, Marta procurou uma entidade assistencial da cidade, que pode tentar encaminhar Lucas para uma internação, mesmo que involuntária, para tentar sanar o problema tão desgastante para a família. “Faz uns dois dias que ele disse ter parado de usar drogas e afirmou, chorando, que a única solução seria uma internação forçada, mas nunca sabemos se isto resolverá de fato, ou se ele irá recair. Ele sempre afirma que acabou, mas sabemos que este é um discurso comum. Creio que, se ele ficasse internado, talvez resolvesse, mas, eu também preciso fazer algo mais por ele, porque com meu coração de mãe, eu acabo atrapalhando, ajudando a financiar a droga”, cobra-se Marta. Mesmo culpando-se por não ser mais firme quando precisa, Marta não esconde seu amor por Lucas e chora a todo momento, ao relatar episódios em que o filho lhe pediu dinheiro, mesmo que inventando histórias, e ela cedeu, ou quando o filho passou por uma situação difícil. “Há um ano ele perdeu um filho. Em um namoro adolescente, ele engravidou a namorada, ela resolveu ter o bebê e, quando estava no hospital, ainda com 2 dias, teve um problema no coração e morreu, o que deixou Lucas ainda mais triste e depressivo, daí em diante, ele começou a ficar menos em casa, parou de trabalhar e de certa forma, fica se culpando também”, conta. Para Marta, seria um sonho ver o filho se recuperando, bem, namorando, trabalhando e pensando em formar uma nova família, porém, sem autoestima, ela diz que não se permite sonhar. “Eu tenho esta fantasia e, ao mesmo tempo, deixo de ter. Só queria ver meu filho bem, que voltássemos a ser uma família, sabe?”, finaliza, chorando novamente. Em foco 291 Do outro lado da grade Uma outra mãe que sofre pelos problemas que tem com o filho e, mesmo assim, não perde as esperanças é Olga B., 67 anos, uma senhora baixinha, gordinha, de cabelos brancos presos em um coque e uma sacola pendurada no braço, ela vai até a cadeia de segurança pública, visitar o filho que está preso há um ano, Pedro B., 28 anos. Mãe de quatro filhos, ela conta que esta é a segunda vez que o filho cumpre penas em regime fechado. Da primeira vez, Pedro foi preso por roubo e após ser solto, ficou seis meses em liberdade, sendo preso novamente, por tentativa de homicídio. Tudo isso se dá porque o filho já foi usuário de drogas e ela diz que não sabe se ele parou de usá-las. “Desde muito jovem o Pedro usa drogas, começou com cigarro e bebida, depois maconha e, de uns tempos para cá, até mesmo drogas fortes como o que eles chamam de pó e um famoso mesclado, que parece que é a mistura da maconha com outra substância mais forte”, relata. Os outros filhos de Olga trabalham e são encaminhados na vida, dois deles já se casaram e moram fora de casa. Ela acredita que o motivo da prisão do filho e do uso desenfreado de drogas se deva ao fato de que, quando ele era criança, ficava apenas com sua filha mais velha, que hoje tem 35 anos, para que ela fosse trabalhar. “Somos de uma origem pobre, então eu tinha que trabalhar para ajudar no orçamento de casa. Depois que o pai dos meus filhos também faleceu, por beber demais, fiquei sozinha para terminar de criá-los e não tinha como ficar com eles, ou mesmo vigiar e aconteceu isso. O Pedro se desencaminhou, começou a usar drogas, ficou agressivo, começou a roubar em casa, depois na rua, ficou preso. Eu pensei que ele fosse melhorar quando saísse, mas não, fez ainda pior e agora eu estou aqui”, conta, emocionada. 292 Traficando conhecimento Olga destaca ainda que é bastante humilhante ter um filho preso, ter de ir visitá-lo na cadeia, passar por revistas e todo o procedimento exigido. “Eu fico muito envergonhada, até mesmo para andar na rua, pegar um ônibus, parece que todos me apontam como mãe de um marginal. Meu filho não é marginal, ele errou, sei disso, mas eu também errei com ele e me sinto tão culpada por tudo isso. Não sei nem de onde eu tiro forças para continuar vivendo, vir aqui na prisão vê-lo, trazer coisas para ele, é tudo muito triste”, relata, já com lágrimas nos olhos. Na pesada sacola que Olga carrega, em direção à cadeia, ela leva alimentos, sabonetes e toalha para o filho e diz que, mesmo sabendo que ele errou, ora todas a noites e pede que Deus tenha piedade dele, além de tentar, com pouco, zelar pelo bem-estar de Pedro, dentro da cadeia. Com um olhar triste, Olga comenta que espera ansiosa pelo dia em que o filho sairá da cadeia, e faz planos para poder sentar e conversar com ele. Ela destaca, também, que pretende procurar alguma ajuda, para tratar a dependência química dele. “Sou sozinha, as coisas são difíceis, mas espero conseguir tratar a dependência química do meu filho. Vou buscar ajuda, e quando ele sair da cadeia, penso em procurar um serviço e ter uma vida normal. Sei que não é fácil, mas se eu não sonhar, fica ainda mais difícil”, diz. Ela fala ainda sobre o preconceito que enfrenta, até mesmo para encontrar emprego, ou no bairro onde reside, na Zona Leste da cidade, onde, segundo Olga, os vizinhos, ao saberem das mazelas do filho, lhe viraram as costas e a julgaram. “Muitos nem sabem como foi difícil criar meus filhos e dar pelo menos o que comer a eles, sem pedir nada a ninguém. Julgam-me e isso é fácil, mas só eu sei a dor que é ter um filho preso, não poder vê-lo sempre, ou mesmo Em foco 293 protegê-lo, como eu gostaria de fazer, afinal, mãe é mãe e não deixa de ser porque o filho está preso, usa drogas, tentou matar alguém, sempre vou amar meu filho. Não posso dizer que nunca fiquei decepcionada com ele, senão, estaria mentindo, mas o amo da mesma maneira, mesmo ele errado”, desabafa. Para o Dia das Mães, Olga diz que não está totalmente feliz, por saber que Pedro passará longe dela, na cadeia, mas, pretende fazer um almoço para os outros três filhos e a família deles. “Vamos almoçar em casa, fico feliz pelos meus outros filhos, mas, no fundo do coração, sempre tem aquela dor, aquele desespero, porque eu queria que o Pedro estivesse conosco”, lamenta. Ouvir e relatar histórias como estas me fizeram deixar o esgotamento pela rotina de lado e voltar com tudo para as oficinas. Percebi que poderia fazer jornalismo e literatura ao mesmo tempo, trabalhar com as ferramentas do jornalismo literário nos meus textos, produzir literatura marginal por meio dos fatos reais que assolam nosso povo, cercados pelo preconceito, pelas situações limite, pela linha invisível do tráfico, pelo desejo de liberdade e pelo descaso social. Levei os dois primeiros textos produzidos para a oficina e bolei, mentalmente, oficinas futuras, além de voltar a atualizar o blog e colaborar com o Literatura Periférica, mantido pelo amigo Buzo. Voltei, mesmo que ainda endividada, a comprar livros de literatura marginal. Primeiro para alimentar a minha alma e segundo para usar no trabalho com as crianças e adolescentes da oficina fixa e também do projeto itinerante que eu estava pensando em criar. Com um novo layout, o Cultura Marginal voltou a fazer jus ao nome, e ao projeto, e a receber textos quase diários, além de matérias semanais, sempre reproduzidas na coluna Às Margens da Sociedade. 294 Traficando conhecimento A terceira reportagem da série foi a história de um andarilho. Pelos acostamentos da vida Mochila surrada nas costas e cantil pendurado no ombro. Assim segue Osmar, 53 anos, andarilho pelas estradas do país. Um homem de rosto queimado pelo sol e a pele desgastada pelo tempo passado às margens de estrada, diz não se recordar do sobrenome e conta que está há mais de trinta anos perambulando pelo Brasil. Em uma manhã quente, ele deixou a cidade de Triunfo, em Pernambuco e seguiu, a princípio de bicicleta, para São Paulo, onde pretendia encontrar um emprego, naquele que chamam de o maior centro empresarial do país. Enquanto ainda carregava sonhos na mochila, Osmar deixou a família no interior de Pernambuco e foi, pedalando e vivendo a vida das estradas, até chegar na maior cidade brasileira, a capital do estado de São Paulo. Após viajar meses, com histórias peculiares sobre o trajeto feito entre Triunfo e São Paulo, Osmar lembra que foram meses sofridos, porém, guarda boas lembranças. “Eu ainda era moço quando saí de casa, então, tinha um certo charme que a juventude deixa. Não me faltava nenhum dente e tudo mais e eu conheci uma moça, assim que saí de Triunfo, num bar. Ela era a garçonete. A danada atrasou a minha viagem para São Paulo”, se diverte, com um sorriso no rosto e os olhos brilhando. Ele conta que, por causa da moça, ficou bastante tempo em volta do bar, gastou boa parte do dinheiro que tinha guardado e levado para a viagem e o romance não deu em nada. “Eu saí de casa para achar um trabalho, então, era isso que tinha que fazer. Tive que deixá-la para trás. Era um tempo bom, apesar dos medos da estrada e dos perrengues que passei”, destaca. Em foco 295 Na estrada Já na estrada, Osmar lembra que, para comer, gastava o dinheiro que havia levado. A princípio, pensou que as economias conseguiriam mantê-lo até São Paulo, mas se enganou e já no interior da Bahia o dinheiro estava praticamente no fim, o que o obrigou a arranjar bicos em bares e restaurantes de beira de estrada, bem como postos de gasolina e oficinas mecânicas. “Eu trabalhava horas em troca de um prato de comida, para tentar chegar até a próxima cidade e prosseguir a viagem”, diz. Foi então, que uma noite, em uma cidade baiana da qual não se recorda do nome, que Osmar teve a bicicleta furtada enquanto dormia em um posto de combustível. A bicicleta, estacionada junto a outras, no mesmo lugar, foram levadas por ladrões durante a noite. Ao acordar e não encontrar mais meios de se transportar, Osmar lembra que ficou desesperado. “Eu não sabia o que fazer como chegar a São Paulo. Sem dinheiro, sem a bicicleta, sem ter onde dormir e com medo de continuar na estrada. Mas também, não tinha mais como voltar, então tive que prosseguir com a viagem. Foi um período difícil, mas me lembro que fiz grandes amigos”, afirma, deixando transparecer a saudade. Mesmo sem a bicicleta, ele foi seguindo a viagem, a pé e da mesma maneira, fazendo bicos para conseguir se alimentar. Amizade feita na estrada Foi nesta época também que Osmar conheceu um grande parceiro, chamado de Pernilongo, que o acompanhou durante a viagem, a pé. “Eu conheci o Pernilongo, como a gente o chamava, no mesmo lugar onde furtaram a bicicleta. Levaram a dele também e, conversando, ficamos amigos. Ele estava indo para o Rio de Janeiro e fomos andando e seguindo 296 Traficando conhecimento juntos, mas, por fim, ele acabou indo para São Paulo comigo”, relata. Durante anos, os dois viveram juntos e se ajudando. Fazendo bicos em troca de comida e caminhando a pé. Osmar, já não se recorda de quanto tempo levou para chegar a São Paulo, mas ele acredita que caminhou por mais de um ano. “Era difícil, porque não conseguíamos ir muito longe ou caminhar por muito tempo, por falta de comida e tudo mais. Tínhamos receio de pegar muitas caronas. Às vezes íamos até determinado ponto de carona com alguém que conhecíamos nos postos ou bares que ficávamos parados”, conta. A amizade com Pernilongo durou até pouco tempo, quando no Rio de Janeiro, este faleceu. Osmar acredita que foi uma vítima da dengue. “Ele ficou bem doente, achamos que foi dengue. Tentei levá-lo para um albergue, mas ele faleceu. Também, já estava velho, mesmo assim, sinto falta de ter um companheiro para caminhar comigo”, diz. Seguindo viagem Mesmo com a morte de Pernilongo, Osmar continuou peregrinando pelo Brasil afora e conta que já esteve em estados como a Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e, atualmente, em Minas Gerais. Porém, desde que saiu de casa, nunca mais teve notícias da família ou mesmo retornou para Pernambuco. “Sinto saudade, me pergunto como minha família pode estar, mas não tive como retornar. Nunca tive trabalho fixo ou residência. Permaneço, há mais de trinta anos nesta vida de andarilho. Já passei em albergues e tudo, mas é difícil me acostumar, ou ficar muito tempo num mesmo lugar, penso que o meu propósito de vida é andar até chegar a minha morte”, acrescenta Em foco 297 Por cada estado e cidade que passou, Osmar guarda uma passagem ou alguma coisa. Por não saber ler, nem escrever, ele diz que se perde muito pelo caminho e ainda esclarece que prefere andar a pegar carona com caminhoneiros ou viajantes. “Eu gosto mesmo é de caminhar, como não tenho um destino certo, vou parando. Sempre peço um pouco de comida, como, levo um tanto, esquento em fogareiros que eu mesmo improviso e procuro me abastecer com água, assim, vou caminhando, observando cada paisagem, que é diferente por cada lugar que eu passei e isso me dá uma paz de espírito e me sinto mais perto de Deus”, destaca. Questionado sobre a fé, Osmar ressalta que crê bastante em Deus e que se sente próximo a ele enquanto caminha pelo país afora. “Enquanto ando, vou rezando, conversando com o criador deste mundo tão grande e bonito, que apesar das desigualdades, também tem belezas. Basta saber enxergá-las.”, acredita. Em Poços de Caldas Osmar diz que chegou até Poços após vir caminhando pelo interior de São Paulo e conversando em bares, onde adquiriu um gosto especial por tomar pelo menos uma pinga por dia em cada local que passa. Assim ele descobriu que aqui é uma cidade com águas termais e veio até aqui, conhecer. “Parado em um bar no estado de São Paulo, passou um caminhoneiro que disse que viria para Poços e que a cidade era bonita, com águas quentes e tudo mais e eu senti vontade de conhecer, peguei carona com ele e aqui estou, acho que já tem umas duas semanas, porém, pretendo ir embora semana que vem rumo a Belo Horizonte”, conta. Em Poços, ele conta que se alimentou, nos primeiros dias, com o caminhoneiro que o trouxe, depois, fez amizade com outros moradores de ruas e passou a comer com eles, do alimento que os mesmos pediam em resi- 298 Traficando conhecimento dências e cozinhavam em uma casa abandonada, a qual eles invadiram e habitavam. “É uma vida diferente a que eles levam, foi bom, ficamos amigos, conheci a cidade, mas agora já sinto vontade de ir embora, talvez um dia eu volte, pois gostei do lugar, das pessoas, dos amigos que fiz”, destaca. Desta forma, seguindo por cada cidade, Osmar vai vivendo e permanecendo na estrada, e pelo que ele afirma, durante toda vida. “Não vejo porque mudar de vida, sou feliz assim”, finaliza. Comovida por relatos de luta e coisas inusitadas, como as contadas por Osmar, me abriram os olhos, fazendo ver que a vida vai mais além e que de repente, era tempo de deixar algumas coisas para trás, como o tronco de escrava ao qual eu estava presa. Na segunda-feira após o fim de semana em que a matéria foi veiculada, enchi uma pasta com vários currículos e visitei os demais órgãos de comunicação, inclusive os que ficam na mesma rua e calçando a cara, pedi um emprego. Fui bem recebida em todos e, como resposta, a promessa de que assim que surgisse uma vaga, ela seria minha. Esperançosa, continuei à minha maneira e para descontrair resolvi encarar a produção de mais um evento de hip-hop, desta vez, com um sarau, ao melhor estilo dos da capital paulista. Porém, enquanto trabalhava nos preparativos, não deixei de produzir as reportagens, com o intuito de, mais tarde, transformá-las em outro tipo de publicação para além do jornal e do blog. Minha vontade continua sendo fazer pós-graduação em jornalismo literário e mestrado em antropologia, justamente para abordar o jornalismo em conjunto com a realidade e a literatura, principalmente no relato cotidiano presente na literatura periférica que usa o submundo como pano de fundo. Confira algumas reportagens: Em foco 299 300 Traficando conhecimento Por amor: bandeira arco-íris Na linha entre o amor e o preconceito, casal de gays conta como vive e relata as particularidades da vida entre dois homens. “Eu amo ser homossexual e quero é pregar a felicidade, porque eu sou feliz assim. Eu respeito, mas também quero ser respeitado”, é o que afirma Daniel Sampaio (nome alterado), personagem desta edição da série Às Margens da Sociedade que fala sobre a vida de um casal gay, preconceito e orgulho da causa que abraça, que vai em defesa de homossexuais. Em foco 301 “Não demorou um mês e estávamos morando juntos no nosso apartamento”, comentam. O casal vive em um apartamento pequeno, porém muito bem decorado, por Caio, que gosta bastante de explorar o próprio lado artístico. “É para fazer jus. Dizem que todo gay se dá bem com decoração”, se diverte. Em uma sala bem decorada e limpa, eles contam as particularidades de um mundo que nem sempre é exposto e, poucas vezes, é compreendido. Falam de preconceito, aceitação e felicidade. O primeiro momento Aos 27 anos, Daniel vive com um outro homem, Caio Paschoal*, 26 anos. Ele conta que eles se conheceram em uma boate voltada ao público gay na cidade de São Paulo e não se desgrudaram mais. “Eu não gostava muito de sair e ir à boates gays, mas naquele dia, há quase cinco anos, resolvi sair da toca e fui nessa boate. Assim que botei os olhos no Caio e ele em mim, nos aproximamos. Ficamos a noite toda conversando e bateu, ficamos amigos já com terceiras intenções”, brinca, ao lembrar. Quem continua a narração do primeiro encontro é Caio, que lembra que, logo de cara, se deram bem. “Eu sempre fui muito reservado e a empatia que surgiu com o Daniel foi incrível. Na primeira noite, contei toda a minha vida a ele e ele me contou muita coisa também. Combinamos de nos encontrarmos no outro dia para caminhar e estamos juntos, caminhando, até hoje”, conta. Daniel é funcionário público e Caio cabeleireiro. O casal conta que na ocasião em que se conheceram, Daniel estava passando um feriado em São Paulo com amigos. Antes mesmo do fim de semana chegar ao final, os dois já estavam de volta a Poços, para que Caio conhecesse a cidade e talvez se mudasse. Para ambos, é difícil falar do momento em que se aceitaram e assumiram como homossexuais e cada um tem uma história diferente. Daniel relata que sempre teve a famosa “tendência” e nunca se deu muito bem com os garotos de sua idade em época escolar. “Eu não gostava de jogar bola, brincar na rua e coisas desse tipo, mas não entendia o porquê. Na pré-adolescência, eu me forçava a fazer estas coisas e, até mesmo, namorei garotas, para me enquadrar nos padrões sociais. Quando fiquei adulto, percebi o grande erro que cometi comigo mesmo. Eu não era feliz”, comenta. Já Caio relata que desde muito novo, assumiu a homossexualidade. “Eu era garoto e contei, inocentemente para minha mãe, que gostava de outro garoto. Claro que foi um choque para toda a família. Passei pelos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, familiares, irmão mais velho e nada adiantou. Aceitei-me e meus pais tiveram de fazer o mesmo. Não adianta lutar contra algo que é da natureza, sabe? Nunca namorei mulheres. Claro que já estive com algumas, mas acho que foi mais para desencargo de consciência, para constatar que eu gosto mesmo é de homens. Hoje, gosto do homem que é o Daniel”, diz, bem-humorado. 302 Traficando conhecimento Daniel, contudo, diz que contar em casa a natureza preferencial por homens e não por mulheres foi um processo doloroso. “Sempre tive medo de magoar e decepcionar meus pais, mas eu estava sendo infeliz em fingir que era algo que não era. Contei primeiro para minha mãe, morrendo de medo da rejeição e para minha surpresa, embora tenha ficado chateada, ela me apoiou, disse que me amava e que gostaria de me ver feliz. Já com meu pai foi diferente. Ele esbravejou, tentou me fazer mudar, mas como adiantaria? Hoje ele aceita, mas mantém uma certa distância. Por exemplo, ele nunca veio à minha casa, por saber que eu vivo com o Caio”, relata. A vida à dois Ao serem questionados sobre a vida à dois, o casal comenta que, assim como um casal hétero, existem as dificuldades de um casamento. Eles dão risada ao se atacarem sobre as preferências domésticas de cada um e Daniel brinca com Caio. “Sempre discutimos sobre o modo de apertar a pasta de dentes ou arrumar a cama”, ri. Porém, mesmo com as pequenas diferenças domésticas, eles afirmam que vivem bem e sem brigas. “Claro que temos ciúmes, crises, momentos difíceis, mas nos damos bem. Acho que nos completamos, sabe? Não imagino minha vida sem o Caio. Somos o que falta um no outro e somos muito felizes. Temos vida de casal, pessoal e social”, acrescenta Daniel. Para selar a união, eles contam que não fizeram festa, casamento ou recepção, porém, ambos tatuaram uma lua azul nas costas, como prova de amor. “Acho que é uma marca. As pessoas dizem que é loucura marcar o corpo e tudo mais, porém, eu penso que, mais do que o corpo, marcamos nossa alma ao nos unirmos e isso não tem laser que apague”, reflete Caio. Em foco 303 Preconceito “O preconceito deixa marcas”, afirma Daniel, que diz que já sofreu vários tipos de preconceito, na rua, em antigos empregos e em situações corriqueiras. “Não tem como um gay dizer que não aparenta ser gay. Claro que alguns demonstram mais, outros menos, mas as diferenças de comportamento são visíveis e o preconceito, mais visível ainda”, destaca. Já Caio acredita que, dentro do que é classificado como preconceito, o que mais deixa marcas é no que diz respeito à parte psicológica. “Já deixamos de frequentar vários lugares pela forma como somos tratados. Não temos doenças contagiosas ou coisas do tipo. A única coisa que difere é que a pessoa ao meu lado é o Daniel e não uma mulher, mas temos amor em nossa relação, coisa que muitos héteros não têm. Mas é um fato, o preconceito dói. As piadas na rua, a forma de tratamento, a discriminação. Enfrentar o preconceito é muito difícil. Mas é o preço de ser diferente, de ser feliz”, destaca. Sobre ser xingado nas ruas, Daniel comenta que várias vezes, há alguns anos, parou para discutir com as pessoas. “Hoje vi que não vale a pena. Penso que por meio de campanhas temos mais chances de atingir estas pessoas do que parando para discutir na rua. Recordo-me de uma vez que estava andando pela rua e um monte de adolescentes começou a me xingar. Parei e fui discutir com eles. Um deles retrucou e me disse que o pai dele tinha horror a homossexual e disse que contaminávamos a sociedade. Percebi que ali existia muito mais a ser combatido do que provar que eu sou feliz e não faço mal. Desisti da discussão após alguns minutos e quando saí, este mesmo adolescente atirou objetos contra mim. Não parei para ver e quando cheguei em casa, desabei. O meu consolo foi o amor do Caio. Desde então, aprendi 304 Traficando conhecimento que podemos lutar contra o preconceito utilizando nossa maior arma, que é o amor. Mesmo, muitas vezes, sendo taxados de marginais pela sociedade, o amor nos fortalece e obriga a lutar contra este preconceito gritante”, desabafa Daniel. Iniciativa Discretamente, pois onde Daniel trabalha, nem todas as pessoas sabem de sua vida com Caio, o casal se organiza em manifestações e campanhas contra a homofobia e o preconceito. “Quando vamos a São Paulo visitar a família do Caio, nos engajamos em ONGs e buscamos o conhecimento para aplicá-lo em Poços também. Claro que é mais difícil, pois tenho que manter a discrição que meu cargo público exige, mas não estou impossibilitado. Através da Internet trocamos ideias, informações e agitamos uma campanha virtual”, conta. Caio afirma também que sua afinidade com a arte vai além dos fantásticos cortes de cabelo e da decoração do apartamento onde vivem. “Estou desenvolvendo um projeto. Pretendo ir às periferias, me encontrar com jovens carentes e que também são taxados de marginais e com eles, montar uma peça teatral para tratar justamente da homofobia e do preconceito, da invisibilidade social e gritante desamor. Ainda não tenho nada pronto, mas posso garantir que assim que conseguir implantar e desenvolver este projeto, muitas pessoas conhecerão o amor e os milagres que ele é capaz de fazer”, pontua. Vida contemporânea x vida nas estradas “Pela estrada da vida”, assim vive o casal de hippies, Marcelo Pivovarte Camargo, 30 anos, e Tamayra de Andrade, 22 anos, conhecidos como Pivô e Tayta, que passam via- Em foco 305 jando Brasil afora, vendendo bijuterias ou biojoias (bijuterias feitas com materiais naturais como pedras, folhas de árvores secas, sementes) como são conhecidas e sobrevivendo, ou como eles dizem, vivendo o real sentido da vida. A história do casal se confunde com a da maioria dos brasileiros, porém, com o diferencial de que ambos abandonaram o conforto da vida contemporânea para viver na estrada. Aos 30 anos, Pivô já fez curso de torneiro mecânico pela escola profissionalizante, SENAI e abandonou tudo isso para ser hippie, vivendo já há dez anos na estrada. “O que me levou a ser hippie foi a busca pela liberdade. Viajar, conhecer, não ter patrão. Ganhar meu dinheiro honestamente e curtir a vida, como os hippies de antigamente”, conta. Com um sotaque de paulistano, ele conta ainda que sofre até hoje os preconceitos de viver às margens da sociedade. “É o rapa, a galera, a falta de cultura, tudo isso é muito, somos muito discriminados porque queremos ser felizes”, afirma. Já Tamayra conta que vivia em Manaus (AM), quando conheceu Pivô em um bar, onde ele fazia bijuterias e se encantou pela história e estilo de vida do mesmo. “Na verdade eu abri mão de tudo, do sistema. Eu tinha uma vida totalmente diferente da que eu levo agora, mas estou satisfeita. No início, larguei tudo por amor e arranjei um outro, que é o amor pela estrada. Estou viajando direto e sou realizada do jeito que estou”, destaca. Antes de se tornar hippie, Tamayra cursou até o 5° período da faculdade de administração de empresas, trabalhou no banco HSBC e conseguiu, inclusive, comprar um carro com o próprio dinheiro. “Eu abri mão pela felicidade mesmo, fora do sistema”, acrescenta. Ambos definem o dia a dia como uma correria, não muito diferente dos milhões de brasileiros que se adequaram às normas da sociedade. 306 Traficando conhecimento “Contudo, continuamos sempre firmes. Nem pensamos em desistir. Nosso ganha pão são nossos “trampos”, que fazemos com muito amor e cada um tem uma história”, conta Tamayra. Ao serem indagados sobre a quantia adquirida mensalmente com a venda dos trabalhos artesanais, os hippies ressaltam que não têm noção, uma vez que assim que o dinheiro entra, já é gasto com comida e bebida. “Um dia é maré alta, outro dia maré baixa, mas, investimos o dinheiro em nossa história, além de alimentação, temos um dinheiro guardado, para ser investido numa terra em Manaus.”, diz Pivô. Desmistificando Em foco 307 O hippie conta, também, que já passou por 16 capitais brasileiras, o que o torna um ser humano feliz e cheio de histórias vividas em locais diferentes do país. Mesmo vivendo, aparentemente, sem regras ou controles, os hippies buscam conhecimento e se interam de fatos atuais do país, não somente os culturais, mas também política e democracia e, contudo, tecem críticas ao sistema. “É muita discriminação, burocracia e ninguém respeita as leis, porque temos o livro da constituição que traz que quem faz seu trabalho honestamente, artesanal, tem direito a um metro quadrado em cada terra, só que a lei municipal passa por cima da federal e continuamos nessa luta. É Brasil, né mano?”, acrescentam. Apesar de viverem pelas estradas, acampando nos campings, praças e locais públicos, o casal destaca que também tem casas, como a dos pais, onde passam algum tempo quando a saudade aperta. Um misto entre lucidez e doideira, esta é a impressão causada por quem conversa com o casal ou fica perto durante algum tempo. Com garrafas de vinho tinto na mão, logo às 9h, eles dizem que bebem para suportar o frio que é estar nas ruas durante os meses mais gelados do ano. Atualmente, em razão de uma cirurgia na hérnia, Pivô não tem viajado grandes distâncias, ficando concentrado no sudeste, com paradas regulares na casa da mãe, que vive em São Paulo, na capital. Além das garrafas, eles têm nas mãos os apetrechos necessários para confeccionar bijuterias, que podem ser do gosto do cliente, feitas na hora, ou as que já estão prontas, nos mostruários. “Minha mãe mora no Ipiranga, eu fico por lá, mas sei lá, de repente é como se não estivesse, porque ela não admite o meu jeito, a minha vida. Mas, eu tô vivendo a minha vida, honestamente”, destaca. Ao abordar as pessoas, eles sempre ressaltam que o dinheiro pago é para ser investido em mais uma garrafa de vinho. “É para fortalecer o vinho da manhã”, dizem. Da concepção social e do senso comum de que os hippies estão às margens da sociedade, Tamayra adquire uma postura concisa e forte a respeito disso. “É coisa de gente leiga, estão por fora, são sem cultura. Hippie é só alto astral, só felicidade. Aprendi a viver fora da cultura do sistema, vivo bem, não passo fome, bebo o quanto quero, curto o quanto quero e tento passar isso adiante”, acrescenta. Contudo, o casal faz questão de ressaltar que não tem planos ou mesmo rotina e afirmam que a vida é o dia a dia. “Não tenho grandes ambições como o carro do ano, uma TV de Plasma, eu só quero curtir a vida. Se eu tiver um pedaço de terra onde morrer, já é válido. Eu armo minha barraquinha no meio do terreno e já era”, comenta Pivô. 308 Traficando conhecimento Amizade Acompanhando o casal está uma amiga, também conquistada na estrada. É Kelly da Silva Pereira, 23 anos, que saiu de Alagoas para viajar pelo país. “Conhecer o movimento hippie foi uma revolução na minha vida. Há cinco anos que eu estou vivendo assim e é muito bom. Massa”, diz. O dia a dia dela é bastante parecido com o do casal. Ela faz o que sente vontade no momento e mantém a mesma postura de pregar “paz e amor” e a vida fora dos padrões sociais. Segundo os hippies, uma das vantagens deste estilo de vida é o fato de que, pela estrada, muitas amizades são feitas e levadas por toda a vida, como a história dos mesmos. O movimento hippie Em foco 309 mais espetaculares (e mais ridículas) um numeroso grupo de hippies rodeou o Pentágono (sede do aparelho militar americano) e tentou fazê-lo levitar apenas com a “força da meditação”. Estabeleceu-se um “estilo hippie”, com roupas coloridas, túnicas, sandálias, cabelos compridos em ambos os sexos. A flor foi um dos seus símbolos e chegou a usar-se a expressão “flower power” como designação do movimento. Desta forma, alguns hippies ainda permanecem pelo mundo, inclusive pelo Brasil, vivendo em comunidades específicas ou viajando, pregando o princípio de paz e amor por onde passam, fugindo das obrigações sociais e do sistema, que eles consideram injusto e ineficaz. Profissão: Prostituta A cultura e movimento hippie nasceu e teve o maior desenvolvimento nos Estados Unidos da América (EUA), com uma juventude rica e escolarizada que recusava as injustiças e desigualdades da sociedade americana, nomeadamente a segregação racial. Maquiagem, salto alto, vestido curto e bolsa pequena, estes são apenas alguns acessórios de Flávia Oliveira, 18 anos, que adotou este nome fictício ao tornar-se travesti e começar fazer o famoso ponto, nas ruas de Poços de Caldas. Na sua expressão mais radical, os jovens hippies abandonavam o conforto dos lares paternos e rumavam para as cidades, principalmente São Francisco. Viviam em comunidade com outros hippies; noutros casos se estabeleciam em comunas rurais. Dois valores defendidos: a “paz” e o “amor”. Opunham-se a todas as guerras, incluindo a que o seu próprio país travava no Vietnã. Defendiam o “amor livre”, quer no sentido de “amar o próximo”, quer no de praticar uma atividade sexual bastante libertária. Podiase partilhar tudo, desde a comida aos companheiros. A palavra de ordem que melhor resume este sentimento foi a famosa “Make love, not war” (Faça amor, não guerra). Conhecida como Flavinha, ela conta que se tornou travesti e prostituta há um ano porque quis. “Ninguém me obrigou a nada, desde pequena eu queria isso e somente agora eu tomei esta postura para me assumir mesmo, entendeu? É uma coisa que quero mesmo”, dispara. Os hippies apreciavam a “filosofia oriental”, o que significava alguns aspectos da religião hindu misturada com doutrina da “não violência” de Gandhi. Em uma das ações Por sempre ter tido uma convivência no meio de mulheres, Flavinha conta que nunca levou jeito para ser hétero, então começou a tomar remédios e tornar-se mais feminina, além de brincar mais com mulheres. “Eu fui criada por mulheres, sempre convivi nesse meio. Os homens da minha casa trabalhavam, então eu sempre vivi em meio às mulheres. Então, para tornar-me o que sou hoje, comecei a tomar certos tipos de remédios, usar coisas mais femininas, desde os meus 12 anos e, até 310 Traficando conhecimento hoje, me sinto evoluindo. Então, aos 17 anos eu decidi ser travesti, mas uma travesti de programa”, detalha. Ao ser indagada sobre o momento em que descobriu ser homossexual e se decidiu pela prostituição, Flavinha lembra que teve a primeira experiência sexual aos 10 anos. “Mas eu ainda tinha medo e a incerteza de querer realmente aquilo para minha vida. Aos 12 anos, quando cheguei em Poços, vinda da Bahia com a minha família, vi como é a vida aqui, encontrei-me com pessoas mais evoluídas e passei a me travestir”, diz. Flavinha fala também, com certa tristeza, que os pais não aceitaram de imediato o fato de ela ter começado a se travestir, aos 12 anos. “Demorou alguns anos para eles entenderem que eu havia assumido. Isso aconteceu há uns dois anos apenas, mas foi uma grande batalha”, afirma. Em foco 311 Contudo, ela detalha, também, os maus tratos, vindos do preconceito e de pessoas que não assimilam situações como a que Flavinha vive. “Claro que existem pessoas maldosas, que me xingam na rua, mas eu passo de cabeça baixa, não respondo, porque a melhor a resposta é o silêncio. Mas tento ser normal, aliás, eu sou uma pessoa normal”, destaca. O programa Ao assumir que realiza programas sexuais por dinheiro, Flavinha faz questão de ressaltar que é por opção e que faz isso simplesmente porque gosta e sente prazer. Nas proximidades do Complexo Cultural da Urca, conhecido como “paredão”, é onde Flavinha costuma ficar durante as noites, em busca de dinheiro atrelado à satisfação sexual e pessoal. A vida em Poços de Caldas “Eu costumo ficar ali perto, mas já tenho vários clientes. Espero eles me buscarem em casa, pois, como sou independente, moro sozinha, eles me pegam em casa ou, aqueles fixos, que eu já conheço há tempos, costumam entrar”, conta. “Minha vida é ótima”, conta Flavinha. Vinda da Bahia há quase oito anos, Flavinha atualmente mora sozinha, no centro da cidade. Os pais também moram em Poços, mas não dividem a mesma casa com a travesti. O preço estipulado por ela vai de acordo com a hora. Quando o programa é feito em casa, Flavinha cobra R$ 100. E quando é na rua, o preço costuma ser de R$ 50 por meia hora, que geralmente é gasta em motéis. Com uma rotina diferente, até mesmo pelo tipo de vida escolhida, durante o dia Flavinha arruma os objetos e pertences em casa. “Ás vezes chega a acontecer no carro ou mesmo em alguns outros lugares que eu já conheço, ou que nos levam, mas que já temos referências”, diz. “Minha mãe tem um estabelecimento em casa e às vezes vou para o local, que prefiro não citar, como travesti mesmo e as pessoas que entram no estabelecimento me aceitam, me tratam muito bem, da mesma forma que eu as trato”, enfatiza. Ela conta, também, que não são todos os dias da semana em que programas são feitos. A frequência maior é no final de semana. “Tem dias que eu não vou ao ‘paredão’ pois não estou com cabeça mesmo”, comenta. Sobre praticar sexo por dinheiro, ela conta que os pais sabem do fato, mas ainda não assimilam com clareza a situação. Há também horários pré-determinados pelos travestis e garotas de programa que frequentam os locais famosos 312 Traficando conhecimento por oferecer prostituição. De acordo com Flavinha, o movimento se intensifica após às 21h de sexta-feira e vai até antes do amanhecer, por volta das 5h. Nestes locais, muitas amizades são feitas entre as outras prostitutas. “Tenho muitas amigas ali, sim, somos bastante unidas, já passamos por vários desentendimentos anteriormente, mas isso era quando uma não conhecia a outra e gerava aquela confusão, agora, somos bastante unidas”, relata. O inusitado Ao ser questionada sobre situações ou programas inusitados, Flavinha conta que já saiu para fazer programa com dois casais heterossexuais. “O que eu observo é que as mulheres querem ter uma relação sexual com uma travesti. Já saí com dois casais. Porém, da primeira vez, não fiz nada com a mulher. Já na segunda vez, eu fiz porque fiquei com vontade, aí aconteceu. Foi a primeira vez que eu tive relações com uma mulher”, detalha. Sobre os programas feitos com homens, ela garante que não existe mais os estereótipos de travesti passivo ou ativo. “Depende do que os homens querem ou pagam, mas, no meu caso, o que eles querem, eu faço”, garante. O “paredão” por ser um local antigo e bastante conhecido, por muitos moradores da cidade, como um ponto de prostituição, é também alvo de muitos preconceitos por parte da sociedade e, algumas vezes, até mesmo da polícia, como conta Flavinha. “Já sofremos algumas ameaças de cidadãos e também vários policiais já pediram para que deixássemos o local, mas eu não entendo, também, o porquê disso. Não é a primeira cidade de Minas Gerais que tem profissionais do sexo nas ruas, todas as cidades têm. Muitas vezes tentam nos tirar de lá, nos dão ‘gerais’ desnecessárias e ficamos inclusive constrangidas, porque as pessoas passam, olham, eles reviram nossa bolsa, jogam nossas coisas no chão, pedem-nos para tirar a roupa, às vezes”, descreve. Em foco 313 Defendendo a classe em que trabalha, Flavinha não acredita que as ações policiais sejam exclusivamente para zelar pela ordem pública e bem-estar da sociedade, mas classifica tais atividades como abuso de poder. “Tem muita gente em Poços que pensa que a prostituição nas ruas é uma coisa sobrenatural, sabe? São reações superpreconceituosas, mas, estas pessoas que pensam assim, por trás disso, são os que vão nos procurar mais tarde. Na calada da noite, eles mostram a verdadeira cara. Porque durante o dia, são um tipo de pessoas, à noite, são outro e isso é o que eu não aceito”, desabafa. Sobre a procura por programas, Flavinha acredita que o que leva um homem ou mesmo mulher em busca de um travesti na rua é a busca pelo prazer. “Muita gente tem vontade, mas nem todos têm coragem. Eu acho que é uma fantasia sexual”, destaca. Já para ela, o maior prazer da profissão é ser reconhecida entre os homens. “Eu gosto da propaganda do boca a boca, os homens dizem que eu sou boa e indicam, para que outros saiam comigo. Isso é o que me dá prazer”, afirma. Além disso, Flavinha não deixa de citar o dinheiro, que, de certa forma, vem fácil por meio da prostituição. Os perigos da prostituição Por semana, Flavinha consegue ganhar em média R$ 350, ou seja, um pouco menos que um salário mínimo. Porém, vários fatos tristes também fazem parte da história, pouco comum, de Flavinha. Ela conta que no Carnaval de 2007, saiu com um rapaz da cidade vizinha de Caconde (SP). “Ele começou a passar de carro, que também tinha as placas de Caconde (SP) e eu não estava na Urca. Na terceira vez que ele passou, parou. Contudo, ele estava com uma cara um pouco suspeita, aparentando estar bêbado”, conta. 314 Traficando conhecimento Com isso, alertada por uma amiga, Flavinha fotografou uma das placas, como uma espécie de garantia. Dali, Flavinha e o rapaz foram para um local já conhecido por ela, próximo à Avenida João Pinheiro. “Eu já conhecia e quis ir para aquele local, justamente, por isso, pensando que se algo acontecesse, eu saberia para onde correr, fugir ou mesmo pedir socorro”, relata. Daí em diante, um programa entre os dois foi feito e na hora de acertar o prazer recebido, o rapaz não quis efetuar o pagamento, sacando uma faca. “Ele disse que não me pagaria, puxou esta faca, porém, eu também estava com uma navalha e tentei me defender. Descemos do carro, começamos discutir e o resultado é que eu tenho uma cicatriz nas costas, onde ele passou a faca em mim. Porém, eu também passei a faca nele. Ele disse que iria registrar um boletim de ocorrência e eu garanti que quem teria a temer era ele, pois todos saberiam com quem ele havia saído e eu explicaria para a polícia que ele não quis pagar meu programa. Porque, neste caso, eu acho que a polícia deve ir atrás”, narra Flavinha. Após estes fatos, Flavinha começou a correr e gritar ao rapaz que estava com ela que havia tirado foto das placas do carro. Quando chegou no centro da cidade, próximo ao “paredão”, o mesmo rapaz parou Flavinha, pediu que ela não fizesse nada e lhe deu o dinheiro devido pelo programa. “Naquele momento aceitei, mas foi um apuro pelo qual passei”, diz. Ela relata ainda que nem sempre anda como armas brancas como facas, estiletes ou navalhas e diz que naquela noite, por sorte, estava com uma navalha. “Aqui em Poços eu não me armo mais, porque a polícia já me parou, porque tinham pessoas denunciando que estávamos armadas, mas só pode ser quem sai com a gente”, comenta. Porém, Flavinha afirma que, quando vai para a cidade de São Paulo fazer programas, arma-se com medo de sofrer alguma coisa. Em foco 315 Na capital paulista, fato semelhante já aconteceu com ela, o cara recusou-se a pagar o programa, lhe apontou uma arma e a deixou no meio da rua. “Ele me deixou no meio do nada, eu nem sei onde desci, mas graças a Deus eu tinha dinheiro na bolsa, liguei para um táxi e ele foi me buscar, mas foi um dia em que eu senti bastante medo”, lembra. O preconceito “Tem muitas pessoas que nos apontam nas ruas. Acham que somos alvo de zombaria”, diz, ao referir-se ao preconceito existente da sociedade com os travestis e, também, com as prostitutas. Contudo, Flavinha destaca que prefere ignorar o preconceito e levar a vida como está acostumada, sem se deixar abater com o julgamento alheio. “Eu prefiro esquecer isso tudo, embora alguns falem, eu vou levando a vida, pois, para conseguir o que quero, eu devo passar por isso”, afirma. Quando diz que quer chegar a algum lugar, Flavinha refere-se ao ideal que criou para si mesma, que é colocar mais silicone no corpo e mais próteses e ela enxerga, como única alternativa para alcançar o sonho, se prostituir. Relacionamento Além dos sonhos já citados por Flavinha e dos planos para o futuro, Flavinha conta que possui um namorado em Poços. “Ele é muito bacana comigo, acho que ainda é a única coisa que realmente me prende na cidade”, conta. Os dois se conheceram na rua e segundo relatos dela, ele a aceitou enquanto prostituta. “Mesmo não querendo, ele tenta entender isso”, afirma. O dia de hoje... O futuro... Diferente dos relatos comuns de prostitutas, que iniciaram na profissão por falta de recursos financeiros, Flavinha nunca passou por nenhuma necessidade e conta que os pais sempre lhe proporcionaram bem-estar dentro de casa. 316 Traficando conhecimento “Eles sempre batalharam, tanto na Bahia como aqui, mas me prostituir foi uma opção. Não precisava de nada disso que estou passando, faço porque gosto mesmo, embora não seja fácil ficar na rua, é algo que quero passar, para chegar onde quero”, relata. Ela diz, também, que trabalhar em um emprego convencional, por ora, não está nos planos, visto que a rua oferece dinheiro mais rápido. Contudo, a travesti relata, também, que, às vezes, a rua não é tão agradável e sedutora, numerando fatos como não ter clientes todos os dias, ou fatos desagradáveis com pessoas que fazem o programa e recusam-se a pagar o preço estipulado. “Eu já procurei empregos convencionais, mas aqui em Poços não consegui nada. Acho que os empresários são preconceituosos ainda. Só existem opções para cabeleireiro e quero trabalhar com moda”, conta Flavinha. Ela diz ainda que não conseguiu se firmar em um emprego comum, porque deixou de tentar ao longo do caminho. Atualmente, Flavinha quer continuar na rua, trabalhando como prostituta, mas não descarta a hipótese de, futuramente, dedicar-se ao sonho, que é trabalhar com moda. Sem se esquecer do sonho e que cada dia ou mesmo programa é um passo dado em direção ao futuro, Flavinha conta que sempre se previne contra Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) ou mesmo da Aids. “Minha bolsa é lotada de camisinhas, eu tenho a carteirinha no DST / Aids e me cuido também. Muitos caras chegam até mim, dizem que são casados, que não têm nada, porém, eu bato o pé e exijo o uso da camisinha”, relata. Para finalizar, Flavinha reafirma considerar-se uma pessoa bastante feliz e realizada no que faz. “Eu sou hiperfeliz no que sou, no que faço e com as amizades que tenho neste mundo. Eu tenho que dizer para as pessoas abrirem a mente, porque todo mundo é igual, não tem quem seja diferente, perante Deus, todos somos iguais”, finaliza. 318 Traficando conhecimento Caminho de pedras É uma manhã ensolarada de sábado. Os termômetros marcam algo em torno de 22° C e, apesar da época ser considerada fria, faz um dia agradável. Sentado, na porta de casa, Augusto Caetano* (nome alterado), 19 anos, conhecido como Toquinho, pela baixa estatura, conta à reportagem que naquela mesma manhã, assim que se levantou, por volta das 9h30, já havia usado crack, droga derivada da mistura da cocaína ao bicarbonato de sódio, geralmente fumada em cachimbos e bastante comum nos locais mais pobres das comunidades. Por ser mais barato que a cocaína, o crack chega mais facilmente às mãos dos jovens e casos como o de Toquinho são mais raros, visto que os jovens começam a fumar o crack com idades entre 10 e 12 anos. “É uma droga que tem um efeito legal, embora dure pouco tempo. Uma pedra de crack custa R$ 10”, conta, timidamente o rapaz. Estudos acerca da droga mostram que este é um vício bastante caro e que de pedra em pedra, os usuários passam a quantidades maiores, tentando obter o mesmo efeito das primeiras vezes consumidas. O crack chega a ser até seis vezes mais potente que a cocaína, contudo, provoca dependência física e pode levar à morte por ter uma ação fulminante sobre o sistema nervoso central e cardíaco. O antes e o depois “Lutei muito tempo para me assumir como um dependente de crack”, conta Toquinho. “Quando eu era moleque, fumava muita maconha e achava o máximo, até que com uns 16 anos, fiquei amigo do pessoal que repassa a droga e entre um repasse e outro, junto com eles, treinando para ‘aviãozinho’ — pessoa que leva a droga de um local a outro — eu experimentei cocaína e gostei bastante. É estranho a gente falar que gostou de uma coisa que faz mal, né?”, comenta. Em foco 319 Após usar cocaína e maconha por anos, Toquinho conheceu o crack há pouco mais de um ano e, deste então, diz que raras foram as vezes em que ele não fez o uso da droga. “Antigamente usava com um maior espaço de tempo. Agora, acordo fissurado, como hoje, levantei e já fumei. Parece que foi ontem mesmo, mas vejo que minha vida mudou”. Neste momento, Toquinho abaixa a cabeça e mostra sinais de estar levemente emocionado. Em seguida, conta que, antes de usar o crack, saía todos os fins de semana, namorava e sentia mais prazer em viver. “Como eu contei, sempre usei drogas, mas agora parece que é pior. Eu me sinto em função do crack. Uma parte de mim diz que não é viciado e outra me mostra que sou totalmente dependente do cachimbo para estar feliz ou mesmo vivo”, declara. Antes de conhecer o crack, Toquinho, apesar de morar em um bairro pobre da cidade, trabalhava e levava uma vida, aparentemente natural, como outros rapazes da idade dele e que também fumam maconha e cheiram cocaína. Ao conhecer o crack, se viciou quase instantaneamente e revela que perdeu o emprego, a namorada e com isso, muito da vontade de viver. Sustentando o vício Segundo o Departamento Estadual de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), o crack é a droga com um dos mais altos poderes viciantes e uma pessoa, apenas de experimentar, já se torna um viciado. O efeito do crack passa muito depressa, e o sofrimento pela ausência do mesmo no corpo vem em 15 minutos, ou seja, o usuário, a cada dia que passa, faz uso de quantidades maiores e aumenta, com isso, os gastos. Surge então a fase em que a pessoa faz qualquer coisa para obter a droga. Isto é confirmado por Toquinho, que, ao perder o emprego de auxiliar mecânico, passou a atuar como “aviãozinho” onde mora, para obter um pouco mais 320 Traficando conhecimento da droga. “Eu sempre tenho que entregar a pedra, algumas vezes, vender e, com isso, ganho algumas. Depende do meu desempenho. As que eu ganho, posso vender por conta própria, ou usar. Como eu uso, fico com elas para mim. Mas, cada dia que passa, me vejo obrigado a entregar ainda mais pedras para usar mais”, conta. Toquinho revela, também, que, para comprar drogas, muitas vezes, furtou pequenos objetos em casa ou pediu dinheiro para a mãe. “Minha mãe trabalha como doméstica, então, por várias vezes, peço dinheiro para ela. Ela sabe que é para drogas, me xinga, pede que eu procure um novo emprego, mas eu não quero, quero só a pedra, fumar o crack, sozinho em paz”, diz. Outras vezes, para comprar droga, Toquinho furtou CDs, um par de tênis e blusas do irmão mais velho. “Como ele trabalha o dia todo, quando bate a fissura, tenho que fazer isso. Mas não sou um monstro. Eu me arrependo depois. Conto para ele. Peço desculpas”. Para Toquinho, o crack é ao mesmo tempo um alívio e um peso. Como fuga da realidade, ele embrenha-se, cada diz mais, no uso da substância e não tem intenções de parar, porém, não sabe o que faz para manter o vício. “Não vejo sentido em continuar, mas não quero parar. Queria apenas uma forma de poder ter quanto crack eu preciso. A sensação que ele me causa é ótima. Não faz sentido parar”, dispara, se contradizendo. Sensação A contradição de Toquinho é comum em usuários de crack, conforme afirmam muitos psicólogos e pessoas que lidam com situações semelhantes, como é o caso de Luciana Marques, estudante de psicologia e estagiária em centros de reabilitação. “O crack gera um prazer imediato, então, em cerca de dez segundos, o usuário se sente um super-homem e toma coragem para fazer abordagens. Mas o fim do efeito vem repleto de senti- Em foco 321 mento de culpa e depressão, daí a tendência dele usar de novo, para não enfrentar o desconforto que a droga provoca”, explica. Contudo, a sensação do crack é muitas vezes ilusória, como relata Toquinho. “Ao mesmo tempo em que me sinto muito bem usando o crack, vejo que perco muita coisa. Antigamente eu me preocupava com o tipo de roupa que usava e a forma como me vestia. Hoje, não ligo mais para isso. Meu único interesse é obter a pedra e usá-la da melhor forma possível”, conta. Para Luciana, esta posição denota o processo de “suicídio inconsciente”, em que grande parte dos usuários foge das responsabilidades e nem cogitam a ideia de deixar o crack. “É mais fácil se entregar a isso, não querer ficar adulto, esperar que a morte venha, de uma forma ou de outra. Pode ser pelo uso prolongado da droga e da degeneração do organismo, ou através da polícia, das dívidas com os traficantes”, afirma. Toquinho conta que em uma única noite, já chegou a fumar até sete pedras de crack. Número considerado alto, até mesmo entre os usuários. “Foi durante uma festa. Eu tive várias alucinações. Não sabia se era dia, noite, quem estava a minha volta, mas, foi uma sensação muito boa também. Se eu pudesse, fumaria tudo novamente”, afirma. Medo Ao ser questionado sobre ter medo da morte ou mesmo da polícia ou de traficantes, Toquinho hesita e diz que o medo varia.“De morrer eu não tenho medo. Mas, por outro lado, tenho dó da minha mãe, sabe? Ela faz tudo por mim. Vejo que errei na vida. Sinto-me fraco e sem vontade de parar. É mais forte do que eu. Só quem já fumou crack entende o que digo. Mas é uma coisa que me comanda. Ao invés de eu mandar em mim, quem manda é a droga. Imagino que tentar parar dá mais trabalho do que continuar fumando. Agora, da PM ou dos traficantes eu não tenho medo. Não 322 Traficando conhecimento fico dando bobeira. Fumo crack em casa. Ando com pouca quantidade. Os caras que passam a droga, também, são meus amigos. É só ficar esperto e não fazer dívidas, mas sobre isso eu ainda tenho controle”, revela. Futuro? Não existe um tempo estimado de vida para os usuários de crack, mas é sabido que grande parte deles, se não deixam a droga, morrem por motivos já citados, como dívidas, presos ou por degeneração do organismo. Toquinho afirma que não acredita em um futuro para ele, uma vez que não pretende abandonar a droga.“Quando eu era criança, tinha muitos sonhos. Pensava em jogar futebol, em ter uma casa grande, com piscina, em comprar um carro, uma moto. Conforme fui crescendo, percebi o trabalho que eu precisaria fazer para ter tudo isso e desisti. Assumo que sou fraco e optei pelo lado mais fácil. Se você me perguntar, qual é o meu maior prazer, vou te responder ‘fumar crack’, certo? Minha vida é isso. Nem quero pensar em futuro”. Às Margens da Rodovia São 12h15 de uma sexta-feira. É dia 16 de maio de 2008 e Neusa Bastos, aproximadamente 35 anos, está estendida às margens da rodovia L-MG 877, rodovia Geraldo Costa Martins, conhecida também como rodovia do Contorno. Parcialmente consciente, Neusa está imóvel, caída, com metade do corpo na estrada e metade no acostamento, sem conseguir se mexer. Passando pelo local, a reportagem quer saber o que houve com aquela pessoa, para ela estar ali, daquela maneira. Ao averiguar que a pessoa ali estendida estava viva, a reportagem telefonou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pediu auxílio e socorro, contudo, devido a localização em que se encontrava, a ligação foi cortada por falta de sinal no celular. Em foco 323 Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi chamado e após muitas perguntas e confirmação de nome, endereço e telefone do solicitante, a reportagem foi informada que uma Unidade de Resgate (UR) estava a caminho do local. O relógio marcava 12h19. A vítima, ainda caída ao solo e imóvel, abriu os olhos e murmurou “eu estou morrendo, eu fui atropelada” e expressava dor por estar ali, daquela maneira, sem poder ser removida. Alguns carros que passaram pelo local pararam para oferecer ajuda. Um deles, de uma empresa da cidade parou. Uma moça desceu, foi em direção a Neusa, começou a medir seus batimentos cardíacos, contatando que ela estava com vida, quando esta afirmou mais uma vez que estava morrendo. O homem que acompanhava a moça ligou para o Samu, desta vez, conseguindo informar o local onde a vítima estava. No movimento cotidiano pela rodovia, passou uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que reduziu a velocidade para observar a cena, uma mulher caída às margens da rodovia, e foi embora, sem parar no local para realmente confirmar o que aconteceu. Poucos minutos depois, para uma Kombi velha, praticamente caindo aos pedaços e descem alguns homens, acompanhados por uma criança. Um desses homens apresenta-se como Joaquim, companheiro de Neusa. Os outros são vizinhos deles e informam que Neusa está daquele jeito, pois bebeu cachaça com uma amiga, no bairro vizinho, Jardim Kennedy, na Zona Sul da cidade. É neste momento que ela abre os olhos novamente e murmura que foi atropelada. Todos os presentes na cena param para observar se existe alguma marca de sangue, que não é encontrada, mas, marcas de freio podem ser observadas próximas ao local. Estes homens acompanhando Joaquim afirmam, também, que Neusa tem alguns distúrbios mentais e talvez tenha tido uma convulsão, por ter bebido. Joaquim se diz 324 Traficando conhecimento preocupado com a companheira estar caída ali, porém, em uma conversa com a reportagem, informa que vive com ela há apenas um mês e que eles não são casados. “A gente só mora junto”, diz. E, a partir daí, ele começa a contar um pouco sobre a vida. Diz que mora em uma casinha, tipo chácara, em um terreno às margens da rodovia e também, às margens da sociedade. Ele conta que não sabe a idade exata de Neusa, mas desconfia que ela tenha 35 anos. Diz, ainda, que nenhum dos dois trabalha e que apenas ela recebe aposentadoria. “Ela é aposentada, mas a mãe dela pega todo o dinheiro que ela recebe”, relata. Joaquim diz também que não trabalha porque tem problemas de saúde, uma hérnia. “Eu não posso trabalhar. Então, moro aqui nesta casa que é de um daqueles rapazes da Kombi. Eu cuido da criação de gansos que ele tem. Não pago nada para morar aqui”, conta. Aparentando ter bastante idade, Joaquim contou, também, que, em razão da hérnia, está tentando aposentar-se. “Eu já separei meus documentos e a resposta que tive é que foi para Brasília. Acho que não vou conseguir”, lamenta-se. Enquanto aguarda a chegada de um socorro, Joaquim fica em volta de Neusa, dividido entre saber se ela bebeu, realmente, se foi atropelada e quando ela afirma que foi atropelada, em um tom de quem sente dor, ele afirma a ela que é por conta da bebida. Com isso, com bastante esforço e a respiração forte e ofegante, Neusa mexe-se da posição em que encontra e vira, no acostamento, com o peito para cima, tombando a cabeça para o lado. Contudo, Joaquim permaneceu a seu lado, ora em pé, ora sentado em uma pedra a beira da porteira, que dá acesso a casa em que ele reside. Outros carros passaram pelo local e ofereceram ajuda. Uma viatura da Polícia Militar também passou e, assim como a viatura da PRE, diminuiu a velocidade, observou a cena e sequer parou. Em foco 325 Após longos vinte minutos, chega uma viatura do Corpo de Bombeiros, com as luzes ligadas e as sirenes desligadas. Assim que se aproximaram de Neusa, o militar do Corpo de Bombeiros foi verificar se havia sangue em sua cabeça, momento em que esta despertou e novamente resmungando, disse que havia sido jogada por um carro às margens da rodovia. Cerca de dois minutos após a chegada do Corpo de Bombeiros, o Samu chegou e em conjunto, fizeram o atendimento de Neusa. Enfermeiros do Samu, ao descerem da UR afirmaram que não estavam encontrando o local descrito na ligação e, por isso, a demora para chegar e fazer o resgate. O nível de glicose no sangue de Neusa foi medido, constando sim, que ela estava alcoolizada. Porém, nenhum comentário sobre atropelamento foi feito. Joaquim ficou em volta dos bombeiros e dos enfermeiros do Samu, aguardando um resultado ou diagnóstico de Neusa. Ao ver as viaturas do Corpo de Bombeiros e do Samu paradas no local, uma terceira viatura da PM passou e parou, estacionando o veículo e querendo informar-se sobre o acontecido. Neusa foi colocada na maca de emergência do Corpo de Bombeiros e, segundo os militares, seria levada para a Policlínica Central, onde deveria ser medicada com glicose e posteriormente liberada. Uma das enfermeiras do Samu, antes de ir embora, comentou que Neusa teria tido uma convulsão, mas, nada comprovado. Joaquim foi solicitado para acompanhar Neusa até o pronto socorro, porém, ele disse que não poderia, alegando ter muitos afazeres, como guardar algumas ferramentas. No entanto, foi convencido pelo Corpo de Bombeiros, o que não foi muito fácil, mas acabou cedendo e informou que guardaria apenas algumas coisas que havia deixado ali, às margens da rodovia. 326 Traficando conhecimento A Polícia Militar aguardou, esperou o Samu ir embora, o Corpo de Bombeiros, e não registrou nenhuma ocorrência. Neusa foi na ambulância afirmando ter sido jogada por um carro. As marcas no asfalto apresentavam freadas. Nenhum carro. Nenhuma prova. Nenhuma ocorrência. Mais um ser humano jogado, às margens da rodovia, às margens da sociedade. Entre outras reportagens estas foram as que mais chamaram minha atenção. Não acho que foram as melhores, jornalisticamente falando, mas, sem dúvida, foram as histórias que mais me envolveram durante a execução e foram as que fortaleceram a minha inspiração para trabalhar com a literatura atrelada ao jornalismo. Sei que não devemos escolher personagens pela profissão e sim pela história, mas desobedecer esta regra, muitas vezes, foi inevitável. As profissões e ocupações, além de estereótipos sempre reservaram bons relatos e como a intenção era praticar o jornalismo literário e, ao mesmo tempo, dar voz aos que estão às margens, penso que fiz as escolhas certas. Do ouvido atento a estes relatos o movimento só amadureceu. Por intermédio de grandes experiências de vidas captadas num único lugar: a quebrada. Havia, também, a intenção de reunir material suficiente para transformar em livro, ou em revista, ou em qualquer que seja o tipo de publicação, apenas para distribuir de outra maneira que não o jornal circulando aos domingos. Mas, para continuar fazendo valer, resolvi, mais uma vez, embarcar no mundo dos eventos de hip-hop e promover um ao melhor estilo do Hip-Hop Sul de antigamente. Após economizar, ir e voltar do “Baile Chique”, palco destinado ao hip-hop, na 3ª edição do evento Virada Cultural Em foco 327 em São Paulo, apesar do desrespeito, a mente não parava nem para dormir de tanta vontade de fazer tudo. Porém, diante da situação de opressão encontrada no local, escrevi o texto abaixo, que circulou toda internet e virou notícia em todos os sites ligados ao hip-hop e à literatura. Opressão e desrespeito com o hip-hop na Virada Cultural 2008 Revista policial, abuso de autoridade e distanciamento marcam o Baile Chique, palco destinado ao hip-hop, na 3ª edição do evento Virada Cultural Após viajar 280 quilômetros de ônibus, depois de ter trabalhado 12 horas seguidas, cheguei para a Virada Cultural. Fui porque várias atrações prometiam, entre elas, grandes nomes no palco do hip-hop, como os precursores Thaíde, Dj Hum e o pai de toda esta cultura, Afrika Bambaataa, como atração de encerramento. Mesmo sem nunca ter ido a uma Virada Cultural, esperava um evento bem organizado e estruturado, com policiamento para garantir a segurança do público e não para constranger. Ao chegar, me deparei com vários palcos, entre eles o principal, onde marcava atrações como Gal Costa, Zé Ramalho, Teatro Mágico e Marcelo D2, citando este último como rapper. Agora eu questiono. Se ele é um rapper, o que estava fazendo no palco principal do evento? Por que não estava no palco do hip-hop, ao lado de tantos outros nomes bons? E reafirmo questionamentos já feitos. Qual é a representatividade do Marcelo D2, dentro da cultura hip-hop, para ocupar o palco principal? E o Afrika Bambaataa? São indagações longe, ainda, de serem o problema principal deste artigo. Em um mapa distribuído em vários pontos da Virada Cultural, os palcos de shows eram mostrados, qual não foi Em foco 329 minha surpresa ao ver que o palco do hip-hop ficava bastante longe dos demais, localizado na praça Cível Ulysses Guimarães, no Parque Dom Pedro. Pelas informações do mapa e de moradores de São Paulo, deveria pegar um metrô, do Vale do Anhangabaú até a Praça. Contudo, pela inexperiência no evento e na maior cidade do país, somente ao descer do metrô, percebi que estava mais longe do local do que se tivesse ido a pé de onde eu estava anteriormente. Um cidadão ainda me disse que eu deveria pegar um ônibus da estação do metrô até o Parque Dom Pedro, pois o caminho feito a pé poderia ser perigoso, “pelo povo que passava por ali”. Não questionei e fui. Seguindo um som distante, cheguei próxima a um local pouco iluminado, onde, para entrar, deveria passar por um corredor de grades. Mais uma surpresa na noite e, esta, bastante desagradável, quando vi meus companheiros de cultura sendo revistados por policiais, aliás, um grande número de policiais, bem maior do que nas outras concentrações do evento. Não contentes em efetuar a revista pessoal, expondo a cultura hip-hop novamente à margem da sociedade, dizendo, nas entrelinhas, que somos todos bandidos e que expomos a sociedade à riscos, os policiais faziam com que colocássemos as mãos na cabeça, ou estendidas na grade e abríssemos as pernas, para a revista completa. Sem estarem satisfeitos, boa noite ou bom dia para quê? A estupidez costumeira tomou o devido lugar, quando os policiais, cheios de abuso de autoridade, abordavam os manos e minas que chegavam ao local com o único intuito de curtir a Virada Cultural com o tipo de música preferido. Fácil notar, também, que a cada árvore do parque havia três policiais, ou seja, mais policiamento do que público, sem falar na cavalaria, também presente no maior evento cultural do país. Lamentável. Já me sentindo um lixo, pela decepção do local do show, o pequeno público e a revista policial, tirei uma foto da revista e fui lesada nos meus 330 Traficando conhecimento direitos de jornalista formada por uma cabo, que não sabia nem falar, mas, abusando da autoridade, me fez apagar a imagem, me impedindo, não apenas de curtir meu estilo musical preferido em paz, como de trabalhar e exercer minha profissão, com todos os direitos previstos pela lei. Nos shows, meia dúzia de gatos pingados, isolados, discriminados e julgados tentavam curtir o rap, com uma aparelhagem de som desregulada, o que denota ainda mais o descaso da organização do evento, e também da sociedade, com a cultura hip-hop. Contudo, mesmo sofrendo com as mazelas impostas pela sociedade, o público do “Baile Chique” comportou-se como deveria, ou seja, como sempre, civilizadamente, porém, com a dispersão deste, os policiais fizeram questão de aproximar-se do palco, alvoraçados, como se os negros e pobres, ali presentes, pudessem, a qualquer momento, atacar alguém, como animais mitológicos. Não aguentei e fui embora logo. Fiquei decepcionada por ter viajado e investido em um evento no qual meu estilo fora desprezado em último grau. Em outras partes da Virada Cultural, com público estimado de quatro mil pessoas. No palco da dança, no Vale do Anhangabaú, onde público tinha até cadeiras, um garoto de uns 12 anos cheirava cola livremente em frente aos policiais que faziam a “ronda” por ali e, não satisfeitos pela ronda, faziam também vista grossa para isso. Um pouco mais adiante, um grupo fumava maconha livremente na cara dos policiais, coisa natural, e ninguém tomou geral por isso, foi impedido de fotografar, ou ficou isolado em suas comemorações, em um parque ‘enjaulado’ e à parte do evento. No outro dia, voltei para o show do Afrika Bambaataa e fiquei em um evento, no qual, não havia constatado na noite anterior, não havia barracas vendendo comes e bebes e, para tomar uma água, tínhamos de sair do pátio feito pela organização da Virada Cultural. O pai do hip-hop chegou para tocar para o maior público daquele palco, algo em Em foco 331 torno de seis mil pessoas, contra as 50 mil que foram aos shows do palco principal, na Avenida São João. Quando o criador de toda a cultura subiu no palco, ficou por mais de meia hora regulando o som, que estava mal sintonizado, ou seja, outra vergonha para o público do hip-hop. Em entrevista ao Jornal da Tarde, o secretário de Cultural Carlos Augusto Calil justificou o local escolhido. “Houve uma certa inocência em colocar, no ano passado, o palco de hip-hop na Praça da Sé, que passa por um processo de urbanização.” Segundo o secretário, para evitar novos incidentes, os espaços foram melhor distribuídos e adequados ao público. “Criamos condições para que o público de hip-hop, por exemplo, que tem um comportamento diferenciado, possa curtir a festa deles.” Eu pergunto, que condições? Que público? O que este secretário entende de hip-hop para fazer isso? Não subestimando, mas creio que não entenda mais do que o preconceito criado acerca da nossa cultura, pois referir-se ao “comportamento diferenciado” como se fôssemos bichos agindo por instinto, foi demais. Durante a semana que se seguiu a Virada Cultural, minha caixa de e-mails fervilhou de mensagens debatendo o assunto. Vários sites também publicaram artigos, matérias e indignações. Cada um mantém a sua opinião acerca dos fatos acontecidos. Na minha? Culpa dos dois lados. O primeiro, da falta de comprometimento do hip-hop com ele mesmo. Cadê as lutas? A prática da pregação de Bambaataa por “paz, amor, diversão e união”. Quem é que luta por isso? Quem tenta mudar nossa situação de escravidão moderna? O que o hip-hop, ou seja, nós mesmos, fazemos por isso? Só escrever um texto adianta? Publicar várias opiniões dispersas resolve? 334 Traficando conhecimento É, eu também estou publicando a minha, e como todos, acredito que o desabafo e o compartilhamento dos pensamentos possa nos levar a algum lugar. Jogo o desafio aos manos e minas, que queiram se reunir, na representatividade da nossa cultura, mostrando ao Secretário de Cultura, aos novos eleitos neste ano eleitoral e à população que não podemos mais ser tratados como escravos e que a nossa inteligência não pode mais ser subestimada em revistas policiais. Que temos, sim, direito a trabalhar e exercer nossas profissões e, ainda mais, de termos o que os outros estilos musicais têm. No mais, acho que o que todos queremos é a Paz. Fiz questão de salvar alguns comentários e, na época, publicar no blog e apresentar, também, aos garotos das oficinas e aos grupos da cidade, como uma tentativa de chamar atenção ao problema e ao fato de precisarmos nos organizar mais. Os comentários: Olá, Jéssica. Parabéns pela visão crítica ao hip-hop e pela bela coluna escrita. Infelizmente o hip-hop é um movimento quase que falido que não consegue responder mais às questões, como você mesma fez no seu texto, poucos que estão no ativismo devem ser respeitados e merecem, cada vez mais, um suporte para nos tirar deste novo modelo de escravidão que se perpetua, cada vez mais, sobre os pobres e pretos deste país. Nossa maior prisão ainda está na mente e para se livrar dela é necessário mais do que só o hip-hop, que hoje é sexista, consumista e não agrega mais valores para melhoria da nossa autoestima e crescimento sócio-político do nosso povo. Parabéns e paz! Ass: MT Ton - CUFA BH / Realistas NPN — Em foco 335 Olá, Jéssica, Seu texto me deixou deveras pensativo. Até quando? Resolvi disponibilizá-lo para leitura no meu site (www. gograpnacional.com.br). Pode ser? Abs, GOG — Olá, Jéssica Muito bacana e necessário seu texto. É isso aí. Obrigado por ter me enviado. Havia feito um questionamento em minha Coluna no Le Monde Diplomatique, mas a realidade foi muito pior do que eu imaginava. Você foi brilhante nas suas posições. Eleilson Leite (Ação Educativa) — Li a a sua matéria da Virada; parabéns pela atitude e voz!! Juntos! Abços, Nelson Maca — Olá, guerreira! Eu não estive na Virada Cultural, mesmo morando na cidade, pois no sábado eu trampei e, domingo, preferi prestigiar o evento Favela Toma Conta do Buzo, porém fiquei sabendo de toda a movimentação, em especial sobre os acontecimentos no palco do hip-hop. Gostei muito da problematização que contém seu texto e pela descrição da realidade sobre esse acontecido, por isso quero saber se posso publicar em dois blogs do nosso coletivo: Elo da corrente (www.elo-da-corrente.blogspot.com) e o Grupo Alerta ao Sistema (www.alertaaosistema.blogspot.com). Aguardo resposta. Saudações!!! Michel da Silva 336 Traficando conhecimento — Firmeza! Valeu, Jéssica. O que precisar pode conta conosco, pode crer? Admiro muito o seu trabalho. Essa conexão é muito importante. PAZ guerreira Elemento.S Em foco Pela vida 339 Uma tempestade de ideias, apenas para poupar o tempo das reuniões foi o que definiu a programação. Shows de rap feitos com artistas locais e convidados de outras cidades, apresentações dos grupos de dança, batalhas de break, batalhas de rimas, exibição de grafite e DJs no comando. A novidade, até então, explorada apenas de forma simbólica, seria o sarau literário com a distribuição das caixinhas poéticas. “As juras de amor não são mentiras, de maneira alguma! São verdades com prazo de validade.” (Sérgio Vaz) Sem opção de lazer, o domingo à tarde é o dia escolhido para a realização de um novo evento de hip-hop. Na mente as boas lembranças dos primeiros Hip-Hop Sul e no coração o desejo de transformar a realidade, nem que fosse por apenas alguns segundos. “A elite me causa nojo, porque quer exigir, exigir, exigir e nunca dividir.” (Alessandro Buzo) “A Humildade de um homem serão as armas para a paz universal.” (Mano Brown) “Dou ‘mó’ valor para quem suporta vida dura.” (Gog) Correndo contra o tempo e, novamente, sem qualquer tipo de patrocínio, o evento foi realizado e manteve a proposta de atrelar qualquer atividade a uma ação beneficente. Um ingresso = um quilo de alimtento. A tentativa era livrar o hip-hop do preconceito e mostrá-lo muito além do que a sociedade pensa e propaga. Serve, também, como um instrumento de amor e de ajuda a quem precisa. Mesmo com pouco a dar, os hip-hoppers e adeptos fazem “um corre qualquer” e conseguem o alimento para doar. A favor da informação e da socialização, o encontro foi batizado como “Cultura Marginal: Pela vida!” O convite é único: toda periferia pode participar. Como influências foram captadas as experiências da Cooperifa, do Favela Toma Conta, do Hip-Hop em Foco, das oficinas, dos eventos na cidade vizinha de Pouso Alegre e do sem-número de atividades feitas por parceiros de outras periferias em cidades e estados brasileiros. 338 “A elite já é suicida há muito tempo.” (Ferréz) — “Eita negro! Quem foi que disse que a gente não é gente? Quem foi esse demente, se tem olhos não vê… — Que foi que fizeste mano para tanto falar assim? — Plantei os canaviais do nordeste. — E tu, mano, o que fizeste? — Eu plantei algodão nos campos do sul pros homens de sangue azul que pagavam o meu trabalho com surra de cipó-pau …” (Solano Trindade) 340 Traficando conhecimento Estas foram algumas das frases que os participantes puderam ler quando encontraram as caixinhas espalhadas por todo poliesportivo. Claro que havia um número suficiente para todos participantes, mas provocar a surpresa em quem chegava primeiro era uma forma de brincar com as palavras. Pelas paredes liam-se pequenas frases, poemas e poesias, afixadas como um jeito de dar um charme no evento. Os integrantes das oficinas, tanto das de literatura como das de dança seriam parte do staff e deveriam nos auxiliar com som, controle de entrada, arrecadação de alimentos, além de, claro, participar das apresentações nas respectivas áreas. O comprometimento e o empenho dos garotos das oficinas no evento chamaram atenção. Quando propus que eles fossem inseridos em oficinas e tomassem gosto pela leitura não imaginava que o desenvolvimento da cidadania, do respeito e da responsabilidade seria desenvolvido e aflorado em tão pouco tempo. Cumprindo horários e prazos, eles apresentavam textos lidos, trechos escritos e sempre propunham mudanças em tais trechos, em um dado momento da apresentação, além de colaborar firme na arrecadação de papel reciclado para as caixinhas. Quanto ao evento, era impossível saber quando e, se, aconteceria outro, então era fundamental fazer deste o melhor possível. Cinco exemplares do “Suburbano Convicto” estavam separados para serem sorteados no evento. O objetivo era entregá-los a quem se manifestasse no sarau. Pequenos e simples troféus seriam entregues aos vencedores das batalhas. Não foi preciso montar uma lanchonete no local como fora sugerido na tempestade de ideias da primeira reunião. Assim que ônibus e vans com grupos das cidades vizinhas encostaram próximos ao ginásio, vendedores Em foco 341 ambulantes com carrinhos de cachorro-quente e pipoca encostaram-se à calçada. Todas as pessoas que, de alguma forma, estavam ou estiveram ligadas ao hip-hop foram convidadas e os amigos da antiga crew, aquela mesma que conheci quando ainda desconhecia a cultura foram chamados para compor a banca de jurados para as batalhas de break e de rimas. Após algumas horas espremidas nos espaços curtos de vans e ônibus, pessoas das cidades vizinhas deram colorido especial ao poliesportivo. Com figurinos feitos apenas para as apresentações de dança e roupas sempre chamativas, deixaram o quilo de alimento com a portaria improvisada e seguiram o som vindo das pickups do DJ. Figurinos, músicas, dança. Além do clima de paz natural, o encontro traz a lembrança dos bailes black do início da década de 1980, propagados por Gerson King Combo. A volta dos cabelos black marca o resgate da autoestima entre os afrodescendentes e registra, também, uma nova fase da história da cultura hip-hop. “Respeite o próximo, também é nosso, se você pode eu também posso... hip...hop... hip...hop”, assim o show é aberto na marcante voz de Lu, que, no palco se transforma em Lu Afri e exibe, diferente das outras vezes, um penteado black power que lembra a força do movimento nos anos 1970. Levanto-me de onde estou e, emocionada, começo a tirar fotos do grupo e cantar junto. Observo um grupo de garotas que cantam junto no refrão e dançam, tentando acompanhar as rimas. Do outro lado, um grupo de garotos também parece bastante animado. Mais de 300 pessoas já estavam dentro e mães com filhos pequenos resolveram sair de casa acompanhando o som e chegaram até o poliesportivo. Sem o quilo de alimento para poder doar, 342 Traficando conhecimento Em foco 343 lamentaram não poder participar do encontro e em uma pequena reunião entre a organização ficou decidido que elas poderiam entrar, afinal, o objetivo era promover a inclusão e 10 ou 20 pessoas a mais não mudariam os rumos. Era justo que todos pudessem participar. Todos entraram e era nítido que aquele era o primeiro contato com a cultura. Crianças se encantam com os dançarinos de break e suas roupas largas e coloridas. Imitam os trejeitos dos MCs ao cantar e correm soltas pelo ginásio. Paralelo ao show, b.boys dançam e alguns MC’s se preparam para o confronto em batalhas de rimas, lembrando os primórdios e resgatando a ancestralidade afro, levanto para todos os presentes o valor da cultura negra, dos quilombos. O meu estado é de euforia total. Superemocionada circulo por todo o espaço e me lembro que a prática oral de expressão acompanha a evolução da humanidade e que, naquele momento, estávamos todos vivendo a nossa história. Vou ao encontro de algumas das mães com crianças que entraram e ouço falarem: “Que legal, é bem da paz! As crianças estão adorando.” Mas é claro que o evento era da paz e que a intenção era de que as crianças adorassem. Que todos presentes saíssem dali diferente do que quando entraram e com um sentimento bom, com a mesma vontade que tínhamos de fazer acontecer e de mudar a realidade. Em um bairro periférico e em um espaço nada consagrado, raps da nossa realidade, pessoas próximas e o hip-hop puro, transformando as atividades em paz. “Evento muito fera”. “Sem dúvida, animal”. Estas são algumas frases de um diálogo que ouço próximo a mim. Aprendi durante os contatos com outras pessoas, também da literatura, que o grande barato não é mudar da periferia e sim mudar a periferia e acho que, por meio do evento e das oficinas, era exatamente isso que estava acontecendo. Nada melhor do que a letra criada pelo grupo ocasionalmente para refletir e registrar o momento. Reviver os bailes black faz parte do encontro, do evento e da união das almas naquela noite, através do hip-hop. Pela fisionomia de todos, penso em como aquele momento é importante. Revejo, mentalmente, toda a trajetória do grupo, cheia de dificuldades, desencontros e agora uma vitória. O CD quase pronto e prestes a ser gravado. Incrível. Assim pode ser descrita a cena do grupo sobre o palco, cantando o cotidiano poços-caldense para gente de toda a região. “Muito bom o som deste grupo”, é o que escuto em uma outra roda. Vale destacar que, desde os primórdios, a prática oral de expressão acompanha a evolução da humanidade e, até hoje, continua sendo um importante meio de comunicação entre as periferias. Para Suburbano, MC do grupo, o rap feito na Zona Sul de Poços tem elementos próprios, no entanto, traz na essência, a prática de antigos quilombos. “Os africanos e escravos trazidos ao Brasil utilizavam a expressão verbal e o canto para transmitir crenças e valores comportamentais através das gerações, o nosso rap de hoje tem a mesma função”. A afirmação do rapper vai ao encontro da situação. Elas são negras, bem vestidas, de salto alto, mineiras e de ancestralidade no sangue, daí a química entre os grupos. Elas correm e abordam os integrantes do UClanos, fazem perguntas, pedem para tirar fotos e requisitam um CD. “Então vocês gostaram da apresentação?”, pergunto. “Sim, diz muito sobre a gente”, me respondem. São garotas de um grupo de rap da cidade vizinha de Lavras, que junto com uma equipe de dança vieram conferir o evento. 344 Traficando conhecimento Em foco 345 346 Traficando conhecimento Em foco 347 348 Traficando conhecimento O primeiro show termina e classificadas como azul e amarela, as crews enfrentam-se em grandes disputas. Os olhos dos competidores não negam a emoção de estarem sendo julgados pela melhor crew de break brasileira. Na roda, eles colocam todo o nervosismo do momento e a disputa segue acalorada. A plateia delira a cada movimento feito. A vencedora da competição é uma crew de Lavras, interior de Minas Gerais. Chamada de Action Break, é a crew mais eclética e tem a participação de uma garota dançando e entrando na roda com os homens. Ela é Poliana, 20 anos, que dança break há quatro. Especialista no freeze – congelamento do movimento – ela se orgulha de ter vencido os preconceitos de ser mulher e dançar break. Além de ter a única mulher na crew, a Action Break também levou ao evento o mais novo b.boy competidor. Rodrigo, 11 anos, que entra na roda com segurança e consegue intimidar a crew adversária, além de ser bastante aplaudido pelo público. A empolgação frenética deu lugar ao silêncio pedido para o início do sarau, ainda novidade. Apesar de textos lidos em eventos e de um elemento caminhar com o outro compondo a cultura marginal, muitos visitantes de outras cidades não estavam acostumados com aquilo. Porém, como no hip-hop o respeito prevalece, todos se calaram quando o silêncio foi pedido e aguardaram o que viria a seguir. Enquanto aguardavam, caixinhas com poesia dentro foram entregues de mão em mão, como um presente para a periferia. Expressões das mais variadas tomaram conta dos rostos dos presentes e como da primeira vez em que espalhei caixinhas aleatoriamente, pude sentir a emoção em espalhar a cultura, dialogando com os presentes através da literatura. O interesse era promover a formação crítica para a juventude. De experiências Em foco 349 anteriores somadas a esta, as ações passam a ser cada vez mais fundamentadas. Entregues todas as caixinhas, li pela primeira vez em um evento o conto “Periferia Adentro” e aproveitei o embalo do silêncio em sinal de aprovação do público e li um texto do Ferréz e outro do Sérgio Vaz. A intenção foi mostrar que Brasil afora estão produzindo e que também podemos fazer isso. Incentivado pelos textos, Rodrigo, um dos garotos das oficinas me chamou no canto e disparou: “Oh, dona, fiz mais um texto e queria ver o que você acha e se eu posso ler hoje aqui. É que eu quero muito mostrar para a minha mãe o que eu tô aprendendo.” Como eu poderia negar a ele esta oportunidade de ler, para um público bacana e para a genitora, um texto feito por ele mesmo e que falava, justamente, sobre o amor de mãe, outro tema recorrente da literatura marginal. Mesmo tremendo – medo e ansiedade – ele empunhou o microfone ao melhor estilo de MC e disparou um salve para a galera, que na mesma hora simpatizou com o garoto. Tirou do bolso uma folha de caderno amassada e, olhando para a mãe, que devolvia a expressão terna, declamou: Quem é essa mulher que na quebrada é bastante respeitada? Quem é ela que não tem parada, nos dá de tudo e não nos cobra nada? Sempre disposta a nos ajudar Ela tira comida da própria boca para nos alimentar. Quem é essa mulher que está sempre tão disposta? E que, no gueto, sempre banca a nossa aposta Pode ser herói, ladrão, bandido ou mocinho Para todos ela sempre tem um colinho Veio ao mundo com a missão de nos cuidar e dar educação Sem você, mãe, não dá para encarar este mundão. 350 Traficando conhecimento Apesar de ainda ser um texto cru, o jovem teve a coragem que as oficinas buscavam estimular e o leu. Pediu licença e, ainda com o microfone na mão, leu um texto do livro “Cabeça de Porco”. Arrancou muitos aplausos do público. Convidei algumas pessoas para declamar. Devagar o MC de um grupo de rap da cidade de Vargem Grande do Sul foi até lá. Declamou uma letra de rap. Válido. Mais um quis falar. Mandou uma rima. Não foram bem poesias. Subi de novo e li um trecho do “Quarto de Despejo”. Propus um debate acerca da informação fora do palco. Enquanto o próximo grupo de rap a se apresentar se preparava, formamos uma roda e ao som das batidas vindas das pickups comentamos sobre o que acabara de acontecer. Muitas pessoas queriam mais caixinhas e doamos todas que tínhamos feito para o evento. Outros queriam aprender a fazer e muitos trocavam as poesias que continuam dentro. Embriagados com o conhecimento, celebramos, realmente, a cultura marginal pela vida, por meio da difícil existência na periferia. Homenageamos escritores, sugerimos títulos, sorteei meus volumes do “Suburbano Convicto” e lembramos toda literatura marginal como Carolina Maria de Jesus, que iniciou a literatura periférica ao ser traduzida e publicada no mundo todo, para 13 outros idiomas, as mazelas do povo que vive nas favelas brasileiras. E ainda, alertar a todos aqueles jovens que estavam ali e como nós, algum dia tiveram um exemplo, algo para fazer em uma tarde de domingo e um objetivo: se envolver com o hip-hop e praticar o bem. Como quem vive na quebrada não tem outra opção senão se drogar, seja pelos entorpecentes como crack, cocaína e maconha ou pelas drogas servidas nas bandejas das TVs abertas, principalmente aos domingos, minha tarefa Em foco 351 enquanto comunicadora era fazer algo que mudasse, de alguma maneira, a forma das crianças e adolescentes de encarar as dificuldades. Falei sobre o conhecimento, que sempre nos foi negado. Os pobre já nascem nas quebradas excluídos do mundo e muito cedo tem que se incursionar numa guerra diária pela vida, lutando para manter os costumes, as origens e as tradições, ao mesmo tempo que brigamos para sermos melhores, produzirmos mais e limparmos o limbo cultural dos guetos. As pessoas não têm acesso à cultura e o grande barato era justamente esse, direcionar as palavras a estas pessoas que só estão acostumadas a uma tela colorida que mostra a vida em preto e branco. Feito: o protesto é contra a massificação da informação reduzida às periferias. Os pobres e marginalizados também têm direito ao conhecimento e o evento tinha esta proposta: descentralizar a informações, propagando-a até as margens invisíveis da cidade. Com a literatura e as palavras guerreamos contra as barreiras impostas ao conhecimento, discorri rapidamente sobre a falta de informações nas periferias e o quanto a elite trabalha duro para nos privar da sabedoria. Minhas palavras ecoaram como um grito há muito tempo represado e era a minha maneira de dizer a todo aquele público que podemos fazer acontecer e mudar a realidade, basta nos organizarmos e trabalhar ainda mais pesado para transformar a nossa própria maneira de pensar e inserir o conhecimento no dia a dia das casas e barracos. O objetivo é romper as correntes que nos aprisionam às telas da televisão e libertar do salário de fome pelo qual todos lutam tanto e sequer conseguem comer. Imagino como uma semente jogada ao vendo que corta os barracos e casas mal acabadas da periferia. 352 Traficando conhecimento Em foco 353 Em foco O que você está lendo? “Eu não gosto de ler.” De repente, com a propagação dos eventos em todas as regiões e o surgimento de novos grupos, bandas e escritores, essa frase foi apagada da boca da juventude que vive nos mais bairros mais afastados. Não como quem apaga com borracha algo escrito a lápis, mas como quem arranca e põe fogo numa página ditada pelos coronéis da elite. Cópias de autores e poetas marginais passaram a circular entre rodas de eventos e grupos de rap e de dança do hip-hop. Novamente a internet, blogs e sites foram ferramentas que difundiram o elemento conhecimento. Um balanço feito pela Divisão de Cultura de Poços mostra que 2007 para 2009 as bibliotecas mostram um aumento de 24% no número de empréstimos de livros, sendo que a maior parte é retirada na biblioteca da Zona Sul, no Cohab, onde as oficinas e eventos do projeto Cultura Marginal acontecem com mais frequência. Não é mais uma cena gritante ver um jovem lendo dentro do ônibus, pelas ruas e ainda comentando que pretende editar os próprios livros, sempre contando a própria historia. Nesta mesma cena, muitos deles rumaram para a 3ª Feira Nacional do Livro e Festival Literário de Poços, para palestras-show de MV Bill acompanhado de Nega Gizza e Gabriel, o Pensador. 354 355 Durante dois dias seguidos, os jovens de toda Poços de Caldas puderam acompanhar tais palestras e se envolver ainda mais com literatura. Ponto para mim, que consegui que grande parte dos garotos do bairro fosse. Consequência das oficinas. Todas as partes da cidade estiveram presentes e o melhor é que cada um doou um livro pelo incentivo a leitura para poder estar ali. Para MV Bill, rapper, natural da Cidade de Deus, uma das comunidades com os mais altos índices de violência do município carioca, inclusive já retratada no livro de Paulo Lins e no filme de Fernando Meireles, em casos como o festival literário, o hip-hop representa salvação. “O hip-hop, neste caso, é um agente que promove a paz. Não acontece em todos os eventos, mas quando temos um criado com o ponto central de entretenimento em paralelo tem educação, inclusão e inserção, criamos um evento que tem esta aura de paz. Já é um encontro com a paz intensificada, um ambiente diferente”, coloca. Tal frase é complementada pelo estudante e aspirante a escritor Felipe Paulo de Assis. “Palestra com um cara como MV Bill é diferente. Dá vontade de ler o livro, saber mais, conhecer mais sobre nossa própria cultura. Aumentou minha vontade de ser escritor”, acrescenta. Com letras conscientes e de muito sucesso há quase dez anos, o rapper, também carioca, Gabriel, o Pensador, traz uma linguagem um pouco diferente. Embora nunca tenha vivido na periferia, sempre foi politizado e teve uma infância recheada por acontecimentos divertidos, tristes e de ensinamentos, como todos os jovens que ali estavam. Autor de um livro em forma de diário e um infantil, o músico improvisa e manda a rima ao melhor estilo Freestyle e se revela conhecedor da realidade nacional. Bastante aplaudido, os jovens tentam somar as 356 Traficando conhecimento experiências das duas noites e concluem que o caminho realmente é através do conhecimento e da boa prática da cultura urbana existente em cada região. Impulso. Assim as palestras somadas das oficinas podem ser classificadas para descrever o que os jovens passaram a fazer enquanto multiplicadores. Por meio de blogs e comunidades, a divulgação se estendeu para outros bairros que passaram a fazer o mesmo. Em pouco tempo chegou a notícia de que os bairros vizinhos e, também, mais afastados estavam reunindo grupos, sempre ligados ao hip-hop, e promovendo estudos sobre a cultura, a literatura marginal e baixando livros pela internet. E por aí se seguem os eventos, as oficinas, os saraus, quando vários outros grupos começam a congregar alunos em períodos diferentes do das aulas e lhes passar algo sobre a cultura marginal, seja por meio de oficinas de dança, canto ou literatura. E, finalmente, tornou-se comum ouvir jovens comentando entre si: “O que você está lendo?” 358 Traficando conhecimento Em foco 359 Cap.06 Estatística Cap.06 Estatística Estatística 365 Um ano à frente, em 1988, os brasileiros passaram a notar o mesmo comportamento em cidadãos da maior cidade do país, São Paulo, onde a droga chegou primeiro. Vinte anos depois, não há sequer um cidadão que nunca tenha ouvido falar nas famosas pedras, no crack, na cocaína derivada. Policiais, médicos, estudiosos, jornalistas, cidadãos comuns. Todos querem entender o que leva as pessoas a se acabarem por este caminho. O caminho das pedras tem dois únicos destinos: a morte ou a prisão. A manchete do jornal de maior circulação na região diz: “Envolvimento de menores com o tráfico aumentou 277% no último ano”. A matéria, assinada por mim, inaugura uma nova fase da minha vida profissional no Jornal Mantiqueira, vizinho do Jornal de Poços, porém, com melhor e maior estrutura. Estes números já martelavam na minha cabeça desde que eu me aventurei a escrever uma reportagem especial sobre o poder devastador do crack. Pensei em iniciar o novo emprego com estes números que, na ocasião, assombravam toda a cidade. Após ouvir inúmeras músicas de rap que aludiam sobre o problema da epidemia do crack, da morte de amigos, de pais e mães e de várias quebradas devastadas pelo problema, me senti na obrigação de escrever algo. Crack: o caminho das pedras Um cachimbo. Dentro dele, pequenas pedras porosas, de um branco sujo, cinza, amarelado, com aparência de sabão ou cera. Pessoas tremendo e andando rápido com os olhos vidrados. A cena representa como se comportam os usuários de crack – droga potente, derivada da cocaína – que surgiu, de acordo com um primeiro registro histórico, em 1982 nos Estados Unidos, sendo que cinco anos mais tarde, em 1987, passou a ser considerada e tratada como uma epidemia no país. 364 Feita em grandes ou pequenas quantidades, as pedras de crack, que tem este nome devido o estralar que produzem quando estão sendo feitas ou, às vezes, até mesmo quando são fumadas, assombram crianças, adolescentes, famílias inteiras e se tornam um peso para a sociedade. Nas esquinas de qualquer cidade brasileira, e Poços de Caldas, desta vez, não é uma exceção, existem histórias dos dependentes de uma droga, que se alastra como um vírus. Produção As pedras podem ser feitas de duas maneiras: com pasta-base ou cocaína em pó, depende do produto disponível no mercado. As feitas com pasta-base – um produto bruto, não-refinado com éter ou acetona – apresentam uma coloração escura, entre o amarelo e o marrom. As pedras de cocaína em pó são mais claras. Os viciados afirmam que a pedra da pasta-base é mais forte e não esfarela com facilidade. Para os fabricantes, o segredo de fazer a boa pedra está em dosar a quantidade de pasta-base ou cocaína em pó, água e um agente, normalmente o bicarbonato de sódio, comprado com facilidade em farmácias ou em laboratórios de manipulação. O bicarbonato tem a função de reagir com a mistura para deixá-la mais consistente, como cristais, além de facilitar a combustão no momento de fumar. 366 Traficando conhecimento Há ainda as variações, onde os usuários esfarelam a pedra feita com a pasta-base e misturam o crack com a maconha, improvisando cigarros conhecidos como mesclados ou brazuca. O lucro na venda do crack é representado pela grande quantidade da pedra que o traficante consegue obter com cada grama de cocaína, visto que com um grama é possível fazer de três a quatro pedras. Vidas queimadas em cachimbos Ouvir o relato de dependentes químicos e de mães que lutam para que os filhos abandonem o vício é como um castigo. Tido como a pior das drogas pela fulminante dependência que cria e pela brutalidade que provoca no viciado, traz, cada vez mais, violência para dentro das famílias. Há cerca de três meses, entrevistado pela reportagem do Jornal de Poços, Augusto Caetano (nome alterado), 19 anos, conhecido como Toquinho, já estava magro e com semblante acabado, em razão do uso do crack. Em um segundo encontro, para realização desta matéria especial, o jovem já está bastante consumido pela droga. Aparenta ter bem mais idade do que o registro de nascimento marca e já não tem mais a mesma vitalidade para falar. Com uma baixa estatura, que parece ainda mais afetada em razão dos efeitos da droga, Toquinho, bastante sonolento, comenta que os últimos dias, os que se lembra, foram divididos entre dormir e fumar crack. “Estou fumando cada dia mais. Antes eu pensava em parar algum dia. Agora, evito esse tipo de pensamento. A única coisa que penso é em como vou conseguir a droga. Minha mãe já não me dá mais dinheiro. Eu não trabalho. Estou tendo que furtar alguns estabelecimentos. Não quero pensar nisso. Quero fumar minha próxima pedra em paz”, diz, encostado na mureta do portão de casa, Estatística 367 com os olhos perdidos e os dentes da frente amarelados, pelo uso constante do crack. Em uma fase de fissura, ele conta que, para obter a droga, atua como “vapor” na região onde mora e o que “recebe”, pega em pedra, para consumo próprio. Na primeira entrevista, Toquinho ainda era “aviãozinho”, ou seja, apenas entregava a droga. Atualmente, vende pequenas quantidades e o que recebe, consome em pouco tempo. “Como eu uso, fico com o pagamento todo para mim, mas cada dia que passa me vejo obrigado a vender mais, receber mais, fumar mais”, diz. Um outro usuário de crack ouvido pela reportagem é Wallace Rafael de Oliveira, 18 anos, conhecido como Buiú da Barão, por ser morador da rua Barão do Campo Místico, no centro da cidade, e que é acusado de ter cometido vários furtos na área central da cidade. Ele relata que já furtou e continua furtando diversas residências para sustentar o vício e em um apelo, pede uma internação. “Quero que alguém arrume um lugar para eu ficar internado, tranquilo e parar de atormentar a população”, pede. O tráfico de drogas é um crime que repercute nos demais crimes e, por ser o crack, o que mais atrai os usuários e daí uma dependência maior, embora antigamente considerado como uma droga barata, ele custa tudo que o viciado tem e ainda aquilo que obtém de outras pessoas. Os crimes contra o patrimônio, como furto, roubo e relacionados à violência doméstica são frequentes em Poços de Caldas e atribuídos a popularização da droga. No caso de Buiú, ele comenta que não pode ver uma janela aberta, que entra para furtar. Embora não cometa roubos e nunca tenha utilizado de violência contra as vítimas, ele confessa ter feito inúmeros furtos. “Faço isso para sustentar meu vício, para comprar a pedra. Eu dou preferências às carteiras, mas furtava, também, outros produtos como computador, tela de computador, capacete, celular, enfim, o que tem pela frente eu levo embora”, relata. 368 Traficando conhecimento Ele frisa que o que mais deseja é uma internação em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. “Quero ficar longe das drogas”, deseja. A mãe do jovem, Lúcia Regina de Oliveira Gonçalves, 44 anos, faxineira, conta o martírio que é ter um filho dependente do crack dentro de casa. Com a expressão cansada de quem já não sabe mais o que fazer ou para que lado correr, ela revela que não tem tempo para si mesma e que, embora tenha outros filhos, uma moça já casada e uma garota de 8 anos, têm vivido em função do Buiú e na busca de um tratamento de desintoxicação para o mesmo. Para controlar as crises de abstinência do filho, ela revela que, por contra própria, lhe dá remédios que atuam como calmantes, como Diazepan e Rivotril. “Eu faço isso para ele dormir, para tentar segurá-lo dentro de casa, para ver se ele não sai para comprar drogas, para furtar, para mexer nas coisas dos outros”, conta. Assombrada pelo medo de receber uma notícia ruim, assim como vivem os pais de usuários de drogas, Lúcia afirma que não dorme durante a noite e que passa longos períodos atrás do filho, chamando-o pela casa e pelo quintal, desejando que ele volte logo. A rotina de Buiú é semelhante com as dos demais usuários de crack. Durante a noite, ele consome a droga. Dorme durante o dia e, no final da tarde, sai para tentar encontrar um meio de conseguir mais crack.“Minha vida com ele dessa maneira tem sido muito difícil. Todos os dias tenho uma reclamação na minha porta. A polícia vêm até minha casa atrás do meu filho e, muitas vezes, quem atende é minha filha de 8 anos e tenho medo que ela possa se envolver nesse caminho também. Dentro de casa, Buiú é um amor de pessoa. Ele não briga, não xinga e nos trata super bem. Talvez por isso que eu tenho vontade de ajudá-lo”, comenta. Estatística 369 Já chorando, com o coração partido, a mãe do jovem conta que, no início, quando ele tinha ainda 12 anos e começou a trabalhar como engraxate e cheirar cola, ela relutou em ver o vício do filho e só reconheceu quando este tomou grandes proporções e ele passou a trilhar o caminho das pedras de crack. “Recentemente ele foi preso e eu vi pela televisão, a quantidade de coisas que ele furtou. Eu não imaginava que meu filho era capaz de furtar tudo aquilo. Eu que sustento a casa, trabalho quatro vezes por semana e ganho R$ 30 a cada vez que faço faxina. Não temos muita coisa, mas ele começou furtando meus cremes, perfumes, mas eu não imaginava que ele tivesse capacidade de pegar tudo aquilo.” No último dia 9 de setembro, Buiú foi localizado pela Polícia Civil e levado para a 25ª Delegacia Regional de Segurança Pública para prestar esclarecimentos. No local, ele informou quem são os receptadores do material por ele furtado. Segundo Lúcia, ele já esteve preso por vinte dias, quando ainda era menor de idade e afirma que, na cadeia, passou por coisas que nunca imaginou passar. Na cabeça da mãe, o tratamento policial com o filho deve ser agressivo. “Ele tem muito medo da polícia, então eu não acho que a polícia trate ele bem”, acredita. Com o baixo salário, ela não consegue bancar um tratamento de desintoxicação que busca há quatro anos para o filho, embora ele já tenha tentado o que é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no programa de Álcool e Drogas, dentro do programa de Saúde Mental, mas que ele se recusou a continuar a frequentar as consultas psiquiátricas e a tomar os remédios necessários. “Eu consegui junto a ONG Poços de Luz para interná-lo, mas eu não tenho recurso financeiro para isso. A internação mais barata fica em torno de R$ 420, mais dez cestas básicas e eu não tenho condições de dar esse dinheiro, 370 Traficando conhecimento porque se eu fizer isso, como vou pagar minha água, luz e fazer compras, se eu tenho uma menininha de 8 anos para criar?”, argumenta. Lúcia fala, também, com saudade, de quando o filho não fumava crack, trabalhava e tinha força e energia de vida.“Desde que ele passou a fumar esse tal de crack, o comportamento dele mudou. Ele deixou de comer, emagreceu muito, está só pele e osso. Passa a noite toda fumando crack, quando levanta, umas 15h, pede um prato de comida e larga tudo pela metade. Ele está muito acabado.” Ainda em relação ao uso do crack, a mãe conta que o filho consome a droga dentro de casa, com o consentimento dela. “Eu deixo ele usar no quintal, dentro de casa. Faço isso para evitar que ele faça na rua, com outras pessoas, e se envolva ainda mais com coisas que não deve”, diz, chorando novamente. Durante a entrevista, ela relata, também, que o pai do jovem já foi usuário de drogas e passou um longo período preso. Atualmente, pai e filho não têm nenhum tipo de contato ou relacionamento, e toda sobrecarga dos problemas acarretados pelo crack ficam por conta da mãe, que mostra, claramente, sinais de esgotamento. Para ela, já cansada da situação, a internação em uma clínica seria a única coisa que talvez pudesse salvar Buiú, que ela considera muito jovem, aos 18 anos. “Eu sei que meu filho ainda vai ser um grande homem, porque ele sempre trabalhou e tem boa vontade. Quero ver ele recuperado e me ajudando em casa, financeiramente e cuidando um pouco de mim. Até o momento, ele concorda com a internação, demonstra vontade de parar de usar a droga. Meu maior sonho é ver ele recuperado. Eu acredito em Deus e sei que Ele vai me ajudar. Sei que vou vencer. Falo isso para meu filho todos os dias, quando me pergunto se agi errado, tentando ver onde errei, mas não estou conseguindo saber”, encerra a entrevista, chorando muito. Estatística 371 Organismo em pedras O programa de Álcool e Drogas do município também recebe, diariamente, várias pessoas acometidas pelo uso de drogas, principalmente do crack. O médico responsável pelo atendimento clínico, Walter de Abreu, destaca que o acompanhamento dos pacientes vai desde a parte psiquiátrica, com acompanhamento psicológico, com terapeuta ocupacional para poder desvincular o paciente daquele ritmo de vida que ele vem levando. Quanto aos efeitos do crack, ele destaca que existem várias maneiras para ser analisado. “Os efeitos que vejo como médico e os que o usuário pensa. Os que eu penso são os mais graves, que podem levar à morte, os efeitos que os usuários pensam são porque ele pensa que está fazendo bem. Outro dia mesmo, eu estava ouvindo um rapaz falar, na Zona Rural, que todos os funcionários dele estavam usando o crack, porque estavam desenvolvendo um trabalho muito melhor, trabalhando assustadoramente, não precisavam se alimentar, não comiam, não bebiam água, o sol não era motivo de afastamento do trabalho, não precisavam de sombra, chuva não os impedia. Por quê? O rapaz fica confuso, não sabe o limiar de dor dele, ferimentos, estas coisas ele não sente, para ele, aquilo não faz diferença. Ele adquire uma maior virilidade para o trabalho, fica mais rápido, ágil no raciocínio, enfim, tudo isso leva o leigo a pensar que é uma droga boa. As consequências, a longo prazo, são letargia, o indivíduo começa a ficar apático, diminui o ritmo de trabalho, começa a apresentar taquicardia, batimento rápido do coração. O aumento da velocidade do batimento do coração pode diminuir a oxigenação cerebral e o indivíduo começar a ficar confuso, agitado, agressivo, com ideias suicidas e, até mesmo, homicidas. Ele pode ter, ainda, colapsos ou infarto pela própria frequência cardíaca, visto que as irrigações das coronárias no coração não são benfeitas”, considera. 372 Traficando conhecimento O tratamento clínico consiste em uma desintoxicação inicial, em que o médico procura afastar o usuário do meio de convívio que ele se encontra. Walter afirma, também, que o crack é uma droga em que a pessoa fica viciada quase que instantaneamente após o uso da mesma. “A pedra, o usuário pode se tornar viciado em cinco ou dez minutos e a cocaína vai matá-lo lentamente, já o crack pode fazer isso rapidamente, visto a agressividade do mesmo”, comenta. Uma das causas do vício é a rapidez do efeito da droga, que dura, no máximo, 15 minutos. Inicialmente, a droga, por ser aspirada pelas mucosas, que fica toda queimada, e por ser inalatória, há uma maior rapidez de atingir as células neuronais. Ele impede as mensagens que são enviadas de um neurônio para o outro no cérebro, começa a cortar como se fosse um curto circuito, bloqueia as mensagens, o que causa um estado de confusão no usuário da droga. Por ser inalatória, fumada por um cachimbo, a droga pode comprometer o pulmão também, visto que torna frágeis os alvéolos, que são as extremidades terminais dos pulmões, o que deprime as defesas do organismo, causando pneumonias de repetição ou, até mesmo, tuberculose. Problema social Embora o crack esteja diretamente ligado apenas aos consumidores, ou seja, viciados e as pessoas ao redor dele, toda sociedade fica comprometida pelos problemas que a droga traz. Além do comprometimento da saúde dos usuários, os problemas sociais também ficam em destaque. Para falar sobre o assunto, o cientista social e, também, conselheiro tutelar, Diney Lenon, garante que a disseminação do crack está intimamente ligada com os conceitos pregados pela mídia e pela sociedade como um todo. O individualismo é fortalecido de todas as formas, gerase a busca pelo prazer imediato por parte dos jovens, o que os atrai rapidamente ao universo das drogas e, mais precisamente, ao esfumaçado mundo do crack, onde a cor predominante é o cinza, sem vida. Estatística 373 Por atuar no Conselho Tutelar, muitos casos chegam até ele como apelos e urgentes pedidos de ajuda. Um dos casos mais chocantes, que ele diz sentir até mesmo dor no coração ao se lembrar e relatar, é o de um adolescente cuja digital dos dedos já se tornou imperceptível, por ter sido queimada pelo contato da pele com o cachimbo utilizado para fumar o crack. “E vejo o crack inserido no mundo atual onde nossa juventude deixou de sonhar. A perspectiva de mundo, de transformação, foi um pouco perdida. E nossos jovens, hoje, estão muito preocupados com o presente e um presente não muito agradável faz com que a gente queira fugir desse presente. A droga é um subterfúgio mais fácil para sair dessa realidade, que, muitas vezes, não é o que a TV nos vende. Em relação a Poços de Caldas existe um surto, hoje, de uso de crack. Até cinco anos atrás, não tínhamos esse problema tão grave”, considera Lenon. Para ele, a droga assume o papel à frente de tudo, porque o tudo que deveria estar à frente, na verdade, está atrás. Em uma comparação confusa e simples ao mesmo tempo, ele garante que isso seria a garantia dos direitos básicos, feridos de todas as maneiras quando se fala de crianças e adolescentes envolvidos com o crack e, até mesmo, o tráfico. Como forma de amenizar os inúmeros problemas gerados pelas pedras, ele acredita que uma reorientação orçamentária e investimentos pesados nas políticas de prevenção, nos programas sócio-educativos, na geração de empregos e na garantia de habitação seriam ideais. “Daria uma anestesiada.” Já em longo prazo, Lenon é mais pretensioso e crê em uma discussão e mudança na educação que existe hoje. “O que leva a uma consciência individualista, utilitarista e imediatista. Temos que garantir sonhos para nossa juventude, por meio de um novo modelo de educação, novos valores, para que o jovem venha a ver 374 Traficando conhecimento a droga como algo chato e não como algo legal. Muitas vezes, o bandido é o que é apresentado como referência e isso contribui muito. As crianças sonham em ser bandidas, traficantes, usuárias de droga, e seria importante mudar este desejo, esta visão”, ressalta. Trabalho policial Diariamente, usuários ou traficantes são presos portando drogas e o que, antigamente, era maconha ou, até mesmo, papelotes de cocaína, hoje, foi substituído pelo crack. Nesta semana, a Polícia Militar da cidade apreendeu crack todos os dias em pontos diferentes do município, mostrando que a droga, não atinge somente as pessoas de baixo poder aquisitivo, como também as pessoas das castas mais elevadas da sociedade. Não diferente, na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, o crack, sem dúvida, é o responsável pelas maiores apreensões. Ainda não existem levantamentos sobre o quanto de crack foi apreendido, porém, destaca-se que as apreensões ficam em torno da droga. Para falar sobre o assunto, o delegado Carlos Eduardo Galhardi Di Tommaso destaca que nos últimos anos, o crack vêm assumindo o papel que a maconha e a cocaína tinham. “Antigamente, elas eram drogas muito difundidas, hoje o crack, que é um subproduto da cocaína, assume este papel. Nós percebemos que a maioria das apreensões ultimamente de drogas é de crack. Sejam grandes porções, sejam pequenas porções, já destinadas à venda, ou mesmo o pessoal que é pego com porte para uso, a maior quantidade é de crack que assumiu, roubou o espaço da cocaína, que, hoje, vemos com menos frequência. Em geral, quando apreendemos cocaína hoje em dia, ela é apreendida em grandes volumes, que provavelmente não se destinariam, a princípio, à venda, mas para fazer o crack.” Questionado sobre as razões de um traficante comercializar as pedras de crack, mesmo com a consciência de Estatística 375 que as mesmas viciam com mais rapidez e, dessa forma, degeneram, também com mais rapidez o usuário, o delegado acredita que em razão do crack ser um subproduto da cocaína, o lucro pode ser maior e consequentemente, em razão dos usuários serem ainda mais viciados, as vendas crescem. “Se entendermos que com cada grama de cocaína pode-se fazer três ou quatro pedras de crack e, se cada uma é vendida por R$ 10, o traficante alfere um lucro bem maior”, acredita. Para ele, o que faz com que o número de apreensões cresça é somente a procura pela droga. “Em geral o crack é encontrado com pessoas de mais baixa renda, muito embora o papelote de cocaína e a pedra de crack custem, a princípio, a mesma coisa, em geral, são pessoas de menor poder aquisitivo e as pessoas que são pegas, com cocaína, com um poder aquisitivo um pouco maior, mas acredito que a forma como as pessoas estão se viciando, vá se alastrar aos poucos nas classes mais altas”, diz. O delegado acredita também que a Polícia seja a última medida no que se referente ao combate às drogas e critica, também, a Lei nº 11.343, conhecida como Lei de Tóxicos e que, recentemente, completou dois anos.“A cocaína vem do sul ou dos países fronteiriços e, para chegar aqui, bastante gente já falhou, né? E a polícia é o último caminho. A rigor, teria que ter um apoio aos dependentes químicos mais intenso. Seriam lugares destinados para eles se livrarem dos vícios. Infelizmente, o que podemos perceber é que é muito rara, muito difícil, uma vaga, especialmente em estabelecimentos públicos. Existem clínicas particulares, mas, em geral, boa parte da população que é acometida pelo vício não tem possibilidade de pagar, então a minha visão é que deveriam existir novos e maiores estabelecimentos para recepção desses dependentes. Esta seria a saída que cumpriria a Lei por efetivo, para tentar diminuir a procura pela droga. Mas nós continuamos com as apreensões de forma estoica”, considera. 376 Traficando conhecimento Em busca de luz Como não existe o tratamento previsto na Lei nº 11.343 para os usuários de drogas, os caminhos ficam interrompidos e o voluntariado passa a ser a opção para quem está na escuridão, grande parte das vezes, provocada pela fumaça cinza do crack ao sair dos cachimbos. Segundo Vilma Jorge, voluntária da ONG Poços de Luz, que há sete anos atua na ajuda aos familiares e dependentes químicos da cidade, o número de atendimentos relacionados ao crack aumenta assustadoramente a cada dia. Dos 259 casos que estão em atendimento na ONG, 233 são por dependência ao crack, ou seja, quase 90% das pessoas que procuram atendimento, são viciadas nas pedras. “Em Poços de Caldas o número de atendimentos por crack está crescente. Dia a dia temos novos casos. Todos os dias nos chegam casos de mães e familiares que vêm nos procurar para atendimento de desintoxicação, de internação, mas temos uma dificuldade muito grande com relação à internação por conta de vagas e do lado financeiro, porque não existe clínica gratuita. Todas as clínicas trabalham por pagamento. São clínicas geralmente fora de domicílio, que são aconselhadas para este tipo de tratamento”, afirma a voluntária. Para ajudar, a ONG tem parcerias com clínicas do interior de São Paulo e algumas no sul de Minas Gerais, que trabalham com preços mais acessíveis, visto que as pessoas que procuram a ajuda são de um poder aquisitivo mais baixo. Dos 233 atendimentos, 93 dizem respeito a menores de idade. Ela ressalta, também, que o ponto comum entre as pessoas afetadas pelo crack é a desestruturalização familiar. De acordo com a experiência adquirida na ONG, uma alternativa para reduzir o envolvimento, cada vez mais frequente das pessoas com o crack, seriam atitudes positivas do poder Executivo e também do Legislativo, Estatística 377 principalmente em um atendimento específico para o dependente químico. “Quando vamos à Secretaria Municipal de Assistência Social, encontramos sempre um ‘não’. Temos apenas um atendimento paliativo, emergencial, no Hospital Santa Lúcia. Se a cidade tivesse mais clínicas, seria importante, visto que a estimativa levantada revela que 30% dos habitantes poços-caldenses são usuários de drogas e é um número muito alto”, acredita Vilma. Embora a ONG trabalhe no sentido de reverter o número de dependentes químicos, a tarefa não é fácil. O tempo mínimo de internação aconselhável é de seis meses, porém, há pacientes que ficam por mais tempo. No entanto, para a organização, uma oportunidade de melhora no quadro, seria evitar o preconceito enviado por todas as camadas da sociedade. “Geralmente, a sociedade vê o dependente químico como um criminoso, um vagabundo, um ladrão. Eles se esquecem que aquela pessoa tem uma mãe, uma família, filhos. Poços de Caldas está em um estágio que pede socorro. Estamos travando uma luta que não temos como vencer sozinhos. Precisamos de apoio”, pede, em apelo, não somente de uma voluntária do apoio aos viciados em crack, mas de toda a sociedade, que assiste à degradação dos seres humanos que resolvem trilhar o caminho das pedras. A matéria teve boa repercussão e os jovens que faziam parte das oficinas, não apenas no bairro onde morava, como em outros, passaram a refletir mais sobre o problema. Porém, o objetivo não era fazer com que a pessoa que já vivenciava isso tivesse consciência, mas abrir para uma discussão mais ampla, com sugestões. Pode parecer pouco, entretanto, tinha plena visão de que o hip-hop atrelado com a literatura, quando levados a sério, promoviam mudanças e não deixavam que os jovens cruzassem a linha invisível entre o caminho do bem e o mundo do crime. 380 Traficando conhecimento A sugestão de leitura do livro “Crack – O Caminho das pedras” feito pelo jornalista, já falecido, Marco Antônio Uchôa também pode ser trabalhado e difundido entre os jovens, que pareciam poucos, mas que, como multiplicadores de informações positivas, eram muitos. Assim, poderia parecer clichê ou repetição, mas achei necessário falar sobre o problema e surgiu o texto da matéria no Jornal Mantiqueira, onde estreava minha temporada com a estatística. Envolvimento de menores com o tráfico aumentou 277% no último ano Levantamento feito pela Polícia Militar mostra o aumento significativo de crianças e adolescentes que se envolveram com o comércio de drogas em 2008. Jéssica Balbino Poços de Caldas (MG) – Repetitivo, porém assustador, o número de crianças e adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas aumenta diariamente e sem mecanismos de recuperação ou punição se torna impossível contê-los. São comuns cenas de adolescentes, recém-saídos da infância, com idades entre 12 e 13 anos, cometendo pequenos furtos para sustentar vícios ou ainda servindo de base e de “laranjas” para o tráfico de drogas. Todos os dias a Polícia Militar registra diversas ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes e de acordo com um levantamento, de janeiro a novembro de 2008, 34 menores foram apreendidos por tráfico de drogas. Em um comparativo com o mesmo período do ano de 2007, apenas nove menores foram apreendidos, ou seja, houve um aumento de 277,78% nos casos. Segundo a ONG Poços de Luz, 93 adolescentes aguardam tratamento para desintoxicação. Já a delegacia de Tóxicos e Entorpecentes da 25ª Delegacia Regional de Segu- Estatística 381 rança Pública, chefiada pelo delegado Carlos Eduardo Galhardi Di Tommaso, recebe em média três denúncias por dia relacionadas ao tráfico de drogas. O último levantamento feito pela Polícia Civil em 2008 aponta que 14 adolescentes foram autuados por envolvimento direto com o tráfico e que tiveram 83 ocorrências de menores que fazem uso de drogas. Além dos adolescentes, no último ano, um menino de 11 anos foi conduzido pela Polícia Militar até a 25ª DRSP, por estar com drogas dentro de um saquinho de salgadinho na Cadeia Pública, acompanhado pela mãe, que para fugir do flagrante, fez com que o filho segurasse a droga. O menor, conforme manda a lei, foi encaminhado a programas de apoio através do Conselho Tutelar. “O que percebemos dos adolescentes é que eles são facilmente seduzidos pelas pessoas mais velhas a fim de ganharem um dinheiro fácil e terem acesso a algumas mordomias, ou bens de consumo, que a mídia expõe como coisas muito interessantes e, então, eles acabam acreditando que tem de ter de qualquer forma, daí o tráfico”, avalia Tommaso, delegado de Tóxicos e Entorpecentes. Motivo Para o delegado, como os pais geralmente não têm condições de entregar aos filhos os bens materiais que eles almejam, como camisetas, bonés e eletroeletrônicos, eles terminam seduzidos pelos traficantes mais velhos. “Essas crianças costumam ficar sozinhas o dia todo, sem muitos cuidados e os traficantes, mais velhos, sabem da dificuldade da polícia em apreender esses menores e mantê-los presos então utilizam, com cada vez mais frequência, a mão de obra destes adolescentes para realizar o tráfico”, acrescenta. A psicóloga Mariângela Moura Santos tem a mesma visão e acredita que o nível cultural e social dessas crianças é muito ruim. “São crianças muito carentes, sem refe- 382 Traficando conhecimento rencial paterno positivo, sem referencial materno e que começam muito cedo na rua, se agrupam com outras crianças entram muito precocemente nas drogas, sendo influenciadas por adultos muito cedo”, comenta. Por não existir um centro de reabilitação em Poços de Caldas, o envolvimento dos menores no tráfico fica favorecido e de certa forma, impune. “Quando a Lei dispõe de forma tão diversa da censura aos menores, tem como objetivo a ressocialização, independentemente da imposição de uma pena. Só que, para isso, é preciso de uma estrutura que corresponda a essa expectativa de reestruturar a pessoa e a maioria das cidades não tem isso. Nós observamos que não podemos prender estas crianças e adolescentes, então eles retornam para as ruas e repetem o ato infracional”, queixa-se o delegado. De acordo com a psicóloga, tal comportamento por parte dos menores pode ser atribuído a uma psicopatologia chamada delinquência. “Ao contrário do que as pessoas pensam, a delinquência não é apenas um comportamento, é também um desvio de caráter considerada uma doença como esquizofrenia ou psicose e ela faz com que os jovens e adolescentes busquem esta vida mais fácil e isso, somado às influências familiares, contribui para o ingresso destes menores no tráfico”, explica. Mariângela compartilha ainda da mesma opinião que Tommaso em relação à influência da mídia no comportamento dos jovens que ingressam no tráfico.“Acredito na influência social na questão do ter. Isso contribui, além da falta de instrução e de carinho”, diz a psicóloga. Procedimento A máxima punição aos menores envolvidos com o tráfico de drogas é a internação em algum estabelecimento de reintegração social, no entanto, como a cidade não possui um, em geral, quando os adolescentes são apreendidos, há Estatística 383 o auto da apreensão em flagrante. Mas, geralmente, eles são postos em liberdade aos cuidados dos familiares, para que respondam um processo na Vara da Infância e Juventude por aquele ato infracional. “Via de regra, mesmo após aplicação de reprimenda final que no máximo é o encaminhamento a uma instituição de recuperação, estes jovens são orientados a prestar algum serviço comunitário ou encaminhados a alguma outra instituição para que sejam atendimentos por psicólogos, mas não sofrem nenhuma repressão mais intensa”, enfatiza Tommaso. Questionado sobre o fato de terem crianças apreendidas em razão do tráfico, ele esclarece que os menores de 12 anos não deveriam sequer ser levados à Delegacia e a Polícia, e que nesses casos, não se pode fazer nada.“A única coisa que se faz é não constranger, de maneira nenhuma a criança e não tomar nenhuma medida policial. Apenas contatar, imediatamente, os familiares e na impossibilidade de contato, o Conselho Tutelar”, revela. Opção Para reverter o quadro cada vez mais alarmante, Mariângela pensa que um trabalho social e de conscientização feito com as crianças, os adolescentes e os pais poderia ser uma opção. “É um caso complexo. Uma falta de tudo. Precisaríamos de um trabalho muito benfeito que envolva saneamento básico, alimentação, escola e educação. Talvez instituições que fazem estes trabalhos podem ter algum resultado”, diz. Tommaso acredita que locais para recepção destes menores pode ser uma opção de ressocialização e que talvez reverta o quadro: “Um local para que eles ficassem mais ocupados, fossem reeducados e que não fossem novamente presas fáceis aos traficantes mais velhos. Em relação às crianças, eu não sou um defensor da redução da maioridade penal. As pessoas jovens mesmo não tem essa capacidade de discernimento, de 384 Traficando conhecimento escolha. Elas são realmente seduzidas. Em vez de ficar tanto tempo discutindo esta redução, podia voltar as energias para o desenvolvimento de um plano de recepção desses adolescentes para tentar a ressocialização da forma que a lei de execução penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) promovem”, enfatiza. Como conselho, o delegado pede aos pais para que fiquem atentos ao comportamento dos filhos. “Não devem deixálos muito tempo sozinhos na rua porque é uma idade que precisa de uma autoafirmação grande e que às vezes se o pai não está por perto, está um pouco descuidado e os traficantes chegam, outras pessoas chegam, conseguem convencê-lo a andar por um caminho errado”, finaliza. Com o balanço feito e opiniões como a da psicóloga e do delegado, a ênfase em locais onde os jovens ficassem ocupados e passassem a pensar por si era uma das alternativas para a redução do envolvimento com o tráfico. Estatística 385 Estatística Literatura, pedras e sementes Um espaço quase centenário. A precariedade contrasta com as cores repintadas nas paredes usando a técnica do grafite. A história dos bailes e do culto aos antepassados negros é presente por meio de quadros, recortes de jornais e da energia que emana do galpão adaptado para receber jovens e crianças em situação de risco. O nome é Chico Rei e a simples menção remete a bailes realizados na cidade quando a estância ainda recebia inúmeros turistas para a lua de mel e o espaço se dedicava a receber a periferia. Transforma-se, atualmente, em Centro Cultural Afro Brasileiro Chico Rei. Como um resgate, arte-educadores propõe oficinas durante todo o período da tarde a alguns jovens moradores da região. Um resgate de autoestima, de cidadania, de consciência. Com um trabalho feito pelos próprios jovens, toda fachada do galpão foi redecorada com tintas coloridas e grafites, sempre em alusão às oficinas de hip-hop. Com aparelhagem de som, pickups e muita rima, o rapper Job passou a ministrar oficinas para a garotada. Com uma visita, pude conferir o local, o que estava sendo passado e de forma breve um pouco do 5º elemento – conhecimento – lhes foi passado por meio de audiovisual e da literatura. 386 387 388 Traficando conhecimento Estatística 389 392 Traficando conhecimento Não há dados científicos ou computados quanto aos resultados, mas o fato é que, por meio de uma pesquisa empírica com a arte-educadores e instituições que, de alguma maneira, nos últimos dois anos tinha trabalhado com hip-hop ou literatura, mais de 1000 jovens já tinham passado de oficinas itinerantes, onde também estive presente com textos da literatura marginal, ora feitos por mim, ora feitos por estudantes e, também, do cenário nacional. Com lares desfeitos ou abalados pelo crack, por pais adictos, familiares dependentes do álcool, todos os jovens integrantes do projeto Chico Rei são vitimas do desemprego, da humilhação e da falta de saúde e educação. Com a mesa desfeita e a barriga vazia, grande parte estava ali, inicialmente, para receber o lanche oferecido pelos responsáveis pelo programa que mais do que o estômago, encheu a alma. Completaram-na com sonhos, com palavras, com arte, cultura e poesia. Em pouco tempo estavam apegados aos livros e com o senso crítico fortalecido. Minha visita aconteceu em uma tarde em que pude fugir do jornal. Com trabalhos feitos a partir de notícias ocorridas no próprio bairro deles envolvendo polícia e, não raras vezes, pessoa conhecidas, eles aprenderam a gostar de ler o jornal e entender a importância de estar por dentro dos acontecimentos da cidade. Com iPods, MP3 e outros tocadores de músicas, eles mostram, entre si, durante o intervalo, raps nacionais novos e, quando pergunto algumas coisas básicas sobre o conhecimento do hip-hop, eles não hesitam em me responder sobre a origem dos ritmos, da dança e da música. Pergunto quanto à produção literária e a coordenadora do projeto mostra algo escrito por eles. A volta do intervalo acontece quando eles podem assistir um filme exibido num telão conseguido para o centro cultural. Estatística 393 O filme trata, também, sobre as origens e os antepassados, tema que os adolescentes passam a respeitar desde que ingressaram no projeto. Por meio de incentivos assim, muitos que eram ausentes na escola voltaram a frequentar a sala de aula pela manhã, com melhora no comportamento, na concentração e nas notas. Sou convidada para um dia específico levar um pouco das oficinas até eles. Combino e marcamos uma noite. Chego e o clima de sarau toma conta do ambiente. Os garotos chegam e o acontecimento – ficar horas longe de casa, da televisão e não estar fazendo algo reprovável, é quase inédito – os mobiliza a ajudarem a arrumar cadeiras, mesa e telão. Aos poucos o salão lota. Mães, pais, avós e vizinhas. Muitos vêm saber o que vai acontecer ali. Abro uma pasta e retiro um caderno do Jornal Mantiqueira. O que estou trabalhando atualmente e que me permite, vez ou outra, publicar textos de amigos da literatura marginal. Começo a ler o texto e só depois que termino, explico. A presença da mulher na sociedade de hoje Por Renato Vital Qual seria sua reação, ao se deparar com uma mulher dirigindo um ônibus há vinte anos atrás? Muitas pessoas ficariam, no mínimo, assustadas com a cena, por não se tratar na época de um fato comum. Ao compreender o assunto, podemos notar a evolução das mulheres na sociedade e no mercado de trabalho. Pois, hoje em dia, é normal nos depararmos com mulheres ao volante, mulheres escritoras, jornalistas, policiais, bombeiras, médicas, jogadores de futebol etc. Especialistas afirmam que elas se destacam por serem ágeis, organizadas, sensíveis e detalhistas. Outras pessoas dizem apenas que essa evolução feminina se deve 394 Traficando conhecimento pelo quesito boa aparência. Quer dizer que as empresas, em vez de contratarem mão de obra masculina, utilizamse da beleza e exuberância da mulher, afim de causar boa impressão em seus clientes, sócios, associados etc. Mas as mulheres, por sua vez, alegam que a presença maciça no mercado de trabalho foi causada pelas diversas manifestações e piquetes, que aconteceram no decorrer dos anos. Como sabemos elas conseguiram, na base de lutas e conquistas, os direitos de voto, atendimento especial nos hospitais e postos de saúde, a Lei Maria da Penha (que as protege da violência machista), entre outras. Podemos dizer que a ousadia delas é, na grande maioria dos casos, motivo pelo qual ocupam esse espaço na sociedade, que, em alguns anos, poderá ser ainda maior. É uma pena que muitas consigam destaque apenas com apelo sexual, ao posarem nuas em revistas masculinas ou mostrarem o corpo de maneira explícita na televisão, em variados programas (muitos deles dominicais). É lamentável, também, que muitas delas confundam: “espaço e direitos iguais” com “liberdade sexual e desvalorização ideológica e de seus próprios corpos”, como acompanhamos em bailes funks entre outras festas de apelação sexual feminina. É bom nos apegarmos aos bons exemplos de mulheres de coragem e firmeza, para que possamos assimilar bem essa evolução, pois daqui há alguns anos, será comum irmos a um estádio de futebol e assistir a jogos de futebol feminino. Escrito pelo rapper e escritor Renato Vital, da Zona Sul de São Paulo, o texto traz muito do que vivemos aqui, onde todos andam sujos, como a mente da sociedade, e trazem — ora no corpo, ora na alma — sequelas de uma vida miserável. Comento como é possível se expressar por meio da literatura periférica e como isso pode chegar a um veículo de comunicação. Conto que convidei o jovem de pouco mais de 20 anos, funcionário de um Estatística 395 supermercado e que passa os mesmos venenos diários que todos nós a publicar o texto no jornal. Mostro que não apenas o Jornal Mantiqueira tem este espaço, como todos da cidade podem abrir a coluna Opinião ou Espaço do Leitor para que jovens, adultos e idosos publiquem o que pensam sobre tudo que os leva a refletir. Ato contínuo, leio outro texto de Vital, também publicado no jornal. Não aponta o dedo Por Renato Vital Madrugada fria, e não tem desculpa, não tem choro, não tem pelo amor de Deus, ou levanta para trabalhar ou vai se ver com o patrão. O patrão também acorda cedo, se ele, que é patrão, levantou cedo, você não pode fazer diferente. O trabalhador não tem escolha, o patrão às vezes também não tem escolha, o presidente, muitas vezes, não tem escolha, e quem escolhe então? O patrão acorda cedo, porque sabe que tem pagar os funcionários, ele sabe que tem que pagar imposto, ele sabe que se não pagar as contas os agiotas vão ligar para ele, o patrão sabe que precisa vender, o patrão às vezes não queria, mas é obrigado a pagar pouco, porque é pouco que lhe sobra, mas, muitas vezes, o patrão também fica com a parte mais gorda do lucro. O empregado sai de casa todo dia, rumo ao trabalho, seu descanso é temporário, o tempo menor, talvez o sábado e domingo, ou só o domingo, ou uma folga por semana, ou cinco folgas por mês. Hora extra quase não existe mais, é só banco de horas, tudo controlado pelo sindicato. O patrão chega em casa e liga a televisão, o empregado chega em casa e liga a televisão, um assiste futebol, o outro também, o empregado pega sua camisa pirata do time do coração, o patrão pega sua camisa oficial do time do coração, mas que comprou na promoção. Ninguém aponta o 396 Traficando conhecimento dedo para ninguém, no mundo social assim é melhor, na sociedade em que vivemos nada se pode apontar, nem o lápis que o menino não quer usar, o futebol é mais atraente que a prova de matemática. Na televisão algumas pessoas são apontadas como culpadas, temos obras superfaturadas, temos “big luxo”, casas na praia, a propaganda de turismo pro empregado soou como piada, enquanto a mulher do patrão interrogou o esposo: Pra qual praia vamos no próximo recesso? O patrão pensa sozinho “Não vou para praia, se julho for lucrativo”. A patroa adivinha o pensamento do patrão e solta uma exclamação: “Pensando em trabalhar nas férias de novo? Não cansa não?”. O patrão tenta dizer algo, mas é novamente abduzido pela propaganda que mostra cerveja e praia. Quem abre livros para ler no país do carnaval? O patrão se preocupa com o lucro, o empregado com o salário no fim do mês, e o livro fica dando sopa para quem? Algum estudante quer saber de Dante, enquanto mal sabe da sua origem? Os livros vão se empoeirando em alguma estante, empregaram o espanador e o aspirador de pó e só, ou será que eles, um dia, vão ser percorridos, com suas páginas já amareladas, mas que trazem palavras claras e precisas sobre o mundo que vivemos? Deixa para lá. Se alguém apontar o dedo, dedos serão apontados, mas o que a gente sabe é que o lucro virá novamente e as contas, também, e o empregado ficará com o quê? Não sei lhe dizer! Com estes exemplos reais e palpáveis, ouvi as colocações dos jovens sobre os textos e deixei em aberto para que eles me apresentassem os feitos por eles mesmos. Apenas dois jovens se manifestaram e leram redações escritas por eles. Recusaram-se a usar a frente da sala e de onde estavam, engasgando, disseram um pouco daquilo que pensavam por meio do que fora anotado algum tempo antes. Estatística 397 Para não deixar cansativo, no telão, exibi o documentário “Hip-Hop: A Revolução que vem das ruas”, produzido pela jornalista Érica Guimarães, em 2007, pela Unip de Campinas. Sem narração, os próprios personagens contam a história desta cultura e conforme o Zulu King, Nino Brown – representante da Zulu Nation no Brasil – define, não há hip-hop sem conhecimento, sem saber dos antepassados, sem voltar no tempo e percorrer as próprias raízes, sem a leitura e sem a escrita. Nos olhos dos garotos que queriam tudo e não tinham quase nada, pude ver um rastro de esperança, rondando aquelas pequenas mentes com corpos tão sofridos. Senti, novamente, que algo havia mudado. Entretanto, a maior transformação acontecia dentro de mim, que não deixava uma escola, um centro cultural, uma quebrada, sem ter lágrimas nos olhos por ter plantado, mesmo que bem pequena, a sementinha do conhecimento na vida de crianças e adolescentes que até então só tinham recebido as pedras da ignorância. 398 Traficando conhecimento Estatística 399 Estatística Do verbo produzir Mudar de emprego foi a melhor opção feita por mim desde que ingressei na vida “dos que tem carteira assinada”. Estava ganhando a mesma coisa, entretanto, havia deixado o tronco e as chibatadas para a liberdade de produção e qualidade de textos. Profissionalmente o salto foi incrível. Ingressei em um jornal maior, com mais estrutura, onde posso aprender, até hoje, diariamente, as artimanhas do fechamento, da edição e do direcionamento das matérias. Tenho ainda mais espaço para divulgar os eventos de hip-hop, os escritores, os movimentos literários Brasil afora e, ainda, a coluna das opiniões, onde vários amigos já puderam participar com textos e crônicas da literatura marginal. Sem ser obrigada a produzir inúmeras matérias por dia – incumbida de fazer apenas uma, desde que fosse boa – pude pensar mais no que poderia fazer em relação às oficinas, em relação à própria vida, além de ter mais tempo para ler e assistir documentários e filmes relacionados com a periferia. A ideia antiga de trabalhar, antropologicamente, a literatura produzida nos guetos voltou à mente e mais uma vez, com ajuda de amigos e através da internet, entrei em contato com vários autores e comecei um trabalho 400 401 de pesquisa, que sei, ainda vai levar anos, até que seja admitida em um mestrado de comunicação e possa trabalhar a produção literária vinda das quebradas. Através de questionários, muitos escritores e afins da literatura, frequentadores de saraus e agitadores culturais me contaram mais sobre o universo e toparam fazer parte da pesquisa. Sem parar, me lancei novamente em oficinas, desta vez em outras regiões e sem a obrigatoriedade de ser com estudantes. Bastava que quem estivesse a fim aparecesse, até porque quem não quisesse não iria se dispor a receber dicas de livros, textos e filmes. Jovens apegados aos livros para o fortalecimento do senso crítico. Esse era meu objetivo com as oficinas. Fazer com que eles parassem de achar que porque eram pobres, muitos deles negros e moradores da periferia não tinham muito alimento nas mesas, precisavam ser acomodados e conformados com a existência de miséria que o sistema nos oferece. Como exemplo, passei a usar a minha própria vida e trajetória. Encontrar um emprego não é fácil. Ganhar bem é o mesmo que acertar seis números na loteria. Mas frequentar, mesmo firme, a escola pendenga. Comer, mesmo fria, a marmita amassada e procurar, mesmo com uma enorme coleção de nãos. Nunca desisti de me encontrar e continuava, de alguma forma, lutando por aquilo que acredito. Não é pecado ter a barriga vazia, mas a mente sem ideologia é quase um crime, se não te leva para o mundo do mesmo. A minha pequena trajetória passou a ser exemplo, citada com a de outros parceiros que também tiveram caminhos parecidos, mas que sempre foram firmes ao dizer não para os convites às drogas e sim para o convite às leituras. Dispor ideais escritos por mim nem sempre era uma tarefa fácil. Muitos passavam para uma fase 402 Traficando conhecimento comparativa do tipo: “Mas na sua casa tem tal coisa. Mas você pode fazer tal coisa. Mas você tem apoio”. Optei, então, por usar e casar, textos e relatos meus com os de outros escritores que tem a mesma situação. Pareceu funcionar e, através de blogs e mesmo do orkut, que não gosto, mas acho uma ferramenta de inserção e até mesmo de divulgação, os jovens, e até as garotas, que, como nas crews, passaram a aparecer um tempo depois, formaram uma integração e listas de discussões sobre os textos. Citar MV Bill e Racionais MCs, rapper e grupo dos quais todos tinham bastante afinidade por conta das letras também se tornou uma ferramenta importante, até porque, ambos já participaram de saraus, livros, prefácios e tudo mais. A literatura e a leitura, até então vistas como chatas, se tornavam coisas importantes porque os “espelhos” também estavam praticando. Algo que sempre fiz questão de ressaltar foi um pouco da vida e luta dos meus pais. Aposentado no ramo da metalurgia, meu pai começou a trabalhar aos seis anos, quando levava marmitas, vendia bucha de aço na feira e ajudava os pais com o orçamento doméstico. Nas horas vagas, catava balas de goma descartadas ao lado de uma fábrica. Nunca teve qualquer luxo. Estudou até o 4º ano primário e fez de tudo para me dar estudo. Sempre gostou de ler, fazer palavras cruzadas e tem uma mente incomum para resolver problemas e praticar a honestidade. Enfrentou problemas na capital paulista como qualquer pessoa pobre enfrenta. Hoje, continua vivendo em um local pobre, não tem plano de saúde e com diversos problemas, enfrenta horas para ser atendido. Já minha mãe cresceu sem mãe. Criada pela avó analfabeta até os 13 anos, ficou sozinha no mundo. Também trabalha desde os 6 anos. Passou fome. Comeu restos Estatística 403 de lixo para encher a barriga. Orgulha-se de nunca ter usado drogas e de ter parado de fumar, vício que adquiriu por achar “chique”, ainda adolescente. Cuidou/cuida dos familiares, até hoje. Tentou a sorte em São Paulo no ramo da metalurgia, vivendo no caos do transporte público, nas horas intermináveis trabalhando feito máquina e botando brioche na mesa do patrão, retornou a Poços e nem tanta coisa mudou. Assim como meu pai, cursou até o 4° ano primário e, nas horas vagas, quando termina de cuidar da casa e preparar a minha marmita, se senta e lê tudo que encontra pela frente. Diante das pequenas passagens, que faço questão de contar para que todos os jovens saibam que as dificuldades existem na vida de todo mundo e que os caminhos somos nós mesmos que traçamos. Basta termos força de vontade e discernimento para mudar a própria periferia e as oficinas caminham de forma mais produtiva. Por falar em produção, após dois anos de trabalho com as oficinas, somente quando elas se tornaram itinerantes e através da internet foi possível ver o empenho e desejo dos garotos em produzir textos. Com o ingresso de garotas nas oficinas e encontros, a produção ficou ainda maior. Não sei se são mais sensíveis, mas o fato é que passaram a escrever ainda mais. Muitos questionam, perguntam, especulam: “O que pode virar conto, texto, notícia?” Respondo que as cenas inéditas no papel e cansativas na vida são ótimos começos: a goteira que pinga na cama, o vizinho que ninguém quer ter, o invisível que ninguém quer ver, o mendigo que todos tropeçam e as crianças que já não sorriem. O pessoal quer saber se relatar a própria vida funciona... Não existe fórmula e, pelo fato da literatura estar às margens, tudo vale. 404 Traficando conhecimento Alguns, que já desistiram da escola, passam a ler bastante e pensando em escrever, ignoram o analfabetismo e pensando bem, ler e escrever são brindes em um país de estatísticas. O último levantamento feito pela Secretaria de Promoção Social mostra que a cidade tem cerca de 500 analfabetos. Menos de 1% da população. E esta é mais uma estatística, que me inspira um texto. Bem real: Invisibilidade Por Jéssica Balbino O cheiro da sujeira misturada com a pobreza é insuportável. Permanecer poucos minutos nos dois cômodos da casa é sufocante. As garrafas pet, sapatos velhos, pedaços de madeira, de ferro e muito papel ficam empilhados e obstruem a passagem para os demais cômodos e dão à casa um aspecto de aterro sanitário. Quando é questionada sobre o porquê de tanta sujeira acumulada, ela tenta se defender e, enrolando a língua, tropeçando nas palavras, diz que não vai se desfazer de “suas coisas”, que, para quem observa do lado de fora (tanto da casa como daquele mundo), não passa de um monte de lixo e um convite para focos de dengue. É quase incompreensível o que ela quer dizer. Ela é surda. E, por ter nascido assim, não aprendeu a se comunicar. Por causa disso é analfabeta e, dentro desta situação, se transforma em mais uma estatística. Ou em muitas. Brasileiros que recebem benefício por incapacidade de trabalhar. Brasileiros que vivem em situação de risco. Brasileiros que são completamente analfabetos. Brasileiros que ganham apenas um salário mínimo. Brasileiros que pagam aluguel. Brasileiros que não podem se alimentar de forma decente. Que vivem sem higiene. Que tem problemas mentais. Que se transformam em mais um ou são divididos em vários, por categorias, deixando de pensar, sentir e, até mesmo, de existir. Vira apenas um número. Estatística 405 Transforma-se em uma pessoa inválida de guerra, mas é uma guerra urbana e social, que deixa sequelas de variados tipos. Ela se transforma em uma aleijada, tipo aqueles que se arrastam pelas ruas da cidade com seus passos incertos queixando-se dos muros invisíveis, que os impedem de serem pessoas – seres humanos. A maior tristeza que me invade repentinamente, várias vezes ao dia, é a lembrança de vê-la olhando o jornal e tentando compreender quais eram as notícias que aquelas folhas impressas com letras, fotografias e infográficos traziam e que, para ela, fazia parte de um mundo ainda mais distante. Entristeço-me cada vez que lembro de como deve ser duro o dia a dia de quem não entende as letras. Penso que seria, então, um desperdício não incentivar a leitura daqueles que podem ler e não o fazem. Todas as vezes que me deparo com esta realidade, lembro-me da história contada por meu pai. Cheio de emoção e, também, de angústia ele sempre relata que a mãe dele – a avó que não tive a oportunidade de conhecer – certo dia estava folheando uma revista de cabeça para baixo. “Foi duro ver aquilo”, ele sempre comenta, quando conta a passagem. E voltando à dona de toda a bagunça – lixo – acumulada em uma pequena casa, por se encaixar em tantas estatísticas e ao mesmo tempo ficar do lado de fora dos padrões impostos pela sociedade, foi despejada do local onde vive sem direito à defesa. Foi atropelada. Não há quem queira cuidar até que ela se recupere. Nunca fez mal para ninguém. Nunca teve desejo de riquezas materiais. Nunca desejou ter mais do que tinha. Nunca conseguiu expressar sua indignação diante de um mundo “injusto”, que escraviza quem já nasce condenado, por nascer no meio de pobres e da pobreza. Nunca conseguiu construir uma identidade. Nunca conseguiu comer carne todos os dias. Nunca conseguiu se desgarrar da cultura 406 Traficando conhecimento negra, como foi ensinada – embora sempre tenha sido loira de olhos claros – nunca conseguiu se “divertir” da forma como dita a sociedade. Nunca conseguiu ser “alguém” e, mesmo sendo taxada a vida toda como “ninguém”, teve quem chorasse quando a notícia chegou: ela seria internada em um hospício. Não, nunca foi louca. Apenas surda e analfabeta. Quando foi comunicada, não conseguiu dizer o que pensava, apenas repetia, da mesma forma enrolada de sempre: “Não quero ir. Não quero.” Mas, novamente, a invisibilidade social fez com que as palavras, desejos e vontades dela não fossem respeitados. Todos decidiram o que para eles, seria melhor para ela, sem saber que ela era feliz da maneira como vivia. Antes de se despedir, pediu que quem estivesse chorando enxugasse as lágrimas, prometeu ficar bem e finalizou: “Deus é grande.” Saiu e continuou invisível. Todos seguiram suas vidas. Ah, a propósito, ela tem um nome, embora nem todos se recordem ou se dirijam a ela da mesma maneira. Geralda Dionésia de Jesus1. E ainda acredita neste último, embora pareça que ele não acredita muito nela. Continua analfabeta. O fato de, como no Chico Rei, inserir outros elementos do hip-hop nas aulas e oficinas só foi positivo para a evolução. Entre uma oficina e outra, a produção literária só foi crescendo e em comunidades, orkut e blogs é que os jovens passaram a divulgar os próprios textos. As garotas tratavam de sentimentos, de letras de músicas, de histórias de amor. Os garotos de descaso, de problemas sociais, da própria vida. Atitude, assim eles autodefiniam o trabalho que estavam fazendo. E assim, realmente, é! Muitos voltaram a estudar, trocaram as horas de bar e sinuca pelo cinema, pela música, pelos ensaios, pela produção de novas bases. 1 Texto escrito poucos dias antes de Geralda falecer de forma misteriosa, em um hospital, sozinha, em uma cidade vizinha. Foi enterrada com marcas roxas no pescoço e sem laudo médico. Estatística 407 Estatística Sem parada O bonde não para. Esta é uma das frases preferidas de quem está inserido no hip-hop. Trata-se da letra de uma música de MV Bill que é usada com muita frequência para aludir que, quem está do lado de dentro da cultura marginal, não pode estacionar. 409 Durante o mesmo período, na capital mineira, onde o rap ainda é o elemento mais forte da cultura hip-hop, devagar, o conhecimento foi tomando espaço e em tempo simultâneo o grupo Elemento.S, que, em 2007, havia pedido para gravar um texto como música, participou de um sarau no Palácio das Artes. O evento conhecido como Terças Poéticas, pela primeira vez, reuniu grupos de rap e empurrou a Literatura Marginal elite adentro. Bruno, conhecido como MC Budog, se uniu aos integrantes Pquena e Rapper Julim e, com roupas em alusão aos mendigos, leram e encenaram o texto “Olhar para o hip-hop que ...”, publicado no “Suburbano Convicto”. Estar em movimento significa fazer algo em prol da própria quebrada. Mudar a realidade que contorna os problemas enfrentados na periferia. Há nove anos na estrada o grupo UClanos, os tios do hip-hop, conseguiram, por meio de uma audição realizada em Poços, participar do programa Astros, do SBT, onde ficaram entre os três melhores grupos. Pois é, estávamos vencendo as barreiras geográficas e do sul do Estado, estava na capital, interagindo com a sociedade por meio de um texto escrito as pressas para ser a introdução do livro-reportagem do TCC. Bruno explicou que o CD estava em fase de produção e que, em breve, a música estaria pronta, mas fez questão de filmar a leitura do texto e colocar no youtube. Assim, mais uma vez, a internet ajudou na divulgação, nos incentivando a praticar o 5º elemento. Pela primeira vez conseguiram cobertura de todos os veículos locais e chamaram ainda mais atenção por serem um grupo de rap, estilo pouco apreciado em competições e, mesmo assim, terem alcançado uma boa colocação. Com as portas abertas por conta da participação, ficaram em primeiro lugar no Festival Rap Popular Brasileiro de Belo Horizonte, como em uma seletiva para o Festival Hutúz no Rio de Janeiro. Para fortalecer, não apenas o profissionalismo como a amizade, me apresentei como assessora de imprensa deles e todos ganhamos. Por ser um evento tradicional na capital, mais de 150 pessoas frequentam o sarau toda semana e saber que o texto chegou a todo este público foi um ponto bastante importante. Objetivos alcançados. Disseminação de conhecimento e de informação. Lembro do primeiro contato com o Bruno, quando ele pediu o livro, disse que o que estava escrito estava mudando a vida dele, que ele queria ler e conhecer, cada vez mais, sobre a própria história. Como um filme rápido, enquanto eu assistia a apresentação, repensava em toda trajetória e enfim, sorri realizada. 408 412 Traficando conhecimento Como uma maneira de fortalecer o trabalho, fiz uma matéria que consegui publicar no Mantiqueira e, também, no blog. Confira: Literatura Marginal entra pela porta da frente no Palácio das Artes em BH por Jéssica Balbino Na última semana o MC Budog, 25 anos, do grupo de rap mineiro Elemento .S participou do evento Terças Poéticas no Palácio das Artes em Belo Horizonte. Com os integrantes Pquena e Rapper Julim, o texto “Olhar para o hip-hop que...”, escrito por mim, do livro “Suburbano Convicto” foi lido pelo grupo, que caracterizados e em uma performance singular, fizeram uma cena impossível de deixar o público calado, ou alheio. Jéssica Balbino - Como funciona o evento? Budog - O evento se chama Terças Poéticas, é realizado todo ano nos jardins internos do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, local de grande nome e difícil acesso aos eventos da cultura hip-hop, mas graças a Deus e ao esforço dos artistas, as portas para a cultura estão se abrindo! Os artistas passam por uma seleção e tem um espaço para estar divulgando seu trabalho, lembrando que está é a primeira vez que a cultura marginal, ou melhor, a literatura marginal teve seu espaço e continuaremos batalhando para conquistar cada vez mais. Como disse a jornalista Janaina C. Melo (Mina Jana) e Ice band: “O hip-hop entrou nos jardins do palácio pela porta da frente, da próxima vez, estaremos no Teatro do Palácio e seremos convidados a entrar.” Jéssica Balbino - Foi a primeira vez que vocês participaram do evento? Budog - Sim. Através do rapper Ice Band e de sua esposa, a jornalista Mina Jana, que abriram esse espaço não só para o grupo Elemento. S, mas para vários artistas mos- Estatística 413 trarem sua literatura marginal como: Blitz (Crime Verbal), Leo (Comando Rap Mineiro), Arte Favela, Coletivo Voz, Gen (Retrato Radical), Black W, Kadu (S3M). E teve, também, uma apresentação do Artista “Novato”, um grande nome na literatura marginal em Minas Gerais. Jéssica Balbino - Como foi a performance feita pelo seu grupo? Budog - Olha, foi muito louca a performance, mas vou avaliar de uma forma geral. Seguinte, Ice band abriu o espaço para todos nós, como disse anteriormente, e em cima disso ele montou um único espetáculo com todos os grupos, vestidos como marginais. “Assim a sociedade julga, né? Apenas pela aparência.” Mas então, estávamos a maioria de touca cobrindo a face, outros de óculos escuros, jaqueta, alguns sem camisa, pois estava amarrada em seu rosto cobrindo toda a face. A ideia foi causar um impacto no público e mostrar que o marginal que eles julgam, também tem talento, e que não deve ser julgado pela aparência e sim, pelo caráter e pela sua atitude. Enfim, a performance, em geral, foi um sucesso, foi mil grau! Jéssica Balbino - Parece que rolou uma homenagem aos nomes da cultura hip-hop e literatura marginal que já se foram? Como foi? Budog - A apresentação foi um tributo feito aos artistas da cultura hip-hop que já se foram. Cada poeta ao finalizar a literatura, poesia, prestava a sua homenagem aos mesmos, vitimas do descaso, do sistema, do crime etc. “Acho que o motivo da morte não importa, são todos guerreiros.” Alguns citados foram: Anita Motta, Duke (Retrato Radical), Sabotagem, Alex F(Sistema Negro), Chacrinha(Decreto Verbal) e vários outros artistas importantes que, com certeza, estão no coração de todos nós! Jéssica Balbino - Como o público reagiu? Budog - Eu achei que o público iria reagir de uma forma preconceituosa, mas não! Fomos recebidos com palmas 414 Traficando conhecimento e bastante barulho. Ao final de cada literatura, o público aplaudia, alguns gritavam “Bravo! Bravo!” Por incrível que pareça, fomos muito bem recebidos no Palácio das Artes, alguns podem pensar assim ao ler essa entrevista: “Que bosta, no palácio das Artes, até parece!” Mas para todos nós é mais uma vitória, também para a cultura hip-hop, são mais portas se abrindo para a periferia e, com certeza, isso é muito importante. Jéssica Balbino - Como você avalia sua experiência? Budog – Nossa, sem palavras. Primeira vez que recito um poema, que participo deste tipo de evento apesar de já estar envolvido no rap que também é poesia, mas dessa forma sem beat, sem DJ, foi a primeira e confesso que gostei! Recitei, junto com meu parceiro Rapper Julim, a sua poesia “Olhar para o hip-hop que...”, eu a gravei com base, com melodia, mas recitar foi diferente. Comecei a recitar, aí, do nada, me deu uma vontade de falar cada vez mais alto, às vezes suspirava, falava mais baixo, é inexplicável, foi ótimo. Muito interessante! Jéssica Balbino – Tem algo que não foi perguntado, mas que você acha importante destacar? Budog - Agradeço à você, Jéssica, e também à Anita Motta (in memorian), pelo apoio e por ter confiado no nosso “trampo”, por ter cedido a sua literatura para gravarmos como introdução do nosso CD e por permitir que nós, do grupo Elemento. S, possamos recitá-la pelas ruas, palácios, periferias etc. Agradeço ao Centro de referência Hip-Hop Brasil pelo apoio e pela oportunidade e, ainda, à coordenação do evento Terças Poéticas. “Não julgue pela aparência, julgue pelo caráter.” Aos guerreiros in memorian: “Perde-se um homem na Terra, mas ganha-se um anjo no Céu.” Descansem em paz, sua missão foi cumprida!!! Sem parada, o contato firmado com grupo UClanos permite que eu vá a vários eventos e fique sempre próxima do público que trabalho em oficinas e encontros literários. Estatística 415 Como o projeto Cultura Marginal tem tudo a ver com a oralidade, o registro do 5º elemento em uma música foi ao encontro da ousadia de Suburbano, que fez questão de cantar a história do hip-hop e ainda teve a sensibilidade de me agradecer, sendo que eles é que sempre me ajudaram. “Obrigado Jéssica, pelo seu trabalho, com o hip-hop, meu pit stop, onde eu me abasteço (...)”, assim canta Suburbano na canção “É tudo nosso”, parte de um projeto, também do grupo. A Cultura Marginal em versos, de Poços para todo o país. Assim aconteceu a divulgação. Em uma outra música, cantando, o grupo defende a história do hip-hop e pede respeito. “Respeite o próximo, também é nosso, se você pode, eu também posso”, cantou durante o show do UClanos no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Escolhidos para abrir o show de MV Bill e Racionais MCs, o clã de suburbanos se deixa levar pela magia existente debaixo da lona do Circo Voador. É fácil ser sentida e vários grupos conseguem curtir os embalos da noite. A volta dos cabelos black marca o resgate da autoestima entre os afrodescendentes e a utilização de um espaço “nobre” no centro da cidade registra também uma nova fase da história da cultura hip-hop. “Soul, black, funk, afro... Sou da beleza negra”, assim o show é aberto na marcante voz de Lu, que, no palco, se transforma em Lu Afri e exibe, diferente de outras vezes, um penteado black power que lembra a força do movimento nos anos 1970. Pela fisionomia de todos, penso em como aquele momento é importante. Revejo, mentalmente, toda a trajetória do grupo, cheia de dificuldades, desencontros e, agora, uma vitória. Quando o Flávio, que no palco se transforma em Suburbano, exibindo inclusive o pseudônimo em uma tatuagem, pega o microfone Estatística 417 e faz questão de dizer que é muito satisfatório estar no Hutúz e, mais ainda, no Circo Voador, lembro que muitos artistas como Cazuza, Lobão, Capital Inicial e Legião Urbana começaram a carreira debaixo da lona, inicialmente, para 50 pessoas e posteriormente para 3000. Incrível. Assim pode ser descrita a cena do grupo sobre o palco, cantando o cotidiano poços-caldense para gente de todo país em um grande festival de rap. “Mesmo sem qualquer apoio do poder público ou da iniciativa privada da nossa cidade, estamos aqui hoje, cantando para vocês e é um orgulho muito grande”, fala Bebeto, que no palco transforma-se em MB2, ao microfone, lembrando como tem valor um microfone na mão de um MC. Assim pode ser notado pelos gritos da plateia e pela agitação. Deduzo que isso acontece porque todos têm histórias parecidas e vêm de periferias, que, como diz Mano Brown, são assim em todo lugar. Canto e danço ao som de rimas e refrãos que acompanho desde que conheço o hip-hop e que dizem tanto sobre mim como sobre qualquer pessoa que acompanha uma cultura popular. Todos os suburbanos que viajaram conosco estão envolvidos pela magia que é ver um grupo da nossa própria quebrada no palco do Circo Voador, entoando para o Rio de Janeiro o som produzido na periferia de Poços de Caldas. Paralelo ao show, b.boys dançam em um palco alternativo, outros grupos cantam e MC’s se confrontam em batalhas de rimas, lembram os primórdios, resgatam a ancestralidade afro e levam para todos os presentes o valor da cultura negra, dos quilombos. O meu estado é de euforia total. Superemocionada circulo por todo o espaço e me lembro que a prática oral de expressão acompanha a evolução da humanidade e que, naquele momento, estávamos todos vivendo a 418 Traficando conhecimento nossa história. No centro do Rio de Janeiro, um bairro boêmio, em um espaço consagrado artisticamente, raps da nossa realidade, pessoas próximas e o hip-hop puro transformam as atividades em paz. “Respeite o próximo, também é nosso, se você pode, eu também posso”, canto durante o show. Quando abro os olhos, após ter dançado sozinha e embalada na letra, me deparo com um garoto na minha frente. Sei que já vi o rosto dele em algum lugar, mas levo alguns segundos para me lembrar de onde o conheço. É ele. Parto para um abraço sincero e carinhoso, que parece de saudade. Mas, como podemos sentir saudade de alguém que nunca vimos pessoalmente? Nesse caso é normal. Trata-se de Bruno Eustáquio, conhecido como Budog MC. Importantíssimo na minha vida por ter gravado um texto meu como introdução do CD Demonstrativo do grupo Elemento.S, é uma grande satisfação encontrá-lo pessoalmente. Ganho um CD, com dedicatória, e uma homenagem para Anita Motta (em memória) no encarte do álbum. Fico extremamente feliz por saber que ele está distribuindo as cópias no Hutúz. Ele pede licença e se afasta para distribuir outras cópias. Afasto-me de choro sozinha. Feliz, completa, realizada. Neste instante, lembro e canto mentalmente “tua ausência fazendo silêncio em todo lugar”, música do Teatro Mágico que, embora não seja gravada sobre bases de rap, também mistura ritmo e poesia. Apesar de todo o som rolando, sinto o silêncio da ausência dela, que poderia estar ali, naquele momento, somando e curtindo conosco, se emocionando, também, por ouvir um texto transformado em música. A “conquista” surgiu naturalmente. Assim que Bruno leu, em um site, que eu era uma das autoras de um livro sobre Estatística 419 hip-hop, com textos sobre a periferia de Poços de Caldas, me pediu uma cópia, que, prontamente, lhe enviei por e-mail. Na época, em 2007, trocávamos e-mails quase diariamente, quando ele me dizia o que estava achando do livro e o mais emocionante, comentava que a literatura e o hip-hop estavam mudando a vida dele para melhor. Em determinado momento ele me pediu permissão para usar o texto de abertura do livro, que, posteriormente, foi usado em uma coletânea de textos de autores periféricos, para fazer a abertura do CD que ele preparava junto com o grupo. Permissão dada. Mais de um ano depois recebo via MSN um arquivo em mp3 com a música, que marca a introdução do álbum demo do grupo. Extasiada pela noite de hip-hop, só consigo chorar, quieta no meu canto, pois uma balada precedida por uma viagem de quase oito horas, um passeio pelo Rio de Janeiro histórico e um encontro com a essência da cultura nascida nas ruas e que faz parte do meu dia a dia periférico, é inesquecível. Um tempo depois, que não sei precisar quanto, enxugo as lágrimas, procuro o Bruno, agradeço de forma decente e recito, mentalmente, o texto, que foi escrito às pressas, em uma noite chuvosa do mês de outubro de 2006, quando precisava de algo como introdução para o livro e o diagramador precisava terminar aquele trabalho. Na sequência, me sento na escadaria que dá para o palco e apenas ouço o show do MV Bill e um trecho do show do Racionais MC’s, feliz pelo momento, pela conquista e pela experiência que posso levar para a minha quebrada e trabalhar lá, reunindo os elementos do hip-hop, que buscam congregar os perifericamente excluídos de todo país. Com a gravação da música, mais uma prática oral pode ser incorporada a oficinas e encontros com jovens. 420 Traficando conhecimento Resultados. Apresento-a como o resultado de um trabalho de tantos anos. Viver, conviver, me inspirar, escrever um texto, publicar, divulgar e posteriormente, vê-lo gravado como música. Quer orgulho maior? A quebrada de Poços de Caldas já tinha chegado em Belo Horizonte e, agora, estava invadindo o Rio de Janeiro. Com vários CDs demo na bolsa, Bruno distribuiu todos eles entre pessoas de diversas partes do Brasil. Mesmo sendo uma cópia demonstrativa fiquei absurdamente feliz por ver meu trabalho circulando. Fiz questão de reportar a gravação da música no jornal e, como os contatos são tudo na vida... A Kaká Soul, irmã de hip-hop, de TCC e de ideais, me pediu um texto para o marido dela, Alemão. Ele estava entrando em estúdio para gravar o CD Identidade e queria uma introdução. Saiu o texto abaixo, que entrou para o CD e desta vez circulou no centro-oeste brasileiro, na cidade de Goiânia (GO). Favela – Identidade Lá está ela, que vem, que fica. Conhecida por seus vários nomes. E pode ser gueto, arrabalde, subúrbio, periferia ou favela. É a cultura das ruas, do povo, surge nos locais mais pobres, através de rima em um estilo único, misturando formas, injustiças, cor, desigualdades, paz, dor, amor, guerra, personagens reais, diversão, miséria e união, assim vem a identidade da favela, do rap, do hip-hop... Um caldeirão de misturas e contrastes, que trazem uma identidade ilustrada por pessoas cercadas pela miséria combinadas com as batidas do rap, os discos arranhados dos Djs, os passos quebrados dos dançarinos, nos chãos Estatística 421 das favelas e o colorido do grafite, que vem, de alguma forma, colorir a vida periférica. Aí está a identidade dos excluídos, com suas expressões artísticas marcantes, que refletem as expressões desenvolvidas a cada dia, atrás da vontade de mudança que ecoa dos becos e vielas. A alma do povo que arde nos locais mais pobres, clamando por socorro, vem do lado negro e inferiorizado, batendo de frente com uma sociedade que se faz de morta para esta identidade que movimenta-se em seus contrastes a cada dia, fazendo vibrar o grito desesperado que vem dos guetos. Sonhos embalados com som de tiros e barulho de fome, roncando no estômago, registram a identidade, sofrida, da periferia. Seja onde for, marcada pelo tráfico, pelo medo e pelo desrespeito. Ritmada por letras de rap refletem a violência, as drogas e o domínio dos que se julgam mais forte. Através das misturas controversas, a favela encontrou no hip-hop um fio de luz que traz a vontade de viver, crescer, mudar e transformar o gueto num local mais humano, com uma identidade. Estatística Beatz Um pouco diferente e organizado por outras pessoas da cidade, um evento de hip-hop gospel foi organizado também na Zona Sul da cidade e, conforme uma das organizadoras detectou, o local foi escolhido por ter uma presença maior de adeptos e mais necessidade de formas de diversão. Assim, o evento acontece em uma noite de sábado, talvez mais uma noite qualquer, em uma periferia onde todas as noites são iguais. O que incomoda é o frio do final do mês de maio. O vento vem gelado, e, para os jovens se aquecerem e aguentar mais uma noite fora de casa, só mesmo o álcool em bebidas. Em um salão já bem gasto pelo tempo de uso, alguns jovens fecham-se em rodas e praticam o break, enquanto o MC Chicão, cantor de rap faz a sua rima no palco, acompanhado pelo DJ Scooby em sua performance. Eles integram o grupo carioca Manuscritos. Em meio a um freestyle, eles levam até os jovens as palavras da bíblia, referindo-se à Deus. Algo novo, e até um pouco estranho, principalmente para a sociedade que encara o hip-hop como uma cultura marginal e desvairada, longe de Deus. No entanto, o evento, chamado Beatz é exclusivamente de Holy Hip-Hop. Nome que vem do inglês Holy Spirit 424 425 — Espírito Santo. Aqui no Brasil atende também por hiphop gospel e recebe a cada dia mais adeptos, cantando as dificuldades da classe menos favorecida, dos guetos, e pregando as palavras bíblicas. Enquanto os grafiteiros Gal e Eco finalizam a arte que mostram dois caminhos possíveis de se escolher entre o crime e o conhecimento, dois jovens aproximam-se do palco e ajoelham-se perante ele, tiram os bonés e pedem benção ao Senhor. Sendo, desta forma, abençoados pelo MC Chicão, que é, também, diácono da igreja que frequenta, Assembleia de Deus. Participantes de um evento de hip-hop gospel, os grafiteiros presentes também são religiosos, e seguem Deus. Eco já passou por experiências marginais na vida e conta: “Antes de começar com o grafite eu pichava muros, naquela época, eu fui até preso e passei altos sufocos. Hoje já passou tudo, chegou uma época em que tudo aqui começou a me fazer mal. Estava fazendo grafite de uma forma errada, marginalizada, então comecei a buscar o lance da verdade. Foi na época que comecei a ler a bíblia, comecei a praticar e ter experiências com Deus.” Gal também tem uma postura parecida e considera: “Não faço parte do hip-hop, mas acompanho o Manuscritos porque somos amigos. Além de estar fazendo o grafite, nosso objetivo é passar uma mensagem do bem. Não é pregar religião, é, de repente, a questão espiritual do bem-estar social.” Quando questionado a respeito do que é exatamente o hip-hop gospel, MC Chicão afirma: “Deixe-me fazer um pequeno resumo, o hip-hop é um lance que os negros dos EUA usaram para poder protestar, reclamar, aquilo que eles não conseguiam fazer apenas com as palavras. Eles usavam isso para passar as informações e fazer as 426 Traficando conhecimento pessoas refletirem naquilo que acontecia na realidade deles. Nós estamos fazendo a mesma coisa. A gente passa a informação a fim de fazer as pessoas refletirem naquilo que nós vivemos. O que nós vivemos? Uma vida diferente, com Cristo (...). A gente usa o hip-hop para falar do amor de Cristo, para pregar o evangelho, é basicamente isso.” Ao mesmo tempo, enquanto os organizadores do evento vibram por verem jovens convertidos, do lado de fora do ginásio alguns deles estão bebendo “tubão”, uma famosa bebida entre os jovens da periferia, resultado da mistura de pinga com refrigerante. Estes jovens entornam a bebida, falam muito palavrão misturado às gírias e sequer param para admirar o grafite que está sendo finalizado. A festa prossegue, as rachas de break continuam entusiasmando. Os moradores do bairro achegam-se para “dar uma olhada” no evento. Do lado de fora do portão do ginásio os policiais “guardam” a segurança com as armas de fogo em punho. O grafite fica pronto, o MC Chicão e o DJ Scooby finalizam a mensagem, mandando muita paz e fé em Deus. Assim como o hip-hop convencional, o gospel também é baseado em protesto e resistência, mas é transmitido de uma forma diferente, por outros canais, utilizando a linguagem bíblica, pregando o evangelho. MC Chicão conta que, antes de se converter, ele era “do mundo”, como os evangélicos costumam dizer, ele fumava, bebia e tinha uma vida como a de muitos outros hip-hoppers. “Pude ouvir a voz de Deus falando comigo ‘o que você tá fazendo aí?’ Então, percebi que podia usar o dom que Deus me deu para louvar o nome Dele como forma de agradecimento. Para mim o hip-hop é isso, expressa minha vida em versos e melodias.” Estatística 427 O público presente no evento começa a sair pelas laterais do ginásio, e a festa chega ao fim com meia dúzia de pessoas. Os viajantes, que acompanharam o grupo Manuscritos, fazem pose em frente ao grafite recém-pintado. Um dos jovens que se converteu há poucos minutos vem querendo tirar uma foto, em uma mão ele segura um cigarro aceso e, na outra, a bíblia. Parece estar bêbado e sem coerência no que diz, mas promete, com a voz elevada, que daquele momento em diante, será uma nova pessoa, seguidora de Deus. O grupo aplaude, e sai contente por ter conseguido tocar o coração de alguém que estava ali. Do lado de fora, a festa continua, ainda com muita bebida, “tubão” e drogas. Os viajantes sobem no ônibus e deixam o bairro periférico, os vizinhos voltam para suas casas, e os policias continuam empunhando armas, rondando toda redondeza. Aquele sábado frio continua sendo apenas mais um sábado frio, sempre com rap, mesmo que, desta vez, um rap convertido, mas a trilha sonora é a mesma, a falta de sonhos, maior. É, justamente, nesta falta de sonhos que a Cultura Marginal trabalha. Por meio do hip-hop – seja gospel ou não – e da literatura, promove a autoestima destes jovens que para aquecer o corpo e a alma usam bebidas alcoólicas. O intuito é que eles usem as letras, os poemas, o conhecimento e a sabedoria para aquecer os sonhos, em fogueiras que queimem apenas os desafetos, o preconceito e o comodismo. Que das cinzas renasça a vontade de mudança, o caminhar rumo à positividade e forças para realizar desejos. Desta vontade surge, então, um novo projeto dentro do Cultura Marginal. Um subprojeto que, talvez, tenha mais alcance e se destaque até melhor. 428 Traficando conhecimento Estatística 429 430 Traficando conhecimento Estatística 431 Estatística Passa Livros “Também quero doar livros e fazer o saber circular. Como eu faço?”, pergunta, surpreso o operador de hidroelétrica Paulo César Alexandre, ao ser abordado com a pergunta “Você aceita um livro?”. A cena, pouco comum, foi protagonizada por muitos rostos anônimos que circulavam pelo Terminal de Linhas Urbanas em uma manhã nublada e chuvosa de quarta-feira. O projeto “Passa livros” é adotado pelo Cultura Marginal e ganha mais edições e novos colaboradores. Em vez de oferecer esmolas, oferece livros. Exemplares de romances, clássicos, históricos, livros-reportagens e técnicos são distribuídos gratuitamente a quem quis receber uma história ou informação nova. Na cidade, a ideia foi colocada em prática pela pedagoga Angela Caruso, que em uma das manhãs mais frias do mês de julho de 2009, quando o termômetro localizado em frente ao prédio da Thermas Antônio Carlos marcava 10 graus, ela se dispôs a carregar uma pilha de livros sobre temas diversos pela praça Pedro Sanches e foi, lentamente, abordando várias pessoas e entregando a elas, gratuitamente, os exemplares que incluíam todo tipo de estórias e também histórias. 432 433 Quando tomei conhecimento do projeto, propus uma reportagem para o Jornal Mantiqueira e, encantada por mais esta forma de distribuir o saber, aderi na mesma hora. Naquele mesmo dia limpei as estantes e ainda saí pedindo a todos conhecidos os livros que eles poderiam doar. Aos 47 anos, após ler uma reportagem do jornalista Rodrigo Ratier, da cidade de São Paulo, sobre um projeto parecido, Angela sentiu a necessidade de retirar os livros empoeirados da estante e fazer com que eles pudessem ser aproveitados por várias pessoas e passados adiante. “Eu não queria criar uma biblioteca circulante, mas que as pessoas recebessem o livro e tivessem o prazer e a responsabilidade de passá-los adiante”, diz. Por intermédio da revisora de texto do jornal em que trabalho, Delma Maiochi, consegui muitos outros exemplares e levei o projeto para além das praças da cidade. O Terminal de Linhas Urbanas foi um dos pontos escolhidos, por conta do número de pessoas que circulam diariamente e, também, por serem pessoas de baixa renda. Com uma sacola cheia de livros, pela primeira vez que saí às ruas para distribuí-los, parei no local e para brincar, comecei a espalhar alguns livros, que na quarta capa trazem a mensagem: “Olá, cuide bem deste livro e após desfrutar desta leitura, ofereça-o a alguém, aqui mesmo onde o recebeu. Não deixe que esta história fique aprisionada novamente na estante. Permita que outros possam ter a mesma oportunidade que você. Faça as histórias circularem pela praça.” Pelas muretas, bancos e orelhões do Terminal comecei a deixar alguns livros. Com a experiência das caixinhas poéticas, resolvi brincar um pouco e observar a reação das pessoas. O primeiro senhor que avistou o exemplar sobre o apoio do orelhão, escolhido, propositalmente, por ser o do meio, entre outros dois, se dirigiu ao da direita, 434 Traficando conhecimento olhando desconfiadamente para o livro, como se, de repente, ele deixado ali, fosse uma brincadeira ou ameaça. Na sequência, uma mulher também olhou para o livro e se dirigiu para o orelhão da esquerda. Então, uma terceira pessoa olha para o livro e se aproxima. Trata-se de outro senhor que, finalmente, vê a mensagem colada na primeira página. Ele segura o exemplar alguns poucos segundos e o entrega a uma senhora, que rapidamente entra em um dos ônibus. Já o artesão Eduardo de Lima Pereira ficou intrigado quando viu o livro em um dos bancos, folheou, olhou para os lados e então começou a ler um pouco. “No início eu pensei que se tratava de uma brincadeira, uma pegadinha e depois gostei da ideia de ganhar um livro. Vou ler e passar adiante”, comenta. Ao lado dele, a vendedora Ana Paula Rodrigues já tinha notado o livro, mas, por vergonha, não pegou. Quando viu a distribuição, foi até as jovens que estavam distribuindo e pediu um exemplar. “Vou embora feliz porque ganhei uma edição. Gostei do projeto, incentiva quem não tem acesso aos livros”, declara. Já o operador de hidroelétrica Paulo César Alexandre, ao receber das mãos da jornalista um livro, perguntou se poderia escolher um exemplar e prometeu: “Tenho vários livros empoeirados na estante de casa. Vou doá-los ao projeto e, como você tem o dom de conversar com as pessoas e entregar os livros, vou ficar feliz com a ação.” Enquanto ele escolhia um volume, outras pessoas, entre elas professoras, mães ou apenas passantes se aglomeram e, em pouco menos de três minutos, os livros foram distribuídos. Teve gente que quis mais de um exemplar. Outros saíram felizes, já lendo as primeiras páginas. Passar os volumes literários apenas aos moradores da cidade vai ao encontro da real proposta, que é dar continuidade ao processo de ler e transmitir o conhecimento Estatística 435 contido naquele livro a outras pessoas e promover, também, o acesso à leitura, que, ainda hoje, é deficiente no país, segundo dados da pesquisa Retratos da Literatura no Brasil, que mostra que entre 95 milhões de pessoas entrevistas, 45% não são leitores. A intenção foi expandir o projeto a bairros e comunidades também carentes, e assim está acontecendo. Quero mudar o cenário da falta de leitura e integrar os livros a quem não está nas oficinas e também não tem afinidade/interesse com o hip-hop. O intuito é levar os livros a quem não tem acesso, não conhece ou não frequenta as bibliotecas por medo, vergonha, ignorância e pessoas que tampouco podem comprar exemplares. Enquanto arrecado os livros, lembro de Carolina Maria de Jesus, que viveu a máxima pobreza no Brasil, sendo obrigada a revirar os livros para comer, mas que nunca deixou de pegar, junto com os restos de comida, migalhas de livros e revistas para ler em casa e mesmo sem dominar a gramática escreveu um relato singular sobre a favela e fez história no país e fora dele por conta disso. Penso que, se as donas de casa que são viciadas em televisão, substituíssem algumas horas do dia pela leitura poderiam mudar a própria realidade periférica que as circunda. Penso ainda que ganhar um livro assim, sem mais nem menos, como um ato de gentileza em um dia chuvoso, em um horário qualquer, pode transformar o dia das pessoas apenas pela atitude. Se for atrelada ao conteúdo e à forma de repassar estas histórias pode sim ser um incentivo. Logo na primeira vez distribuí mais de cem exemplares e continuei arrecadando mais. Quero que as pessoas façam os livros circularem, tirem a poeira e os ácaros da estante e coloquem o saber nas praças e comunidades. 436 Traficando conhecimento Não acho difícil fazer isso. Acho que falta vontade e incentivo, portanto, a minha parte está sendo feita. E o mais bacana é o prazer em poder servir, em poder distribuir os livros, em ver a expressão de surpresa nas crianças. Em pouco tempo o projeto ganhou as ruas centrais, onde um grande número de pessoas circula diariamente. As abordagens se inverteram e durante a distribuição, sempre que alguém nos pede esmolas, oferecemos um livro, que raramente são recusados. Os bairros também já fazem parte do itinerário por onde as histórias circulam e a intenção é continuar arrecadando cada vez mais livros e fortalecendo a corrente de conhecimento. Sempre peço que alguém vá comigo, seja a minha amiga Juliana, algum artista local para realizar intervenções urbanas, como entregar o livro a alguém recitando uma poesia ou pintando poesias com giz na rua e nas praças, para que sejam apagadas apenas com a chuva. No rosto de quem recebe as histórias pode se notar a expressão de surpresa, afinal, por muito tempo, os livros foram considerados produtos das elites. Assim, a ideia de que livro na estante só tem vida quando manuseado e lido por alguém é colocada em prática. O fato mais marcante foi de uma garotinha, de não mais do que oito anos, em um dos bairros da região onde moro. Ao nos ver com os livros nas mãos, começou a nos acompanhar, discretamente, e, depois de algum tempo, nos observando enquanto entregávamos os livros aos passantes e à outras crianças, começou a chorar baixinho, um pouco distante. Intrigada, me aproximei e perguntei o que estava acontecendo. Com vergonha, ela tentou enxugar os olhos e relutou até começar a falar, que na casa onde a mãe dela trabalha como doméstica, os dois filhos da patroa Estatística 437 ganham livros toda semana e que ela gostaria muito que a mãe dela tivesse dinheiro para comprar histórias coloridas para ela. Na mão, não havia nenhum livro infantil que eu pudesse dar a ela. Limitei-me a dizer que um dia ela teria os livros que tanto quer. Não imagino o que ela pensou em nos ver entregando os livros à outras pessoas e não à ela, uma vez que tínhamos uma quantia razoável naquele dia. Quando eu cheguei em casa, olhei para a minha estante e vi os meus primeiros livros de história e pensei em levar para ela, mas como ela queria um colorido, aqueles desbotados já não serviriam mais. No dia, estava dura, mas prometi a mim mesma que no pagamento, passaria na livraria e compraria uma história bacana para aquela garotinha. Quando fui procurar, encontrei uma educativa, sobre medos. Como o preço era acessível, resolvi levar. Na dúvida sobre como entregar, decidi que a surpresa dela e o mistério seriam mais interessantes. Embalei o livro em um plástico transparente e deixei na porta da casa dela. Posicionei-me do outro lado da rua, onde há uma pracinha com bancos e passei a ler o meu livro, ansiosa pela reação dela quando encontrasse a história. Algum tempo depois, ela saiu acompanhando a mãe. Por um minuto, pensei que ela não tivesse notado o embrulho, mas, discretamente, exatamente como quando chorou por não ter histórias coloridas, ela se abaixou, pegou o livro e ficou uns bons segundos olhando o presente, até que se sentou na beira da porta e começou a admirá-lo. Não tenho como saber o que ela pensou quando encontrou o livro, nem se ela imagina quem pode ter dado à ela, mas tenho certeza que consegui fazer mais uma criança gostar de ler e ter amor pelos livros com este pequeno presente. 438 Traficando conhecimento Estatística 439 440 Traficando conhecimento Estatística 441 Estatística Palavra cruzada: literatura e conhecimento Conseguir apoio para ações como essas nem sempre é fácil. Aproveitei os contatos de editoras que tinha quando trabalhava na livraria e fiz pedidos de doações. Não importa o tipo dos livros. Importa distribuir o saber. Até hoje não recebi nenhuma resposta e é impossível que eu compre os livros para distribuir. Peço a toda e qualquer pessoa que conheço. Alguns que veem o projeto se interessam e também doam livros. Uma banca de troca, implantada na biblioteca central da cidade, também facilita a troca de livros técnicos por literatura. Eles disponibilizam os livros repetidos do acervo para troca, assim, todos ganham. Faço várias por semana. Nem sempre é fácil encontrar os exemplares ou mesmo agradar. As crianças são as que ficam mais encantadas e literatura infanto-juvenil é sempre complicada de encontrarmos. Infantil, então, é raríssimo. Mas nenhuma dificuldade é forte o suficiente para me tirar a vontade de observar a alegria das pessoas que vivem nas periferias e se sentem “importantes” ao serem lembradas e ao ganhar algo, sem precisar dar nada em troca. Em poucos meses, mais de dois mil exemplares já foram distribuídos pela cidade em vários locais diferentes. Nas oficinas da Cultura Marginal várias pessoas também 442 443 fizeram questão de ajudar, de tentar arrecadar e isso é fundamental para o sucesso do Passa Livros. Qualquer ajuda é essencial. Assim, uma das minhas patroas – Sônia – se dispôs a nos ajudar e, como recebeu um número grande de palavras cruzadas de uma editora, para distribuir em um projeto chamado Mantiqueira na Escola, me disponibilizou mais de cem volumes. No ato eu já soube onde entregaria. Meu bairro é, e sempre foi, muito pobre. Entretanto, em uma das partes, construída mais recentemente, a população sofre com as enchentes, com a falta de assistência, com a falta de asfalto, de iluminação pública decente, de hospital, de creche e de escolas. Falta tudo, só não falta vontade para mudança e, pensando na preocupação de todas as mães, que fazem de tudo para dar o que comer aos filhos e ainda mantê-los longe das drogas e da criminalidade, o presidente da Sociedade Amigos de Bairro (SAB) do local, Élio Ricoy, conseguiu uma sede e, duas vezes por semana, oferece aulas de capoeira para as crianças. Ao todo, são 110 que participam das rodas e, ao som das palmas, ritmadas pelo berimbau, as rodas com crianças de todas as idades são formadas e já íntimas do esporte criado no Brasil, elas se dedicam aos movimentos e imprimem cultura popular no quilombo moderno da periferia poços-caldense. Além das crianças, são 110 mães despreocupadas com o que os filhos podem estar fazendo ou se estão na rua. No local para fazer uma reportagem – pois continuo encantada pelos que estão às margens e, mesmo assim, são marcantes – percebi que gostaria demais de ajudar e oferecer algo também àquelas crianças que, simpáticas, sorriam enquanto eu batia fotos e me rodeavam. 444 Traficando conhecimento O sr. Élio está, a maneira dele, promovendo o resgate destas crianças. Sugeri oficinas do Cultura Marginal a elas, mas a falta de horários na sede da SAB é um fator que complica, entretanto, não desisti. Da forma que pude, separei as palavras cruzadas e, no mesmo dia em que elas ganharam uniformes doados por uma ONG para praticar a capoeira, levei as revistinhas. Extasiadas por ganhar duas coisas em um mesmo dia, elas correm de um lado para o outro e, eufóricas, perguntam sobre as palavras cruzadas, pegam, pedem aos irmãos e mostram aos pais, loucas para começar a fazer. Mais uma vez, uma garotinha, de não mais que 8 anos, chama a minha atenção. Ela me pergunta como fazer as palavras cruzadas e dispara: “Você pode me dar um gibi?”. Como eu responderia que não? Claro que posso. “Eu quero um da Turma da Mônica.” Não disse nada, mas já comecei a fazer as contas do quanto vou precisar ter e desembolsar para levar gibis a eles. Perguntei se ela gostava de ler e a resposta foi afirmativa. Já separei os livros infantis também. Apesar do Passa Livros ser uma biblioteca itinerante e circulante com mais impacto do que um simples local para empréstimos de livro, com as chuvas de verão, já estava ficando com muitos exemplares doados acumulados, sem ter para onde levar os livros que já estavam empoeirando em sacolas e caixas. Por isso, resolvi doá-los para a sede da SAB do bairro. Não são tantos, cerca de 50, mas servem para empréstimos sem prazo, como o Passa Livros, e ficam dispostos em uma mesinha existente no local. Quem quiser ler passa por lá, pega um livro, lê e, quando terminar, coloca no mesmo local. Penso que é a forma mais democrática de disponibilizar os volumes quando não é possível entregá-los de mão em mão. Estatística 445 Mas gostoso mesmo é ver o empenho de outras pessoas, de quem já passou pelas oficinas, de quem já conheceu o universo do Cultura Marginal, que já esteve ligado ao hiphop por meio de algum elemento, enfim, todos que se dispuseram a ajudar a captar livros, a entregar e a recitar e fazer poesias e textos. 446 Traficando conhecimento Estatística 447 Estatística Rap educativo “Morrem no Brasil muitos inocentes e os médicos não dão nada por essa gente. Gripe Influenza, precisamos liquidar, antes que seja tarde demais.” É com esta parte de uma música ao estilo do rap que o aluno Malcon Martins Barbosa, 11 anos, divulga um trabalho de conscientização sobre a gripe Influenza A (H1N1) desenvolvido pela escola municipal Pedro Afonso Junqueira no bairro Jardim Kennedy, na Zona Sul da cidade também. O nome de guerreiro, o garoto já tem e, mesmo com vergonhar de empunhar o microfone e mandar a rima feita por ele, veste-se de coragem e vai, ao som do violão tocado por outro garoto. Todos os presentes ficam surpresos ao vê-lo cantar um rap e a professora logo explica que tem trabalhado as letras das músicas em sala de aula porque são, justamente, ligadas ao estilo de vida que as crianças levam. “Ele não fala em outra coisa senão no rap, então, ninguém melhor para representar a música.” O trabalho faz parte de atividades lúdicas promovidas pela escola para a conscientização e a disseminação da informação sobre a gripe suína. A letra de rap cantada pelo garoto Malcon foi escrita a partir de uma aula de diversidade textual. Satisfeito por ter cantado e demonstrado um pouco do talento para a escola, ele 448 449 conta que, ao fazer a música, aprendeu que a doença deve ser liquidada. “Temos que observar as outras pessoas e também compartilhar o conhecimento”, destaca. De forma tão positiva a professora conseguiu levar para a periferia algo da periferia e tratar de um tema tão importante, que, em 2009, tirou a vida de pelo menos quatro poços-caldenses. Na visita, perguntei à professora se dos alunos apenas o Malcon gostava de rap, e fomos interrompidas por outro professor que disse: “Não existe não gostar de rap na periferia”. Fiquei feliz por ouvir isso de um educador e ver que há gente aberta em admitir que a cidade com o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado tem crianças que precisam de alguém que fale a língua delas. Para apoiar a atitude rara por parte dos educadores, doei os últimos exemplares do “Suburbano” e me dispus a praticar oficinas com aquelas turmas, mesmo que breves e em horário de aulas. Por ser fim de ano, ainda aguardo uma resposta e sonho em poder acrescentar mais a vida destas crianças que já, tão cedo, cantam e fazem o papel de conscientização. 450 Traficando conhecimento Estatística 451 Estatística Fronteiras quebradas 453 — Eu gosto de escrever, apesar de não gostar de ler. — diz Danilo. — Como? É meio esquisito, mas me mande um texto. — respondo. — Tenho vergonha. — Não tenha, enfrente, me mande, é a sua expressão. Dias depois... Por mais que um estado esteja separado do outro por fronteiras geográficas, regionais, culturais, a internet, a comunicação e o conhecimento provam que elas podem ser quebradas. “Pensar, refletir, escrever, sentir e digitar. Escrevo o que sinto, sinto o que escrevo e depois, é digitar. Reflito para entrar em uma concordância e aí as palavras vêm em abundância.” Este é um trecho de um dos primeiros textos escritos pelo baiano Danilo Henrique. Aos 21 anos, por um chat onde nos conhecemos, sacamos logo de cara nossa afinidade com o hip-hop e a minha paixão pela Bahia, mas nos estranhamos no que é literatura. Já disparei a contar do Cultura Marginal e do Passa Livros e ele revelou que não gostava de ler. “Não vamos ter assunto”, pensei. E, diariamente, pela internet ele me perguntava o que eu estava lendo, o que estava escrevendo, começou a frequentar os blogs, descobriu que um rapper que ele admira – Gog – era um dos autores do “Suburbano” e passou a tomar gosto pelo tema, mesmo que de uma forma lenta. 452 — Posso enviar o texto? — Claro! — Então vou digitar. — Ok. Horas depois... — Aí está meu primeiro texto. — Tudo bem, vou ler e depois comento. Um texto sobre a saudade do pai, já falecido, trazia as expressões dele. Ainda um pouco imaturo no que se refere à escrita, mas com vontade de melhorar. Na semana seguinte, a mesma história e um novo texto, falando justamente sobre o novo do ano novo. Alguns dias depois: — Comprei um livro – revela Danilo. — Como? Por quê? Você nem gosta de ler. — provoco. — Vou tentar. De tanto te ver lendo, falando e escrevendo sobre literatura, vou arriscar. Aplausos internos e singulares. Mesmo há quase dois mil quilômetros de distância, por meio de um chat e de uma tela de computador eu tinha conseguido incentivar a leitura. Batizei a iniciativa, para mim mesma, como Literatura em Incentivo Amplo (Leia). Foi apenas uma ideia de usar a internet para isso, mas a longo prazo. Não fiz nada ainda, mas sei que ele comprou um livro de autoajuda que leu inteiro. 454 Traficando conhecimento Duas semanas depois, comprou mais dois livros e presenteou uma tia com um. Não contente, saiu de rolé e foi passear em uma livraria. Comprou o “Capão Pecado”, do Ferréz, começou a ler e confessou: estou amando. Criou um blog, mudou o nome e, agora, atua no projeto próprio chamado de Literatude. Com posts quase diários, escreve textos, crônicas e já arriscou um conto. Melhorou a escrita, o vocabulário e a gramática. Visita todos os dias blogs de escritores e agitadores culturais como Sérgio Vaz, Alessandro Buzo, Sacolinha, Michel da Silva, Gog, Nelson Maca, de Salvador, e comenta sempre no meu. É seguidor de muitos outros e afirma: não quero desistir nunca da leitura. Quero trabalhar com hip-hop e com conhecimento e vou conseguir. Segue na busca por um emprego desde que se demitiu de uma unidade do MC Donald’s e pretende ler todos os livros que conseguir neste ano. E no outro também. Não quer parar de ler nunca mais. “Vou ter meu próprio sarau no Farol da Barra.” Estatística 455 Estatística Profissão: transmissora de conhecimento São inúmeros jovens que, ansiosos diante do que está por vir, se aglomeram entre cadeiras de madeira colocadas em volta das mesas. É sempre excitante sair da rotina escolar — professor fala, aluno escuta e anota — e participar de uma palestra, mesmo que o tema ainda não tenha sido revelado. Devagar, alguns abordam o palestrante e perguntam: “Oi, você que vai falar?”, “Sobre o que será a palestra?”, e comentam entre si sobre conhecer ou não o assunto ou o impacto que o tema tem sobre a vida de cada um. É a primeira vez que acontece uma palestra mesmo. Antes eram oficinas, coisas simples, informais. Ou eventos. Tudo era festa. O programa é federal e exige profissionalismo. Exige novidade. Exige mais: didática para lidar com adultos. Todos, invariavelmente, têm mais de 18 anos. Falar para crianças e adolescentes é difícil. Para adultos, ainda mais. Em alguns minutos, todos estão acomodados aguardando que a palestra seja iniciada e a observação é sempre a mesma. Em alguns, o olhar é de curiosidade total, noutros, um misto de cansaço — afinal, trabalharam o dia todo — e em outros, de repente, até mesmo um pouco de desinteresse, não apenas pelo debate que vai se seguir, mas pela vida. 456 457 Todos os alunos têm uma coisa em comum: vivem em periferias e estão cursando o ensino médio, ou algum curso profissionalizante, depois de adultos, afinal, o programa só aceita jovens com mais de 18 anos. Entretanto, nenhum tem mais de 29 anos, afinal, é a idade limite do ProJovem, seja Urbano ou Trabalhador. Diante deste ponto comum, outros vão surgindo. Também vim da periferia e revelo isso logo no início, quando conto ter uma história de vida semelhante a de todos. Tenho também uma idade compatível com a deles — 24 anos. Na sequência, o hip-hop invade o espaço através de um telão. Com um logotipo colorido e cheio de desenhos que lembram a arte urbana do grafite, todos os olhares, até mesmo os mais desinteressados e cansados, têm a atenção captada. Devagar, e ainda com um pouco de receio, conto como surgiu o convite para falar a eles e revelo ser uma das primeiras experiências em falar para tanta gente, afinal, são quase 100 estudantes. Neste momento, os alunos se acomodam melhor e alguns até comentam entre si já terem me visto ou me conhecerem e ouço alguns falando: “É a Jéssica Balbino.” Feitas as apresentações, um pouco do hip-hop é explicado, através de slides e imagens comuns ao dia a dia dos estudantes. Logo na contextualização, um grafite é exibido e todos o reconhecem, por ter sido feito no muro de uma escola da região onde estudam ou moram, na Zona Sul da cidade, considerada a mais periférica e carente do município. Diante do reconhecimento, mesmo aqueles alunos que não tinham tido contato anterior com a cultura das ruas é remetido a algo cotidiano e, então, a afinidade acontece. Mesmo tímidos, alguns levantam a mão e fazem algumas perguntas e diante da minha narração, 458 Traficando conhecimento também nascida no local e habitante da Zona Sul, palavras empregadas por mim também fazem parte do vocabulário que todos utilizam. Com todos ambientalizados, uma pergunta é jogada no ar: “De que forma as culturas populares podem beneficiar quem vive nas comunidades?” e a interrogação é visível na fisionomia de todos os alunos. Acostumados a se sentirem inferiores, ninguém encontra a resposta rapidamente e, conforme coloca o professor de comunicação de uma turma, Guilherme Dore, por serem pobres e viverem em periferias, todos têm mania de se autodesprezar. “Eles não acreditam neles mesmos, não têm confiança no próprio potencial. Muitos não se acham capazes. Quando o programa começou, a maioria tinha vergonha de falar o próprio nome”, conta. Entretanto, ele coloca, também, que, diante de uma pessoa que tem a mesma linguagem dos estudantes, as informações fluem com mais facilidade. “É bom porque você é do bairro deles e eles gostam de se reconhecerem assim. Serviu para provar a eles que construir as coisas na vida só depende deles”, enfatiza. Dando sentido às observações do professor, eu, que também sou jornalista e escritora, continuo, mostrando aos alunos que, mesmo diante destas posições, permaneço morando na periferia, andando de ônibus e a pé todos os dias para chegar ao trabalho, comendo de marmita e ganhando pouco, mas, nem por isso, desisto de sonhar, escrever e batalhar em causas sociais, como a transformação por meio das culturas sociais e principalmente do hip-hop. Conto como tento me beneficiar por meio da cultura marginal e como palestras deste tipo me fazem bem, tanto por poder compartilhar conhecimento como para Estatística 459 manter viva a cultura hip-hop e na sequência, desmistifico, esclarecendo que ela não tem nada a ver com a bandidagem e que o Afrika Bambaataa, quando resolveu criar o movimento, o fez na esperança que ele gerasse “paz, amor, diversão e união”. Diante desta informação, mais da metade dos alunos se sensibiliza e consigo ver, mesmo incutido na face deles, as expressões de “ooohhh”, se questionando, então, o porquê da cultura hip-hop, ser, até então, vista como algo ruim. Entretanto, consigo perceber também que muitos não acreditam no que digo e têm até uma certa resistência, mas faz parte de qualquer informação nova. Conto, também, que o hip-hop não é música estrangeira, como a maioria acredita e sim, movimento e cultura. Esclareço que o rap é que é o som ouvido e cantado dentro da cultura, exaltando os problemas sociais e as histórias de cada um pelas batidas ritmadas e entrecortadas pelos DJs, um dos outros elementos da cultura. Alguns ficam entusiasmados com as informações, principalmente sobre os parâmetros iniciais do hip-hop, que são mostrados diferentes daquilo que sempre acreditaram que fossem. Ouço alguns comentários entre eles, se perguntando como podem, de repente, conhecer mais sobre isso e já me adianto, contando que posso mandar o texto do meu primeiro livro “Hip-Hop – A Cultura Marginal” por e-mail e percebo vários interessados. Na sequência, sempre que conto alguma coisa sobre o hip-hop, a história e a cultura popular, tento manter a proximidade da realidade e sempre citar algum fato acontecido comigo. Procuro lembrar que, durante as pesquisas para fazer o livro, praticamente abdiquei da minha vida em nome da causa e cito minha rotina, que era levantar às 7h, ir para o trabalho, fazer algumas coisas relacionadas, 460 Traficando conhecimento almoçar correndo, aula de inglês durante o horário de almoço, voltar para o trabalho, escrever a mão porque não tinha mais energia onde eu trabalhava — em razão da falência do local —, sair correndo, pegar a van, viajar 40 quilômetros, assistir aula, voltar para Poços, pegar um ônibus no centro da cidade e ainda andar um quilômetro para chegar em casa. Aí sim, ler o que faltava e escrever algumas coisas do livro, para compor o trabalho apresentado a eles. Noto que eles se sentem próximos da vivência, até porque 90% trabalha durante o dia, mal almoça, também anda longas distâncias e, enfim, podem estudar e veem no programa a chance de um diploma do Ensino Fundamental, além de uma melhor oportunidade de trabalho. Sei que muitos estão ali unicamente para isso, enquanto outros querem aproveitar cada minuto e reverter o tempo perdido, tentando aprender sobre tudo em apenas dezoito meses, que é o tempo total do curso. Nesse misto, eles se perdem, entretidos nas imagens do datashow e no mundo do hip-hop e alguns, menos tímidos, iniciam algumas perguntas. Querem saber o porquê de eu me interessar por hip-hop e dão risada quando digo que eu nunca soube cantar, dançar, grafitar e que nem me arrisquei a arranhar os discos, por isso me dedico ao 5° elemento, que é o conhecimento. Neste ponto, ingresso no assunto da literatura periférica e da ascensão que ela tem no cenário nacional, principalmente nos grandes centros e capitais e noto olhos mais brilhantes quando conto experiências pessoais ligadas ao assunto, como o garoto de 21 anos que vive em Salvador e que conheci, por acaso, pela internet. Ele tem o mesmo problema dos alunos. A mania de se achar inferior por ser pobre e morador da periferia. Relatei que, em minhas conversas com ele, sempre via MSN, consegui despertar o interesse dele pela escrita. Estatística 461 Quando começamos a conversar, ele me contou, com todo receio do mundo, que gostava de escrever e que, de repente, escreveria um texto para me mandar. Levou quase duas semanas para que eu recebesse um texto pequeno, simples, mas que, mesmo com erros gramaticais, tão comuns na literatura marginal, conseguiu expressar tudo aquilo que ele sentia no momento: saudades do pai que já se fora. Ainda me refazendo da emoção de ler um texto dele, que nunca tinha deixado ninguém ver os textos, ele me contou que tinha saído e comprado um livro, hábito que, até então, ele desprezava e que já estava lendo. Emocionada, contei esta história aos alunos e acredito que, por toda simplicidade dela, consegui sensibilizá-los também. Fui interrompida pela professora, que me contou que alguns já gostam de escrever e que de repente, histórias como estas são um incentivo para que eles comecem a produzir os próprios textos. Neste momento, outros me perguntam como editar um livro e quais as dicas para escrever melhor. Sugiro que sempre leiam, cada vez mais. Falo, ainda, dos livros produzidos nas periferias e dos assuntos abordados, que sempre são do interesse deles e têm temas relevantes aos jovens da periferia, com crônicas cotidianas. Cito, ainda, algo que li há tempos em blogs pela internet, dizendo que os novos livros são os raps escritos e encadernados. Acho esta analogia bacana e compartilho. Alguns alunos, que antes da palestra estavam ouvindo rap, se mexem ansiosos na cadeira, talvez pensando em transformar os rascunhos em livros. Conto, ainda, que existe no Brasil uma Casa do Hip-Hop, em defesa das produções literárias e acadêmicas sobre o tema e também uma organização universal Zulu Nation, que cuida do hip-hop em todo o mundo, preservando para que a cultura seja disseminada de forma correta. 462 Traficando conhecimento Estatística 463 464 Traficando conhecimento Divido com estes alunos histórias de escritores brasileiros de que eles nunca ouviram falar, mas que, ao contrário dos clássicos, despertam um interesse maior para que eles leiam, visto que trazem uma linguagem comum, que eles podem acompanhar e histórias que eles se identificam, como a de “Graduado em Marginalidade”, do Sacolinha, os textos reunidos de Ferréz, e, ainda, “Noite Adentro”, de Robson Canto, entre tantas outras coletâneas dos autores que despontam no cenário literário nacional e estão ganhando mais público a cada dia. Neste espaço, comento, também, a necessidade de conhecer mais sobre a própria cultura, os antepassados e a história das coisas. Lembro aos alunos que isso deve acontecer não apenas com o hip-hop, mas com qualquer que seja a cultura popular produzida na periferia, que tem sempre uma história riquíssima, que merece ser conhecida e divulgada. Percebo que todos ficam atentos a isso, com exceção daqueles que já foram vencidos pelo cansaço e que, nesta hora, se apoiam sobre livros e mesas para cochilar enquanto falo. A postura não me incomoda, afinal, já fui estudante e, muitas vezes, extremamente cansada, cochilei durante aulas, debates, palestras. Não há como recriminar. Dentro disso, procuro sempre atrelar a minha experiência e fazer com que todos conheçam um pouco mais sobre a minha vida e trajetória, então, separo um slide com uma foto minha, do Nino Brown na casa do hip-hop e de Anita Motta, a jornalista que escreveu o “Hip-Hop – A Cultura Marginal” comigo. Até os mais desatentos param e prestam atenção. Conto que ela nunca foi da periferia e que o primeiro contato com o hip-hop foi durante o processo de execução do livro e que, infelizmente, no caso dela, a cultura não representou uma salvação como ouvimos em todas as entrevistas. Estatística 465 No Carnaval de 2007, quinze dias após nossa colação de grau, ela morreu de parada cardíaca após inalar gás propano butano que vem naquelas buzinas a gás. Fez isso para ter “barato” como os provados pelo lança perfume e, de uma vez, faleceu, abandonando os sonhos, o legado do livro e muitas lembranças incompletas de quem poderia caminhar ao meu lado e estar, naquele momento, palestrando. A este ponto, me encaminho para o fim da palestra, deixando aberto o espaço para as perguntas e concluindo como uma cultura popular mudou a minha vida, a das pessoas à minha volta e que, mesmo sem recursos, consigo praticar ações beneficentes, como o projeto Passa Livros e, também, oficinas sobre hip-hop com crianças carentes. Novamente, olhares mais atentos e curiosos, querendo saber como é meu trabalho social. Uma breve explicação, um slide com frases de pessoas de vários locais do país e de várias atividades contextualizando o hip-hop e o quão bom ele é para este ou aquele indivíduo e ainda para esta ou aquela coletividade. Pronto. Gosto de encerrar exibindo no telão a mesma imagem com que comecei. Talvez seja pelas cores, talvez porque foi um MC famoso – na comunidade e Brasil afora – que fez, com todo carinho, para o meu trabalho ou, talvez, porque represente o hip-hop tal como ele é, uma mescla de elementos que propõe somente coisas positivas. Tentando trabalhar neste positivismo, encerro e aguardo as perguntas, que são poucas e tímidas. Entendo o receio que todos têm de falar alto, levantar a mão e se dirigir a um palestrante. O medo de serem ridicularizados supera o medo de permanecerem ignorantes em alguma questão. 466 Traficando conhecimento Começo a juntar minhas coisas e devagar, um, dois, três. Uma fila de estudantes é formada a minha volta e todos querem trocar e-mails, contatos e me pedem meus dados como blog, e-mail e telefone. Por questões financeiras, não possuo cartão de visita. Distribuo, então, folhas com meu nome e telefone. Todas extraídas de um bloquinho comum aos jornalistas. Menos tímidos por estarem em um grupo menor, eles me enchem de questões e comentam o que falei na palestra. Alguns elogiam bastante. Outros, tomam o rumo e partem em busca do lanche, distribuído pelo programa, gratuitamente aos estudantes. Tento responder a todas as questões e dar atenção a cada um. Um aluno, com roupas típicas aos adeptos da cultura, se aproxima com um celular na mão. Nele toca uma música do grupo Racionais MC’s, talvez o mais popular da década de 1990, que popularizou o rap sem se aliar à indústria e a grande mídia. Alguns conhecidos de quebrada, eventos e também do ônibus comentam comigo que já me conhecem e fazem referências às fotos de pessoas conhecidas, também exibidas nos slides enquanto eu falava. Despeço-me com um único sentimento: paz. Consegui, apesar de todas as adversidades, realizar uma palestra e o mais bacana foi deixar a escola sabendo que eles estavam comentando, cada um na sua roda, que querem ler mais sobre literatura periférica. Estatística Palestrando: parte II Entre mamadeiras, fraldas e choro de crianças. Assim foi a minha segunda experiência com as palestras sobre hip-hop. Segunda-feira, 20h. A chuva não para e já cai água sobre a cidade há dois dias seguidos e ininterruptos. Mesmo assim, cerca de 90% dos alunos que cursam Comunicação Social e Marketing vão à aula. A presença garante a bolsa de R$ 100 que eles recebem mensalmente por fazerem parte do programa federal, o ProJovem Urbano. Entre esses estudantes estão duas mães, que, pela fisionomia, não têm mais de 20 anos e ambas carregam no colo seus bebês, que, por problemas pessoais, não tem com quem deixar. Há cinco meses, Giovana frequenta as aulas ao lado da mãe e já cativou todos os demais colegas de classe e, até mesmo, os professores. Muitos chegam para brincar com a criança, ajudam a segurar, levam e buscam mamadeira e, até, trocam fraldas. Da mesma forma, Antonela, de apenas 6 meses acompanha a mãe há um mês. Tâmara, mãe do bebê, conta que teve de optar por isso porque quem cuidava da criança – a avó – passou por uma cirurgia e não podia mais cuidar. 468 469 Morrendo de fome, pergunto se posso pegar um pão com mortadela e um guaraná, distribuídos aos alunos pelo curso. Posso. Enquanto como, observo as mães, que, embalando os bebês, tentam não perder nada da palestra que inicio, descontraidamente, por terem pouco mais de 10 pessoas na classe. Entre um choro e outro das crianças, noto que alguns alunos se incomodam por terem a atenção desviada, mas, como sou apaixonada por crianças, vejo logo que para elas, não é fácil ficar até depois das 22h acordadas, em um ambiente que não é a casa delas e, principalmente, em um dia frio e chuvoso como aquela segundafeira. As mães embalam os bebês e tentam acompanhar as aulas, mantendo a presença para garantir a bolsa mensal de R$ 100, oferecida pelo programa. Conforme explica Andreza, os alunos não podem ter mais de duas faltas por mês e, caso isso aconteça, a bolsa é cancelada. “Não é só por isso que frequento as aulas, mas porque o curso é superimportante para mim. Muitas pessoas me aconselharam a desistir por conta da Giovana, dizendo para eu fazer quando ela crescesse, mas era uma oportunidade única que eu não poderia deixar passar”, conta. As histórias são muitas. Os exemplos também. Andreza revela que conta nos dedos os dias em que a filha deixou de acompanhá-la, logo no início do curso e ficou com o pai. “Por algumas vezes, pedi que ele a olhasse para que eu fosse para a escola, mas, como ele é usuário de drogas, nossa relação acabou no dia que eu voltei para casa e ele tinha ido embora e levado várias coisas da casa. Não tive mais notícias e, desde então, a Giovana me acompanha”, relata. Já no caso de Tâmara, a falta de creche onde deixar o bebê e de alguém que possa olhar tem sido uma espécie de empecilho. “Eu arrumei um serviço e não pude assumir. Só em fevereiro que ela 470 Traficando conhecimento vai poder entrar na creche”, conta. Questionada sobre a maior dificuldade, ela diz que é a distância que percorre, diariamente, para estudar. Somente de ônibus ela percorre cerca de 10 quilômetros e ainda anda do terminal de linhas urbanas até o colégio municipal – aproximadamente 1000 metros – a pé, com o bebê no colo. “É ruim porque tenho que sair com ela na chuva, no frio, andar a pé, carregar as coisas dela e as minhas, mas, mesmo assim, compensa, porque estou estudando.” E assim ela segue, enquanto tenta anotar o que o professor fala e ao mesmo tempo amamentar a Antonela no seio. O professor Guilherme Dore comenta que, inicialmente, não soube como reagir a situação, entretanto, compreendeu que aceitar as crianças na sala, após analisar caso a caso, foi a única maneira de fazer com que as mães não abandonassem o curso. “Para mim isso é o mais importante”, diz. Desafio. Assim pode ser definido o fato de participar de uma sala de aula onde os bebês também se tornam alunos e carinhas vistas diariamente no local. É difícil, tanto para as mães, como para as crianças e para os educadores, que veem na realidade algo que, de repente, possa comprometer o rendimento. Já os bebês, por serem fofos, por chorarem fora de hora e por caberem no colo e precisarem de tanta proteção materna, dividem a atenção das mães e dos alunos, mas, para o professor, isto é algo que pode ser superado por meio da criação de formas para deixar as aulas mais atrativas. Como o professor coloca, a única coisa que ele não tolera são pessoas acomodadas e, de repente, a história das mães se torna um exemplo de vida. “Compreendemos a situação e fazemos de tudo para que elas consigam acompanhar o restante da sala e, no futuro, estejam bem inseridas no mercado de trabalho”, ressalta. As alunas-mães comentam que percebem muitas vezes que o professor perde a paciência, mas elas entendem. Estatística 471 “Em alguns momentos, os bebês choram, se mexem, gritam, querem andar e isso pode desviar a atenção, então prefiro sair da sala e voltar depois”, revela Andreza. Por outro lado, levar os bebês para a aula tem algo de positivo. O carinho que elas recebem de outros alunos. “A Giovana ganhou muitas fraldas e roupinhas e a empresa do ProJovem nos dá toda a assistência. Como eu tive problemas em casa com o pai dela, fui encaminhada para o Centro de Referência em Assistência Social (Creas) e estudar não apenas me qualificou como mudou minha vida pessoal. Fiquei com a autoestima elevada e tomei rumo. Foi a melhor coisa dos últimos anos. Foi tudo”, acrescenta. E, assim, segue a rotina destas mães até o próximo dia 22, quando as aulas do curso de Comunicação Social e Marketing são encerradas e elas recebem o diploma de conclusão e partem para o mercado de trabalho. Sempre acompanhadas pelos bebês, carregando-os no colo, assim como carregam os sonhos de conquista profissional. A palestra segue e a participação dos alunos é de 100%, transformando o momento em um bate-papo, como eu havia previsto e desejado inicialmente. A cada tema, manifestações e perguntas surgem, principalmente por dois estudantes, que conforme o professor me descreveu anteriormente, gostam muito de escrever e têm pretensões de criar livros. O mais bacana é observar as reações do professor que, por coincidência, foi o diagramador do meu livro para a faculdade. Éramos amigos antes, quando viajávamos juntos os 40 quilômetros diários para ir e vir da faculdade, enfrentando as mesmas dificuldades, já citadas. No meio da explanação de um assunto sobre o que podemos mudar em nossa comunidade, ele me interrompe para dizer, de forma alegre e descontraída, que não aceita 472 Traficando conhecimento Estatística 473 Estatística 475 gente acomodada e que se espelha em nossas histórias — pobres, fizemos faculdade com muito sacrifício e, mesmo assim, continuamos lutando. “Não aceito quem não se interessa por nada. Não importa o que a pessoa faça, seja faculdade, um curso de informática, de javanês, sei lá, desde que não fiquem parados”, dispara e, assim, arranca sorrisos de toda a sala, inclusive dos meus pais que me acompanham no momento. Como um dos exemplos de superação, além de citar os episódios da minha vida ligados ao hip-hop, pontuo o desafio das mães em assistir aulas com os bebês no colo e as mamadeiras ao redor. Como nenhuma experiência é igual, este bate-papo foi inusitado. A cada imagem mostrada no slide uma reação diferente e intensa podia ser observada nos estudantes. Uma garota afirmou já ter praticado dança de rua. Outro garoto quis saber a diferença entre hip-hop e rap e recebeu a explicação – detalhada – de como funciona toda a cultura. Mas o mais empolgante é que todos, sem exceção, até os que demonstravam mais cansaço nos olhos e no corpo, ficaram bastante atentos quando falei da literatura e inúmeras dúvidas surgiram. Como editar um livro? Qual a melhor forma de organizar as ideias e escrever? Quanto tempo levei para produzir o meu? Como escolhi o tema? Entre tantas outras questões, tentei responder com a maior relevância e prosseguimos. Pausa para o espanto de todos quando comentei sobre Anita Motta. Mais perguntas e uma saudade imensa dentro do peito. Adoraria que ela estivesse lá comigo, dividindo o trabalho, o momento, as lições de vida e a leveza de alma. Finalizo com a parte em que discorro sobre hip-hop, minha vida periférica, meus trabalhos com o projeto Passa Livros e com o incentivo à literatura. A pedido do 476 Traficando conhecimento professor, preparei, também, um pequeno material sobre jornalismo. Ao término do assunto hip-hop, poderia falar sobre a profissão. Como o eixo do curso é Comunicação Social e a área de formação dele é Publicidade e Propaganda, me pediu uma passada rápida sobre jornalismo – como pautar, como desenvolver um tema e dicas de texto. Surpreendi-me com o interesse dos alunos e, também, comigo mesma. Tenho pouco tempo de formação e como o jornalismo é uma profissão muito ampla, fiquei com medo de não conseguir responder todos os questionamentos. Graças a Deus, tudo que foi perguntado eu sabia como elucidar e foi muito bacana observar a curiosidade deles pela profissão, especialmente pelo jornalismo impresso, já tão condenado por alguns teóricos. Todos demonstraram interesse em como saber mais sobre o ofício e o que me chamou mais atenção e valeu pela palestra foi o entusiasmo de uma garota, a mesma que já participou de um grupo de dança e reconheceu boa parte das pessoas nas fotos dos slides. Anotando tudo que eu falava e fazendo inúmeros questionamentos, ela me perguntou como poderia fazer um estágio não remunerado no jornal, sem receber nada, apenas para acompanhar de perto o nosso trabalho. Outro garoto, participativo, comentou que fizeram uma visita ao jornal, mas que não viram a redação e quer conhecer, visitar, saber também como é de perto. Ambos escrevem textos para a escola e publicam em um blog criado especialmente para divulgá-los. Ambos querem se tornar escritores. Ambos me pediram dicas de livros e prometeram me escrever. Encerrei a palestra e apenas uma experiência se repetiu. Vários deles me cercaram e pediram e-mail, deixaram e-mail, querem o livro, querem vídeos, dicas e trocas de ideias. Ainda com uma chuva forte, saí da sala, Estatística 477 feliz da vida, acompanhada pelos meus pais e pelo meu amigo Luciano Santos – que fez as fotos da ocasião —, caminhei com os passos leves e a alma sem tocar o chão, satisfeita porque fiz a minha parte: contextualizei minha vida e sonhei com as mãos, colocando em prática o que é o hip-hop, em poucas e intensas horas permeadas de “paz, amor, diversão e união”. Estatística Repercussom A repercussão do som no ar, para toda a cidade, por meio de uma rádio comunitária montada em um quartinho, nos fundos de uma casa, no alto de um morro, na Zona Leste! Assim, todas as tardes de sábado, das 18h às 21h, o rapper Leopac e o DJ Mancha se reúnem para apresentar um programa cheio de informação, música black e hip-hop. Existente há apenas quatro meses, o programa é sucesso entre as periferias e enquanto se arrumam para sair, muitos adeptos da cultura se deliciam com os ritmos de Gerson King Combo, Tim Maia e Seu Jorge. Em pequenos quadros com músicas antigas, rap e raps românticos, DJ Mancha tenta resgatar as origens dos bailes black e leva muita informação. Com toda a precariedade do local – faltam cadeiras, estrutura, microfone e espaço – os jovens levam pequenos potes com comida e fazem uma vaquinha para comprar refrigerante. Correm por ruas tortuosas, sobem e descem morros, vão e voltam até encontrarem as músicas certas para aquele programa. Sou convidada para falar um pouco da minha trajetória – que foi feita em grande parte com Leopac, desde os primórdios, os eventos antigos e a época do TCC – e explicar a influência da literatura marginal, da cultura 478 479 promovida pelos projetos. Ao meu lado, Suburbano também comenta sobre a influência do hip-hop e da literatura na vida dele e um pouco das nossas desventuras. À vontade e entre amigos, para falar sobre tudo que sempre tivemos vontade, consumimos, facilmente, as três horas de programa. Mais uma vez tive a oportunidade de usar uma rádio, em um horário em que todos estão conectados com a informação, falar um tanto sobre o projeto Cultura Marginal e conseguir agregar mais pessoas, que é o objetivo. Também me ocorreu algo que pensei na tarde de encontro com o escritor: me encontrei comigo mesma e com a minha essência. Estatística Querem nosso sangue Para dar sequência, rolou, também, a 2ª edição do Hip-Hop em Foco. Como a primeira edição do evento foi um verdadeiro sucesso, o pessoal do grupo de dança Concepção Urbana resolveu investir em uma segunda e, dentro da programação do Viva Urca, apresentou quatro grupos de rap e quatro grupos de dança, em apresentações marcantes, em uma noite completa de periferia, música, dança gospel e hip-hop. O destaque, desta vez, ficou por minha conta, que fui, novamente, a mestre de cerimônias e pude mostrar, novamente em forma de palestra, um pouco do que é a Cultura Marginal, discorrer sobre a literatura e ainda apresentar e anunciar os grupos. No mesmo palco, por quase três horas, falamos, cantamos, dançamos e arranhamos discos para quase 100 pessoas. Público nem tão grande, mas bastante participativo. Realizada, foi assim que me senti quando todos os envolvidos neste evento, que também já se tornou um projeto, subiram ao palco e puderam cantar e dançar juntos, gritando no final: Hip-hop! Hip-hop! Vibrante! Nosso novo quilombo. Em cima do palco do Teatro Municipal da cidade, onde todo e qualquer artista que se apresenta aqui também sobe. Foi maravilhoso. Todos queriam 482 483 livros, textos, aprender dançar, curtir, tirar fotos. Enfim, deu tudo certo. Não poderia ser diferente. Organizamos com amor. Todos que estavam ali não ganharam um único centavo. E, por isso, foi sensacional. Para contrastar, naquela mesma noite, tivemos um contratempo com um dos organizadores de eventos que chegou na cidade há alguns anos e pensou que seria fácil enganar o povo do hip-hop. Cheio de marra e pisando no vazio, ele inventou um curso furado, uma agência de modelos falsa, e um evento que, realmente, não poderia dar em nada. Ele não entendia nada de hip-hop, de cultura marginal, de cultura negra. Levaram muitos dos nossos parceiros no bico. Pediu serviços e não pagou. Prometeu cachê e não cumpriu. Cancelou o evento bem antes de ele acontecer e, o melhor, assistiu e foi obrigado a aplaudir de pé o nosso sucesso, a nossa vitória com o Hip-Hop em Foco. Como não chutamos cachorro morto, ele segue com a vidinha dele. Não trabalhamos mais de graça nem para patrão. Nosso objetivo é quebrar as amarras, jogar fora a opressão. Acuar nas cordas do destino os que tentam se aproveitar do hip-hop, mesmo assim desistimos de registrar B.O. por estelionato e continuamos praticando a paz. Estatística Em dia com a leitura É bom demais fazer aquilo que gostamos. No meu caso, comunicar é quase uma bênção. Por ser tão apaixonada pelo ofício, fui convidada pelo SESC para participar do evento SESC em Dia com a Leitura, por meio do Encontro com o escritor. Falar da minha obra, como escrevi meu livro, como pesquisei as fontes, como tirei as fotos, escolhi o que deveria entrar ou não, enfim, foi muito bom, mesmo com poucos exemplares, falar com adultos, jovens, crianças, e explicar porque escolhi o hip-hop como estilo de vida. Vários passantes e turistas foram atraídos pelo banner que coloquei na tenda destinada ao “meu espaço”. O bacana é que eu tinha uma tenda própria e um espaço também. O banner é o que o Suburbano pintou na época do TCC e que serviu, mais uma vez, literalmente, como pano de fundo para expor sobre nossa cultura. Perguntaram-me sobre o evento que estava acontecendo, sobre a cidade e sobre meu trabalho. Contei um pouco dos venenos que havia passado para estar ali e ainda dos que passo para tentar ser alguma coisa, para tentar construir a própria realidade, para tentar transformar e para encontrar forças não sei bem onde para continuar empenhada em projetos sociais como o Cultura Marginal que engloba o Passa Livros também. 486 487 Foi somente naquele dia, quando várias crianças me pediam livros, corriam pela praça “brincando” com a arte, que percebi que, apesar de todas as dificuldades, das fases difíceis, de perder as pessoas queridas, de me desdobrar em trabalhos de mais de doze horas por dia, fora o veneno do transporte, do descaso, da falta de dinheiro para o básico, de sustentar um diploma, um título, um bacharelado e, mesmo assim, ganhar uma merreca que sequer paga o valor da mensalidade investida na faculdade, enfim, saquei que, apesar de todos os reveses, eu não quero desistir e somente trabalhar como meus familiares, meus vizinhos e meus amigos. Não quero o título de “escritora”, de “agitadora cultural” de “voluntária” e o de jornalista é consequência. Quero chegar em casa feliz com o sorriso das crianças, com o dia das pessoas transformado por uma caixinha poética, por um livro ganhado assim, no meio do caos urbano, quero a lembrança de idosos sorrindo por ver algo de bom sendo feito neste mundo egoísta. Estava ali naquela tenda, vi o SESC promover a leitura, incentivar as crianças e pensei que não sei mais viver sem isso. Sem propagar as ações, sem escrever por meio do hip-hop. Não queria apenas vender os livros. Queria algo bem mais do que isso. Queria exatamente o que estava acontecendo. Que as pessoas parassem para perguntar, não unicamente a mim, mas se perguntar o porquê de elas também não fazerem mais. Muita gente, com muito mais condições, se fecha no próprio mundinho de whisky importado, prozac e carro do ano, cheirando pó em algum iatezinho por aí e se esquece dos empregados, funcionários e demais habitantes do mundo. Eles têm sonhos e na maior parte das vezes, são estas pessoas, com mais condições, que pisoteiam nos ideais de quem é mais pobre, marginalizado. 488 Traficando conhecimento Estatística 489 490 Traficando conhecimento Para ficar, realmente, em dia com a leitura, naquele momento, revi toda a trajetória. Todos os sonhos, quase interrompidos, quando a Anita morreu e me deixou com o livro, com uma bagagem bem pesada de coisas para realizar e sem tê-la por perto para me ajudar a continuar, a sonhar. Lembrei ainda de todas as vezes que pensei em desistir, em largar tudo, porque era massacrada no emprego do Jornal de Poços que pagava mal, tinha um assédio moral absurdo, sugava todas as energias e não deixava tempo, sequer, para eu dar um beijo na minha mãe. Sem falar das inúmeras críticas de quem sempre esteve à volta, passando os mesmos perrengues e pagando de elite, dizendo que cultura marginal é coisa de bandido e que, bom mesmo, é estar “nas paradas do sucesso”, o que, para mim, não é nada mais do que puxar saco de político falso. Engraçado que o evento me fez pensar e rever tudo isso. Rever gente que lutou e desistiu na primeira queda e guerreiros que não abandonam o barco. Gente que faz muito e gente que carrega um título e nem sempre faz o que precisa para evoluir. Saquei que queria, sim, o progresso, que queria continuar e que desistir não seria mais nem pensado. Minha mãe estava lá comigo, como sempre, acompanhando e apoiando as ações. Nunca me deixou cair, assim como meu pai. E, talvez, justamente por isso, eu nunca tenha desistido. Entretanto, não deixa de ser difícil. Lembrei que, em 2008, quando meu pai ficou doente e quase morreu, o meu desespero em não ter de onde tirar grana para levá-lo no médico particular, pagar um tratamento bom e vendo gente, que, como minha irmã — funcionária pública — nadava no dinheiro do Estado e não podia, sequer, pagar a ele um tratamento ou um convênio médico. Estatística 491 Por isso, jurei a mim mesma que passaria o veneno que fosse, mas não deixaria meus pais na mão. Fácil não é, e faço muita coisa errada, estou aprendendo, mas já adianto que não vou parar. Cada dia que passa tenho mais vontade de lutar, trabalhar e fazer em prol da cultura do gueto na minha quebrada. Na última semana participei da Confraria das Ideias para a V Feira do Livro e Festival Literário na cidade, a mesma que indiquei o Sérgio Vaz para participar ao lado de Ferréz, e introduzir, ainda mais, a cultura marginal em Poços. Como sugestões pedidas, penso que descentralizar as ações e usar os artistas locais para irem aos bairros convidar a população para conhecer a feira, participar das oficinas e palestras, estar em meio aos livros é o que de melhor há para democratizar o evento. Fico feliz por ser reconhecida pelo trabalho que faço como jornalista e, também, na área cultural. No último resolvi que reportagem nenhuma vai mais me sugar como acontecia anteriormente. Vou dar o sangue por todas elas e fazer o meu melhor, pois amo estar na rua e reportar, porém, tudo tem limite e o meu tempo diário para dedicação à cultura e literatura, escrita, blogs e afins vai continuar sendo respeitado. Não vou deixar de escrever, de captar livros, de distribuir, de fazer o que gosto. Espero mudar a consciência das pessoas e fazê-las ver que, por meio da arte e do conhecimento, podemos conquistar o que queremos. Ainda ando de ônibus e os quarenta minutos na ida e mais quarenta minutos na volta são preenchidos com muita literatura nacional. E as oficinas devem se tornar, em breve, mais organizadas e acontecer também em escolas, como atividades extracurriculares, paralelas às aulas. 492 Traficando conhecimento Ainda naquela tarde bem quente do final do ano pensei, revi minha vida e tive uma única certeza: o projeto Cultura Marginal vai continuar existindo. Como diz Sérgio Vaz, “a arte que liberta não vem da mão que escraviza” e estamos juntos, pelas periferias brasileiras, lutando e quebrando as correntes e amarradas invisíveis da sociedade. Um brinde ao saber, ao conhecimento, à arte, à literatura e ao hip-hop, que salvou a minha vida e a de tantos outros parceiros Brasil afora. Um brinde àqueles que sempre gostaram de ler e um maior ainda àqueles que diziam “não gosto de ler” e, hoje, fazem questão de gritar: “Literatura é minha vida.” Esta cultura carrega consigo a força do protesto e da indignação. Ela sobrevive, se opõe ao obscuro mundo da criminalidade e enfrenta uma guerra diária de preconceitos. Mas se rebela contra a exclusão e inclui, mesmo que ainda na marginalidade, toda uma nação, em um misto de alegria e tristeza, a cultura hip-hop. Sobrevive, marca e faz história para quem se sente maravilhado por tudo que a Cultura Marginal proporciona. As pessoas podem parar. Uma cultura, jamais. O hip-hop e a literatura não param nunca. Vários livros, teses e reportagens foram escritos sobre o assunto, e terminaram sempre no ponto final da última página, mas as produções culturais do gueto continuam independente deles. Desta vez não será diferente. Enquanto tiver uma cultura marginal, sempre haverá o que ser estudado e reportado. Qualquer tema acerca da periferia nunca será esgotado. Até o momento o gueto refletiu estilos de vida e comportamento, marcou gerações, mudou radicalmente muitas pessoas, salvou muitas vidas. Continua carregando consigo uma enorme força de protesto, vontade de progresso. Estatística 493 “Paz, amor, diversão e união”, a ideologia criada por África Bambaataa quando ele batizou o maior movimento social dos últimos trinta anos – o hip-hop – e que permanece presente. Mesmo entre uma realidade que em um primeiro momento consegue colocar fim a tantos sonhos. O hip-hop, atrelado à arte e à literatura, continua se opondo às opressões raciais e sociais. Muitas vezes sinuosa e controversa, não deixa de ser fascinante. Mesmo estando à margem da sociedade, não deixa de ser uma cultura. Uma cultura guerreira, que caminha sobre pedras, mas, mesmo assim, não deixa de sonhar, fazer música, poesia, arte, dança e pintura. Em um caldeirão de misturas, a Cultura Marginal é um marco de pessoas, filosofias e ideais. Posteriormente, o discurso poderá mudar, ser substituído por outro, mas a essência do movimento continuará marcando povos e fazendo história, afinal é o hip-hop, a cultura marginal. Imagens: índice e créditos P.90-91 Evento “Casa da Imprensa” foto: Luciano Santos P.98-99 Ensaio de break na fonte do Leãozinho, patrimônio histórico em Poços de Caldas foto: Jéssica Balbino P.108 Entre Livros no primeiro trabalho com carteira assinada, na Livraria Alfarrábios foto: Acervo pessoal P.118-119 Banca examinadora do TCC “Hip-Hop – A Cultura Marginal” foto: Acervo pessoal P.19 Periferia de Poços de Caldas foto: Márcio Pinto P.23 Periferia de Poços de Caldas foto: Márcio Pinto P.135 Projeto LEIA foto: Jéssica Balbino P.136-137 Grupo Silencia Crewativo no Morumbi (SP), durante as P.128-129 Show do MV Bill durante o Hutúz 2009 no Circo Voador foto: Jéssica Balbino P.27 P.32-33 Polícia em combate ao tráfico no Morro São João foto: Márcio Pinto P.39 Evento Hip-Hop Sul foto: Acervo pessoal P.46-47 Suburbano e Lu Afri, do grupo UClanos foto: Jéssica Balbino P.54-55 Back Spin Crew como jurados de batalhas de break em Pouso Alegre, sul de Minas foto: Jéssica Balbino P.56-57 Apresentação de dança no Hip-Hop em Foco foto: Wagner Alves pesquisas para o livro-reportagem foto: Acervo pessoal P.140 Anita Motta entrevistando aluno da oficina de MC na Casa do Hip-Hop foto: Acervo pessoal P.141 Grafite no Vale do Anhangabaú foto: Acervo pessoal P.143 Jéssica Balbino nas pick-ups do DJ Pow, na Zona Oeste de São Paulo durante as pesquisas do livro foto: Anita Motta Apresentação de dança no Hip-Hop em Foco foto: Jéssica Balbino P.147 Garoto na Casa do Hip-Hop em Diadema (SP) foto: Acervo pessoal P.67 Valdair, b.boy foto: Acervo pessoal P.152 P.76 Jéssica Balbino lendo na livraria Alfarrábios foto: Acervo pessoal Guilherme Dore e Anita Motta diagramando o livro-reportagem para o TCC foto: Acervo pessoal P.155 Jéssica Balbino e Anita Motta, no banheiro da faculdade, provando as roupas para apresentação do TCC foto: Acervo pessoal P.81 Jéssica Balbino na periferia de Poços de Caldas foto: Márcio Pinto P.85 Leopac no 2º Hip-Hop em Foco foto: Wagner Alves P.89 Jéssica Balbino na redação do Jornal Mantiqueira foto: Marcos Corrêa P.158-159 Banner grafitado por Suburbano para apresentação do TCC foto: Acervo pessoal P.160-161 Anita Motta e Jéssica Balbino durante apresentação do trabalho foto: Acervo pessoal P.162-163 Grupo UClanos durante apresentação do TCC P.249 Participação no programa Mix 104 + foto: Acervo pessoal P.253 Periferia de Poços de Caldas foto: Márcio Pinto P.260 Grafite no Hip-Hop Em Foco e Leopac no Hip-Hop Em Foco foto: Acervo pessoal foto: Acervo pessoal P.166-167 Comemoração após o término de todas apresentações de TCCs em 2006 foto: Acervo pessoal P.168-169 Professores da banca examinadora e alunas foto: Acervo pessoal P.175 P.179 P.185 P.189 P.263 Gravação de programa sobre Hip-Hop nas aulas de radiojornalismo foto: Acervo pessoal Espetáculo de dança no Hip-Hop Em Foco foto: Wagner Alves P.268 Gueto de Poços de Caldas foto: Márcio Pinto Periferia de Poços de Caldas foto: Márcio Pinto P.277 Anita e Jéssica no encerramento das aulas no 4º ano de faculdade foto: Acervo pessoal Jéssica Balbino no Jornal de Poços de Caldas em 2007 foto: Michele Miyake P.288 Jéssica Balbino durante entrevista para o livro-reportagem foto: Acervo pessoal Grafite no centro de São Paulo foto: Acervo pessoal P.299 Entrevista com King Nino Brown durante as pesquisas para o TCC foto: Acervo pessoal P.317 Periferia de São Paulo, capital foto: Jéssica Balbino Pelas Periferias do Brasil na Ação Educativa (SP) foto: Acervo pessoal P.328 Palco do Hip-Hop na Virada Cultural em 2008 foto: Jéssica Balbino Oficina de Hip-Hop e literatura na Zona Sul de Poços de Caldas foto: Juliana Martins P.332-333 Apresentação para o show do pai do Hip-Hop, P.192-193 Grafite no centro de São Paulo exaltando a cultura de rua foto: Elza Balbino P.202-203 Lançamento do livro Suburbano Convicto — P.209 P.214-215 Oficina de Hip-Hop em escolas públicas foto: Jéssica Balbino P.221 Jéssica Balbino na biblioteca pública em Poços de Caldas foto: Marcos Corrêa P.226-227 Participação no programa de rádio Mix na rádio 104+ foto: Acervo pessoal P.234-235 Lançamento do Suburbano Convicto – Pelas Afrika Bambaataa, na Virada Cultural foto: Jéssica Balbino P.337 P.344-345 Cultura Marginal: Pela Vida foto: Acervo pessoal P.346-347 Apresentação de break no evento Cultura Marginal: Pela Vida foto: Acervo pessoal P.352-353 B.girl e MC durante o evento Cultura Marginal: Pela Vida Periferias do Brasil na Ação Educativa (SP) foto: Acervo pessoal foto: Acervo pessoal P.357 P.241 Lançamento do Suburbano Convicto – Pelas Periferias do Brasil na Ação Educativa (SP) foto: Acervo pessoal Grafite no palco do Hip-Hop na Virada Cultural em 2008 foto: Jéssica Balbino Gabriel, O Pensador lendo durante a Feira de Livros, em Poços de Caldas foto: Acervo pessoal P.358-359 Jéssica Balbino entrevista MV Bill durante palestra na P.438-441 Projeto Passa Livros no Terminal de Linhas Urbanas de Feira do Livro em Poços de Caldas foto: Márcio Pinto P.360-361 Jéssica Balbino e Nega Gizza durante palestra na Feira do Poços de Caldas foto: Eduardo Correia P.445 Livro em Poços de Caldas foto: Márcio Pinto P.378-379 Jéssica Balbino lendo o Jornal Mantiqueira durante o evento P.446-447 Projeto Passa Livros distribui palavras cruzadas na periferia de Poços de Caldas foto: Elza Balbino “Casa da Imprensa” foto: Juliana Martins P.385 Ensaio do grupo de break Silêncio Crewativo foto: Anita Motta P.387 Oficina de DJ na Casa do Hip-Hop foto: Anita Motta P.388-389 Grafites na Casa do Hip-Hop Projeto Passa Livros na periferia de Poços de Caldas foto: Elza Balbino P.450-451 Rap educativo em escola pública de Poços de Caldas foto: Jéssica Balbino P.455 Jovens fazem letras de rap na Casa do Hip-Hop foto: Acervo pessoal P.462-463 Jéssica Balbino durante palestra/oficina para estudantes de Jornalismo foto: Luciano Santos foto: Anita Motta P.390-391 Periferia de Poços de Caldas P.398 Alunos durante oficina sobre literatura marginal e Hip-Hop foto: Luciano Santos foto: Márcio Pinto P.467 Jéssica Balbino e o escritor Renato Vital foto: Acervo pessoal P.472-473 Palestra sobre literatura marginal e Hip-Hop em escola P.399 King Nino Brown no acervo da Casa do Hip-Hop foto: Acervo pessoal P.407 DJ Pow do grupo Império Z/O durante as entrevistas para o livro-reportagem foto: Acervo pessoal pública para alunos do ProJovem foto: Luciano Santos P.474 Professor entrega textos sobre literatura marginal para alunos foto: Luciano Santos P.480-481 Programa Repercussom com música negra na periferia foto: Jéssica Balbino P.410-411 Lançamento do livro Suburbano Convicto — Pelas Periferias do Brasil na Ação Educativa (SP) foto: Acervo pessoal P.484-485 Evento Hip-Hop em Foco 2 foto: Wagner Alves P.416 UClanos durante show no Circo Voador no Hutúz 2009 foto: Jéssica Balbino P.488-489 Evento Sesc em Dia com a Leitura foto: Elza Balbino P.422-423 Encontro do grupo UClanos com MC Budog do grupo Elemento.S foto: Jéssica Balbino P.428-429 Grafite no evento Beatz, Zona Sul de Poços de Caldas foto: Jéssica Balbino P.430-431 Garoto se converte durante o show do grupo Manuscritos em Poços de Caldas foto: Acervo pessoal P.494-495 Programa Repercussom foto: Jéssica Balbino P.502 Jéssica Balbino foto: Marcos Corrêa 502 Sobre a autora Jéssica escreve para a massa. E por não conseguir largar mão desse vício tornou-se jornalista. Já acreditou na utopia de mudar o mundo. Hoje tenta mudar a própria quebrada. Prefere a rua às redações e gosta mesmo é de mergulhar nas matérias, indo além das pautas. Foge do jornalismo convencional e se alia ao literário, tentando descobrir pequenas histórias, sempre relatadas em grandes matérias. É apaixonada pelo hip-hop, pela sua vivência e essência. Não sabe cantar rap, riscar discos, dançar break ou mesmo grafitar. É eclética e aliou-se ao 5º elemento — conhecimento — ainda adolescente e nunca mais conseguiu deixar. Tem mania de falar que o hip-hop salvou a sua vida e passando isso adiante faz de tudo para tentar salvar esta cultura. Atua em projetos como “Cultura Marginal”, por meio de palestras e oficinas com literatura para crianças e jovens, promove e participa de eventos de hip-hop e distribui livros, poemas e sorrisos pelas ruas da cidade de forma gratuita, por acreditar que um dia fica melhor na vida de quem recebe cultura. Não vive sem e fora da periferia. Acha esta palavra tão linda e rica quanto este mundo é na realidade, e o melhor: pulsa. Este livro foi composto em Akkurat. O Papel utilizado para a capa foi o Cartão Supremo 250g/m². Para o miolo foi utilizado o Pólen Bold 90g/m². Impresso pela Imprinta Express em setembro de 2010. Todos os recursos foram empenhados para identificar e obter as autorizações dos fotógrafos e seus retratados. Qualquer falha nesta obtenção terá ocorrido por total desinformação ou por erro de identificação do próprio contato. A editora está à disposição para corrigir e conceder os créditos aos verdadeiros titulares.
Baixar