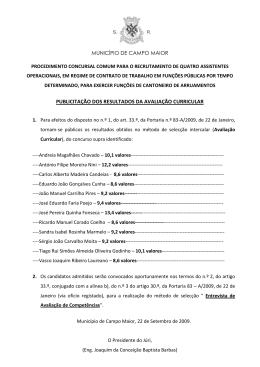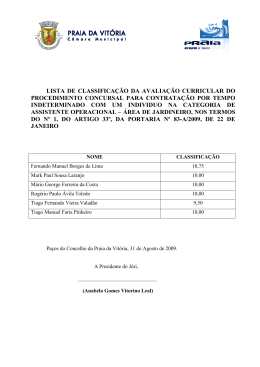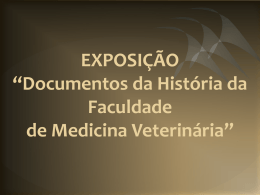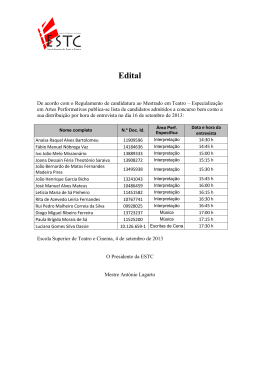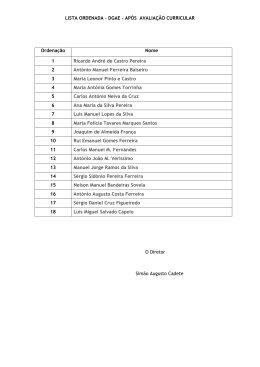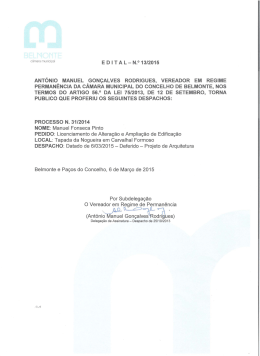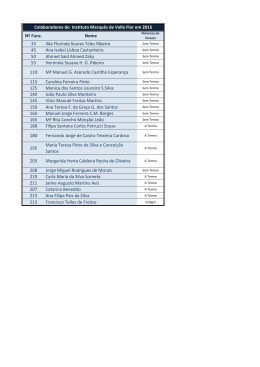ISABEL ALLENDE O CADERNO DE MAYA «Sou Maya Vidal, dezanove anos, sexo feminino, solteira, sem namorado por falta de oportunidade e não por esquisitice, nascida em Berkeley, Califórnia, com passaporte americano, temporariamente refugiada numa ilha no sul do mundo. Chamaram-me Maya porque a minha Nini adora a Índia e não ocorreu outro nome aos meus pais, embora tenham tido nove meses para pensar no assunto. Em hindi, Maya significa “feitiço, ilusão, sonho”, o que não tem nada a ver com o meu carácter. Átila teria sido mais apropriado, pois onde ponho o pé a erva não volta a crescer.» ISABEL ALLENDE O CADERNO DE MAYA Esta Maya fez-me sofrer mais do que qualquer outra das minhas personagens. Em algumas cenas apeteceu-me dar-lhe um par de estalos para chamá-la à razão, e noutras envolvê-la num abraço apertado para a proteger do mundo e do seu próprio coração imprudente. Oo Oo ISABEL ALLENDE O CADERNO DE MAYA Tradução de Alcinda Marinho Oo O caderno de Maya Isabel Allende Publicado em Portugal por: Porto Editora, Lda. Divisão Editorial Literária – Porto Email: [email protected] Título original: El Cuaderno de Maya © Isabel Allende, 2011 Design da capa: Marta Borrel / RandomHouse Mondadori Adaptação para a versão portuguesa: XPTO Design Ilustração: © Ana Juan Reservados todos os direitos. Esta publicação não pode ser reproduzida, nem transmitida, no todo ou em parte, por qualquer processo eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outros, sem prévia autorização escrita da Editora. Este livro respeita as regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 2011 Execução gráfica Bloco Gráfico, Lda. Unidade Industrial da Maia. Sistema de Gestão Ambiental certificado pela APCER, com o n.° 2006/AMB.258 Aos adolescentes da minha tribo: Alejandro, Andrea, Nicole, Sabrina, Aristotelis e Achilleas Tell me, what else should I have done? Doesn’t everything die at last, and too soon? Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Diz‑me, que outra coisa deveria ter feito? Não morre tudo um dia, e cedo de mais? Diz‑me, que planeias fazer com a única vida que tens, selvagem e preciosa? Mary Oliver, The Summer Day Verão (janeiro, fevereiro, março) 5 Há uma semana, a minha avó deu‑me um abraço sem lágrimas no aeroporto de São Francisco e voltou a dizer‑me que, se dava valor à vida, não entrasse em contacto com ninguém conhecido até termos a certeza de que os meus inimigos já não andavam à minha procura. A minha Nini é paranoica, como o são os habitantes da República Popular Independente de Berkeley, que se creem perse‑ guidos pelo governo e pelos extraterrestres, mas no meu caso não estava a exagerar, pois todos os cuidados eram poucos. Deu‑me um caderno de cem folhas para manter um diário da minha vida, como tinha feito dos oito aos quinze anos, quando o meu destino se entor‑ tou. Não te vai faltar tempo para te aborreceres, Maya. Aproveita para escreveres sobre as asneiras monumentais que fizeste, para ver se compreendes o seu devido peso, disse‑me. Há vários diários meus, selados com fita‑adesiva industrial, que o meu avô costumava guar‑ dar fechados à chave no seu escritório e agora estão metidos numa caixa de sapatos debaixo da cama da minha avó. Este seria o meu caderno número 9. A minha Nini acredita que os cadernos me vão ser úteis um dia que faça psicanálise, porque encerram as chaves para desatar os nós da minha personalidade; no entanto, se os tivesse lido saberia que contêm um monte de fábulas capazes de desorientar o próprio Freud. Por princípio, a minha avó desconfia dos profissionais que cobram à hora, já que os resultados rápidos não lhes são nada convenientes, mas abre uma exceção para os psi‑ quiatras, porque um a salvou da depressão e das armadilhas da magia quando lhe deu na cabeça pôr‑se a tentar comunicar com os mortos. 6 Pus o caderno na minha mochila para não a ofender, sem nenhuma intenção de o vir a usar, mas a verdade é que aqui o tempo demora a passar e escrever é uma forma de ocupar as horas. Esta primeira semana no exílio foi longa para mim. Estou numa ilha quase invisível no mapa, em plena Idade Média. Acho difícil escre‑ ver sobre a minha vida, porque não sei quanto são recordações e quanto é produto da minha imaginação. A verdade pura pode ser entediante, por isso, sem mesmo me aperceber, mudo‑a ou exagero‑a, mas pretendo corrigir esta falha e mentir o menos possí‑ vel no futuro. E é assim que, no momento presente, quando até mesmo os índios Yanomani da Amazónia usam computadores, eu estou a escrever à mão. Demoro bastante tempo, e devo estar a escrever no alfabeto cirílico, porque nem mesmo eu consigo deci‑ frar a minha letra, mas suponho que irá ficando mais clara de página para página. Escrever é como andar de bicicleta: nunca se esquece, mesmo se passarmos anos sem praticar. Tento avançar segundo uma ordem cronológica, já que a narrativa deve seguir algum tipo de ordem e pensei que assim seria fácil, mas perco o fio à meada, perco‑me por caminhos secundários ou esqueço‑me de algo importante várias páginas mais à frente e já não há forma de o intercalar no relato. A minha memória move‑se em círculos, espirais e saltos de trapezista. Chamo‑me Maya Vidal, dezanove anos, sexo feminino, solteira, sem namorado por falta de oportunidade e não por esquisitice, nas‑ cida em Berkeley, Califórnia, com passaporte americano, tempora‑ riamente refugiada numa ilha no sul do mundo. Chamaram‑me Maya porque a minha Nini adora a Índia e não ocorreu outro nome aos meus pais, embora tenham tido nove meses para pensar no assunto. Em hindi, Maya significa «feitiço, ilusão, sonho», o que não tem nada a ver com o meu carácter. Átila teria sido mais apropriado, pois onde ponho o pé a erva não volta a crescer. A minha história começa no Chile com a minha avó, a minha Nini, muito antes de eu nascer, porque se ela não tivesse emigrado não se teria apaixonado 7 pelo meu Popo nem se teria instalado na Califórnia, o meu pai não teria conhecido a minha mãe e eu não seria eu, mas uma jovem chi‑ lena muito diferente. E como sou eu? Um metro e oitenta, cinquenta e oito quilos quando jogo futebol e vários quilos mais quando me descuido, pernas musculosas, mãos desajeitadas, olhos azuis ou cinzentos, segundo a hora do dia, e acho que sou loura mas não tenho a certeza, uma vez que há vários anos que não vejo a cor natu‑ ral do meu cabelo. Não herdei o aspeto exótico da minha avó, com a sua pele cor de azeitona e aquelas olheiras escuras que lhe dão um ar depravado, ou do meu pai, aprumado como um toureiro e igual‑ mente vaidoso, nem tão‑pouco me pareço com o meu avô – o meu magnífico Popo –, que por infelicidade não é o meu antepassado biológico, mas o segundo marido da minha Nini. Pareço‑me com a minha mãe, pelo menos no tamanho e na cor. A minha mãe não era nenhuma princesa da Lapónia, como pensava antes de ter uso da razão, mas uma hospedeira de voo dinamar‑ quesa por quem o meu pai, piloto comercial, se apaixonou em pleno ar. O meu pai era demasiado jovem e pobre para se casar, mas meteu na cabeça que aquela era a mulher da sua vida e perseguiu‑a teimo‑ samente até que ela cedeu por cansaço. Ou talvez tenha cedido por‑ que estava grávida. A verdade é que se casaram e se arrependeram ao fim de uma semana, mas ficaram juntos até ao meu nascimento. Alguns dias depois de eu nascer, enquanto o marido andava pelos ares, a minha mãe fez as malas, enrolou‑me numa mantinha, apa‑ nhou um táxi e foi ver os sogros. A minha Nini andava por São Francisco a protestar contra a Guerra do Golfo, mas o meu Popo estava em casa e recebeu o volume que a minha mãe lhe entregou sem lhe dar muitas explicações antes de correr para o táxi que a esperava. A neta era tão leve que cabia numa só mão do avô. Pouco depois, a dinamarquesa mandou por correio os papéis do divórcio e, de brinde, a renúncia à custódia da filha. A minha mãe chamava ‑se Marta Otter e conheci‑a no verão dos meus oito anos, quando os meus avós me levaram à Dinamarca. 8 Encontro‑me no Chile, o país da minha avó Nidia Vidal, onde o oceano come a terra às dentadinhas e o continente sul‑americano se desfia em ilhas. Para ser mais precisa, estou em Chiloé, parte da Região dos Lagos, entre o paralelo 41 e o paralelo 43, latitude sul, um arquipélago com mais ou menos nove mil quilómetros quadra‑ dos de superfície e uns duzentos mil habitantes, todos mais baixos que eu. Na língua mapuche, o idioma dos indígenas da região, Chi‑ loé quer dizer «terra da gaivota‑maria‑velha»1, que é uma espécie de gaivota de cabeça negra que faz muito barulho, mas deveria chamar ‑se terra de madeira e batatas. Para além da Ilha Grande, onde se encontram as cidades mais povoadas, existem muitas ilhas peque‑ nas, várias das quais desabitadas. Algumas encontram‑se em gru‑ pos de três e quatro e estão tão próximas umas das outras que na maré baixa se tocam, mas eu não tive a sorte de ir parar a uma des‑ tas e vivo a quarenta e cinco minutos, em lancha a motor e com mar calmo, da localidade mais próxima. A minha viagem desde o norte da Califórnia até Chiloé começou no nobre Volkswagen amarelo da minha avó, que sofreu dezassete embates desde 1999 mas anda como um Ferrari. Parti em pleno inverno, num daqueles dias de vento e chuva em que a baía de São Francisco perde as cores e parece desenhada com caneta de tinta permanente, em tons de branco, preto e cinzento. A minha avó con‑ duzia ao seu estilo, aos solavancos, agarrada ao volante como a um salva‑vidas, com os olhos postos em mim mais que na estrada, ocu‑ pada a dar‑me as últimas instruções. Ainda não me tinha explicado exatamente para onde me ia mandar; Chile era tudo o que tinha referido ao traçar o plano para me fazer desaparecer. No carro, revelou‑me os pormenores e entregou‑me um guiazinho turístico em edição barata. – Chiloé? Que lugar é esse? – perguntei. No original o nome desta gaivote é «cáhuil». (N. da T.) 1 9 – Tens aí toda a informação necessária – respondeu ela, indi‑ cando o livro. – Parece muito longe… – Quanto mais longe fores, melhor. Em Chiloé conto com um amigo, o Manuel Arias, a única pessoa neste mundo, tirando o Mike O’Kelly, a quem me atreveria a pedir para te esconder um ano ou dois. – Um ano ou dois! Estás avariada da cabeça, Nini! – Olha, menina, há momentos em que não temos controlo nenhum sobre a nossa própria vida; as coisas acontecem, é tudo. Este é um desses momentos – anunciou‑me com o nariz encostado ao para‑brisas, tentando orientar‑se enquanto dávamos voltas às cegas pelo emaranhado de autoestradas. Chegámos a correr ao aeroporto, despedimo‑nos sem grandes exageros sentimentais e a última imagem que guardo dela é do Volkswagen afastando‑se aos solavancos sob a chuva. Viajei várias horas até Dallas, apertada entre a janela e uma gorda que cheirava a amendoim torrado, e a seguir apanhei outro voo de dez horas para Santiago do Chile, acordada e cheia de fome, recordando, pensando e lendo o livrinho sobre Chiloé, que exaltava as virtudes da paisa‑ gem, das igrejas de madeira e da vida rural. Fiquei apavorada. O dia 2 de janeiro deste ano de 2009 amanheceu com um céu alaranjado sobre as montanhas arroxeadas dos Andes, definitivas, eternas, imensas, e a voz do piloto anunciou a aterragem. Logo apareceu um vale verde, filas de árvores, pastagens verdejantes e, ao longe, a cidade de Santiago do Chile, onde nasceram a minha avó e o meu pai e onde se encontra um pedaço misterioso da história da minha família. Sei muito pouco acerca do passado da minha avó, do qual ela raramente fala, como se a sua vida tivesse começado quando conhe‑ ceu o meu Popo. Em 1974, no Chile, morreu o seu primeiro marido, Felipe Vidal, alguns meses após o golpe militar que derrubou o governo socialista de Salvador Allende e estabeleceu uma ditadura 10 no país. Quando se viu viúva, a minha avó decidiu que não queria viver num regime opressor e emigrou para o Canadá com o filho Andrés, o meu pai. Este não consegue acrescentar muito à história, porque se lembra pouco da sua infância, mas continua a venerar o pai, do qual subsistem somente três fotografias. – Não vamos voltar, pois não? – disse Andrés quando iam no avião que os levou para o Canadá. Não foi uma pergunta, mas uma acusação. O meu pai tinha nove anos e, nos meses anteriores, tinha crescido muito em termos psico‑ lógicos; queria explicações, porque percebera que a mãe o tentava proteger com mentiras e meias‑verdades. Tinha aceitado corajosa‑ mente a notícia do súbito ataque cardíaco do pai, bem como a notí‑ cia de que este fora enterrado sem que pudesse ver o corpo para se despedir. Pouco depois, viu‑se num avião com destino ao Canadá. – É claro que vamos voltar, Andrés – garantiu a minha avó, mas o meu pai não acreditou. Em Toronto foram recebidos por voluntários do Comité para os Refugiados; forneceram‑lhes roupa adequada e instalaram‑nos num apartamento mobilado com as camas feitas e o frigorífico cheio. Nos três primeiros dias, enquanto duraram as provisões, mãe e filho permaneceram trancados em casa, tiritando de solidão, mas no quarto receberam a visita de uma assistente social que falava bem espanhol e os informou dos apoios e direitos de cada cidadão no Canadá. Antes de mais nada, receberam aulas intensivas de inglês e o menino foi matriculado na escola correspondente; depois, Nidia arranjou emprego como motorista, para evitar a humilhação de receber uma esmola do Estado sem trabalhar para isso. Era o emprego menos adequado para a minha Nini, que, se hoje guia pes‑ simamente, naquela altura guiava ainda pior. O breve outono canadiano deu lugar a um inverno polar, ótimo para Andrés, a quem agora chamavam Andy, que descobriu as ale‑ grias da patinagem no gelo e do esqui, mas insuportável para Nidia, que nunca se conseguia sentir quente ou ultrapassar a tristeza de ter perdido marido e país. O seu humor não melhorou com a chegada 11 de uma hesitante primavera nem com as flores que, numa só noite, brotaram como uma miragem onde antes havia neve dura. Sentia ‑se sem raízes e tinha a mala sempre feita, esperando a oportuni‑ dade de voltar ao Chile mal a ditadura terminasse, sem imaginar que isto tardaria dezasseis anos a acontecer. Nidia Vidal permaneceu em Toronto dois anos, contando os dias e as horas, até que conheceu Paul Ditson II, o meu Popo, um profes‑ sor da Universidade da Califórnia em Berkeley, que tinha ido a Toronto dar uma série de conferências sobre um esquivo planeta, cuja existência tentava provar mediante cálculos poéticos e saltos da imaginação. O meu Popo era um dos poucos astrónomos afro‐ame‑ ricanos numa profissão esmagadoramente dominada por brancos, uma eminência na sua área e autor de vários livros. Em jovem, pas‑ sara um ano no Lago Turkana, no Quénia, a estudar os antigos megálitos da região e, com base nas suas descobertas arqueológicas, desenvolvera a teoria de que aquelas colunas de basalto tinham sido observatórios astronómicos utilizados trezentos anos antes da era cristã para determinar o calendário lunar Borana, que os pastores da Etiópia e do Quénia continuam ainda a usar. Em África apren‑ deu a observar o céu sem ideias pré‑concebidas e assim nasceram as suas suspeitas sobre a existência do planeta invisível, que depois procurou inutilmente no céu com os telescópios mais poderosos. A Universidade de Toronto instalou‑o numa suíte para visitantes académicos e alugou‑lhe um carro através de uma agência, e foi deste modo que Nidia Vidal se viu a escoltar o professor durante a sua estada. Ao saber que a sua motorista era chilena, este contou‑lhe que estivera no observatório de Silla, no Chile, e que no hemisfério sul se veem constelações desconhecidas no norte, como as galáxias da Pequena Nuvem de Magalhães e da Grande Nuvem de Maga‑ lhães, e que em algumas partes as noites são tão límpidas e o clima tão seco que se tornam ideais para esquadrinhar o firmamento. Foi assim que se descobriu que as galáxias se agrupam em desenhos parecidos com teias de aranha. Por uma daquelas coincidências romanescas, o astrónomo terminara a sua visita ao Chile no mesmo 12 dia de 1974 em que a minha avó partira com o filho para o Canadá. Ocorreu‑me que talvez tenham estado juntos no aeroporto, espe‑ rando os respetivos voos, sem se conhecerem, mas segundo eles isso seria impossível, porque o meu Popo teria reparado naquela bela mulher e ela também o teria visto, pois no Chile daquela altura um negro chamava a atenção, especialmente um tão alto e garboso como o meu Popo. Bastou a Nidia uma manhã a conduzir por Toronto com o passa‑ geiro no banco de trás para compreender que este possuía a rara combinação de uma mente brilhante com a fantasia de um sonha‑ dor, mas lhe faltava por completo o sentido prático do qual ela tanto se orgulhava. A minha Nini nunca me conseguiu explicar como chegou a esta conclusão ao volante do carro e em pleno trânsito, mas o facto é que acertou em cheio. O astrónomo vivia tão perdido como o planeta que procurava nos céus. Em menos de um piscar de olhos, conseguia calcular quanto tempo demoraria a chegar à Lua uma nave espacial viajando a vinte e oito mil, trezentos e três quiló‑ metros por hora, mas ficava perplexo diante de uma cafeteira elé‑ trica. A minha avó não sentia o difuso esvoaçar do amor desde há anos e aquele homem, muito diferente de todos os que tinha conhe‑ cido nos seus trinta e três anos, intrigava‑a e atraía‑a. O meu Popo, bastante assustado com a audácia ao volante da sua motorista, também se sentia curioso acerca da mulher que se escon‑ dia atrás de um uniforme demasiado grande e de um gorro de caça‑ dor de ursos. Não era homem de ceder facilmente a impulsos sentimentais e, se por acaso lhe passou pela cabeça a ideia de a seduzir, descartou‑a de imediato por lhe parecer uma chatice. A minha Nini, pelo contrário, achando que não tinha nada a perder, decidiu atirar‑se ao astrónomo antes que acabassem as conferên‑ cias. Agradava‑lhe a sua pele cor de mogno – queria contemplá‑lo de alto a baixo – e pressentia que os dois tinham muito em comum, ele com a astronomia e ela com a astrologia, que na opinião da minha avó era quase a mesma coisa. Achou que ambos tinham vindo de longe para se encontrarem naquele ponto do globo e dos 13 seus destinos, porque era assim que estava escrito nas estrelas. Já nessa altura a minha avó era dependente do horóscopo, mas não foi por isso que deixou tudo ao acaso. Antes de tomar a iniciativa de o atacar de surpresa, deu‑se ao trabalho de descobrir que era solteiro, com boa situação económica, saudável e apenas onze anos mais velho que ela, embora à primeira vista pudesse parecer sua filha, se tivessem sido da mesma raça. Anos mais tarde, o meu Popo conta‑ ria, a rir, que se ela não o tivesse posto fora de combate no primeiro assalto, ainda continuaria a viver apaixonado pelas estrelas. Ao segundo dia, o professor sentou‑se no lugar da frente para observar melhor a sua motorista e esta deu várias voltas desnecessá‑ rias pela cidade para lhe dar tempo para isso. Nessa mesma noite, depois de dar de comer ao filho e de o deitar, Nidia despiu o uni‑ forme, tomou um duche, pintou os lábios e apresentou‑se diante da sua presa com o pretexto de lhe devolver uma capinha que o profes‑ sor tinha deixado no carro e a minha avó lhe podia perfeitamente ter entregue na manhã seguinte. Nunca tomara uma decisão amo‑ rosa tão atrevida. Chegou ao hotel desafiando um vento gelado, subiu até à suíte, benzeu‑se para ganhar coragem e bateu à porta. Eram onze e meia da noite quando se introduziu definitivamente na vida de Paul Ditson II. Em Toronto, a minha Nini tinha vivido como uma reclusa. De noite, ansiava pelo peso de uma mão masculina na cintura, mas tinha de sobreviver e criar o filho num país onde seria eternamente estrangeira, pelo que não lhe sobrava tempo para sonhos românti‑ cos. A coragem que naquela noite reunira para ir até ao quarto do astrónomo esfumou‑se mal este lhe abriu a porta em pijama e com ar de ter estado a dormir. Olharam‑se durante meio minuto sem saber que dizer, uma vez que ele não a esperava e a ela lhe faltava um plano de ação, até que ele a convidou a entrar, surpreendido pela diferença do seu aspeto sem o chapéu e o uniforme. Admirou o seu cabelo escuro, o seu rosto de feições irregulares e o seu sorriso um pouco torto, que antes tinha observado apenas de fugida. A minha avó, por seu lado, surpreendeu‑se com a diferença de 14 tamanho entre ambos, menos notável dentro do carro: em bicos de pés, conseguiria apenas tocar com o nariz no esterno do gigante. A seguir, deu conta da desordem de cataclismo nos reduzidos aposen‑ tos do professor e concluiu que aquele homem precisava seriamente dela. Paul Ditson II tinha passado a maior parte da sua existência a estudar o misterioso comportamento dos corpos astrais, mas perce‑ bia muito pouco de corpos femininos e nada dos caprichos do amor. Nunca se tinha apaixonado e a sua relação mais recente era com uma colega da faculdade com quem se encontrava duas vezes por mês, uma judia atraente e em boa forma para a idade, que insistia sempre em pagar metade da conta no restaurante. A minha Nini só tinha amado dois homens na vida, o seu marido e um amante que tinha arrancado da cabeça e do coração dez anos antes. O marido fora um companheiro bastante despistado, sempre absorto no seu trabalho e na ação política, que viajava sem parar e vivia demasiado distraído para reparar nas necessidades da mulher; o amante fora uma relação sem futuro. Nidia Vidal e Paul Ditson II estavam pron‑ tos para o amor que os uniria até à morte. Ouvi muitas vezes o relato, possivelmente romanceado, da histó‑ ria de amor dos meus avós e cheguei a decorá‑lo palavra por pala‑ vra, como se se tratasse de um poema. Como é óbvio, não conheço os pormenores do que se passou naquela noite à porta fechada, mas posso imaginá‑los com base no conhecimento que tenho de ambos. Suspeitaria o meu Popo, ao abrir a porta àquela chilena, que se encontrava numa encruzilhada transcendental e que o caminho que escolhesse determinaria o seu futuro? Não, de certeza que tamanha pirosice não lhe terá ocorrido. E a minha Nini? Vejo‑a a avançar como uma sonâmbula entre a roupa espalhada pelo chão e os cin‑ zeiros cheios de beatas, atravessar a salinha, entrar no quarto e sentar‑se na cama, porque o cadeirão e as cadeiras estavam todos ocupados com livros e papéis. Ou talvez ele se tenha ajoelhado ao lado dela para a abraçar, e assim teriam permanecido um bom bocado, procurando acostumar‑se à repentina intimidade. Talvez 15 ela tenha começado a sufocar com o aquecimento e ele a tenha aju‑ dado a tirar o casaco e as botas, e depois acariciaram‑se hesitante‑ mente, reconhecendo‑se, tateando a alma para se assegurarem de que não estavam enganados. Cheiras a tabaco e a sobremesa. E és liso e negro como uma foca, comentaria a minha Nini. Muitas vezes a ouvi dizer esta frase. Não tenho necessidade de inventar a última parte da lenda, por‑ que ma contaram. Durante aquele primeiro abraço, a minha Nini chegou à conclusão de que tinha conhecido o astrónomo noutras vidas e noutros tempos, de que aquilo era somente um reencontro e de que os seus signos astrais e os seus arcanos do Tarot se comple‑ mentavam. – Menos mal que és homem, Paul. Imagina se nesta encarnação tivesse calhado seres minha mãe… – suspirou ela, sentada nos joe‑ lhos dele. – Mas como não sou tua mãe, que achas de nos casarmos? – res‑ pondeu ele. Duas semanas mais tarde, a minha avó chegou à Califórnia arrastando atrás de si o filho que não queria emigrar outra vez, munida de um visto concedido ao abrigo da sua relação com o pro‑ fessor, com validade de três meses, ao cabo dos quais devia casar‑se ou sair do país. Casaram‑se. Passei o meu primeiro dia no Chile dando voltas por Santiago com um mapa na mão, num calor pesado e seco, fazendo horas para apanhar um autocarro em direção ao sul. Santiago é uma cidade moderna, sem nada de exótico ou pitoresco. Não há índios vestidos com trajes típicos nem bairros coloniais pintados de cores atrevidas, como tinha visto com os meus avós na Guatemala e no México. Subi num funicular até ao cimo de uma colina, passeio obrigatório para os turistas, e pude ficar com uma ideia do tamanho da capital, que parece não terminar em lado nenhum, e da poluição que a cobre como uma névoa empoeirada. Ao entardecer, embarquei num auto‑ carro cor de damasco rumo ao sul e a Chiloé. 16 Tentei em vão dormir, embalada pelo movimento, pelo ronronar do motor e pelo ressonar dos outros passageiros, mas nunca me foi fácil dormir e é‑o muito menos agora, que ainda conservo resíduos da má vida nas veias. Ao amanhecer, o autocarro deteve‑se para os passageiros poderem tomar um café e ir à casa de banho numa pou‑ sada, no meio de uma paisagem pastoral de colinas verdes e vacas a pastar, e depois continuámos por várias horas mais até um cais rudimentar, onde pudemos desentorpecer os ossos e comprar empadas de queijo e marisco a algumas mulheres vestidas com batas brancas de enfermeiras. O autocarro subiu para um ferry para atravessarmos o Canal de Chacao e navegámos silenciosamente durante meia hora por um mar luminoso. Desci do autocarro para espreitar pela amurada junto com o resto dos entorpecidos passa‑ geiros que, como eu, estavam há muitas horas presos aos seus assen‑ tos. Desafiando o vento cortante, admirámos os bandos de andorinhas, que se assemelhavam a lenços a ondear no céu, e as toninhas, uns golfinhos de ventre branco que acompanhavam a embarcação a dançar. O autocarro deixou‑me em Ancud, na Ilha Grande, a segunda cidade mais importante do arquipélago, e ali deveria apanhar outro para ir até à aldeia onde me esperava Manuel Arias, mas descobri que me faltava a carteira. A minha Nini tinha ‑me prevenido contra os carteiristas chilenos e a sua habilidade de ilusionistas: roubam‑nos a alma amavelmente. Por sorte, não me levaram a foto do meu Popo e o passaporte, que trazia noutro bolsi‑ nho da mochila. Estava sozinha, sem um centavo, num país desco‑ nhecido, mas, se as minhas infaustas aventuras do ano anterior me tinham ensinado algo, fora a não me deixar abater por inconvenien‑ tes de pouca monta. Numa das pequenas lojas de artesanato da praça, que vendia tecidos de Chiloé, havia três mulheres sentadas em círculo, conver‑ sando e tecendo, e supus que, se fossem como a minha Nini, me iriam ajudar. As chilenas saltam em auxílio de alguém em apuros, especialmente se for forasteiro. Expliquei‑lhes o problema no meu espanhol vacilante e, de imediato, largaram os seus pauzinhos e 17 ofereceram‑me uma cadeira e um refrigerante de laranja, enquanto discutiam o meu caso, cortando a palavra umas às outras para opi‑ nar. Fizeram várias chamadas por telemóvel, conseguiram‑me boleia com um primo que ia na minha direção, me podia levar dali a um par de horas e não via incómodo em desviar‑se um pouco para me deixar no meu destino. Aproveitei o tempo de espera para visitar a aldeia e um museu das igrejas de Chiloé, desenhadas por missionários jesuítas há tre‑ zentos anos e erguidas tábua a tábua pelos chilotes, que são mestres da madeira e construtores de embarcações. As estruturas mantêm ‑se de pé por via de engenhosos acoplamentos, sem um único prego, e os tetos abobadados são botes invertidos. À saída do museu, encontrei o cão. Era de tamanho médio, coxo, com um pelo teso e encanecido e uma cauda lamentável, mas tinha a atitude digna de um animal com pedigree. Ofereci‑lhe a empada que tinha na mochila, ele agarrou‑a com delicadeza entre os grandes dentes ama‑ relos, pousou‑a no chão e olhou‑me, dizendo‑me claramente que a sua fome não era de comida, mas de companhia. A minha madrasta, Susan, era treinadora de cães e ensinou‑me a não tocar num animal antes que o mesmo se aproxime, sinal de que se sente seguro, mas naquele caso saltámos o protocolo e demo‑nos bem desde o início. Andámos por ali juntos a fazer turismo e, à hora acordada, regressei para junto das tecedeiras. O cão permaneceu fora da loja, com uma só pata pousada na ombreira, educadamente. O primo demorou mais uma hora para além do anunciado a aparecer e chegou num furgão cheio até ao teto, acompanhado pela mulher e um menino de peito. Agradeci às minhas benfeitoras, que também me tinham emprestado o telemóvel para ligar a Manuel Arias, e despedi‑me do cão, mas este tinha outros planos. Sentou‑se a meus pés varrendo o chão com a cauda e sorrindo como uma hiena. Tinha‑me feito o favor de me distinguir com a sua atenção e agora eu era a sua afortunada humana. Mudei de tática. – Shoo! Fucking dog! – gritei‑lhe em inglês. 18 O cão não se mexeu, enquanto o primo observava a cena com pena. – Não se preocupe, menina, podemos levar o seu Fakin – disse, por fim. E, desta forma, aquele animal acinzentado ganhou o seu novo nome, quando talvez na sua vida anterior se chamasse Príncipe. Só com muito esforço coubemos todos no veículo apinhado e, uma hora mais tarde, chegámos à aldeia onde devia encontrar‑me com o amigo da minha avó, com quem tinha combinado ir ter na igreja frente ao mar. A aldeia, fundada pelos espanhóis em l567, é das mais antigas do arquipélago e conta com dois mil habitantes, mas não sei onde se teriam metido todos, porque viam‑se mais galinhas e ovelhas que seres humanos. Esperei por Manuel um bom bocado, sentada nas grades de uma igreja pintada de azul e branco, na companhia do Fakin e observada a certa distância por quatro rapazinhos silencio‑ sos e sérios. De Manuel sabia apenas que tinha sido amigo da minha avó e que não se viam desde os anos setenta, mas se tinham man‑ tido em contacto de modo esporádico, primeiro por carta, como era costume na pré‑história, e depois por email. Manuel Arias apareceu finalmente e reconheceu‑me pela descri‑ ção que a minha Nini lhe tinha feito por telefone. Que lhe teria ela dito? Que sou um obelisco de cabelos pintados de quatro cores pri‑ márias com uma argola no nariz. Manuel estendeu‑me a mão observando‑me com um olhar rápido, avaliando os vestígios de ver‑ niz azul nas minhas unhas roídas, os jeans encardidos e as botas da tropa pintadas com spray cor‑de‑rosa, que arranjei numa loja do Exército de Salvação quando era mendiga. – Sou Manuel Arias – apresentou‑se o homem, em inglês. – Olá. O FBI, a Interpol e uma máfia criminosa de Las Vegas andam atrás de mim – anunciei‑lhe de rompante, para evitar mal ‑entendidos. – Os meus parabéns – respondeu. 19 – Não matei ninguém e, francamente, não acho que se deem ao trabalho de me vir buscar ao cu do mundo. – Obrigado. – Desculpa, não quis insultar a tua terra, homem. Na verdade, isto aqui é bem bonito, é muito verde e tem muita água, mas tens de ver o longe que fica. – De quê? – Da Califórnia, da civilização, do resto do mundo. A minha Nini não me disse que ia estar frio. – Estamos no verão – informou‑me. – Verão em janeiro, onde já se viu! – No hemisfério sul – replicou secamente. Estamos mal, pensei, este tipo não tem sentido do humor. Manuel convidou‑me a tomar um chá, enquanto esperávamos por um camião que lhe vinha trazer um frigorífico e devia ter chegado há três horas. Entrámos para uma casa marcada por um trapo branco hasteado num pau, como uma bandeira de tréguas, sinal de que ali se vendia pão fresco. Tinha quatro mesas rústicas com toalhas de tule e cadeiras de vários tipos, um expositor e um fogão, onde uma cafeteira negra de fuligem fervia. Uma mulher corpulenta, de riso contagiante, cumprimentou Manuel Arias com um beijo na face e observou‑me um pouco desconcertada antes de se decidir a dar‑me um beijo também. – Americana? – perguntou a Manuel. – Não se nota? – disse ele. – E que foi que lhe passou pela cabeça? – acrescentou a mulher, indicando o meu cabelo pintado. – Nasci assim – informei‑a, irritada. – A gringuita fala língua de gente – exclamou ela, encantada. – Sentem‑se, já vos trago um chazinho. Agarrou‑me por um braço e sentou‑me com determinação numa das cadeiras, enquanto Manuel me explicava que, no Chile, chamavam gringo a qualquer pessoa loura anglofalante e que, 20 quando se usava a palavra no diminutivo – gringuito ou gringuita – se tratava de um termo afetuoso. A dona do estabelecimento trouxe‑nos chá em saquinhos e uma pirâmide de pão amassado e fragrante acabado de sair do forno, manteiga e mel, e depois instalou‑se junto a nós para ter a certeza de que eu comia como deve ser. Pouco depois, ouvimos os espirros do camião, que avançava aos tropeções pela rua de terra semeada de buracos, balançando um frigorífico na parte de trás. A mulher assomou à porta, assobiou e rapidamente se juntaram vários jovens para ajudar a descer o aparelho, carregá‑lo até à praia e subi‑lo para o bote a motor de Manuel por um passadiço de tábuas. A embarcação tinha cerca de oito metros de comprimento e era de fibra de vidro, pintada de branco, azul e vermelho, as cores da bandeira chilena que ondulava na proa, quase igual à do Texas. No costado via‑se o nome: Cahuilla. Os jovens amarraram o frigorífico na vertical o melhor que puderam e ajudaram‑me a subir para o barco. O cão seguiu‑me com o seu trotezinho patético; tem uma pata meio encolhida e anda de lado. – E esse aí? – perguntou‑me Manuel. – Não é meu, colou‑se a mim em Ancud. Disseram‑me que os cães chilenos são muito inteligentes e este é de boa raça. – Deve ser pastor alemão cruzado com fox terrier. Tem corpo de cão grande e patas de cão pequeno – disse Manuel. – Quando lhe der banho, vais ver que é de qualidade. – Como se chama? – perguntou Manuel. – Fucking dog em chileno. – Como? – Fakin. – Espero que tu e o Fakin se deem bem com os meus gatos. Vais ter de o prender de noite, para não andar a matar ovelhas – avisou ‑me. – Não vai ser preciso, vai dormir comigo. 21 Fakin agachou‑se contra o fundo do bote, com o nariz entre as patas dianteiras, e ali permaneceu imóvel, sem tirar os olhos de mim. Não é carinhoso, mas entendemo‑nos na linguagem da flora e da fauna: o esperanto telepático. Do horizonte rolava uma avalancha de nuvens enormes e corria uma brisa gelada, mas o mar estava tranquilo. Manuel emprestou ‑me um poncho de lã e já não disse mais nada, concentrado no leme e nos seus aparelhómetros, compasso, GPS, radiotransmissor e sabe Deus que mais, enquanto eu o estudava pelo canto do olho. A minha Nini tinha‑me contado que Manuel era sociólogo, ou algo do género, mas no seu botezinho poderia passar por marinheiro, de estatura média, magro, forte, só fibra e músculo, curtido pelo vento salgado, com rugas de carácter, cabelo curto e teso, olhos da mesma cor cinza da cabeleira. Não sei calcular a idade das pessoas velhas. Este vê‑se bem ao longe, porque continua a caminhar rapidamente e ainda não ganhou aquela corcunda típica dos anciãos, mas de perto nota‑se que é mais velho que a minha Nini, digamos que terá uns setenta e tal anos. Eu caí como uma bomba na sua vida. Vou ter de andar em bicos de pés, para não se arrepender de me ter dado abrigo. Ao fim de quase uma hora de navegação, passando perto de várias ilhas de aspeto desabitado, embora não o estejam, Manuel Arias indicou‑me um promontório que ao longe era apenas uma mancha escura e, mais perto, se revelou uma colina bordejada por uma praia de rochas e areia escura, onde quatro botes de madeira secavam virados ao contrário. Manuel prendeu o Cahuilla a um cais flutuante e atirou umas cordas grossas a várias crianças, que se tinham aproximado a correr e amarraram habilmente a lancha a uns postes. – Bem‑vinda à nossa metrópole – disse Manuel, assinalando uma aldeia de casas de madeira assentes em estacas em frente à praia. 22 Fui sacudida por um calafrio, porque aquele era agora todo o meu mundo. Um grupo desceu até à praia para me inspecionar. Manuel tinha‑lhes anunciado que uma americana o vinha ajudar no seu trabalho de investigação e, se aquela gente esperava alguém de respeitável, apanhou um balde de água fria, porque a t‑shirt com o retrato de Obama, que a minha Nini me ofereceu no Natal, não che‑ gava para me tapar o umbigo. Descer o frigorífico sem o inclinar foi tarefa para vários voluntários, que se animavam mutuamente entre gargalhadas, com pressa porque começava a escurecer. Subimos à aldeia em procissão, com o frigorífico à frente, a seguir Manuel e eu, mais atrás uma dezena de miúdos aos gritos e, na retaguarda, uma heterogénea leva de cães ladrando furiosamente a Fakin, mas sem se aproximarem demasiado, porque a sua atitude de supremo des‑ prezo indicava, claramente, que o primeiro que o fizesse sofreria as consequências. Parece que o Fakin é difícil de intimidar e não per‑ mite que lhe cheirem o traseiro. Passámos diante de um cemitério, onde pastavam umas cabras com os úberes inchados, entre flores de plástico e casas de boneca assinalando as sepulturas, algumas com móveis para uso dos mor‑ tos. Na aldeia, as palafitas comunicavam através de pontes de madeira e, na rua principal – para lhe chamar alguma coisa –, vi burros, bicicletas, um jipe com o emblema com espingardas cruza‑ das dos carabineiros, a polícia chilena, e três ou quatro carros velhos, que na Califórnia seriam de coleção se estivessem menos degradados. Manuel explicou‑me que, por causa do terreno irregu‑ lar e da lama inevitável no inverno, os transportes pesados fazem‑se em carros de bois, os leves no lombo de mulas e as pessoas deslocavam‑se a cavalo ou a pé. Alguns letreiros desbotados identi‑ ficavam lojas modestas, um par de armazéns, uma farmácia, várias tabernas, dois restaurantes, que consistiam numas poucas mesas metálicas diante de pescarias rotineiras, e um sítio com Internet, onde se vendiam pilhas, refrigerantes, revistas e bibelôs para os visi‑ tantes, que aparecem uma vez por semana, pela mão de agências de 23 ecoturismo, para provar o melhor curanto de Chiloé. Mais adiante vou dizer como é o curanto, porque ainda não o provei. Algumas pessoas vieram observar‑me cautelosamente, em silên‑ cio, até que um homem direito e maciço como um armário se deci‑ diu a cumprimentar‑me. Limpou a mão às calças antes de ma estender, sorrindo com os dentes revestidos a ouro. Era Aurelio Nancupel, descendente de um célebre pirata e a personagem mais necessária da ilha, porque vende álcool a crédito, arranca dentes e tem um televisor de ecrã plano, de que os seus fregueses desfrutam quando há eletricidade. O seu estabelecimento tem o nome bastante apropriado de Taberna do Mortito, pois, devido à sua vantajosa localização perto do cemitério, é paragem obrigatória para entes queridos aliviarem a dor do funeral. Nancupel tornara‑se mórmon com a ideia de poder ter várias esposas, mas descobriu, tarde de mais, que os mórmones tinham renunciado à poligamia no seguimento de uma nova revela‑ ção profética, mais de acordo com a Constituição norte‑americana. Assim mo contou Manuel Arias, enquanto o aludido se dobrava de riso, ao som das aclamações dos mirones. Manuel apresentou‑me igualmente a outras pessoas, cujos nomes fui incapaz de reter e me pareceram velhos de mais para serem os pais daquela catrefada de miúdos. Agora sei que são os avós, pois a geração intermédia traba‑ lha longe da ilha. Neste ponto, avançou pela rua com ar de autori‑ dade uma mulher cinquentona, robusta, atraente, com o cabelo do tom bege das louras encanecidas preso num tufo desordenado na nuca. Era Blanca Schnake, diretora da escola, a quem as pessoas, por respeito, chamavam tia Blanca. Deu um beijo a Manuel na cara, como é costume aqui, e deu‑me as boas‑vindas oficialmente em nome da comunidade, o que dissolveu a tensão ambiente e fez apertar‑se o círculo de curiosos à minha volta. A tia Blanca convidou‑me a visitar a escola no dia seguinte e pôs à minha dispo‑ sição a biblioteca, dois computadores e videojogos, que posso usar até março, altura em que as crianças regressarão às aulas e haverá limitações em termos de horário. Acrescentou que aos sábados 24 passavam na escola os mesmo filmes que em Santiago, mas grátis. Bombardeou‑me com perguntas e resumi‑lhe, no meu espanhol de principiante, a minha viagem de dois dias desde a Califórnia e o roubo da minha carteira, o que provocou um coro de gargalhadas das crianças, rapidamente silenciado pelo olhar gélido da tia Blanca. – Amanhã vou preparar‑vos umas machas ao parmesão, para que a gringuita comece a conhecer a comida chilota. Espero‑os por volta das nove – disse a Manuel. Mais tarde, descobri que o correto é chegar com uma hora de atraso. Aqui come‑se muito tarde. Terminámos o breve percurso pela aldeia, subimos para uma carroça puxada por duas mulas, onde já tinham colocado o frigorí‑ fico, e lá fomos sobre rodas por um caminho de terra que mal se via entre as pastagens, seguidos pelo Fakin. Manuel Arias vive a uma milha – digamos, a quilómetro e meio – da aldeia, frente ao mar, mas não é possível aceder à propriedade com a lancha por causa das rochas. A sua casa é um bom exemplo da arquitetura da zona, disse‑me ele com uma nota de orgulho na voz. A mim pareceu‑me igual a outras da aldeia, também está assente sobre estacas e é de madeira, mas Manuel explicou‑me que a diferença está nos pilares e nas vigas talhados a machado, as telhas «de cabeça circular», muito apreciadas pelo seu valor decorativo, e a madeira de cipreste das ilhas Guaitecas, antes abundante na região e agora muito escassa. Os ciprestes de Chiloé podem viver mais de três mil anos, são as árvores com maior longevidade do mundo, a seguir aos embondeiros de África e às sequoias da Califórnia. A casa consiste numa sala comum de altura dupla, onde a vida decorre à volta de um fogão a lenha, negro e imponente, que serve para aquecer o ambiente e cozinhar. Há dois quartos, um de tama‑ nho médio, ocupado por Manuel, e outro mais pequeno, o meu, e uma casa de banho com lavatório e duche. Não há uma única porta no interior, mas a casa de banho tem uma manta de lã às riscas pen‑ durada na ombreira para proporcionar privacidade. Na parte da sala comum destinada à cozinha há uma grande mesa, um armário 25 e um enorme caixote com tampa para guardar batatas, que em Chi‑ loé são usadas em todos os pratos, e do teto pendem molhos de ervas aromáticas, tranças de alho e de pimento picante, linguiças secas e pesadas caçarolas de ferro, próprias para o fogão a lenha. Ao sótão, onde Manuel tem a maior parte dos seus livros e dossiês, acede‑se através de um escadote. Nas paredes não se veem quadros, fotografias ou objetos decora‑ tivos, nada de pessoal, apenas mapas do arquipélago e um bonito relógio de bordo com caixa de mogno e porcas de bronze, que parece resgatado do Titanic. No exterior, Manuel improvisou um jacuzzi primitivo com um grande barril de madeira. As ferramentas, a lenha, o carvão e os bidões de gasolina para a lancha e o gerador são armazenados no alpendre do pátio. O meu quarto é simples como o resto da casa; consiste numa cama estreita coberta com uma manta semelhante à cortina da casa de banho, uma cadeira, uma cómoda com três gavetas e vários pregos na parede para pendurar roupa. O suficiente para as minhas posses, que me cabem folgadamente na mochila. Gosto deste ambiente austero e masculino; a única coisa descon‑ certante é a ordem maníaca de Manuel Arias, já que sou mais des‑ contraída. Os homens colocaram o frigorífico no local correspondente, fizeram a ligação ao gás e depois sentaram‑se para partilhar duas garrafas de vinho e um salmão, que Manuel tinha defumado na semana anterior num bidão metálico com madeira de macieira. Olhando o mar pela janela, beberam e comeram em silêncio, e as únicas palavras pronunciadas consistiram numa série de elaborados e cerimoniosos brindes: – Saúde! – Que em saúde se torne. – Devolvo as mesmas finezas. – Que você viva muitos anos. – Que você vá ao meu enterro. 26 Manuel olhava‑me pelo canto do olho, incomodado, até que o chamei à parte para lhe dizer que ficasse descansado, pois não pen‑ sava atirar‑me às garrafas. A minha avó de certeza que o pôs de sobreaviso e Manuel tinha planeado esconder o álcool, mas isto seria absurdo, porque o problema não é o álcool, sou eu. Entretanto, Fakin e os gatos mediram‑se com cautela, distri‑ buindo o território entre si. O tigrado chama‑se Gato‑Lerdo, por‑ que o pobre animal é bastante parvo, e o alaranjado é o Gato‑Literato, porque o seu sítio favorito é em cima do computador; Manuel argu‑ menta que sabe ler. Os homens terminaram o salmão e o vinho, despediram‑se e foram embora. Chamou‑me a atenção o facto de Manuel não fazer menção de lhes pagar, como também já não o fizera com os outros que o tinham ajudado antes a transportar o frigorífico, mas teria sido imprudente da minha parte interrogá‑lo a respeito do assunto. Examinei o escritório de Manuel, composto por duas escrivani‑ nhas, um móvel de arquivo, estantes de livros, um computador moderno de ecrã duplo, um fax e uma impressora. Tinha Internet, mas recordou‑me – como se eu pudesse esquecê‑lo – que me encon‑ tro incomunicável. À defensiva, acrescentou que tinha todo o seu trabalho naquele computador e preferia que ninguém lhe tocasse. – Em que trabalhas? – perguntei. – Sou antropólogo. – Antropófago? – Estudo as pessoas, não as como – respondeu. – Era uma brincadeira, homem. Os antropólogos já não têm matéria‑prima, agora até o último selvagem do mundo tem telemó‑ vel e televisão. – A minha especialidade não são os selvagens. Estou a escrever um livro sobre a mitologia de Chiloé. – E pagam‑te por isso? – Quase nada – informou‑me. – Nota‑se que és pobre. – Sim, mas vivo de maneira modesta. 27 – Não queria ser um peso para ti – disse. – Vais trabalhar para cobrir os teus gastos, Maya, foi isso que ficou combinado com a tua avó. Podes ajudar‑me com o livro e, em março, podes trabalhar com a Blanca na escola. – Desde já te aviso de que sou muito ignorante, não sei nada de nada. – Que sabes fazer? – Bolachas e pão, nadar, jogar futebol e escrever poemas sobre samurais. Devias ver o meu vocabulário! Sou um verdadeiro dicio‑ nário, só que em inglês. Não creio que isso te sirva de alguma coisa. – Já veremos. Isso das bolachas tem futuro – respondeu, e pareceu‑me que disfarçava um sorriso. – Escreveste mais livros? – perguntei, bocejando. O cansaço da longa viagem e as cinco horas de diferença horária entre a Califór‑ nia e o Chile pesavam‑me como um saco cheio de pedras. – Nada que me possa tornar famoso – disse, indicando vários livros sobre a mesa: O Mundo Onírico dos Aborígenes Australianos, Ritos de Iniciação nas Tribos do Orinoco, Cosmogonia Mapuche do Sul do Chile. – Segundo a minha Nini, Chiloé é mágico – disse eu. – O mundo inteiro é mágico, Maya – replicou ele. Manuel Arias garantiu‑me que a alma da sua casa é muito antiga. A minha Nini também acredita que as casas têm recordações e sen‑ timentos, é capaz de captar as vibrações, saber se o ar de um lugar está carregado de energia negativa, porque ali se deram desgraças, ou se a energia é positiva. O seu casarão de Berkeley tem uma alma boa. Quando o recuperarmos vai ser preciso arranjá‑lo – está a cair de velho – e, depois, penso lá viver até morrer. Cresci ali, no cimo de uma colina, com uma vista da baía de São Francisco que seria impressionante se dois frondosos pinheiros não a ocultassem. O meu Popo nunca permitiu que os cortassem, dizia que as árvores sofrem quando as mutilam, sofrendo igualmente a vegetação mil metros ao redor, porque no subsolo tudo está interligado. Seria um 28 crime matar dois pinheiros para ver uma extensão de água que se pode apreciar da mesma forma da autoestrada. A casa foi comprada pelo primeiro Paul Ditson em l948, o mesmo ano em que foram abolidas as restrições raciais para aquisi‑ ção de propriedades em Berkeley. Os Ditson foram a primeira famí‑ lia de cor no bairro e a única durante vinte anos, até que começaram a chegar outras. A casa foi construída em l885 por um magnata das laranjas, que ao morrer doou toda a fortuna à Universidade e dei‑ xou a família na pobreza. Esteve desocupada muito tempo e depois passou de mão em mão, deteriorando‑se a cada transação, até que os Ditson a compraram e a conseguiram reparar, porque tinha uma estrutura firme e boas fundações. Depois da morte dos pais, o meu Popo comprou a parte correspondente aos irmãos e ficou sozinho naquela relíquia vitoriana de seis quartos, encimada por um inex‑ plicável campanário, onde instalou o seu telescópio. Quando Nidia e Andy Vidal chegaram, o meu Popo utilizava apenas duas divisões, a cozinha e a casa de banho, mantendo as res‑ tantes fechadas. A minha Nini irrompeu como um furacão de reno‑ vação, deitando fora bibelôs, limpando e fumigando, mas a sua ferocidade no combate da decadência não pôde com o caos endé‑ mico do marido. Depois de muitas disputas, acordaram em que ela podia fazer o que lhe desse na gana na casa inteira, desde que não interferisse com o escritório dele ou a torre do telescópio. A minha Nini achou‑se como um peixe na água em Berkeley, essa cidade suja, radical e extravagante, com a sua mistura de raças e cores humanas, com mais génios e prémios Nobel que qualquer outro lugar no mundo, saturada de causas nobres e intolerante no seu empenho. A minha Nini transformou‑se. Antes, era uma jovem viúva prudente e responsável, que procurava passar despercebida; em Berkeley, o seu verdadeiro caráter veio à superfície. Já não preci‑ sava de se vestir de motorista, como em Toronto, nem de se vergar à hipocrisia social, como no Chile; ninguém a conhecia, podia reinventar‑se. Adotou a estética dos hippies, que languesciam na avenida Telegraph vendendo os seus objetos de artesanato entre 29 névoas de incenso e marijuana. Começou a vestir‑se com túnicas, sandálias e colares provenientes da Índia, mas estava muito longe de ser uma hippie: trabalhava, cuidava de uma casa e de uma neta, estava envolvida na comunidade e nunca a vi em êxtase a entoar cânticos em sânscrito. Perante o escândalo dos vizinhos, quase todos colegas do marido na Universidade, com as suas moradias escuras, vagamente ingle‑ sas, cobertas de hera, a minha Nini pintou o casarão dos Ditson de cores psicadélicas, inspirada na rua Castro em São Francisco, onde os gays começavam a multiplicar‑se e a remodelar as casas antigas. As suas paredes em violeta e verde, os seus frisos amarelos e as suas grinaldas de flores de gesso geraram falatório e deram origem a duas notificações do município, até que a casa apareceu fotografada numa revista de arquitetura, se transformou numa atração turística da cidade e depressa foi imitada por restaurantes paquistaneses, lojas juvenis e ateliês de artistas. A minha Nini imprimiu igualmente o seu cunho pessoal na decoração dos interiores. Aos móveis cerimoniais, relógios de mesa e quadros horrendos com molduras douradas, adquiridos pelo pri‑ meiro Ditson, acrescentou o seu toque artístico: uma profusão de candeeiros, almofadas em desalinho, divãs turcos e cortinas de cro‑ ché. O meu quarto, pintado de um tom de manga, tinha sobre a cama um baldaquino de tecido indiano bordado com espelhinhos e um dragão alado pendurado no meio, capaz de me matar se me caísse em cima, e nas paredes a minha avó colocara fotografias de crianças africanas subnutridas, para que eu visse como as infelizes criaturas morriam de fome enquanto eu não queria comer. Segundo o meu Popo, o dragão e os meninos do Biafra eram a causa da minha insónia e geral falta de jeito. As minhas tripas estão a sofrer o ataque frontal das bactérias chilenas. Ao segundo dia nesta ilha, caí na cama dobrada de dores no estômago. Agora, continuo a tremer e passo horas em frente à janela com uma botija de água quente na barriga. A minha avó diria 30 que estou a dar tempo à minha alma para chegar a Chiloé. Ela acre‑ dita que as viagens em avião a jato não são convenientes, porque a alma viaja mais devagar que o corpo, fica para trás e, por vezes, perde‑se pelo caminho, o que seria a causa de os pilotos, como o meu pai, nunca parecerem estar totalmente presentes: estão à espera da alma, que ainda anda nas nuvens. Aqui não é possível alugar nem DVD nem videojogos e os úni‑ cos filmes são os que passam uma vez por semana na escola. Para me distrair, disponho apenas dos febris romances de amor de Blanca Schnake e de livros sobre Chiloé em espanhol, muito úteis para aprender a língua, mas difíceis de ler. Manuel deu‑me uma lanterna a pilhas que se ajusta na frente como uma lanterna de mineiro; é assim que lemos quando cortam a luz. Sobre Chiloé não posso dizer muito, porque ainda mal saí de casa, mas poderia encher várias paginas sobre Manuel Arias, os gatos e o cão, que agora são a minha família, a tia Blanca, que aparece com frequência com o pretexto de me vir visitar, embora seja óbvio que vem por causa de Manuel, e Juanito Corrales, um menino que também vem até cá todos os dias ler comigo e brincar com o Fakin. O cão é muito seletivo em maté‑ ria de relacionamentos, mas tolera o rapazinho. Ontem conheci a avó de Juanito. Ainda não a tinha visto antes porque estava no hospital de Castro, a capital de Chiloé, com o marido, a quem foi amputada uma perna em dezembro e não sarou bem. Eduvigis Corrales tem a pele do tom da terracota, um rosto alegre sulcado de rugas, um tronco longo e pernas curtas – uma chilota típica. Usa uma trança fina enrolada na cabeça e veste‑se como uma missionária, com saia grossa e grandes sapatos de lenha‑ dor. Aparenta cerca de sessenta anos, mas não tem mais de quarenta e cinco. Aqui, as pessoas envelhecem rapidamente e vivem muito tempo. A avó de Juanito chegou com uma caçarola de ferro, pesada como um canhão, que colocou em cima do fogão a lenha a aquecer, enquanto me dirigia um discurso precipitado, algo do género que se apresentava com o devido respeito, era a Eduvigis Corrales, vizinha do cavalheiro e assistente doméstica. 31 – Ouu! Que meninona tão bonita, esta gringuita! Que Jéssus ma guarde! O cavalheiro tem estado à espera dela, como toda a gente da ilha. Oxalá goste do franguinho com batatinhas que lhe preparei. Ao contrário do que pensei, não falava um dialeto da zona, só aldrabava no espanhol. Deduzi que Manuel Arias era o cavalheiro, embora Eduvigis falasse dele na terceira pessoa, como se estivesse ausente. A mim, ao invés, fala‑me com o mesmo tom mandão da minha avó. Esta boa mulher vem até cá limpar, leva a roupa suja e devolve‑a lavada, parte lenha com um machado tão pesado que eu não seria capaz de o levantar, cultiva as suas terras, ordenha a sua vaca, tosquia ovelhas e sabe esquartejar um porco, mas esclareceu ‑me que não vai pescar nem apanhar marisco por causa da artrite. Diz que o marido não tem má índole, como crê a gente da aldeia, mas que os diabetes lhe desalinharam o carácter e, desde que per‑ deu a perna, tudo o que quer é morrer. Dos cinco filhos vivos, apenas um vive ainda em casa dela, Azucena, de treze anos, e tem também o neto, Juanito, de dez, que parece mais novo «porque nasceu espiritado», segundo me explicou. Este espiritado pode querer dizer debilidade mental ou que o sujeito possui mais espí‑ rito que matéria; o caso de Juanito deve ser o segundo, porque de tonto não tem nada. Eduvigis vive do produto do seu campo, do que Manuel lhe paga pelos seus serviços e da ajuda que lhe manda uma filha, a mãe de Juanito, que trabalha na indústria do salmão no sul da Ilha Grande. Chiloé era o segundo local no mundo na criação de sal‑ mão, depois da Noruega, o que fez crescer a economia da região, mas contaminou o fundo marinho, arruinou os pescadores artesa‑ nais e desfez as famílias. Agora o setor está acabado, explicou‑me Manuel, porque colocavam demasiados peixes nas jaulas e deram ‑lhes tantos antibióticos que, quando foram atacados por um vírus, já não se conseguiu salvá‑los. Há vinte mil desempregados das fábricas de salmão, a maioria mulheres, mas a filha de Eduvigis ainda tem trabalho. 32 ta er ISABEL ALLENDE O CADERNO DE MAYA «Sou Maya Vidal, dezanove anos, sexo feminino, solteira, sem namorado por falta de oportunidade e não por esquisitice, nascida em Berkeley, Califórnia, com passaporte americano, temporariamente refugiada numa ilha no sul do mundo. Chamaram-me Maya porque a minha Nini adora a Índia e não ocorreu outro nome aos meus pais, embora tenham tido nove meses para pensar no assunto. Em hindi, Maya significa “feitiço, ilusão, sonho”, o que não tem nada a ver com o meu carácter. Átila teria sido mais apropriado, pois onde ponho o pé a erva não volta a crescer.» of ISABEL ALLENDE O CADERNO DE MAYA Esta Maya fez-me sofrer mais do que qualquer outra das minhas personagens. Em algumas cenas apeteceu-me dar-lhe um par de estalos para chamá-la à razão, e noutras envolvê-la num abraço apertado para a proteger do mundo e do seu próprio coração imprudente. Oo Oo
Download