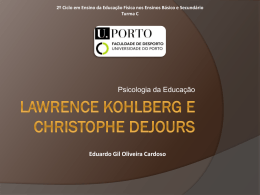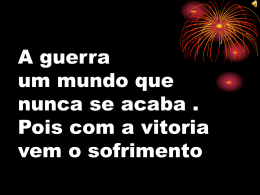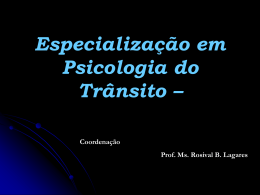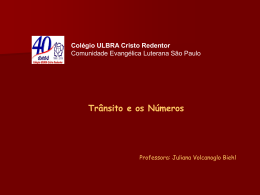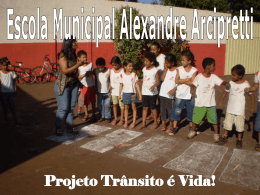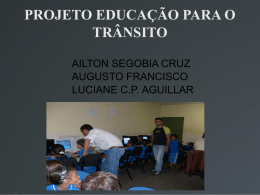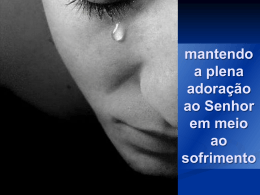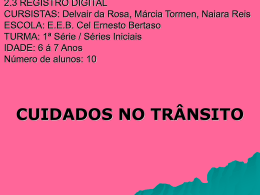Mobilidade e sofrimento: imersão no urbano THIELEN, I. P.[1] & GRASSI, M.V.F.C.[2] Curso de Especialização em Psicologia do Trabalho. Grupo de Pesquisa do Núcleo de Estudos em Desenvolvimento Humano (NEDHU), Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná – Curitiba, PR, Brasil. RESUMO “Matei um ciclista e matei metade de mim mesmo”, disse um motorista de 20 anos expressando uma dimensão do sofrimento que não tem sido posta em questão nas discussões sobre a violência urbana. E é sobre o sofrimento humano decorrente das ações individuais cotidianas que essa análise incide. Esse sofrimento decorrente da aceitação de inevitabilidade de ações individuais conscientes, planejadas que são perpetradas sob a égide do individualismo e não da coletividade. O comportamento no trânsito é responsável pelo sofrimento humano sob diversas perspectivas, entre elas a que se reflete nas estatísticas (sempre incompletas) de mortalidade. A dimensão da violência consentida é desconhecida. Mas, para além dos mortos, existe um contingente de mutilados que estão a exigir condições de cidadania e a impor a preocupação com a acessibilidade, ampliando discussões sobre a mobilidade urbana. O espaço urbano é locus privilegiado de análise do sofrimento humano ao demarcar formas de interação que impedem ou potencializam o desenvolvimento humano. Contextualização O espaço urbano é locus privilegiado de análise do sofrimento humano por explicitar as contradições das sociedades, demarcando formas de interação que impedem ou potencializam o desenvolvimento humano. Conforme a Carta Mundial do Direito à Cidade (2004) “o modo de vida urbano interfere diretamente sobre o modo como estabelecemos vínculos com nossos semelhantes e com o território”. Um dos fatores que interfere na formação e manutenção desses vínculos diz respeito aos riscos cotidianos. O objetivo deste texto é identificar alguns aspectos importantes relacionados ao fenômeno urbano que decorrem em sofrimento humano. Percepção de riscos, ambiente urbano e trânsito Para Beck (1992) e Giddens (1991) a sociedade industrializada enfrenta riscos ambientais e tecnológicos que são centrais e constitutivos desta sociedade, promovendo ameaça constante e sendo fonte potencial de auto-destruição. Portanto, a confiança nos peritos, na tecnologia, no progresso, na racionalidade do homem moderno e em sua capacidade de gerenciar as ameaças foi abalada. O medo, a desconfiança e a incerteza fazem parte do cotidiano na contemporaneidade e se explicitam nas interações entre as pessoas e o ambiente. Os riscos são inerentes à modernidade. O trânsito como hoje é vivenciado, também se configura como um dos adventos da modernidade e é uma das atividades nas quais os riscos são permanentes. A forma como cada um percebe os riscos e como toma decisões a partir daí, interfere no trânsito. São importantes fatores na percepção de risco: controle; confiança; consciência do risco; confronto entre risco objetivo e risco percebido; grau de familiaridade com o risco; gravidade do risco; extensão dos danos e responsabilidade pela prevenção (Langer, 1975; Lima, 1989, 1998; White, 1974). “Reconhecer a existência de um risco ou conjunto de riscos é aceitar não só a possibilidade de que as coisas possam sair erradas, mas que esta possibilidade não pode ser eliminada” (Giddens, 1991, p. 112). Para Wilde (2005) há sempre uma quantidade de risco que as pessoas estão dispostas a correr e que se eleva na medida em que dispositivos de segurança, de educação e de fiscalização são implementados. Embora se constate a presença de riscos e a inevitabilidade de seus danos na sociedade contemporânea, de forma aparentemente contraditória, no trânsito, as pessoas se comportam como se esses riscos e conseqüências atingissem sempre os outros, e não a si próprias. Diversas são as explicações para esse deslocamento de conseqüências danosas, desde a necessidade de manutenção de um equilíbrio psicológico, até a necessidade de minimizar a responsabilidade pela redução das condições de riscos. Para analisar o sofrimento humano decorrente das ações cotidianas no trânsito, um dos fatores diz respeito à alocação do controle no próprio motorista que faz com que ele minimize os riscos a que está exposto e aos quais expõe os demais, resultando em percepção de invulnerabilidade, ou seja, os danos “só acontecem com os outros”, conforme assinala Lima (1995). A percepção de controle onipotente sobre o ambiente concorre para a percepção de invulnerabilidade aos danos. A percepção de riscos adquire importância na análise do comportamento humano no trânsito. Para Lima (1998, p.16) “a percepção de riscos tem muito mais a ver com medo do que com uma estimativa correta de probabilidades”. A estratégia de minimização do risco frente a níveis elevados de ameaça analisada por Lima (1998), Taylor (1983, 1989), Taylor e Brown (1988, 1994), Dejours (1987), embora trate de tipos de ameaças diferentes daquelas contidas no trânsito, pode ser observada na análise de excesso de velocidade, quando os motoristas se referem aos riscos relacionados a velocidades mais altas, e não aos limites definidos em lei. Oexcesso de confiança na própria perícia e na capacidade de poder controlar o veículo obscurece a percepção dos riscos embutidos no excesso de velocidade (Thielen, 2002). Dimensão estatística do sofrimento decorrente do trânsito O trânsito como foco de análise da mobilidade urbana permite identificar a expressão do sofrimento humano que adquire proporções de catástrofe no Brasil. O trânsito é um dos principais problemas de saúde pública, sendo responsável por dois terços dos internamentos nos setores de ortopedia e traumatologia dos hospitais (Marin & Queiroz, 2000). No Brasil em 2002 foram registradas 18.877 vítimas fatais e 318.313 vítimas não fatais de acidentes de trânsito (DENATRAN, 2005), configurando-se como um grave problema de saúde pública. É importante registrar que além das fatalidades há um número mais expressivo ainda de seqüelas físicas e emocionais não mensuradas. O comportamento humano influencia grandemente a organização do trânsito e responde por 90% dos chamados acidentes. Espaço público, espaço privado e sofrimento A análise do trânsito como gerenciamento de conflitos pela disputa de espaços indica que há predomínio de uma concepção privatizante do espaço público (Thielen, 2002), produzindo comportamentos que colocam em risco o próprio indivíduo e os demais integrantes do sistema trânsito, gerando sofrimento para si e para o outro. A legislação que poderia ser um elemento de integração dessas concepções acaba por demarcar um espaço subjetivo que se amplia para promover a ambivalência e, como decorrência, um fortalecimento de decisões centralizadas no indivíduo e não em princípios coletivos. A expressão do sofrimento humano no trânsito ocupa diferentes espaços. Desde o sofrimento gerado a partir de diversas perdas (vidas; membros; capacidades; mobilidade; materiais; financeiras), vivenciado quando todas as ações de promoção de saúde e segurança não foram capazes de resultar numa convivência harmônica, até o sofrimento cotidiano, vivenciado por todos aqueles que se vêem impedidos de ir e vir no ritmo auto-determinado. E é justamente essa abusiva crença de que pode haver autodeterminação no trânsito que tem gerado sofrimento para si e para o outro. Fenômenos como estresse e agressividade ocupam espaços na investigação científica das causas dos acidentes. No entanto, o marco conceitual da Organização Pan-americana de Saúde que subsidia o Plano Nacional de Saúde e Ambiente no Desenvolvimento Sustentável enfatiza que problemas ambientais têm causas e efeitos múltiplos, indicando que a saúde, o ambiente e o desenvolvimento estão estreitamente vinculados. Como conseqüência, a melhoria da saúde só pode ser atingida mediante aos esforços conjuntos dos serviços de saúde, do setor público e do privado, da comunidade e do indivíduo (OPAS, 2006). Carta Mundial do Direito à Cidade Durante o III Forum Social Mundial (2003), o Instituto Ruaviva Mobilidade Sustentável, promoveu uma oficina na qual se discutiu o automóvel e a qualidade de vida urbana e ambiental, destacando a insustentabilidade do modelo de mobilidade centrada no deslocamento individual de forma motorizada. A crítica à política de mobilidade centrada no automóvel e a cultura do individualismo, refletida no interesse de atender privadamente as necessidades de deslocamentos, gerou efeitos que podem ser visualizados no documento denominado Carta Mundial do Direito à Cidade que na Parte IV trata dos Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais das Cidades, destacando: acesso aos serviços públicos domiciliares e urbanos, transporte público e mobilidade urbana, moradia, educação, trabalho, cultura e lazer, saúde e meio ambiente. “A carta mundial do direito à cidade é um instrumento dirigido a contribuir com as lutas urbanas e com o processo de reconhecimento no sistema internacional dos direitos humanos do direito à cidade. O direito à cidade se define como o usufruto eqüitativo das cidades dentro dos princípios da sustentabilidade e da justiça social; é entendido como o direito coletivo dos habitantes das cidades em especial dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, que se conferem legitimidade de ação e de organização, baseado nos usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito a um padrão de vida adequado” (Carta Mundial do Direito à Cidade, 2004). A mobilidade no espaço urbano é gerenciada pela Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana – SEMOB instituída no Ministério das Cidades com a finalidade de formular e implementar a política de mobilidade urbana sustentável transporte e circulação - integradas com a política de desenvolvimento urbano, cuja finalidade é proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano. São três os eixos estratégicos definidos: cidadania e inclusão social; aperfeiçoamento institucional de gestão; e ações coordenadas entre políticas de mobilidade, de desenvolvimento urbano e de meio ambiente (Ministério das Cidades, 2006). Acessibilidade e sofrimento A discussão sobre cidade, mobilidade urbana, acessibilidade e especificamente o tema trânsito desvelam o sofrimento humano que tem sido a mola propulsora para esses debates. Ao tratar da mobilidade urbana entra em cena a impossibilidade de deslocamentos e acessos em condições de igualdade a todos os cidadãos. O sofrimento decorrente dessa desigualdade atinge diferencialmente a população. A acessibilidade faz lembrar que parte da população que se desloca sobre cadeira de rodas o faz porque foi vítima do próprio sistema trânsito. No trânsito é possível identificar formas específicas do sofrimento. Mas interessa a essa análise aquele sofrimento expresso no cotidiano das relações de trânsito, que se manifesta em agressividade, em impaciência, em luta contínua contra o outro. Interessa analisar a origem desse sofrimento, que se situa na percepção e na compreensão do significado do espaço público que ele ocupa. Visualizando o trânsito como um espaço coletivo, inevitavelmente se constata a impossibilidade de expressão da vaidade individual, a não ser gerando um confronto que resulta em dano a si e a outros. É essa impossibilidade de ser especial e a constatação de ser apenas mais um que gera sofrimento em parte da população. Como decorrência desse sofrimento o indivíduo se rebela contra todos os mecanismos e recursos estabelecidos justamente para assegurar a igualdade de todos. O espaço do trânsito demanda regras que possam orientar o convívio harmônico entre todos os integrantes. O confronto entre as exigências coletivas do trânsito e os desejos individuais gera sofrimento. É possível analisar parte desse sofrimento cotidiano, ao identificar todas as formas de limites impostos ao objetivo básico individual: chegar rapidamente ao seu destino. Alguns exemplos podem ser citados: os semáforos que impedem o deslocamento ininterrupto; os outros veículos (ônibus, táxi, ambulâncias, etc.) que ocupam espaços; outros protagonistas do trânsito que exigem seu espaço (pedestres; ciclistas; motociclistas) transitando com o mesmo objetivo. Para alívio do sofrimento causado pela impossibilidade imposta pelo ambiente ao indivíduo, ele busca alternativas que, quase sempre, resultam em prejuízos: para si e sempre, para outros. Para se livrar do sofrimento ele gera sofrimento. Para se livrar do sofrimento ele toma decisões baseadas em percepções de risco distorcidas, que são auto-referenciadas. Uma outra dimensão se refere ao sofrimento decorrente da inevitabilidade de controle sobre o comportamento alheio. Ainda que os motoristas balizem seu comportamento pelos princípios da chamada “direção defensiva”, eles estão expostos ao envolvimento em acidentes, decorrentes da negligência, imprudência ou imperícia alheias. Como as ações no trânsito têm sempre conseqüências coletivas, é possível identificar a dimensão de sofrimento em quem executa a ação e em quem é vitimado pela ação. Quando um motorista fere ou mata pessoas, ele próprio é atingido e seu sofrimento não entra nas estatísticas. E seu comportamento individual está, inevitavelmente, relacionado a esse sofrimento. Isso foi expresso por um motorista ao afirmar: “matei um ciclista e matei metade de mim mesmo”. E essa morte em vida desvela uma dimensão do sofrimento que não tem sido posta em questão nas discussões sobre a violência urbana. Numa outra vertente de análise é possível identificar aqueles comportamentos individuais, que são caracterizados como comportamentos de risco, tais como a ingestão de bebidas alcoólicas, o excesso de velocidade, o avanço de semáforo, entre outros, e que resultam em danos. Nesses casos, o sofrimento é identificado naqueles que foram atingidos pelas conseqüências desse comportamento de risco. O motorista imprudente se apóia na própria definição de acidente como algo inevitável, para justificar suas ações, além de deslocar sua responsabilidade frente aos danos, seja utilizando o comportamento alheio, seja indicando as instâncias políticas ou reguladoras, ou mesmo os mecanismos de fiscalização como responsáveis pelos atos individuais (Thielen, 2002). O sofrimento no trânsito é decorrente não só de ações individuais mas, principalmente, da aceitação de inevitabilidade de ações individuais conscientes, planejadas que são perpetradas sob a égide do individualismo e não da coletividade. Quando um motorista se embriaga e decide dirigir o veículo, ou quando usa um telefone celular enquanto dirige, ele executa uma ação consciente e planejada. Porém, o parâmetro decisório não inclui a coletividade, embora no trânsito todas as ações tenham repercussão coletiva (Thielen, Ricardi Neto, Soares & Hartmann, 2005). E esses comportamentos cotidianos, individuais, assumidos a partir de perspectivas individualizantes geram uma dimensão da violência consentida que é desconhecida. São as ações cotidianas, repetidas pela quase totalidade dos integrantes do sistema trânsito que geram os danos conhecidos e desconhecidos. Essa convivência diária com os danos provoca uma analgesia. As pessoas escutam diariamente nos noticiários que “nas últimas 24 horas aconteceram 30 acidentes com 5 vítimas fatais, ou 3 pessoas morreram atropeladas da meia noite até agora” sem que isso as afete. Isso é consentir com a violência. Considerações finais Ao esboçar algumas análises que remetem ao sofrimento humano decorrente das ações humanas no trânsito, foi possível delinear o confronto entre perspectivas individuais e perspectivas coletivas que sustentam decisões que podem resultar em danos, para si e para os outros. Foi possível sinalizar que a amplitude do sofrimento é apenas parcialmente conhecida. Da mesma forma, se constatou que as dimensões envolvidas no fenômeno urbano são amplas e embora estejam sendo objeto de preocupação e debates públicos, ainda demandam estudos específicos que possam elucidar as decorrências para o sofrimento humano. Referências Bibliográficas Beck, U. (1992) Risk society: towards a new modernity. Londres: Sage Publications. Carta Mundial do Direito à Cidade (2004) Carta Mundial do Direito à Cidade. Fórum Social das Américas, Quito, Julho 2004 e Fórum Mundial Urbano, Barcelona, Outubro 2004. Disponível em:http://www.polis.org.br/artigo_interno.asp?codigo=12 DENATRAN (2005). Estatísticas de acidentes de trânsito. Disponível em www.denatran.gov.br/acidentes.htm. Acessado em 30 de outubro de 2005. Dejours, C. (1987) A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São Paulo: Oboré. Giddens, A. (1991 a). As conseqüências da modernidade. São Paulo: UNESP. Langer, E. J. (1975) The illusion of control. Journal of Personality and Social Psychology, 32, 311-328. Lima, M. L. (1989). A percepção de riscos e perigos. Psicologia, vol VII (3), 325-350. Lima, M. L. (1995). Viver com o risco: abordagens da Psicologia Social Ambiental. Inforgeo, 9-10, 39-54 Lima, M. L. (1998) Factores sociais na percepção de riscos. Revista da Associação Portuguesa de Psicologia. Psicologia Vol.XII, n.1. 11-28. Marín, l. & Queiroz, M. S. (2000) A atualidade dos acidentes de trânsito na era da velocidade: uma visão geral. Cadernos de Saúde Pública. V. 16, n.1 Rio de Janeiro jan./mar. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana. Disponível em: http://www.cidades.gov.br/index.php?option=content&task=section&id=14&men upid=183&menutp=transpmob. Acesso em 24/04/2006. OPAS – Organização Pan-americana de Saúde – OPAS. Marco Conceitual para o Plano Nacional de Saúde e Ambiente no Desenvolvimento Sustentável. Disponível em http://www.opas.org.br/opas.cfm . Acesso em 24/04/2006. Taylor, S. E. (1983). Adjustment to threatening events: a theory of cognitive adaptation. American Psychologist. 38:1161-1173. Taylor, S. E. (1989) Positive illusions: creative self-deception and the healthy mind. New York: Basic Books. Taylor, S. E. & Brown, J. (1988) Illusion and well being: a social psychological perspective on mental health. Psychological Bulletin, 103: 193-210. Taylor, S. E. & Brown, J. (1994) Positive illusions and well being revisited: separating fact from fiction. Psychological Bulletin, 116: 21-27. Thielen, I. P. (2002) Percepções de motoristas sobre excesso de velocidade no trânsito de Curitiba, Paraná, Brasil. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Thielen, I. P., Ricardi Neto, M., Soares, D. P. & Hartmann, R. C. (2005) Metaphor: o jogo do trânsito. Psicologia: Pesquisa & Trânsito, v. 1, nº 1, p. 45-52, jul./dez. Wilde, G. (2005) O limite aceitável de risco: uma nova psicologia de segurança e saúde. São Paulo: Casa do Psicólogo. White, G. F. (1974) Natural hazards: local, national, global. New York: Oxford University Press. [1] Doutora em Ciências Humanas – Sociedade e Meio Ambiente, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenadora do Núcleo de Pesquisa sobre Trânsito (www.npt.ufpr.br), do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná[email protected] ou [email protected] [2] Doutora em Ciências Médicas, pela UNICAMP. Coordenadora do Núcleo de Estudos em Desenvolvimento Humano, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. [email protected]
Download