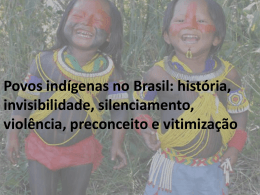SOCORRO, Maria Pimentel; HERBETTA, Alexandre. 2013. Ver, escutar e falar: perspectivas acerca de transformações através da educação escolar indígena. Relatório do “I Seminário de Educação Intercultural e Transdisciplinar: gestão pedagógica”. Núcleo Takinahaky. Fevereiro. Em uma ocasião o dono do cartório não quis colocar nome indígena na criança, argumentando que é contra a lei. Eu disse a ele que tem que se atualizar, o uso de nome indígena é garantia constitucional. (Jonas Gavião) Este texto busca sistematizar as falas de indígenas e não indígenas que participaram do 1º Seminário de Educação Intercultural e Transdisciplinar: gestão pedagógica. O seminário teve como proposta o debate acerca da possibilidade de construção de uma educação intercultural, pondo em relevância a construção de novos paradigmas epistemológicos e novas atitudes sociais, políticas e pedagógicas. Nesta direção, o objetivo do seminário foi o de promover os primeiros encaminhamentos da produção da construção de projetos pedagógicos das escolas indígenas na região Araguaia-Tocantins, capazes de romper com a história colonizadora da educação escolar indígena. Esta proposta considera ainda os projetos sociais dos povos envolvidos e os direitos humanos, tendo como eixo central a vida cotidiana em toda a sua complexidade e valor. Isto porque a educação intercultural afeta não somente os diferentes aspectos do projeto pedagógico: objetivos, conteúdos propostos, metodologias, materiais didáticos utilizados etc., mas também, e, principalmente, a vida e as relações entre os diferentes agentes sociais: professores, alunos, pais, agentes comunitários, lideranças etc. A educação intercultural apresenta, portanto, uma grande complexidade e convida a todos a repensar os diferentes aspectos e componentes de propostas pedagógicas que nela se fundamentam. Isto é pensar a educação de modo contextualizado e plural. Neste contexto, o objetivo deste relatório é identificar os principais temas tratados no seminário, assim como as relações estabelecidas entre eles ao longo do evento. Esta é, assim, uma primeira versão do que se pensa acerca da construção do Projeto Político Pedagógico nas escolas indígenas representadas no curso. Ressalte-se que o seminário contou com a participação dos indígenas que concluíram o Curso de Licenciatura Intercultural de Formação Superior de Professores do Núcleo Takinahaky da UFG, em 2011, assim como professores não indígenas envolvidos no curso, estudantes de pós-graduação da UFG e membros da SEDUC. A base de fundamentação do que foi discutido no seminário é o resultado dos projetos extraescolares e estágios pedagógicos produzidos ao longo do curso de licenciatura, quando se inaugurou uma política de educação bilíngue/bidialetal e contextualizada por meio de Temas Contextuais intra e intercultural. Note-se também que há divergências e diversidades, por conta da presença de etnias e pontos de vista diferentes. O evento foi dividido em sete mesas redondas que contaram com dois apresentadores e um debatedor. Em seguida, o tema era aberto para a participação de todos, o que gerou diálogos bastante relevantes. O conteúdo dos debates foi relatado pelos professores Arthur Bispo, Thiago Cancelier, Sinval Xerente, Leia Silva, Jonas Gavião, Luciana Rezende Fernandes, Claudio Xerente, Sinvaldo Karajá, Lorrane Gomes, Themis Bruno Rocha, Silma Tapuia, Paulo Kumare Karajá, Lorena Dallara, Eunice Tapuia, Ilda Nãmnã Xerente, Txiarawa Karajá e Lázaro Tapuio e é a base deste texto, indicando a parceria entre indígenas e não indígenas na construção dos PPPs. Note-se ainda que a dinâmica será a mesma do curso de especialização e visa a participação ativa de um número grande de pessoas, assim como o aprofundamento dos temas, como foi dito. Os temas tratados no seminário e as mesas foram constituídas da seguinte forma: Reflexões pedagógicas em construção nas escolas indígenas: desafios e possibilidades, composta por Arakae Tapirapé, Indionor P. de Lima Guarani, Welington Vieira Brandão e Silvino Sirnãwe Xerente e coordenada por Leandro Mendes Rocha; Emoções e fundamentos na construção de um projeto pedagógico: a experiência da Escola Indígena Estadual de Itxala, composta por Maria do Socorro Pimentel da Silva e Wasari Karajá, e coordenada por Jonas Gavião; Cosmologias e a construção de escolas interculturais, composta por Mônica Pechincha e Alexandre Herbetta, e coordenada por Karajá ; Políticas linguísticas intraculturais e interculturais, composta por Idjamoa Gilson Ipaxiawyga Tapirapé, Leandro Lariwana Karajá e Valci Sinã Xerente, e coordenada por Joana Fernandes; Línguas Indígenas na região Araguaia-Tocantins, composta por Mônica Veloso Borges e Christiane Cunha de Oliveira, e coordenada por Lahiri Karajá; Projetos extraescolares: epistemologias indígenas, composta por Manaijè Karajá, Maria Helena Xerente e Arapaxigi Tapirapé Bismarck W. Tapirapé, e coordenada por Elias Nazareno e Português Intercultural e relações interculturais, composta por André Marques Nascimento e Tânia Rezende, e coordenada por Daniel Are’i Tapirapé. *** A primeira questão levantada, já no início do seminário, foi a das transformações. Transformações por que passam professores, escolas indígenas e a educação bilíngue intercultural, transformações por que passam as comunidades indígenas participantes do curso, e, também, transformações por que passa a questão indígena no país. Neste sentido, foi recorrente a afirmação de que a mudança na educação escolar indígena se reflete nas escolas citadas, na vida dos professores e na posição dos indígenas na sociedade brasileira. Os professores presentes descreveram vários casos em que eles assumiram posições de liderança local e regional e lembraramse de outros indígenas que já são líderes nacionais. O professor Gilson Tapirapé, por exemplo, mencionou, neste contexto, que política é atitude de querer ou não, é uma forma de se posicionar sobre o que dá certo ou não em relação ao seu povo. Neste sentido, a transformação das posições em relação às relações de poder no mundo contemporâneo parece ter sido assumida pelos professores participantes. Note-se que a mudança também é visível nas práticas de sala de aula, desvelando novas formas de ensino e aprendizagem nas comunidades, que se pode ver em alguns casos, mais participante – em outros não. Nesta direção, segundo o professor Indionor Karajá, isto se dá, por exemplo, “formando um outro método diferente do anterior”, que tenha como base a participação ativa dos professores indígenas na matriz curricular, inclusive, na elaboração de um novo calendário escolar baseado nas temporalidades específicas da comunidade e em outras características de uma pedagogia indígena. Isto em oposição à teoria do ensino não indígena. Em relação ao novo método proposto por Indionor, a matriz tem como base a cultura, o que aproxima intrinsecamente a escola da comunidade. Arakae Tapirapé corroborou o exposto e disse que se deve envolver o parente nessa discussão. O método, para ele, tem a ver com “a vida do dia a dia”. Jonas Gavião também concordou com seus colegas. Para ele “estamos falando de reflexões pedagógicas e construções de escolas indígenas”, ao mesmo tempo. Neste sentido, Gilson disse que se deve refletir mais sobre o papel do professor e reformular os currículos das escolas. Em relação ao novo método, Indionor também falou da importância do domínio do escrito e deu como exemplo os livros didáticos que vêm sendo produzidos. Nesta direção, o professor Sansão afirmou que está percebendo as diferenças, já que antes ninguém assumia a responsabilidade, apenas culpavam o Estado e, hoje, segundo ele, “precisam assumir a matriz e assumir novos desafios, como o ensino superior”, mostrando para alunos, caciques, lideranças, secretarias e comunidade, a melhoria na educação indígena. Para Sansão, “é com o trabalho que se tem o respaldo. Já estamos nesse barco e agora temos que seguir e crescer”. Neste cenário, de acordo com o professor Gilson Tapirapé o professor deve conhecer o novo papel dele. Para ele, “o professor também é liderança, isso significa que não somente o professor ensina a criança; existem vários papéis do professor dentro da comunidade... Faz papel de professor, liderança e pai. Dirige a escola, família e comunidade... deve estar dentro de tudo”. Para ele, ainda, “o guardião antes eram os mais velhos, hoje são os professores – conservadores – dão os conselhos às crianças, adultos, comunidade”. O professor Sinval de Brito Xerente corroborou o exposto e disse que a posição do professor indígena deve ser ativa. Para ele, “se nós deixarmos a forma de falar, trabalhar, nós não somos nada”. A forma de falar aponta para a importância da voz destas lideranças que se relaciona à agência deles em relação à sociedade brasileira. Além disso, Sinval ressaltou a formação de uma rede entre estes jovens professores. Segundo ele, “contribuímos uns com os outros”, apontando para a noção de um movimento indígena unificado, para além das diferenças culturais particulares a cada povo. Neste sentido, o professor Jonas Gavião complementou a ideia, afirmando que tais jovens professores dominam outras tecnologias, como a escrita, inclusive a escrita sobre a língua nativa. Muitos dos professores presentes afirmaram também que as transformações acima mencionadas têm a ver com o que foi aprendido e produzido ao longo do Curso de Licenciatura Intercultural, ou seja, relacionado às noções de interculturalidade, transdisciplinaridade, contextualização e descolonização, sempre mencionadas. E ao mesmo tempo, aos projetos extraescolares e às práticas de estágio pedagógico, que igualmente valorizados. Pode-se falar assim que há uma apropriação do repertório conceitual e terminológico da educação contemporânea, presente no Curso de Licenciatura Intercultural. E uma criação de novos paradigmas educacionais. Assim como há uma apropriação da legislação indigenista brasileira. Neste sentido, o professor Paulo Tumaré ressaltou a relação entre a educação indígena e o processo de mudança no Tocantins. Segundo ele, o primeiro passo lá foi a contratação de professores (caciques antes alocavam quem eles queriam, sem formação), o segundo passo foi a construção de escolas, o terceiro, o equipamento nas escolas, como computadores, mesas e cadeiras. Hoje, reivindica-se a qualidade, mas, segundo Tumaré, o governo só pensa no quantitativo. Nesta direção, o professor Alexandre Herbetta lembrou em sua fala inicial no seminário que o termo “político” do PPP deve ser levado bastante a sério. Vale destacar que o motor destas mudanças, segundo os participantes, parece ser a própria cultura, na maioria das vezes classificada como tradicional. Para o professor Gilson Tapirapé, por exemplo, “nosso povo é bem critico, e o objetivo da escola é refletir a nossa cultura”. Note-se que, segundo os professores indígenas, estudar na universidade está permitindo isso. Ainda segundo Gilson, a partir das transformações os professores fazem a diferença, e se sentem responsáveis pelos alunos que vão formar. Note-se ainda que o termo diferença é relevante no contexto da situação, como se verá. Em oposição ao sentimento de mudança expresso, entretanto, os professores manifestaram muitas preocupações em relação ao momento interessante vivido pela educação indígena. Em primeiro lugar mencionou-se a preocupação de que os indígenas não trabalhem como concursados e fiquem à mercê dos políticos locais. Neste sentido, para os participantes, a construção do PPP é importante instrumento da transformação. Outra preocupação foi a intensa participação de professores não indígenas. Entre os Xambioá, por exemplo, há ensino médio realizado por professores tori. Destacou-se também que o Estado chega e impõe, não havendo momento de discussão entre universidade-escola-SEDUC (Secretaria de Educação). Nesta direção, o professor Leandro Karajá citou como exemplo a diferença estabelecida pela SEDUC entre a carga horária disponibilizada para o estudo da língua materna e do português. A língua materna como se verá tem grande importância, do ponto de vista indígena, no processo de transformação da escola indígena. Neste cenário, Wellington Tapuia questionou a função da prova feita por Goiás para medir o índice de desenvolvimento do aprendizado pelo aluno, ressaltando as características diversas da escola indígena e a imposição da homogeneização das escolas. Nesta direção, a professora Christiane apresentou, na mesa sobre políticas linguísticas na região Araguaia-Tocantins, um trabalho que relaciona a política desenvolvimentista brasileira, a expansão das hidrelétricas e a contínua destruição das línguas indígenas, apontando um cenário de bastante tensão na região referida. Em seu trabalho, a autora descreveu estratégias perversas de expansão econômica, como cooptação de líderes, promessa de dinheiro e planos farsantes de mitigação dos impactos. Tudo sustentado, como disse, pela conivência do Estado-nação. Em um dos exemplos mencionados, há um plano para inundação da área de vazantes em território Xerente, onde já não é possível mais plantar nem viver. Tudo isso em troca de uma promessa de 16 milhões de reais, como forma de compensação, para quatro povos indígenas. Christiane questiona então a valoração da diferença cultural e da autonomia. Pôde-se perceber assim que a perspectiva desenvolvimentista, presente no Brasil e que se preocupa fundamentalmente com o crescimento econômico e a perpetuação do poder – presente nas políticas públicas do Estado - é inversamente proporcional à conquista de fato – concreta – dos direitos indígenas. E que os indígenas tiveram que, ao longo da história, reafirmar e marcar suas diferenças. Nesta direção, Leandro mencionou a tentativa integracionista realizada ainda hoje pelos estados com o objetivo de transformar a escola indígena em uma escola comum, ou melhor, dizendo, diminuindo sua capacidade em produzir a diferença cultural, relacionada à cultura tradicional. Gilson Tapirapé corroborou o exposto. Para ele, a educação tem uma longa história de integração dos povos indígenas. Gilson também se referiu à tentativa integracionista permanente das SEDUCs. Integração no sentido colocado aponta para o apagamento da diferença ou do que é chamado “cultura tradicional”. Gilson reiterou ainda que a secretaria do Mato Grosso não produziu nada em relação à autonomia das escolas indígenas da região. No mesmo sentido, o professor Albertino Karajá ressaltou que a influência da religião também tem um viés integracionista, pois não permite mais se praticar a cultura tradicional. Neste sentido, segundo o professor, “ser religioso, deixa de ser cultural”. Leandro complementou dizendo que “até tempos atrás muitos indígenas só consideravam língua o português”, mas agora revalorizam a língua tradicional. E que tal integracionismo fez com que não se confie nos profissionais indígenas, inclusive na área da saúde. Segundo ele, o mesmo ocorre com o professor, assim “não confiam nos profissionais indígenas”. Há, assim, para muitos, uma constante inferiorização da cultura indígena, vista muitas vezes no não uso da língua indígena. Tal inferiorização, conforme dito, muitas vezes é realizada pelos próprios indígenas, muitas vezes pelas instituições do governo. Neste sentido, a professora Mônica Pechincha, em sua fala acerca do uso da cosmologia na escola, chamou a atenção para o fato de que as instituições também devem ser interculturais. De outra forma, não há possibilidade de relações de poder mais simétricas e a interculturalidade pode virar um discurso vazio. Nesta direção, os Apinajé, por exemplo, chegaram a apresentar um calendário escolar, com 200 dias letivos como exigido, mas a SEDUC solicitou atividades culturais para complementar os dias letivos. A interpretação dos conselheiros indígenas foi que a recusa da SEDUC representou um pedido para reelaborá-lo. Os professores, entretanto, questionam esta reelaboração a partir da ideia de que funeral ou casamento, por exemplo, não tem data prévia para acontecer e são eventos essenciais à cultura tradicional. Neste sentido, Jonas classificou a educação como “educação implantada”, se referindo ao fato de que as regras são impostas de cima para baixo e a diversidade é negada, apontando novamente para a importância da produção da diferença cultural. Segundo ele, há sangue indígena, negro e europeu e vem daí a importância de discutir a diversidade e relacioná-la à educação. Pode-se dizer então que a tentativa de integração efetuada através da educação tem a ver com a ideia da mistura, produzida estrategicamente no período colonial, através da catequização, do aldeamento, da legislação e da consequente expropriação de terras, e que ela – homogeneização - é colocada diretamente em inversão à noção de direitos indígenas. Desta forma, tem-se mais ou menos acesso aos direitos na medida em que se evidencia mais ou menos diferença. Neste cenário, a homogeneização cultural afasta cruelmente o sujeito da possibilidade de acesso a direitos pensados para a diferença. Munduruku (2012: 106) corrobora o exposto e afirma que a educação indígena é “de fundamental importância para afirmar a diferença e lutar pelos interesses, não mais de um único povo, mas de todos os povos indígenas brasileiros”. Gilson e outros participantes evidenciaram em diversos momentos que são conscientes desta questão – e de outras - do mundo contemporâneo. O professor Arakae Tapirapé, por exemplo, expressou tal consciência ao classificar o momento vivido por seu povo, como um tempo de luta. No caso mencionado, a luta passa pela melhoria da educação indígena e, consequentemente das comunidades envolvidas. A noção de luta é recorrente. Outros tantos professores indígenas participantes têm consciência da definição de luta mencionada e de que também podem transformar suas comunidades em direção a possuir mais autonomia e direitos através da escola indígena. O professor Bismarck Tapirapé corroborou o exposto em relação à noção de luta. Para ele, deve haver uma “preparação do corpo para a luta”, apontando para uma função interessante da escola, ligada aí, a questões corporais e físicas. Vários projetos extraescolares, não por acaso, se dedicam ao tema do esporte, como é o caso de Kaxoauri Tapirapé. Neste cenário, vale destacar que as falas acima mencionadas apontam para um processo interessante de apropriação da escola indígena. Gow (1991) já havia notado a importância da escola indígena entre os Piro do alto Urubamba, no Peru. O que chamou sua atenção foi o fato de que lá “quando discutem a organização de suas comunidades, falam muito mais sobre a escola da aldeia e de seu título legal da terra” do que de possíveis continuidades culturais e de tradição. Neste sentido, eles não se apoiam em uma percepção pura nem substancialista de cultura, baseada na ideia de ancestralidade, e usam uma linguagem bastante moderna para discutir suas relações sociais. Segundo o autor, a escola seve para proteger os Piro do conhecimento dos civilizados, que frequentemente ameaça escravizar as pessoas. Sendo assim, os Piro se referem ao violento contato interétnico que tiveram com o não índio e com a imposição dos saberes não indígenas em uma escola comum. Este poder destrutivo em comentário é, então, domesticado na escola. Gow destaca, portanto, a agência nativa e percebe uma definição interessante de escola. Em outras palavras, percebe como a escola é apropriada e produz um novo mundo – a modernidade. Percebe-se aí uma ênfase na positividade do processo, dando-se destaque para a criatividade e para as estratégias particulares de relação com a contemporaneidade. Algumas falas do seminário apontam para uma situação similar. O professor Valteir Xerente, por exemplo, ressaltou a relação entre o mundo externo e o interno, corroborando a ideia de que a escola indígena deve se relacionar ao mundo contemporâneo ou para fora da aldeia, mas do ponto de vista nativo. O professor Sinval Xerente corroborou o exposto. Segundo ele, todas as 60 aldeias Xerente têm escola e, nelas, deve-se novamente apreender o que vem de fora, se referindo ao conhecimento não indígena, “mas trazer tudo isso para a comunidade”. Depreende-se que a lógica é a mesma. Em outras palavras, a escola deve ter como foco a relação entre o conhecimento interno, relacionado à diferença ou ao que chamam de tradicional e o conhecimento externo, ligado ao não indígena. Sempre, entretanto, do ponto de vista nativo. A comunidade deve conhecer o mundo, mas do ponto de vista local. O professor Arakae Tapirapé concordou e disse que a proposta pedagógica tem relação com o conhecimento “dentro do povo, e faz com que o povo olhe o mundo”. Vários outros professores salientaram que a escola deve ter como base a tradição, mas que deve olhar para fora da aldeia também, apontando para uma definição interessante acerca do olhar. Arakae ainda complementou o exposto e disse que, antes de cursar Licenciatura Intercultural, estava perdido, chegando a aprender “só de outro mundo”, se referindo ao mundo não indígena, o que, segundo ele, é “arapuca que não tem saída, cercado pelos não indígenas”. Os Xerente, os Tapirapé e os Piro, afinal, não estão no passado nem fora do contexto violento do capital. Os outros professores indígenas presentes no seminário também não. Sendo assim, se considerarmos seriamente o que os sujeitos do Baixo Urubamba e os professores referidos dizem e fazem vamos perceber que junto ao violento processo de colonização, há também sempre uma agência de mundo. Todos eles pensam criativamente seu mundo e o produzem de forma particular (SAHLINS, 1986). A escola sendo uma instituição estratégica neste mundo. Neste contexto, para o professor Lari Karajá, o momento atual é de abrir a visão. Segundo ele, é como se a partir do curso os professores consigam enxergar o mundo de outra forma e ao mesmo tempo como se os alunos que tomam consciência de sua cultura tivessem mais poder. Além disso, a afirmação aponta novamente para uma concepção interessante sobre o ato de ver. E, que tem relação com o momento da educação escolar indígena. Para Lari, ainda, o curso abriu a visão de todos os professores indígenas, trabalhando os eixos da diversidade e sustentabilidade. Jonas Gavião corroborou as informações de Gilson. Para Jonas, “nossos direitos eram negados”. Segundo ele, o estado do Maranhão também não escuta o que o povo quer, apontando para uma concepção específica sobre ouvir. Escutar, aí, quer dizer respeitar o outro, a autonomia da alteridade. Neste cenário, Gilson lembrou que os anciãos querem ver, mas querem ser escutados pelos estados. Para Jonas, o plano político pedagógico deve ser a solução para as tensões mencionadas. Esta situação corrobora a afirmação de Munduruku (2012: 111) quando postula que “o Movimento Indígena alimentou, por tempo considerável, um projeto educativo que caminhava em duas direções: a da formação de quadros para a sua continuidade e a da formação da sociedade brasileira para a existência dos diferentes povos indígenas”. Além disso, a apropriação tem a ver com o estabelecimento de uma série grande de outras relações sociais – intra e intergeracionais; intra e interétnicas e intra e intercomunitárias. Neste sentido Gilson quis dizer que a escola busca ter relações próximas com os pais e lideranças “dando sugestão do que eles querem que os filhos aprendam”. Note-se que a base de conhecimentos já referida é constituída por atividades que se voltam à comunidade. O trabalho extraescolar deve, inclusive, ser realizado em conjunto, este sendo um de seus atributos. O estágio é igualmente realizado na aldeia, no caso, na escola indígena de onde vem o referido professor. Em muitos casos, o projeto extraescolar vem sendo percebido como uma pesquisa acerca da lógica cultural tradicional, expressa em um tema ou item de relevância comunitária e que serve como fonte para as aulas, base dos relatórios de estágio. Os relatórios, por sua vez, acabam por apontar novas práticas de ensino e aprendizagem. O professor Manaije Karajá, por exemplo, falou sobre seu trabalho extraescolar, no dia do debate sobre os projetos extraescolares. Segundo ele, alguns jovens não querem mais participar das festas-rituais, como o Hetohoky, “ainda mais com chegada da energia na aldeia”. Manaije mencionou também que hoje os mais jovens não respeitam mais a fala dos velhos e não querem mais falar as falas antigas. Desta forma, aponta para um conflito intergeracional, onde os mais novos alteram substancialmente a cultura tradicional. Eles acabam ainda por preferir se relacionar com o que vem de fora da aldeia, deixando a cultura tradicional de lado. Em segundo lugar, apontou para uma concepção interessante acerca da voz. É como se existisse uma voz antes e outra depois dos processos mencionados. Os mais jovens, neste sentido, falando diferente. A voz tem a ver então com a tradição. Ora, há então um problema comunicacional, onde a voz dos jovens e dos anciãos não dialogam equilibradamente. Tem-se então um conflito comunitário. Desta forma, como mencionado pelos professores, assim como apresentado pela professora Maria do Socorro Pimentel, o PPP deve ter início pelos projetos comunitários. O envolvimento da comunidade sendo a base dele. Outro professor indígena, um Xerente, mencionou a importância do envolvimento da comunidade. Em seu estágio, o primeiro passo, antes mesmo de qualquer ação individual, foi fazer uma reunião com a comunidade, na qual organizaram um mutirão na aldeia para diminuir o lixo. Em suas palavras o lixo estava acabando com a visão da aldeia, apontando novamente para o que se percebe a partir da visão. A visão neste caso, que pode apontar para o fazer, - dentro da aldeia -, no interior, é prejudicada pelo lixo, que vem de fora. Depreende-se que o lixo assim como o que vem de fora imposto, prejudica o modo como olham para o mundo. Neste sentido, itens culturais relevantes para as comunidades são associados às narrativas dos antigos e dos jovens professores. A voz é modulada para dentro. E a escola é, inclusive, apropriada nas narrativas contadas entre os professores indígenas. Nesta direção, o professor Alexandre Herbetta comentou brevemente na mesa acerca da relação entre mitocosmologia e escola, como a escola indígena tem sido apropriada nas diversas narrativas míticas. O exemplo citado foi o do mito da machadinha de Hartãt que tem a ver então com a escola indígena. Nesta narrativa, Piiken Krahô conta que a escola Krahô se transformou positivamente quando a machadinha do herói mítico retornou à comunidade. Isto porque a machadinha tem relação direta com os cantos, aves, outros animais, jovens e anciãos e estabelece também uma conexão com a escola, que acaba por fazer parte do mesmo campo semântico. Outros professores indígenas corroboraram o exposto afirmando que a mitocosmologia é a base de conhecimento que produz a diferença, fundamental no mundo contemporâneo, como já apontado acima. Neste novo cenário, segundo Alexandre Herbetta, o conhecimento de mundo produzido pelos indígenas deve ser - e é - fonte relevante para a academia e ciência ocidentais. O diálogo entre ambas sendo rico. Nas palavras da professora Maria do Socorro isto aponta para o fato de que a universidade se enriquece com esta nova relação. Sendo assim a produção acadêmica dos professores indígenas deve ser a base para a reflexão da construção dos PPPs. O professor Silvino afirmou no mesmo sentido que os professores indígenas são também os responsáveis por enriquecer essa construção. Ele citou, então, a produção de alguns livros já realizados e outros tantos que estão sendo produzido, o que renova a base de conhecimentos já estabelecida. E, além disso, por ser escrito dá margem a outras tantas relações, assumindo assim a agência do processo de transformação. Neste sentido, o professor Alexandre Herbetta ponderou que o PPP deveria ter como base então a mitocosmologia de cada povo. Ainda em relação à cosmologia como fonte da diferença, o professor Uriala Karajá a considera como uma arma, corroborando a ideia de tempo de luta já exposta. Alexandre falou então sobre uma lógica associativa presente nos sistemas mitocosmológicos responsável pela associação dos diversos elementos da vida dos sujeitos, conectando temas intra e interculturais, a aldeia e o mundo. Neste sentido, os animais estão ligados aos cantos, que estão ligados aos anciãos que se conectam à natureza. Cantar sendo assim essencial para a preservação do território. Neste contexto Herbetta descreveu o trabalho extraescolar de Júlio Kamêr intitulado “Sustentabilidade Panhi: relações entre canto e queimada no território Apinajé”. Para Kamêr, os Apinajé vivem um momento bastante tenso, pois perderam os controles das queimadas em seu território. Isto aponta para uma situação na qual boa parte do território está sendo queimada anualmente. Simultaneamente, segundo o professor, os recursos naturais que dão nome e são operacionalizados na cultura tradicional são dizimados o que prejudica o modo de ser tradicional, como já exposto, constituidor da diferença cultural – tão importante no momento. A língua, neste cenário, é essencial, pois nomeia e constituí este mundo diferente, sendo também a base para se compreender a cosmologia. Neste sentido, para alguns professores “quando a língua ainda está viva, a nossa cultura ainda está viva, porque a natureza ainda está”. Na fala de Arakae, por exemplo, o jenipapo, item pertencente aos recursos naturais e importante no domínio ritual, também aparece conectado a outros itens e temas assim como a lógica associativa mencionada e, assim, relacionando natureza à cultura e vice-versa. Valteir Xerente corroborou o exposto dizendo que todas as culturas dos povos indígenas são semelhantes, citando o exemplo de que na cultura dele também é muito importante o jenipapo. Sinvaldo falou ainda a respeito da questão das línguas viverem e dialogarem. Valteir corroborou a afirmação acerca das línguas que se comunicam. Desta forma ele apontou para o fato de que como pano de fundo a lógica associativa pertence a todos eles. Nesta direção, ainda, para Gilson Tapirapé “o uso dos peixes é para consumo da comunidade, não para vender... é questão de sobrevivência cultural, instrumento de estudo dela”. Nestes sentidos, jenipapo, peixes e machadinha não são apenas recursos naturais, mas sim lugares de saber, da cultura e da autonomia. Segundo Arakae, “então se o jenipapo irá acabar, o conhecimento se vai”, evidenciando a importância da lógica de associação dos elementos percebidos como tradicionais em cada grupo, a qual é traduzida muitas vezes, por contextualização. O professor Uriala concordou com o exposto e disse que se deve colocar a cosmologia indígena nos currículos escolares das escolas indígenas. Para ele, “a natureza faz-se um cuidado recíproco com o ser humano que ambos cuidam”. Neste cenário, para Gilson, Takãna, a casa de trabalho, é o nosso currículo. A ideia de currículo mencionada é interessante, pois é equivale a um espaço da aldeia. O conhecimento de certa forma é espacial, por isso talvez deva ser vivido fisicamente. Deve-se notar também que tal espaço é a princípio masculino, o que dá margem para se pensar no gênero dos professores. Este, sendo um tema interessante para se desenvolver. Assim a escola, ao tomar o conhecimento tradicional se transforma na casa ancestral, que é o lugar de aprendizagem. Neste sentido, a Takana aponta para o currículo, ou é o mesmo que o currículo, sendo também espaço de relação entre jovens e anciãos, de seriedade e respeito. A Takana é também um lugar que possui forma de falar diferente, diferente do pátio, indicando novamente a voz como instrumento importante de conhecimento. Nesta direção, Carneiro da Cunha (2009) reflete sobre diferentes concepções de conhecimento. Segundo ela, esta categoria em diversas comunidades é diferente da que praticamos. Assim conhecer pode estar vinculado a papéis sociais e conhecimento a outras formas de perceber o mundo. Segundo a autora, por exemplo, na Melanésia “o conhecimento está fundado na autoridade da fonte. Já na Amazônia, segundo vários autores, é a experiência direta que prevalece” (: 365). Entre os professores ouvidos no evento a ideia de movimento no espaço tem alguma relação com conhecer, e merece ser aprofundada. O verbo movimentar foi usado várias vezes para se referir às transformações mencionadas. Ainda segundo as falas citadas, a própria concepção de natureza merece ser comentada – e questionada. Natureza, na fala dos professores indígenas, aparece como espaço do conhecimento. A natureza os ensina, e aponta para a cultura tradicional já mencionada. Parece que não há uma separação marcante entre os domínios. Neste contexto, para os professores indígenas, parece não haver uma distinção clara entre o que é natureza e o que é cultura, pois um canto pode ser da natureza assim como o jenipapo da cultura. Isto, como se vê, vai de encontro à política desenvolvimentista brasileira, como exposto pela professora Christiane e já comentado. Neste cenário, as consequências da prática predatória têm se manifestado na forma de escassez (em extinção), dos peixes, por exemplo, utilizados pelos Karajá e, consequentemente, da cultura e da língua tradicional. A língua é deixada de lado à medida que itens são extintos impactando o sistema mitocosmológico. Alguns projetos extraescolares versam sobre o tema. Segundo um professor Tapirapé, “a preocupação da política linguística é nos nomes também. Meu projeto futuro será a criação do dicionário dos nomes próprios. Alguns nomes entram, tomam força, e alguns nomes desaparecem”. Gilson Ipaxiawyga Tapirapé; Leandro Lariwana Karajá; Valci Sinã Xerente também comentaram a importante relação entre língua, cultura e identidade. Segundo eles, o repertório linguístico – centro da política linguística deve ser inclusive discutido na escola, com as crianças. Neste contexto, o professor Arakaé mencionou acerca da política linguística, denominada por ele, micropolítica, que indica “o que quer na sua vida e comunidade e para discussão que começa no nível de casa”. Para o professor, “criei a micro política na minha comunidade, que é quando a gente começa a discutir a política linguística no âmbito da família, em casa. E daí vai para o social, para a comunidade, para a escola. Daí vai para a secretaria (...)”. Neste contexto, Sinval chamou a atenção para a fala do professor Indionor acerca de dificuldades da língua materna. Segundo ele, para isso busca-se participação do pai juntamente com a escola, no dia a dia se conversar e criar o hábito, apontando para uma das características da pedagogia indígena. Assim, a política linguística não é trabalhada somente na sala de aula, ela pode ser trabalhada também fora. Neste contexto o professor mencionou que há, por exemplo, desvalorização de nomes próprios entre os Tapirapé; “porque hoje dentro da comunidade Apyãwa, são substituídos os nomes próprios de jovens apyãwa pelos nomes de maira (não indígenas)”. Arakaé afirmou ainda que “sou professor linguístico”, apontando para a ideia de que a língua permeia os outros domínios da cultura dita tradicional. Assim, ser professor linguístico é ser professor de qualquer um dos outros temas. Depreende-se assim ainda a importância da língua nativa para o referido professor. Na mesma direção, na mesa acerca das políticas linguísticas, o professor Leandro Lariwana Karajá classificou quatro tipos de políticas distintas. Segundo ele, “vou falar de quatro políticas linguísticas: as políticas linguísticas do governo no passado; a educação bilíngue de transição; os iletrados de 30 anos atrás e a criação de palavras novas. Até hoje a gente usa a estrutura do português para falar”. Neste sentido ele disse que as línguas indígenas são “armas para ser seguro”, apontando novamente para a noção de tempo da luta. Neste mesmo sentido, da riqueza do idioma nativo, o professor Sinval Xerente chamou a atenção para a riqueza do patrimônio linguístico. Para ele o Curso de Licenciatura abriu espaço para um fortalecimento das línguas nativas, indicando o espaço como domínio importante do conhecimento. Segundo Sinval ainda, trata-se de “línguas que estão no sangue e que são silenciadas”, indicando uma interessante relação entre sangue e cultura, já apontada. O professor Silvino corroborou o exposto e disse que a língua é essencial, segundo ele, deve-se “falar e escrever na língua materna graças aos ensinamentos que ele pode repassar”. Assim, segundo os professores indígenas, o mundo deve ser apropriado com base na língua nativa. Neste cenário, a língua, o jenipapo, os peixes e a cultura tradicional aparecem também como coisas – objetificadas -, as quais se ganha ou perde. Segundo Sinval Xerente, por exemplo, os Xerente estão recuperando “as coisas que foram perdidas”, apontando para um caráter essencialista – ou substancialista - de percepção de mundo. Ao mesmo tempo, interessantemente, especialmente a língua é vista a partir de uma metáfora orgânica. Diz-se muito que ela deve “reviver”, pois “estavam na UTI”, indicando a relação sangue e cultura já apontada indicando uma ambiguidade na relação coisa – estática – e vida – dinâmica – que merece ser investigada. Neste sentido, no mínimo, a política linguística não trata só de língua, mas também da cultura, dos saberes, das ciências, dos sujeitos e da identidade. O tempo da luta parece, se dá também, assim, entre o português e a língua indígena. Isto em relação ao tema do contato intercultural. Neste cenário, a língua portuguesa foi concebida em alguns casos como língua de relações interculturais ou sendo como a língua do opressor, do invasor. A professora Tânia, por exemplo, se referiu à constituição do português tapuia, dentro do contexto da afirmação étnica dos próprios Tapuia. Segundo ela, o português é concebido como uma língua de relações interculturais e as práticas socioculturais do português representam para os povos indígenas uma forma de sustentabilidade existencial. Tânia finaliza dizendo que, no contexto da especialização intercultural, estamos brigando para construir a identidade de um cidadão intercultural, capaz de falar em sua língua materna, mas também em português. Nesta direção no debate referido, o professor Sinvaldo Karajá perguntou à professora Tânia sobre a questão de perda de língua/aquisição de nova forma de falar, apontando para o caráter essencialista de algumas falas, mas tendo como exemplo os Pataxó, que “perderam” sua língua. Assim, a expressão “resgatar a linguagem” parece base de uma política linguística. Sinval relatou ainda sobre o fato de ele ser professor de linguagem, mas somente poder passar a fala masculina para as meninas na sala de aula, apontando para a complexidade de tal política. Em muitos outros depoimentos apareceu também a relação língua-autonomiaidentidade. Neste sentido, a língua define o índio. Nesta direção, pode-se perceber um problema no conceito de identidade, apontando igualmente para um caráter essencialista e não dialógico ou processual. Por conta disto, pareceu se formar certa tensão quando tratou-se do português Tapuia. Neste cenário, os trabalhos extraescolares Tapuia trataram da constituição de um português tapuia, baseado no processo de expropriação territorial a que foram submetidos. Segundo Eunice Tapuia, “quem tem que dizer o que é o povo é o Tapuia, diz que o português-Tapuio é tapuia... Devemos respeitar o que somos e o que o povo diz e acredita”. Neste sentido, pareceu para outros professores que havia pressão para se impor o adjetivo “indígena” à identidade Tapuia. Para estes outros professores, “português é português, não há português tapuia”, questionando o caráter essencialista dado ao referido português. Leandro Karajá disse no debate que prefere dizer que “o povo que fala a língua portuguesa não tem língua indígena e adotou a língua portuguesa, e não falar em português tapuia”. Ele é contra a denominação ‘português tapuia’. O professor Welington Vieira Brandão Tapuia corroborou o exposto e disse que a a escola tem a ver com afirmação da identidade, que se relaciona com a produção da diferença já comentada. A identidade aponta assim para autonomia que é contrário ao processo de colonização, e tem a ver com a tradição. A tensão no debate entre um português tapuio ou não evidenciou que nas falas pode haver ainda uma hierarquização do mais para o menos índio, o que teria a ver com a cultura que é ”coisa” e não vida. Isto vai de encontro ainda à teoria das identidades, que postula ser esta dinâmica e relacional. A identidade se dá em relação aos outros e tem como base a auto afirmação de cada povo que de forma autônoma escolhe alguns itens culturais como sinais diacríticos. Tais itens podem simplesmente mudar com o tempo. Neste sentido, eleger o português tapuio ou não, não é o cerne da questão, mas sim um item cambiável. A questão tem a ver mais com a dinâmica humana e o processo sociohistorico referido. Neste sentido, para a professora Eunice Tapuia, “a língua não é só comunicação, é também história”. Segundo ela, o português faz parte da formação dos Tapuia, assim como o Xavante, Kayapó e outras línguas indígenas”. Segundo ela, ainda, o português tapuia remete à história do povo tapuia. Eles usam ‘português tapuia’ porque reconhecem o sangue do branco na formação da identidade tapuia e esse sangue tem o mesmo valor que o indígena, indicando novamente a relação sangue e cultura. Lázaro Tapuia finalizou o debate dizendo que todos os Tapuia têm sobrenome de não indígenas, normalmente de não indígenas influentes, política e economicamente, da região. Sua hipótese é que a adoção desses sobrenomes foi também uma forma de se preservarem, “já que havia muita represália a este povo na região. contexto profissional, para defender a si e a comunidade”. Depreende-se que língua, identidade e cultura estão intrinsecamente conectados à política Outro aspecto que se relaciona à discussão acerca de identidade é o afeto. Em relação a emoções, este foi tema de debate e fundamentos, apresentado pela professora Socorro, através da experiência da Escola Indígena Estadual de Itxala. Na mesma direção, segundo Sinval Xerente, por exemplo, “o regimento interno do povo tem a ver com alegria”. Para ele, aprender sobre os dois mundos, tecnologias (celular, notebook) “é bom e deixa índio feliz”. O professor Silvino Sirnãwe Xerente ressaltou que fica alegre com a escola. Silvino reiterou o fato de que a escola deve ter relação com o sentimento, com os afetos. No mesmo contexto, o professor Abertino Adiurema falou acerca do projeto extraescolar de Maurehi, dizendo como ele ajudou a comunidade, levantando a autoestima. Depreende-se que escola tem relação com alegria e com estima. Os professores indígenas falaram que se deve gerar alegria nas crianças indígenas. Como exposto, estudar, fazer parte de uma escola ou comunidade tem mais a ver com os afetos estabelecidos do que com a racionalização presente em algum conteúdo acadêmico. Neste sentido, para Gilson Tapirapé, “na aldeia dele mudou muito para melhor principalmente na cultura e sobre os saberes sobre os peixes e sobre alimentação tradicionais. A escolha do tema sobre os peixes para eles inclusive para as crianças porque a partir dai as crianças vão se interagindo e intensifica relações com sujeitos e itens”, o que aponta para a temática de afetividade, importante como se viu na elaboração do PPP. O afeto, inclusive, é visto com uma forma de empoderar os indígenas e gera segurança. Em oposição, a vergonha é então um sentimento relacionado à política integracionista brasileira e bastante presente ainda nas escolas indígenas. Sente-se vergonha por ser diferente o que facilita a expansão do desenvolvimentismo. Jonas Gavião também concordou com seus colegas. Para ele há ainda “vergonha de vivenciar na própria fala”. Ele mesmo “foi ensinar o português, que tem a ver com forte no jeito de ser, não vive isoladamente, ficamos em nosso espaço e nosso território mas existe a fronteira, e podermos entender para poder se defender, como a política funciona falando o inglês do Brasil”. Na mesma direção, para o professor Kurikala, “a vergonha é um empecilho para aprender a linguagem. Eles têm que se aventurar e tentar falar sem vergonha. O professor tem que fazer, entretanto, eles se interessarem para os pontos tradicionais e culturais”. Depreende-se do exposto que alegria parece se opor então a vergonha. É como se o uso indiscriminado do português, por conta de uma política opressora por parte do Estado fosse visto como vergonha, já que elimina o caráter de independência e, em oposição, a resistência a isso, ou seja, a fala tradicional é vista como alegria. Ainda se referindo aos sentimentos, muitos professores falaram em desejo. Para Silvino, por exemplo, “se não existe a vontade fica muito difícil aprender qualquer língua”. Segundo os professores deve-se querer transformar a escola e o PPP aparece como base da transformação. Parece que as transformações mencionadas tem a ver com este desejo. *** Em muitos casos, os professores indígenas mencionaram que os anciãos estão curiosos acerca dos resultados das transformações acima mencionadas. Para a professora Maria Xerente, por exemplo, “a situação é de credito quanto à comunidade em relação ao professor”. Para ela, ainda, os “anciãos falam que agora chegou a nossa vez”. Este novo tempo, tomando como base os depoimentos supracitados tem a ver com “a incompreensão do que seria uma escola indígena, sobre qual escola queremos, sobre o que é ser indígena”. Para muitos professores, como ficou claro, a resposta está em se estabelecer uma conexão com o universo não indígena, tendo como conteúdos “ensinar sobre alcoolismo, fazendeiros em terras indígenas, questão da língua portuguesa”, valorizando o conhecimento étnico e apreendendo o conhecimento não indígena. Ficou evidente ao longo do debate, que a escola indígena passa por um período de (re) construção. Em seguida que, neste período, ela busca tratar de promover uma tomada de consciência da própria lógica cultural da comunidade e de sua contextualização, em relação ao mundo contemporâneo. Este processo é visto por todos como uma conquista de autonomia. Por fim, que a escola é um instrumento fundamental de luta política no mundo contemporâneo, o que tem a ver com a produção da diferença cultural. Isto em detrimento da tentativa constante do Estado nacional em eliminá-la. Para muitos como se viu, a escola indígena está ligada à produção da diferença cultural, que tem como base os diversos sistemas mitocosmológicos. Ressalte-se que os professores participantes têm consciência da legislação indígena e de suas relações com o Estado nacional. Carneiro da Cunha (2009) corrobora o exposto. Segundo a autora, há um amplo processo em voga no qual os povos indígenas tomam consciência de suas lógicas culturais, e usam então sua “cultura” (com aspas) como instrumento de comunicação no mundo de hoje. Isto pode ainda ser relacionado em paralelo a autorreflexão ou a um movimento reflexivo. A “cultura” sendo uma espécie de metadiscurso sobre a cultura (: 363). Desta forma, a autora diferencia cultura com e sem aspas. A cultura sem aspas seria esta espécie de sistema de condutas, valores e percepções, naturalizado nos diversos agrupamentos humanos e, consequentemente, com lógica inconsciente. A “cultura” seria, em oposição, a consciência do uso e da importância de determinados valores e itens em relação ao outro, especialmente importante no contexto do contato interétnico do mundo contemporâneo. Turner também já havia chamado a atenção para o fato em 1991, mostrando como “cultura” se tornara um importante recurso político para os Kayapó (: 368). Desta forma, “na medida em que se aplica ao sistema interétnico, a “cultura” participa desse mundo real” (: 372). Este movimento de percepção cultural, da cultura para a “cultura”, foi abordado em outros termos pelo professor Sinvaldo Wahuká, logo no seu discurso inicial, de abertura do seminário. Nesta ocasião Sinvaldo falou que é necessário um movimento para a transformação do mundo em direção a algo mais justo. Desta forma, ele se referiu também a necessidade de uma tomada de consciência das populações indígenas acerca da contemporaneidade e, a partir daí, à promoção de uma série de transformações sociais. Para Wahuká, o índio não deve esperar que o não índio produza esta transformação. Ele deve agir. Outros professores corroboraram o exposto. Para eles, “enquanto esperamos do outro, ficamos sentados... agora estamos refletindo o PPP que tem ou não tem na escola, o tipo de material que há na escola, material didático que não provoca reflexões e discussões não propiciam educação”. Depreende-se que o PPP é relacionado com a autonomia referida. Depreende-se do exposto que a escola indígena só vai viver a mudança com o movimento que tem relação com as transformações mencionadas. Neste sentido, um professor declarou que “mais do que estática é consciência da cultura”. Para Gilson a questão é, então, criar o PPP PARA as escolas indígenas ou DAS escolas indígenas? Para Sinval a resposta está na participação da comunidade que é essencial, pois a coletividade irá ajudar nesse processo de auto reflexão. O movimento que tem a ver com a transformação, então, se relaciona também com as mudanças que apontam para a conscientização da própria cultura. É como se ela não fosse mais naturalizada. Neste cenário, colocou-se que no começo do curso entendia-se como interculturalidade a relação entre culturas, mas que hoje, entende-se interculturalidade como justiça social. O sentimento de justiça social, inclusive, permeou todo o evento. Gilson Tapirapé disse que os mais velhos, os sábios, como o pai dele, perceberam a mudança nos tempos. Neste sentido, um professor declarou que “a política linguística me levou a entender o processo de interculturalidade e interculturalidade dentro da nossa cultura. Por isso sempre lutei dentro da nossa cultura na valorização da nossa cultura, mas não pensando na desvalorização da minha cultura, porque sou professor e sou apyãwa que pertence à etnia do meu povo apyãwa”. Neste contexto, lembrou-se que em uma das defesas de TCC um ancião em uma defesa pediu “que Deus dê muitas vidas a esses professores”, pois eles estão assumindo as posições de antropólogos, historiadores e linguistas, que segundo o mesmo, colaboraram para o processo de territorialização. Há explícita uma busca por mudança de posição em relação ao sistema de relações de poder no mundo contemporâneo. O mesmo ancião ressaltou ainda a importância da escrita para a manutenção da cultura, que em suas palavras significa manter-se vivo. Algumas outras metáforas biológico-orgânicas surgiram e foram comuns para explicar as transformações da escola indígena. O PPP foi traduzido, por exemplo, como o cérebro da escola, os fundamentos, para a transmissão do conhecimento. Na mesma direção, para Gilson, “até agora as lideranças ouviram, agora elas querem ver”. Segundo ele, ainda, os mais velhos dizem que agora não é o “momento de ouvir, agora é o momento de olhar”, usar os olhos - de ver, expressando concepções interessantes acerca dos sentidos. Neste contexto, ver parece apontar para fazer, para a execução de algo. O professor Indionor P. de Lima Guarani corroborou o exposto. Para ele é o momento de abrir os olhos e não ficar mais acomodado. Abrir os olhos é então relacionado à execução do projeto. Olhar como visto é fazer. Neste contexto, pode-se pensar que a percepção acerca do contemporâneo se transformou. Isto, pois os modos de ver, ouvir e falar parecem ser operacionalizados de formas distintas. Se antes as populações observavam o não indígena explorando seus territórios, agora querem ver seus jovens pensando em um novo mundo através da escola. Se antes, apenas ouviam – em português – imposições vindas de fora. Agora querem ser ouvidos pelas instituições brasileiras. Se antes falavam para dentro. Agora sentem que podem falar para fora – para a academia, para o mundo. Parece, então, que do ponto de vista dos participantes do seminário, a transformação trata então de novas formas de se operacionalizar os sentidos. E a escola é o local onde elas acontecem. Nesta direção, no último período do evento os professores se reuniram, sem os não indígenas, iniciando a organização de um seminário, ministrado por eles, para as SEDUCs. Eles querem ser ouvidos pelas instituições do estado nação. E querem ver seus parentes atuantes - falando. Neste sentido, Manajé ressaltou que “nossa utopia é dificuldade de concretizar”. Ele, parece, quis dizer que a utopia é autonomia, que mais do que uma rima, nas palavras de Arapaxigi Tapirapé, tem a ver com a sustentabilidade da aldeia e das palavras. Bibliografia CUNHA, Manuela Carneiro. 2009. Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify. GOW, Peter, 1991. Of mixed Blood. 1991. In: Of mixed Blood – Kinship and History in Peruvian Amazonia. England: Claredon Press Oxford. SAHLINS, Marshall. 1986. Historical metaphors and mythical realities. Ann Arbor: University of Michigan Press. TURNER, Turner. 1993. “De Cosmologia a História: Resistência, Adaptação e Consciência Social entre os Kayapó”, in E. Viveiros de Castro e M. Carneiro da Cunha, orgs., Amazônia: Etnologia e História Indígena, São Paulo: NHII, pp. 4366.
Download