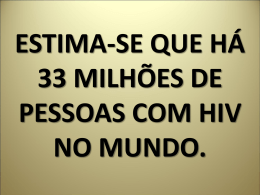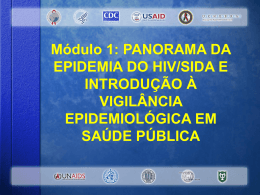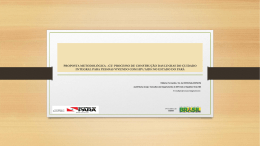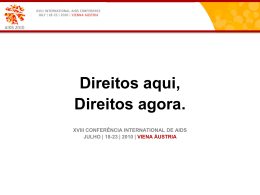SIDA NET 1 ©SIDAnet, Associação Lusófona CAPA Eduardo Tavares PRODUÇÃO Metatexto, produção de conteúdos multimédia, Lda. - Santarém IMPRESSÃO Imprinove, Unipessoal, Lda. - Santarém ISBN: 978-972-95977-8-7 Depósito Legal: 306022/10 Fevereiro de 2010 SIDA NET 2 SIDA NET 3 SIDAnet - ASSOCIAÇÃO LUSÓFONA Direcção Presidente - Victor Bezerra Vice-Presidente - Emília Valadas Secretária - Maria João Aleixo Tesoureira - Filomena Frazão de Aguiar Vogal - Cristina Valente Vogal - Teresa Branco Conselho Fiscal Presidente - Meliço Silvestre Vogal - Faustino Ferreira Vogal - Margarida Mota Assembleia-geral Presidente - Joaquim António Machado Caetano Vice-Presidente - Rui Sarmento e Castro Secretário - André Gonçalo Dias Pereira Conselho Científico Alfredo Ribeiro-da-Silva - Pharm. & Therapeutics, McGill Univ. - Montreal-Canadá Amilcar Soares - Sexologia - ONG Positivo Ana Horta - Infecciologia - H. Joaquim Urbano Ana Paula Fonseca - Medicina Interna - H. de Faro Ana Sousa Passos - Enfermagem - H. Cascais António Dinis - Pneumologia - H. Pulido Valente Barros Veloso - Medicina Interna - H. Capuchos Carlos Araújo - Medicina Interna, Infecciologia - H. Egas Moniz Carlos Vasconcelos - Medicina Interna - H. S. António Cristina Guerreiro - Ginecologia e Obstetrícia - M. Alfredo da Costa Domitília Faria - Medicina Interna - H. do Barlavento Algarvio Eulália Galhano - Ginecologia e Obstetrícia - M. Bissaia Barreto Fátima Pinto - Medicina Interna - H. de Horta Fernando Araújo - Biologia Molecular - Imunohemoterapia - H. S. João Fernando Borges - Medicina Interna - Hospital Egas Moniz Fernando Rosas Vieira - Medicina Interna - C.H. Vila Nova de Gaia Fernando Ventura - Pneumologia, Infecciologia - H. Egas Moniz e F C M de Lisboa Francisca Avillez - Biologia - Instituto Ricardo Jorge Francisco Antunes - Infecciologia - Faculdade de Medicina de Lisboa Germano do Carmo - Serviço de Doenças Infecciosas - Hospital de S. Maria Graça Rocha - Pediatria - H. Pediátrico de Coimbra Helena Valle - Virologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge Helena Ângelo - Parasitologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge Isabel Loureiro - Saúde Pública - CCPES - Ministério da Educação Jaime Nina - Medicina Interna - H. Egas Moniz João Brandão - Micologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge SIDA NET 4 Jorge Cardoso - Dermatologia - H. Curry Cabral Jorge Nóbrega Araújo - Medicina Interna - C. H. do Funchal Jorge Pereira - Patologia Clínica - L. Virologia - Instituto Português do Sangue Jorge Torgal - Epidemiologia e Saúde Pública - IHMT José Calheiros - Saúde Comunitária - Universidade da Beira Interior José Carvalho Teixeira - Psiquiatria, Psicologia - ISPA José Poças - Infecciologia - H. Setúbal José Vera - Medicina Interna - H. de Cascais Kamal Mansinho - Infecciologia - H. Egas Moniz Laura Brum - Bacteriologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge Laura Rosado - Micologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge Leon Bernardo - Infecciologia- H. Prisional S. João de Deus Lígia Pinto - Virologia - N.I.H. - USA Lino Rosado - Pediatria - H. D. Estefânia Luís Rodrigues - Patologia Clínica - H.S. Francisco Xavier Luísa Rodrigues - Imunologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge Machado Caetano - Imunologia - F. de Ciências Médicas - Lisboa Manuel João Gomes - Medicina Interna - H. de Santarém Manuel Pinheiro - Infecciologia Pediátrica - Lisboa Manuela Bonmarchand - Infecciologia - H. Pitiè Salpêtrière - Paris Manuela Mafra - Anatomia Patológica - H. S. José Maria Helena Lourenço - Virologia - Faculdade de Farmácia de Lisboa Maria João Faria - Infecciologia - Hospital dos Covões - Coimbra Maria Jorge Arroz - Patologia Clínica - H. Egas Moniz Maria José Campos - Medicina Interna - Abraço Maria José Manata - Infecciologia - H. de Almada António Meliço Silvestre - Infecciologia - H. Universidade de Coimbra Miguel Castanho - Química Física Molecular - Faculdade de Medicina de Lisboa Mota Miranda - Infecciologia - Faculdade de Medicina de Porto Nélio Santos - Patologia Clínica - H.D. de Faro Nuno Santos - Bioquímica - Faculdade de Medicina de Lisboa Maria Odete Ferreira - Virologia - Faculdade de Farmácia de Lisboa Paula Brum - Psiquiatria - Centro das Taipas - Lisboa Paula Lobato de Faria - Direito - CNLCS e Escola Nacional de Saúde Pública Paulo Rodrigues - Medicina Interna - H. Curry Cabral Ricardo Camacho - Imunohemoterapia - H. Egas Moniz Rui Sarmento - Medicina Interna - H. Joaquim Urbano Saraiva da Cunha -Infecciologia - H. Universidade de Coimbra Teresa Paixão - Epidemiologia - Instituto Ricardo Jorge Victor Bezerra - Medicina Interna - Santarém Vítor Duque - Virologia - H. Universidade de Coimbra Administrador do Registo Victor Bezerra Conselho Técnico Pedro Ferreira Eduardo Tavares Victor Bezerra SIDA NET 5 Publicações Anteriores: I HIV/AIDS Virtual Congress Portugal 2000: À Descoberta de Desafios Partilhados na Luta Contra a SIDA Dez. 2000 II HIV/AIDS Virtual Congress Ontem, Hoje e Amanhã Dez. 2001 III HIV/AIDS Virtual Congress O HIV no Mundo Lusófono Jan. 2003 IV HIV/AIDS Virtual Congress A Mulher e a Infecção pelo HIV/SIDA Mar. 2004 V HIV/AIDS Virtual Congress A importância das Co-infecções no VIH/SIDA Mai. 2005 VI HIV/AIDS Virtual Congress Prevenção da Sida - Um desfio que não pode ser perdido Mai. 2006 VII HIV/AIDS Virtual Congress O VIH na Criança e no Idoso Mai. 2007 VIII HIV/AIDS Virtual Congress Novas perspectivas sobre a infecção VIH/SIDA e doenças relacionadas Set. 2008 SIDA NET 6 Notas de Abertura Presidentes do IX Congresso Virtual HIV/AIDS SIDA NET 7 Vítor Manuel Jorge Duque* Em primeiro lugar pretendia desejar as boas vindas a todos aqueles que irão participar em mais um congresso virtual e pretendia agradecer à organização AIDS/Portugal o honroso convite que constitui a co-presidência desde congresso. Após mais de vinte e cinco anos de infecção VIH/SIDA penso que é tempo de fazer uma reflexão e uma revisão dos aspectos do direito e da ética associados a esta pandemia. É importante conhecer a legislação que foi sendo publicada ao longo do tempo, as questões éticas que surgiram e também as áreas de vazio legislativo que ainda subsistem. Nem sempre a evolução da medicina e do direito caminharam de mãos dadas. A medicina tem conhecido avanços importantes, especialmente ao longo da segunda metade do século XX. A infecção VIH constituiu um desafio sem precedentes para a humanidade dado a sua disseminação poder efectuar-se através das mesmas vias utilizadas para a perpetuação da espécie. Tal como outras pandemias do passado também esta tem estado associada à destruição da organização social e económica, à geração de pobreza e de infelicidade mas também tem permitido uma reflexão sobre a natureza profunda e o entendimento do que é a própria humanidade, afinal um pouco do que somos todos nós e cada um em particular. Nunca terá existido uma resposta tão rápida da medicina e da tecnologia, com aplicação quase em tempo real dos conhecimentos que foram surgindo neste âmbito, essencialmente visíveis e com impacto nos últimos dez anos. Saliento os aspectos da clínica e da terapêutica mas em especial os avanços extraordinários do diagnóstico e da monitorização e caracterização ao nível molecular tanto da infecção como do hospedeiro que permitirão, num futuro próximo, um tratamento personalizado de acordo com as diferenças de cada indivíduo. Como é do senso comum a evolução não correspondeu sempre a uma linha recta ou ao caminho mais curto para um determinado objectivo, sendo importante a cada momento a definição de regras e a reflexão necessária que nos permita caminhar de forma segura para a próxima etapa. Isto, é o que pretendemos que seja este congresso - um espaço de reflexão, de revisão e de interacção entre a medicina e o direito. A todos, os meus agradecimentos. *Doutorado em Medicina Interna/Infecciosas, Assistente Graduado de Infecciologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra, Coordenador da Unidade funcional Laboratório de Virologia, Presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, Membro da Direcção da Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da SIDA (APECS). SIDA NET 8 André Gonçalo Dias Pereira* A pax antibiótica gerou a ilusão de que a humanidade deteria o domínio total sobre a doença. Pelo menos haveria o mito de que não haveria doenças incuráveis. Mas, a infecção VIH/SIDA veio colocar em cheque essa visão das coisas. De repente, irrompe em todos os continentes e em todas as classes sociais, tocando de forma marcante muitas figuras públicas da arte e do desporto, uma doença estranha: uma patologia sem cura e sem vacina. Uma enfermidade que associa Eros e Tanatos, os deuses do amor e da morte, o que veio aumentar uma aura de mistério, espanto e medo perante essa infecção. Gerou-se o medo da doença e do seu portador; receio da notícia e do seu mensageiro. Daí ao estigma, à discriminação e à violação dos direitos humanos foi um passo. Um passo muito grave, muito rápido e deveras trágico! Hoje a discriminação mata mais que a própria SIDA. A violação do direito ao sigilo médico causa mais danos que a própria doença. O desrespeito pelo consentimento informado afasta os pacientes dos serviços de saúde. É, portanto, fundamental reflectir sobre os aspectos éticos, jurídicos e sociais que condicionam a própria luta contra o VIH. Este Congresso pretende ser um espaço alargado de discussão e reflexão, onde todos estão convocados, em especial contamos com juristas, bioeticistas, especialistas das ciências sociais e da ética médica, bem como médicos e cientistas. Contamos com todos para que nos ofereçam o seu contributo nesta face decisiva da luta contra a infecção VIH/SIDA. Sejam bem-vindos e Bom Congresso! Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Curador da Fundação “A Comunidade Portuguesa Contra a SIDA”, Secretário científico do Centro de Direito Biomédico. SIDA NET 9 NOTA INTRODUTÓRIA Machado Caetano* O IX Congresso Virtual da Associação Sidanet, intitulado “A Infecção VIH e o Direito”, representa um marco no conhecimento de uma das temáticas mais importantes no que diz respeito à Pandemia da Sida. Bastará relembrar os temas da Confidencialidade e Discriminação para se avaliar a sua importância na prática clinica e na vivência profissional e social dos infectados e afectados pelo VIH/Sida e dos profissionais que lhes prestam assistência. A protecção do segredo médico, a sua definição, âmbito, escusa e precauções que não o violam, a salvaguarda de terceiros, o risco de contágio, a realização de testes laboratoriais para o VIH sem autorização dos próprios, os aspectos da propagação da doença, a denúncia crime e a Saúde Publica, são alguns dos aspectos de maior importância na área Ético-Jurídica do VIH/Sida. Finalmente, e não de menor importância, relembro a problemática de alguns profissionais da área da Saúde que são seropositivos e que praticam procedimentos invasivos, assunto que cada vez mais merece a atenção dos profissionais das áreas da Saúde, do Direito e da Ética. Faço votos para que os trabalhos agora apresentados neste Congresso sejam ferramentas úteis para um exercício profissional que respeite o rigor ético e jurídico que, por todos nós, deve ser exigido na prática dos cuidados de Saúde. * Prof Catedrático da Faculdade de Ciências Médicas da UNL, Presidente Honorário da Fundação Portuguesa a Comunidade Contra a Sida e Presidente da Assembleia Geral da Associação Sidanet SIDA NET 10 Indíce Estigma e Discriminação Em torno do VIH/SIDA: Subsídios para uma cultura laboral de saúde e justiça Joana Nunes Vicente - Milena da Silva Rouxinol Universidade de Coimbra - Portugal 15 Reprodução assistida e HIV - A visita da cegonha Vera Lúcia Raposo Universidade de Coimbra - Portugal 27 Sigilo Profissional VIH, risco e aptidão para o trabalho António José Vilar Queirós Universidade de Coimbra - Portugal 37 Sigilo docente e o direito à privacidade de alunos com HIV/AIDS Walk Loureiro - Kenia Loureiro Secr. Mun. Educação de Vitória - Brasil 43 Pessoas com HIV/Sida e Médico com Dupla Responsabilidade(MDR) Maria do Céu Rueff Universidade Lusíada de Lisboa - Portugal 57 Problemas de Política Criminal e de Política do Medicamento Prostituição, Lenocínio, HIV - A regulamentação da actividade de trabalhador@s do sexo Teresa Pizarro Beleza - Helena Pereira de Melo Universidade Nova de Lisboa - Portugal 72 A infecção por VIH resultante de transfusão de sangue contaminado no contexto da responsabilidade civil extracontratual do Estado Luísa Neto Universidade do Porto - Portugal 75 A transmissão do vírus da SIDA constitui uma conduta criminalmente relevante? (Considerações sobre a tipicidade criminal) Susana Aires de Sousa - Coimbra - Portugal 107 O relevo do HIV no contexto dos crimes sexuais Ana Rita Alfaiate Universidade de Coimbra - Portugal Culpabilizaçao ou co-responsabilidade: responsabilizaçao na não-declaração da sorologia à/ao parceira/o sexual Ângela Pires Pinto Programa Nacional de DST e Aids - Brasil Determinação da responsabilidade penal no caso de transfusão de sangue infectado com HIV/SIDA Sónia Fidalgo Universidade de Coimbra - Portugal 123 127 141 SIDA NET 11 SIDA NET 12 A INFECÇÃO VIH E O DIREITO Selecção de Textos SIDA NET 13 SIDA NET 14 EM TORNO DO VIH/SIDA: SUBSÍDIOS PARA UMA CULTURA LABORAL DE SAÚDE E JUSTIÇA Joana Nunes Vicente - Milena da Silva Rouxinol - Universidade de Coimbra - Portugal I. Pouco mais importará enunciar, além da circunstância de 90% de os portadores de VIH/SIDA se enquadrarem na faixa etária economicamente produtiva1, para se tomar como evidente a repercussão da doença na esfera laboral. Com potenciais efeitos redutores ou, no limite, mesmo impeditivos, da capacidade produtiva dos trabalhadores, a seropositividade cifra-se, (também) no domínio de que curamos, em importantes custos económicos e sociais. Colocando aos sujeitos que aí se movem — maxime ao trabalhador, ao empregador e, naturalmente, ao médico do trabalho e seus colaboradores — um complexo conjunto de desafios, são também várias as possíveis perspectivas de análise do problema, mesmo que não se saia do campo do jurídico. Convoca-nos, neste contexto, a que põe em confronto, por um lado, a obrigação do empregador de garantir a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores a si vinculados e, por conseguinte, de evitar a infecção dos mesmos com o vírus de imunodeficiência humana através de outro trabalhador, bem como o dever de evitar a transmissão da doença a terceiros, com os quais se coloque em contacto, como sujeito que desenvolve uma actividade produtiva, e, por outro, o imperativo de protecção da esfera jurídica do trabalhador ou candidato a emprego portador de VIH positivo. O desiderato de protecção da saúde de outros trabalhadores e de terceiros tenderá a traduzir-se, antes de mais, na intromissão na reserva da intimidade da vida privada (arts. 26.º/1 da Constituição, 80.º do Código Civil e 16.º e ss. do Código do Trabalho) do trabalhador ou candidato a emprego seropositivo, uma vez que, podendo implicar uma acção — de não admissão do candidato, de mudança de funções ou de transferência para local diverso, de afastamento, temporário, através do instituto da suspensão do contrato, ou mesmo definitivo, por via da sua extinção das funções para que foi contratado — sobre o próprio portador do vírus, pressupõe, obviamente, o conhecimento da sua seropositividade, sendo certo, como é evidente, que os dados relativos à saúde se inscrevem no círculo de elementos relativamente aos quais é, indubitavelmente, legítima a pretensão de opacidade. Sublinhe-se, porém, que a penetração nesse espaço de reserva não releva somente em si mesma, mas outrossim como condição da adopção de um conjunto de 1 ANNE TREBILCOCK, “Le SIDA et le lieu de travail — les orientations que suggèrent les normes de l’OIT”, Revue International du Travail, vol. 128, 1989, nº 1, pág. 33 a 51 [33]. SIDA NET 15 comportamentos que podem traduzir-se na violação de outros bens jurídicos. As medidas enunciadas atrás não poderão deixar de conceber-se como actos lesivos da esfera jurídica do trabalhador ou candidato a emprego seropositivo, porquanto entrarão em rota de colisão, desde logo, no que se refere ao candidato a emprego, com o seu direito ao trabalho (art. 58.º da Constituição) ou, no respeitante ao trabalhador, com o direito à estabilidade no emprego (art. 53.º da Constituição), quer por exigir que, contra a vontade prestador de trabalho, a extinção do vínculo laboral tenha sempre uma causa juridicamente bastante, isto é, tão importante que justifique o sacrifício do bem protegido com aquele direito, quer na medida em que postula a tendencial imodificabilidade das condições de trabalho2. Simultaneamente, colocar-se-á em causa o imperativo de igualdade e não discriminação, consagrado, primordialmente, no art. 13.º da Constituição, mas também no Código do Trabalho, maxime nos arts. 22.º e ss. O princípio da igualdade impõe que se trate igualmente o que é igual e se defira tratamento diferenciado a situações não iguais, na medida da respectiva diferença, veiculando o mandato antidiscriminatório, como solução de princípio, a irrelevância das marcas distintivas de certas categorias subjectivas e postergando, pois, a diferenciação fundada nas mesmas3. Deste modo, naturalmente que a actuação sobre o trabalhador ou candidato a emprego seropositivo, baseando-se nesse mesmo estado de seropositividade, constituiria uma violação do princípio da igualdade, por a diferenciação ser arbitrária, atenta a irrelevância do traço distintivo determinante da mesma, bem como do da não discriminação, por a característica subjectiva em causa pertencer ao grupo daquelas em função das quais o tratamento diferenciado mais repugna a ordem jurídica. Advogar que a indagação do estado de seropositividade constitui sempre um acto ilícito de intromissão na reserva da vida privada do trabalhador ou candidato a emprego e que as medidas incidentes sobre o mesmo, destinadas a evitar a transmissão do vírus, se caracterizam, em qualquer caso, como contrárias ao direito, quer por colidirem com o direito ao trabalho ou à estabilidade do emprego, quer por consubstanciarem ofensas ao princípio da igualdade e não discriminação, é desconsiderar a relevância do bem jurídico saúde, mormente enquanto fundamento de um mandato de controlo dos riscos de afectação da mesma a cargo do empregador. Pretender, inversamente, que esse imperativo de protecção da incolumidade físicopsíquica de outros trabalhadores e terceiros exclua, em toda e qualquer situação, a antijuridicidade daqueles actos significa, na prática, permitir uma constante negação dos valores que, como vimos, se lhe contrapõem. Tal seria o resultado do entendimento segundo o qual ao empregador caberia, no domínio em que a vinculação pelo bem jurídico saúde o onera, reduzir a zero o risco de transmissão do VIH, devendo, para tal, adoptar as medidas que se revelassem mais eficazes. Dificilmente se negará, com efeito, que, bem vistas as coisas, não obstante a circunscrição das formas 2 Cfr., por todos, JORGE LEITE, Direito do Trabalho, Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra — Serviço de Textos, Coimbra, 2004, vol. I, pág. 82 e 83. 3 Sobre os nucleares conceitos operativos relativos ao princípio da igualdade e da não discriminação, vejase JORGE LEITE, “Princípio da igualdade salarial entre homens e mulheres no direito português”, Compilação de elementos para uma consulta especializada sobre igualdade de remuneração entre mulheres e homens, Edição da CITE, 2004, pág. 61 a 76 [63 e ss.], e também VERA LÚCIA RAPOSO, “Os limites da igualdade: um enigma por desvendar (a questão da promoção da igualdade laboral entre os sexos)”, Questões Laborais, ano XI, 2004, nº 23, pág. 42 a 80 [42 a 51]. SIDA NET 16 possíveis de contágio — de acordo com os dados disponibilizados pela OMS 4, o vírus transmite-se por via sexual, por contacto com sangue e outros líquidos orgânicos e por via fetal —, existe sempre, no exercício de qualquer actividade profissional, como na adopção de qualquer comportamento relacional, um certo risco, mesmo que diminuto, de infecção por VIH. Pense-se no mecânico, no sapateiro ou no carpinteiro, que faz um corte no dedo com um instrumento de trabalho, o qual é, em seguida, manuseado por outro trabalhador que apresenta uma ferida aberta na mão. Pense-se na educadora de infância que, também com uma escoriação na mão, assegura os primeiros socorros a uma criança sob sua vigilância, que cai e se magoa… Será, então, que a ordem jurídica impõe a exclusão dos seropositivos de qualquer actividade profissional, com tudo o que tal solução implicaria? Será que sequer a consente? Uma resposta negativa emergirá como evidente. A determinação do comportamento preventivo que se impõe ao empregador/ empresário pressupõe, pois, uma tarefa de ponderação dos diferentes bens em jogo, tendente à respectiva harmonização ou concordância prática. Ainda a montante da fixação do conjunto de exigências de índole formal e procedimental, voltadas, em especial, para a tutela da reserva da intimidade da vida privada do trabalhador ou candidato a emprego, importa apurar — com o que se define o requisito substancial de actuação do empregador/empresário neste domínio — em que circunstâncias é permitida a averiguação da eventual seropositividade do(s) mesmo(s), quer seja através da colocação de questões relativas ao seu estado de saúde, quer através da realização de exames serológicos, bem como, subsequentemente, a adopção de um conjunto de medidas destinadas a evitar a transmissão do vírus de que sejam portadores, mas que se traduzem em actos lesivos da respectiva esfera jurídica, cuja ilicitude só se exclui na medida em que a prossecução daquele desiderato se revele, pela sua relevância, justificativa de tal juízo. II. O Código do Trabalho refere-se ao direito à reserva da intimidade da vida privada no art. 16.º, vindo a concretizá-lo por via dos arts. 17.º e 19.º e seguintes. A primeira destas normas habilita o empregador a questionar o candidato a emprego ou trabalhador acerca do estado de saúde quando “particulares exigências inerentes à natureza da actividade profissional” assim exigirem. Nos termos do art. 19.º/1, do Código do Trabalho, existem três grupos de situações em que pode ser exigida ao candidato a emprego ou trabalhador a realização ou apresentação de testes ou exames médicos para comprovação das suas condições físicas ou psíquicas: a) nas situações previstas na legislação relativa a segurança, higiene e saúde no trabalho; b) quando aqueles testes ou exames visem a protecção e a segurança do trabalhador ou de terceiros; c) quando particulares exigências inerentes à actividade os justifiquem. Como normas restritivas do direito à reserva da intimidade da vida privada, aqueles preceitos devem ler-se de acordo com as regras constitucionais relativas às restrições de direitos fundamentais, maxime o art. 18.º/2 e 3, imperativos que, naturalmente, vinculam o legislador ordinário e, bem assim, o intérprete das normas que ele emana. Se os convocarmos para a esfera de que curamos, então concluiremos que o acesso a dados reservados sobre o trabalhador ou 4 Guide de l’Organisation mondiale de la santé pour le SIDA et les premier secours sur le lieu de travail, em http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/fr/osh/aids/aidsand.htm), § 1. SIDA NET 17 candidato a emprego só deve ser admitido (i) se se revelar adequado à prossecução de outros valores com dignidade constitucional; (ii) se se circunscrever ao indispensável para que se logre a protecção dos mesmos; (iii) se o prejuízo resultante da restrição assim operada não for superior à vantagem obtida — o que deve resultar, desde logo, na garantia do núcleo essencial do direito objecto de limitação. Observe-se, ainda antes de se avançar para a aplicação destes parâmetros ao domínio do VIH/SIDA, o seguinte, a propósito do mencionado art. 19.º/1 do Código do Trabalho: não obstante a norma poder decompor-se em três segmentos, correspondentes, aparentemente, a outras tantas hipóteses em que seria lícita a realização de exames médicos tendentes ao apuramento do estado de saúde do trabalhador ou candidato a emprego, a verdade é que não se vislumbra caso algum que caiba numa das duas últimas hipóteses mas não na primeira. Vale por dizer: a parte inicial da norma esgota as situações em que realização de testes ou exames médicos para apuramento das condições físico-psíquicas do candidato a emprego ou trabalhador é legítima. Se se ler o disposto no art. 273.º/2, alínea e), ou no art. 274.º/1, alínea b), facilmente se verá que são os próprios elementos normativos que fornecem dados para se concluir que o bloco normativo respeitante à segurança, higiene e saúde no trabalho contempla também a segurança e saúde de terceiros não trabalhadores (dos destinatários do bem produzido ou dos utentes do serviço disponibilizado) — razão pela qual não conseguimos captar o sentido útil do segundo segmento do art. 19º. Aliás, idêntica conclusão resultaria do art. 245.º da Lei de Regulamentação do Código do Trabalho, segundo o qual são duas as finalidades dos exames médicos a promover pelo empregador: a verificação da aptidão física e psíquica do trabalhador para o exercício da actividade e a repercussão desta e das condições em que é prestada na saúde do mesmo. Ora, é uma evidência que o apuramento daquela aptidão passa pela averiguação dos riscos de contágio de alguma doença de que o examinado padeça: se for portador de doença infecto-contagiosa e a actividade a desempenhar representar riscos de contágio, o juízo será de inaptidão. Esta mesma norma sustenta a nossa perplexidade relativamente à última hipótese prevista no art. 19.º/1: se se pretende, justamente, apreciar a aptidão físico-psíquica de um candidato a emprego ou trabalhador para o exercício da actividade pertinente, não vemos em que medida as particulares exigências inerentes à mesma possam justificar outros testes e exames que não resultassem já legitimados por via do primeiro segmento do art. 19.º/1. Torna-se difícil hipotizar situações em que a avaliação do estado de saúde do trabalhador ou candidato ao emprego não se imponha — em conformidade com a leitura constitucional que se deva fazer do preceito em análise —, em última instância, por razões de protecção do próprio ou de terceiros e, por conseguinte, em ordem à prossecução dos objectivos inerentes ao quadro normativo sobre higiene, saúde e segurança no trabalho5. A admitir-se, diversamente, que o art. 19.º/1 comporta a sujeição a testes/exames médicos fora do escopo prosseguido no âmbito da legislação sobre segurança, higiene e saúde 5 Pense-se na comprovação do grau de visão do candidato a um posto de piloto de aviões, por exemplo. O Tribunal Constitucional sustentou (num entendimento não partilhado, todavia, pelo relator), no Acórdão nº 306/03 (http://w3b.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030306.html), na parte que se refere ao apuramento da conformidade constitucional do art. 17.º/2 do Código do Trabalho, relativa à prestação ao empregador de informações relativas à saúde ou estado de gravidez do candidato ao emprego ou do trabalhador que este seria um dos casos em que seriam as particulares características da actividade que exigiriam indagações a este respeito. GUILHERME DRAY (PEDRO ROMANO MARTINEZ e outros, Código do Trabalho anotado, Almedina, Coimbra, 2005, 4ª ed., anot. III ao art. 19.º) propõe idêntico exemplo a propósito da explicitação dos casos em que, no âmbito do art. 19º/1, seriam as particulares exigências da actividade a impor a realização de testes ou exames médicos. Pergunta-se: não será ainda a protecção da saúde do candidato e de terceiros que impõe tais procedimentos? SIDA NET 18 no trabalho, estar-se-ia a permitir intromissões na esfera privada do trabalhador para lá das situações em que se autonomizaram valores dignos de protecção social justificativos da compressão do direito à reserva da vida privada. Vejamos, então, à luz das considerações expendidas, mormente com base numa interpretação dos arts. 17.º e 19.º do Código consonante com a Lei Fundamental, em que situações é admissível, do ponto de vista material ou substancial, antes de mais, a indagação da seropositividade do trabalhador ou candidato a emprego, quer através de perguntas dirigidas ao mesmo, de forma directa ou indirecta, ou eventualmente a terceiros, nomeadamente ao seu médico assistente, quer através da realização de exames serológicos. Nesse conjunto de casos, dir-se-á também justificado o tratamento diferenciado do portador do vírus, na medida em que se revele adequado para evitar a sua transmissão. Actos como a exclusão do candidato, ou o afastamento do trabalhador, quer através da mudança de funções, quer através da suspensão do vínculo, quer mesmo, na medida em que o ordenamento jurídico o permita, por via a respectiva cessação, podem, pois, naquelas hipóteses, revelar-se conformes ao Direito. Há que ter em consideração os dados clínicos conhecidos sobre o VIH/SIDA para que se proponham soluções adequadas, no momento em que se procura responder à questão ora formulada. Assim, em primeiro lugar, importa distinguir os portadores assintomáticos do vírus daqueles que apresentam já doenças parcial ou totalmente incapacitantes, designadamente SIDA6. Nos termos da declaração conjunta OMS/BIT sobre SIDA e local de trabalho7, aqueles devem ser tratados como qualquer outro trabalhador e estes como qualquer outro trabalhador doente. O desvio que se impõe a este princípio prende-se a informação conhecida sobre as formas de contágio do VIH. De acordo com os dados disponibilizados pela OMS8, o vírus transmite-se por via sexual, por contacto com sangue e outros líquidos orgânicos e por via fetal. A segunda distinção importante, baseando-se, justamente, nestes elementos, é a que autonomiza as profissões que não comportam, em princípio, risco de contágio daquelas em que esse risco existe. O princípio atrás enunciado só pode, naturalmente, valer para o primeiro grupo de profissões ou actividades, que, claramente, constituem a grande maioria. No domínio das actividades que comportam risco de contágio, o jogo dos dois pólos valorativos em causa — o direito dos trabalhadores ou candidatos à preservação da sua intimidade, bem como à estabilidade do seu emprego, ou, no caso daqueles últimos, ao acesso ao emprego, por um lado; a necessidade de evitar a transmissão do vírus, por outro — faz prevalecer o segundo. De resto, segundo o art. 7.º/2 da Lei de Protecção de Dados Pessoais (Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro), os elementos sob reserva, mesmo sensíveis, podem ser objecto de tratamento quando disposição legal o autorizar, desde que esteja em causa um relevante interesse público. Neste caso, permite-se o acesso a informações sobre o estado de seropositividade em ordem à prossecução de um eminente valor social, a saúde, viabilizando-se, do mesmo passo, o cumprimento dos deveres da entidade empregadora em matéria de segurança e saúde no trabalho. 6 Cfr. ANNE TREBILCOCK, “Le SIDA et le lieu de travail…”, cit., pág. 34. 7 Principes et éléments sur le SIDA et le lieu de travail tenue à Genève du 27 au 29 juin par l’Organisation Mondiale de la Santé en association avec le Bureau International du Travail, Secção III, § 1., em http:// training.itcilo.it/actrav_cdrom2/fr/osh/aids/aidsand.htm. 8 Guide de l’Organisation mondiale de la santé…, cit., § 1. SIDA NET 19 O problema que imediatamente se levanta é o da determinação das profissões relativamente às quais pode dizer-se que comportam risco de contágio. Sob pena de, na prática, se assistir a uma inversão da regra enunciada, nos termos propostos pela OMS e pelo BIT, vindo a considerar-se, sistematicamente, lícita a intromissão na esfera privada do seropositivo, bem como o seu tratamento diferenciado, cremos que a determinação das actividades de risco deve operarse em função de um juízo não de possibilidade , em vez da (alta) probabilidade de contágio. Parece-nos, pois, adequado distinguir das demais as actividades que, por inerência, isto é, em circunstâncias de normalidade e não excepcionais ou incidentais, colocam o trabalhador em contacto com sangue ou outros fluidos orgânicos. Estas dir-se-iam, então, profissões de risco qualificado, por o contacto com fluidos orgânicos identificados como veículos de transmissão se inscrever no quadro normal do respectivo exercício9. Em face da ilicitude, na actual ordem jurídica, das profissões sexuais 10 , pensamos, naturalmente, nas médicas e paramédicas. Aí, admitir-se-ia, por ventura, uma conduta preventiva mais enérgica, porventura traduzida no mencionado tratamento diferenciado — mas, porque justificado, não discriminatório — dos trabalhadores ou candidatos a emprego seropositivos. Diverso juízo se fará, retomando os exemplos atrás referidos, relativamente à profissão de mecânico ou similares, cujo exercício possa ocasionar um ferimento com uma ferramenta de trabalho que outra pessoa, eventualmente com uma escoriação, venha a utilizar. Estas não integrarão, a nosso ver, o grupo de profissões de risco para este efeito. Por ser acidental , não fazendo parte da normalidade do exercício da profissão, esse risco não deve considerar-se qualificado . Neste último grupo de casos, as regras de segurança, higiene e saúde no trabalho, na medida em que se destinam a evitar acidentes e determinando ainda as cautelas a assumir na hipótese de ocorrerem, devem poder considerar-se aptas a inviabilizar a transmissão deste, como de outros vír us 11 . As dúvidas têm avultado no concernente a profissões relacionadas com a confecção de refeições e a outras actividades que coenvolvem o contacto com alimentos. Salvo melhor entendimento, parece-nos que os dados clínicos conhecidos acerca do VIH/SIDA permitem afastar objecções a que se considere 9 É, precisamente, pressupondo este grupo de profissões que o BIT enumera as Precauções universais a tomar em presença de sangue e de líquidos orgânicos . Veja-se a Secção A da Recolha de directivas práticas do BIT sobre o VIH/SIDA e o mundo do trabalho — Reunião tripartida de peritos sobre o VIH/SIDA e o mundo do trabalho , Genebra, 2001, em http://www.gc.mtss.gov.pt/fotos/ DOCSPUBLICACOES/VIHSida.pdf. 10 Cfr. J OÃO L EAL AMADO , “Contrato de trabalho prostitucional?”, Temas Laborais , Coimbra Editora, Coimbra, 2005, pág. 35 a 40. 11 Um conjunto de regras de prevenção de riscos, no domínio do VIH/SIDA, podem ver-se no mais recente documento conjunto da OIT e da OMS sobre o problema em análise, Directivas conjuntas OIT/OMS sobre os serviços de saúde e a infecção VIH/sida , §§ 42 e ss., disponível em http://www.ilo.org/ public/english/protection/trav/aids/publ/hsglport.pdf. Note-se que, identificando as mais correntes formas de transmissão do vírus nos locais de trabalho, mormente a utilização de objectos cortantes ou corto-perfurantes, o documento estabelece aquele conjunto de medidas preventivas, no pressuposto, justamente, de que os profissionais utilizadores daqueles objectos sejam seropositivos. Não está, pois, nos horizontes da OIT e da OMS a exclusão dos portadores do VIH de todas as profissões cujo exercício possa comportar o uso daqueles instrumentos. SIDA NET 20 que estas profissões integram aquelas em que, em princípio, não existe risco qualificado de contágio12. Em face da fluidez de contornos do conjunto de actividades que devem considerarse de risco, e importando, naturalmente, concretizar as balizas legais estabelecidas, propor-se-ia a intervenção de comissões médico-legais, que elaborassem uma lista das actividades profissionais relativamente às quais seriam admissíveis indagações acerca da seropositividade do candidato a emprego ou trabalhador, devendo entenderse que, nesse círculo de hipóteses, caso se revelasse a presença do vírus, pudessem ser adoptadas as medidas necessárias à garantia de que tais funções não fossem realizadas por trabalhadores portadores de VIH positivo. III. Se se pretender submeter um trabalhador ou candidato à realização de exames serológicos fora do círculo de casos em que são admissíveis, deve aquele recusá-los, sem, com isso, sofrer algum prejuízo. A verdade, porém, é que, em face da sua particular posição de debilidade contratual, tenderá a sujeitar-se ao que lhe for solicitado… Será aos serviços de medicina no trabalho que cabe garantir a conformidade da prática realização de exames, a inquirição do trabalhador ou candidato a emprego acerca do seu estado de saúde ou de hábitos ou preferências que possam indiciar a infecção por VIH. Dir-se-ia que aquele poderia abster-se de responder a questões desse teor sempre que elas fossem infundadas, porque estranhas às justas exigências do recrutamento ou da permanência no desempenho de determinadas funções. O certo é que essa recusa fragilizaria a posição daquele que é, em qualquer caso, o contraente débil, traduzindo-se, simplesmente, na sua preterição ou na sujeição a medidas persecutórias por parte do empregador. Esta constatação conduz a que a doutrina reconheça, nestes casos, um direito à mentira — o qual mais 12 Diferente foi o entendimento adoptado pelo colectivo de juízes do Tribunal da Relação de Lisboa, no Acórdão de 29 de Maio de 2007, Processo n.º 5353/4/06 (acórdão que, tendo sido objecto de recurso, viu confirmada a decisão pelo Supremo Tribunal de Justiça, em Acórdão de 24 de Setembro de 2008, Processo n.º 07S3793). Considerou-se provado, conforme pode ler-se no Acórdão em causa, que a “[o] vírus HIV pode ser transmitido no caso de haver derrame de sangue, saliva, suor ou lágrimas sobre alimentos servidos em cru consumidos por quem tenha na boca uma ferida ou mucosa de qualquer espécie”, razão pela qual um cozinheiro seropositivo deveria ser afastado das suas funções. A conclusão é, no mínimo, duvidosa, contrariando, na verdade, diversos estudos científicos. Embora não se ponha em causa a possibilidade de contágio através de sangue presente nos alimentos, fruto de uma eventual ferida na mão do cozinheiro, provável, de resto, dada a frequência do uso de facas no exercício da profissão, caso a pessoa que os ingira também apresente “na boca uma ferida ou mucosa de qualquer espécie”, o certo é que tal hipótese se configura como meramente incidental. Diverso juízo merece, segundo cremos, a equação da possibilidade de contágio através da saliva, suor e lágrimas. São conhecidas, conforme se referiu, as formas de transmissão do vírus de imunodeficiência humana e não contemplam o contacto com esses fluidos. Sendo possível, segundo a comunidade científica, que nos mesmos existam vestígios do vírus, a possibilidade de transmissão tem sido, porém, considerada nula. Segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), “HIV has been found in saliva and tears in very low quantities from some AIDS patients. It is important to understand that finding a small amount of HIV in a body fluid does not necessarily mean that HIV can be transmitted by that body fluid. HIV has not been recovered from the sweat of HIV-infected persons. Contact with saliva, tears, or sweat has never been shown to result in transmission of HIV” (informação disponível em http://www.cdc.gov/hiv/resources/factsheets/transmission.htm). Um parecer sobre o caso em análise pode ver-se em ANDRÉ DIAS PEREIRA, “Discriminação de um trabalhador portador de VIH/SIDA: estudo de um caso”, Lex Medicinae – Revista Portuguesa de Direito da Saúde, ano 3, n.º 6, 2006, pág. 121 a 135. Veja-se ainda, para uma análise crítica do Acórdão, JOANA NUNES VICENTE/MILENA SILVA ROUXINOL, “Entre o direito à saúde e o direito a estar doente — comentário ao Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 29 de Maio de 2007”, Questões Laborais, ano XV, n.º 31, 2008, pág. 89 a 114. SIDA NET 21 não é, afinal, do que a conversão do direito à (mentira por) omissão num direito à mentira por acção13. Procurámos delimitar o conjunto de hipóteses em que é legítima a indagação da seropositividade do trabalhador ou candidato a emprego, bem como a adopção, relativamente ao mesmo, das medidas necessárias a evitar a transmissão do vírus de que seja portador a outros trabalhadores ou terceiros, quando está em causa um bem jurídico que, no caso, deva considerar-se superior aos que militam no pólo valorativo oposto. Nessas hipóteses, como se observou, prescinde-se mesmo do consentimento do trabalhador ou candidato visado para a realização de testes serológicos — não, obviamente, no sentido de o mesmo ser efectuado de forma oculta ou contra uma recusa do sujeito visado, mas no de tal recusa constituir um fundamento de exclusão do candidato do processo de selecção, ou, existindo já uma relação laboral, uma infracção disciplinar. Levanta-se, porém, ainda, a questão de saber se, fora destes casos, pode ser lícita uma tal intromissão na esfera privada, desde que consentida pelo titular da informação. O princípio é o de as pessoas podem consentir na limitação do direito à reserva da vida privada. Será assim também na relação de trabalho? Parece-nos, por razão idêntica à invocada para sustentar a existência de um direito à mentira, nos casos indicados, que a resposta não poderá deixar de ser negativa. O vínculo laboral constitui um daqueles quadros relacionais em que a vontade do contraente débil dificilmente se formará de forma livre, justificando-se idêntica suspeição relativamente ao candidato a emprego. Tendo em conta que a liberdade individual o ordenamento jurídico tutela, desde logo no plano constitucional, é uma liberdade real e efectiva, será, pelo menos, duvidoso permitir que o trabalhador (e também o candidato a emprego, como vimos), movido pela sua liberdade(?) individual, expanda o âmbito de subordinação ao poder do empregador. Assim, a entender-se que, fora das condições definidas pelos arts. 17º e 19º, sempre poderão ter lugar indagações tendentes a conhecer a seropositividade de um candidato a emprego ou trabalhador, desde que para tanto ele preste consentimento, desvirtuar-se-á o sentido daquelas normas enquanto normas restritivas de direitos, liberdades e garantias, a interpretar, por conseguinte, em consonância com o art. 18º/2 e 3 da Constituição e com o sentido compensador próprio do Direito do Trabalho. IV. Para além do requisito substancial de admissibilidade do conhecimento do estado de seropositividade – quer dizer, o critério material pelo qual se há-de determinar em que medida é licito submeter o trabalhador ou o candidato a emprego a questões ou exames médicos destinados a apurar o estado de seropositividade –, as normas em apreço fixam ainda outras condições de licitude de tal intromissão na esfera da vida privada do candidato a emprego ou do trabalhador. Formalmente, prevê-se que a exigência de informação ou de submissão a testes e exames médicos seja acompanhada de uma fundamentação escrita, a fornecer pelo empregador (cfr. parte final do art. 17.º/2 e do art. 19.º/1 do Código do Trabalho). A exigência de forma escrita, claramente motivada por uma finalidade garantística, 13 Assim, TISSOT, “La protection de la vie privée du salarié”, Droit Social, nº 3, Março de 1995, pág. 222 a 230 [225]. Cfr. ainda MENEZES LEITÃO, “A protecção dos dados pessoais no contrato de trabalho”, A reforma do Código do Trabalho, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, pág. 123 a 138 [128], e RUI ASSIS, O poder de direcção do empregador – configuração geral e problemas actuais, Coimbra, 2005, pág. 230. SIDA NET 22 pode cifrar-se, segundo nos parece, numa maior contenção por parte do empregador: vendo-se constrangido a explicitar, ademais por escrito, os motivos por que pretende aceder a determinada informação pertencente à vida privada do trabalhador ou candidato, haverá uma inibição quanto à exigência de informações e dados impertinentes. Em termos procedimentais, exige-se, nos termos do art. 17.º/3 do Código, que as informações sejam prestadas a um médico, assim como, nos termos do art. 19.º/3 do Código e art. 244.º da Lei de Regulamentação do Código do Trabalho, todos os exames de saúde estão também a cargo de um médico14. Esta exigência assume, a nosso ver, um alcance distinto da anterior. Come efeito, tendo em consideração que o direito à reserva da intimidade da vida privada abrange quer o acesso quer a divulgação de dados reentrantes nessa esfera, o requisito procedimental representa, sobretudo, uma garantia de não divulgação dos mesmos. Isto por força do dever de sigilo profissional a que se encontra vinculado o médico, em geral e, em particular, o médico do trabalho (cf. arts. 67.º a 80.º do Código Deontológico)15. Por outra banda, todas as garantias relativas à protecção de dados pessoais previstas na Lei da Protecção de Dados Pessoais (Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro) são, obviamente, aplicáveis ao tratamento da informação que o candidato a emprego ou trabalhador preste – seja por via de resposta a perguntas ou submissão a exames de despistagem – quanto ao estado de seropositividade. Do art. 17.º/5 do Código do Trabalho resulta uma remissão expressa para tal Lei, devendo entender-se que a disciplina nela estabelecida vale para toda e qualquer forma de tratamento de dados pessoais. Assim, deve observar-se o princípio da transparência (art. 2.º da Lei de Protecção de Dados Pessoais), que se efectiva, designadamente, através dos direitos de informação — desde logo quanto à própria realização dos testes e sua finalidade – e de acesso (arts. 10.º e 11.º do mesmo diploma), referidos, aliás, no art. 17.º/4 do Código do Trabalho. Quanto ao princípio da qualidade dos dados (art. 5.º da Lei da Protecção de Dados Pessoais), analisa-se, por um lado, nas exigências de boa fé, de adequação, pertinência e proibição do excesso — o que se reconduz às exigências formuladas por via do já analisado requisito substancial de tratamento destes dados —; por outro, no princípio da finalidade, nos termos do qual os dados devem ser recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, não podendo ser posteriormente tratados de forma incompatível com essas finalidades16 — constituindo 14 Estas garantias encontram-se reiteradas na Deliberação nº 41/2006 da Comissão Nacional de Protecção de Dados, aplicável aos tratamentos de dados no âmbito da gestão da informação dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho (em http:// www.cnpd.pt/), onde se afirma que “a informação de saúde deverá ser de acesso restrito ao médico do trabalho ou, sob a sua direcção e controlo, a outros profissionais de saúde obrigados a segredo profissional” (pág. 7) e que “relativamente aos dados de saúde, o empregador apenas deverá ser informado dos resultados necessários à tomada de decisão em matéria de emprego, através da ‘ficha de aptidão’” (pág. 6). No mesmo sentido, vide ainda o art. 16º/2 da Recomendação nº 171 da OIT, sobre os serviços de saúde no trabalho. 15 Assinale-se que se encontra expressamente determinado que o médico do trabalho se deve submeter aos preceitos do Código Deontológico, “nomeadamente em matéria de segredo profissional” (artigo 97.º) e que “deve assumir uma atitude de total independência em face da entidade que o tiver mandatado”. 16 Sobre este último ponto é particularmente elucidativo o célebre Processo C-404/92 P (Acórdão do Tribunal Europeu de Justiça de 5 de Outubro de 1994 Colectânea de Jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Primeira Instância, 1994-10, I-4781 a 4793). Um dos fundamentos do recurso apresentado pelo candidato ao emprego excluído residiu, precisamente, no facto de o recorrente ter sido submetido a um teste VIH camuflado (análise dos linfócitos T4 e T8) sem o seu consentimento. Contra a falta de consentimento do candidato, não procedeu o argumento invocado pela Comissão segundo o qual da simples decisão de participar num processo de recrutamento, que inclui exame médico, nenhuma ingerência ilícita na vida privada do candidato pode ocorrer. SIDA NET 23 as exigências de funcionalização do tratamento de dados pessoais à prossecução de valores constitucionalmente relevantes e de fundamentação escrita, assim como a restrição das informações que podem ser prestadas pelo médico ao empregador reflexos deste requisito —; por outro lado ainda, na exigência de exactidão (o que pressupõe, desde logo, a credibilidade dos meios de despistagem utilizados) e, consequentemente, de actualização e de rectificação de dados inexactos, bem como no princípio da limitação do período de conservação dos mesmos ao tempo necessário para a prossecução dos fins prosseguidos com o respectivo tratamento. De resto, os dados atinentes à saúde integram mesmo a esfera de dados sensíveis (art. 7.º da Lei da Protecção de Dados Pessoais), sendo, por isso, merecedores de medidas especiais de segurança (art. 15.º e 28.º do referido diploma e, em sentido idêntico, o art. 4.º da Lei nº 12/2005, de 26 de Janeiro, sobre informação genética pessoal e informação de saúde). Neste ponto, merece particular atenção a questão de saber em que circunstâncias será lícito ao médico a divulgação de tais dados. Excluída de qualquer juízo de desconformidade jurídica, fica, naturalmente, a comunicação obrigatória da detecção de qualquer estádio da infecção de VIH ao Centro de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis. Trata-se de uma imposição introduzida pela Portaria n.º 258/2005, de 16 de Março, nos termos da qual a infecção pelo VIH passou a integrar a lista de doenças de declaração obrigatória àquela entidade. No que diz respeito ao empregador, é o próprio Código do Trabalho que exige a restrição da informação prestada ao empregador à aptidão ou inaptidão do trabalhador ou candidato ao emprego para o desempenho da actividade em causa (arts. 17.º/3 e 19.º/3). É este, de resto, o sentido da solução normativa preconizada também pelo art. 248.º da Lei de Regulamentação do Código do Trabalho. Cabe ao médico do trabalho elaborar uma ficha clínica sujeita ao segredo profissional (que só pode ser facultada às autoridades de saúde e aos médicos da Inspecção Geral do Trabalho) e uma ficha de aptidão/inaptidão (a qual não pode conter elementos que envolvam segredo profissional) entregue ao responsável dos recursos humanos da empresa. Não vemos como, no caso da infecção com VIH, esse procedimento deva ser alterado. Delimitados os casos em que, materialmente, se justifica aquela intromissão na vida privada do trabalhador ou candidato ao emprego, fica, do mesmo passo, esclarecido que o interesse do empregador se esgota no conhecimento da aptidão ou inaptidão para o desempenho de actividade que comporte risco de contágio. Perante um resultado negativo no teste não haverá qualquer propósito em revelá-lo; ante um teste positivo, caberá ao médico avaliar da compatibilização da infecção do trabalhador ou candidato com a função a desempenhar, considerando-o apto ou inapto consoante as circunstâncias do caso, nomeadamente as estr uturas materiais e logísticas da empresa. Mais. De outro modo, a possibilidade de divulgação dos dados relativos à saúde, mormente os resultados de um teste de VIH, junto da entidade patronal facilmente frustraria um dos objectivos a alcançar através das limitações impostas ao acesso a elementos da vida privada, isto é, o de assegurar uma conduta recta, em que não se verifiquem discriminações ilícitas. SIDA NET 24 Curiosamente cabe notar a ressalva feita na parte final do art. 17.º/3 e do art. 19.º/3 do Código do Trabalho: a regra segundo a qual ao médico a quem são prestadas as informações relativas ao estado de saúde ou sob cuja responsabilidade técnica se realizam testes ou exames clínicos apenas é permitido a p r e s e n t a r a o e m p r e g a d o r u m j u í z o d e a p t i d ã o o u i n a p t i d ã o poder ser ultrapassada se o titular destes dados autorizar por escrito a sua divulgação. O que dizer? É um facto que as pessoas podem consentir na limitação do direito à reserva da vida privada — auto-limitação que pode intervir nos diferentes níveis de controlo que o interessado faz sobre a informação da sua vida privada, isto é, desde logo, ao nível do acesso a essa informação, ao nível da divulgação ou mesmo ao nível do tratamento que é dado a esses dados. E é também verdade que uma das hipóteses em que o sigilo profissional pode ser levantado consiste justamente no caso de o doente o consentir e não haja prejuízo para outras pessoas interessadas na sua manutenção (cf. art. 70.º/a) do Código Deontológico). Porém, contra a bondade desta solução militam diferentes argumentos. Em primeiro lugar, no plano sistemático, não se compreende por que razão o legislador atribui relevância jurídica ao consentimento em matéria de testes e exames médicos nos termos do art. 19.º/3 e, ao contrário, não faz qualquer referência ao mesmo para os exames de saúde na Regulamentação do Código de Trabalho. Por outro lado, recorde-se o que dissemos supra . A validade jurídica de uma auto-limitação de um direito fundamental pressupõe a existência de uma vontade livre, esclarecida e livremente revogável. Ora, a posição de subordinação em que o trabalhador se encontra é um bom exemplo da falta de liberdade de decisão. Debilidade que não se afigura menor na fase précontratual, de formação do contrato. A inferioridade pré-contratual, para usarmos a sugestiva expressão de G OÑI S EIN 17 , do candidato ao emprego deriva da sua particular debilidade económica e da limitada expectativa que tem em alcançar o posto de trabalho razão pela qual se compreende que, muitas vezes, não ouse contestar ou invocar a protecção jurídica da sua privacidade. Não devendo admitir-se, pela sua posição infra-ordenada e, portanto, impeditiva de uma sã formação da vontade, que o candidato a emprego ou trabalhador se obrigue a mais do que aquilo que a boa fé pré-contratual ou contratual implica, temos dúvidas acerca da bondade do disposto nos aludidos segmentos das normas em análise 18 . Mais delicado será apreciar a conformidade jurídica das hipóteses em que a troca de informação se opera entre médicos, rectior entre médico do trabalho e médico assistente. A questão foi-nos sugerida pela factualidade subjacente a um processo 17 El respeto a la esfera privada del trabajador, Civitas, Madrid, 1988, pág. 39. 18 Cfr. no mesmo sentido, o Parecer n º 8/2003 da Comissão Nacional de Protecção de Dados, em www.cnpd.pt/ bin/decisões/2003/htm/par/par008-03.htm.: “A posição em que o trabalhador se encontra é um bom exemplo da falta de liberdade de decisão, razão pela qual se justifica que a lei afaste qualquer dúvida que se possa colocar neste domínio. Em face do poder de autoridade que caracteriza o contrato de trabalho e da posição de subordinação em que se encontra o trabalhador, tem entendido a jurisprudência, de forma pacífica, que a renúncia a certos direitos na vigência do contrato de trabalho se caracteriza por uma “vontade não inteiramente livre, na medida em que pode, de algum modo, ser determinada por imposição da parte detentora do referido poder”. Razão pela qual se entende que deveria ser “eliminada qualquer possibilidade de a entidade empregadora ter acesso a dados relativos a testes ou exames médicos, não se apresentando a autorização escrita do trabalhador como um “consentimento livre” SIDA NET 25 judicial recentemente publicado e objecto de decisão pelo Tribunal da Relação de Lisboa no Acórdão de 29 de Maio de 200719. No caso em apreço, o trabalhador não tinha sido questionado sobre a sua eventual infecção por VIH ou sujeito a exames serológicos no âmbito dos serviços de medicina do trabalho da empresa empregadora, mas a verdade, porém, é que o médico do trabalho apurou que o trabalhador era portador de VIH positivo, através de informação prestada, após solicitação nesse sentido, pelo médico assistente deste último. Como apreciar a conduta do médico assistente20? Certo é que, nos termos do art. 70.º/b) do Código Deontológico, o sigilo profissional que vincula os médicos pode ser quebrado quando for absolutamente necessário à defesa da dignidade, da honra e dos legítimos interesses do Médico e do doente, não podendo em qualquer destes casos o Médico revelar mais do que o necessário e sem prévia consulta ao Presidente da Ordem. Todavia, mesmo entendendo-se — o que, não sendo líquido, encontrará algum apoio legal, — que o dever de sigilo profissional que vincula os médicos possa ser quebrado se se tratar de troca de informação entre dois ou mais profissionais implicados no tratamento do doente (art. 70.º/b) do mesmo diploma), tal não atesta, sem mais, a legitimidade da conduta do médico assistente. Estando, por certo, vinculado à salvaguarda do equilíbrio físico-psíquico, maxime na medida em que ele pode ser afectado pelas condições de trabalho, do trabalhador a que a informação pertence, o médico do trabalho deve, igualmente, proteger a saúde dos demais trabalhadores e terceiros. Ora, a verdade é que, numa hipótese como a indicada, a revelação de informação sobre o estado clínico do trabalhador visado se voltaria menos para a tutela do mesmo do que para o de auxiliar à protecção da saúde dos demais trabalhadores e terceiros — razão pela qual é duvidoso que subsistam os legítimos interesses (…) do doente que, nos termos do art. 70.º/b) do Código Deontológico dos Médicos, justificam a quebra do sigilo profissional. A conclusão idêntica chegaríamos, em face das considerações aduzidas pelo Tribunal Constitucional, quando questionado acerca da conformidade constitucional do Decretolei n.º 26/94, de 1 de Fevereiro, diploma que regulava o funcionamento das actividades de segurança e saúde no trabalho (matéria regulada, hoje, como é sabido, nos arts. 211.º e ss. da Lei de Regulamentação do Código do Trabalho). Entre outros aspectos, o mencionado diploma prescrevia, no seu art. 19.º/5 (correspondente ao actual art. 245.º/5 da referida Lei de Regulamentação do Código do Trabalho, que, de resto, conserva a mesma redacção), o estabelecimento da cooperação necessária entre o médico do trabalho e o médico assistente. Entendeu, então, o Tribunal Constitucional que “cooperação necessária não significa (…) cooperação obrigatória para o médico assistente; significa antes que, quando do ponto de vista médico tal for adequado ou conveniente — por exemplo, para evitar repetir exames — o médico do trabalho deverá solicitar a cooperação do médico assistente, o qual a poderá prestar, se considerar que esse comportamento, in casu, se compatibiliza com as regras da deontologia profissional, o que, em regra, pressupõe a autorização do paciente”21. 19 Já referido supra, nota 12. 20 Sobre a conduta do médico do trabalho que, através de perguntas dirigidas, não directamente ao trabalhador, mas ao médico assistente, indaga sobre o estado de saúde do primeiro, ver o que dissemos supra, a propósito das situações em que é admissível, do ponto de vista material, tal indagação. 21 Sobre o ponto, veja-se CARLOS LOPES DO REGO, “Comentário [ao Acórdão do Tribunal Constitucional nº 368/ 2002]”, Revista do Ministério Público, n.º 92, Outubro-Dezembro, 2002, pág. 149 a 158. SIDA NET 26 REPRODUÇÃO ASSISTIDA E HIV – A VISITA DA CEGONHA Vera Lúcia Raposo - Universidade de Coimbra - Portugal 1. As técnicas de reprodução assistida Em termos muito simplistícos, poderíamos definir as técnicas de reprodução assistida como métodos para obter uma gravidez independentemente de actividade coital1. Falamos aqui de reprodução sem sexo, o que não se confunde com reprodução assexuada, a qual se contrapõe a reprodução sexuada. Fala-se em reprodução assexuada quando o novo ser apenas recebe contribuições genéticas de uma só pessoa, homem ou mulher, porque apenas conta com um progenitor. A clonagem reprodutiva é um dos melhores exemplos: o núcleo de uma célula não reprodutiva (isto é, uma qualquer célula somática) é introduzido num ovócito previamente desnucleado, e uma vez que praticamente toda a informação genética consta do núcleo o novo ser receberá quase todo o seu património genético do dador do núcleo (excepto a ínfima informação genética que se encontra no citoplasma). Em contrapartida, na reprodução sexuada o novo ser resulta da combinação dos códigos genéticos masculino e feminino, resulte essa combinação de contacto sexual/coital ou não. É nesta segunda hipótese que se inserem as técnicas de reprodução assistida (excluindo a clonagem, usualmente também incluída no elenco destas técnicas)2. 1 Seguimos de perto a definição fornecida pelo Uniform Parentage Act (diploma elaborado e aprovado pela National Conference of Comissioners on Uniform Law em 2000, com o objectivo de uniformizar as legislações dos vários Estados membros no que respeita ao estabelecimento da filiação, e foi alterado em 2002). O art. 1.º, secção 104, nº 2, esclarece o seguinte: “Assisted reproduction means a method of causing pregnancy other than sexual intercourse”. Estas técnicas andam ligadas ao conceito de reprodução medicamente assistida, por alguns denominada de “reprodução artificial”, mas esta última expressão é equívoca. A propósito do termo “artificial” escreveu Guilherme de OLIVEIRA: “o termo nem sequer é rigoroso pois os momentos biológicos essenciais do processo reprodutivo permanecem tão naturais como sempre (…) E nunca se viu um embrião artificial, um feto ou um filho que não fossem absolutamente naturais” - Guilherme de OLIVEIRA, “Legislar sobre Procriação Assistida”, in Procriação Assistida, Colóquio Interdisciplinar (12-13 de Dezembro de 1991), Publicações do Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, n.º 2, Coimbra Editora, Coimbra, 1993, p. 73, 74. 2 Sobre a distinção entre reprodução sexuada e assexuada, Jorge Duarte PINHEIRO, “Procriação Medicamente Assistida”, in Estudos em Memória ao Professor Doutor António Marques dos Santos, Vol. I, Almedina, Coimbra, p. 754. SIDA NET 27 Em termos muito genéricos, poderíamos invocar as seguintes técnicas: i) Operações de recolha de gâmetas, tais como a extracção cirúrgica de espermatozóides directamente das vias genitais masculinas (MESA – Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration); ii) Operações de transferência de gâmetas, tais como a transferência de gâmetas nas trompas por via laparoscópica (GIFT – Gamete Intrafallopian Transfer ), a transferência de gâmetas nas trompas por via transvaginal (TOST – Tubal Ovocyte and Spermatozoa Transfer); a transferência de gâmetas para o útero (GIUT- Gamete Intrauterine Transfer); iii) As várias modalidades de inseminação artificial: inseminação intracervical (ICI – Intracervical Insemination); inseminação intra-uterina (IUI – Intrauterine Insemination); inseminação intratubárica (ITI – Intratubal Insemination). Estas várias formas de inseminação têm em comum, juntamente com as operações de transferência de gâmetas, o facto de a fecundação ocorrer no interior do corpo da mulher; iv) As operações de fertilização realizadas in vitro, ou seja, a fecundação in vitro e subsequente transferência para o útero do produto da fecundação (FIVET –In Vitro Fertilization and Embryo Transfer), a fecundação in vitro e transferência do zigoto para as trompas (ZIFT – Zygote Intrafallopian Transfer), a fecundação in vitro e transferência dos embriões para as trompas (TET – Tubal Embryo Transfer ), a microinjecção de espermatozóides na zona pelúcida e transferência dos embriões nas trompas ou no útero (SUZI – Subzona Insemination) e a injecção intracitoplasmática de espermatozóides e transferência dos embriões para o útero (ICSI – Intracytoplasmic Sperm Injection); - A maternidade de substituição (a maternidade de substituição pode envolver ou não actos sexuais, e em bom rigor nem necessitaria de intervenção médica, mas aparece aqui indicada porque hoje em dia é comummente considerada uma técnica médica, já que em regra prescinde do acto sexual e passa quase sempre pela intervenção de um médico). Estas são as técnicas reprodutivas propriamente ditas, ou seja, as que têm como finalidade provocar a gestação e nascimento de um novo ser humano sem recorrer ao acto sexual. Mas com elas estão relacionadas diversas outras técnicas, que não partilham propriamente essa finalidade, mas sim outros fins que acabam por lhe estar associados, tais como a selecção de um embrião com determinadas características (a descoberta e consequente exclusão de um embrião doente, a descoberta e consequente implantação de um embrião portador de características especialmente desejadas), a manipulação do material genético de um embrião de modo a reunir certas qualidades; a utilização cientifica de embriões in vitro que se tornaram excedentários (investigação, experimentação, recolha de células tronco). A actual taxa de sucesso destas técnicas não ultrapassa os 25 %, número não muito inferior àquele que se verifica na natureza, pois sabe-se que a percentagem de sucesso das fertilizações originadas sem qualquer tipo de assistência médico-cientifica ronda os mesmos números. De facto, em qualquer modalidade de reprodução humana nem todos os ovócitos humanos que entram em contacto com espermatozóides dão origem a embriões susceptíveis de implantação uterina, mas tão-só cerca de 50 % (percentagem determinada por factores tais como a idade da mulher, a qualidade do SIDA NET 28 líquido seminal, a condição dos gâmetas, certas particularidades genéticas ou ambientais). Estas técnicas transportam consigo uma série de novas utilidades, nem todas elas de aplaudir3. Por um lado, permitem que aqueles que, usando unicamente os recurso que a natureza lhes deu não poderiam procriar, tenham agora a oportunidade de deixar descendência, e descendência que lhes está biologicamente ligada; por outro lado, tornaram possível contornar os obstáculos colocados por doenças infecciosas e geneticamente transmissíveis, permitindo aos seus portadores gerar filhos sãos. Porém, a par destas louváveis finalidades (as únicas admitidas na maior parte dos ordenamentos jurídicos), vieram também tornar possível a maternidade sem os inconvenientes da gravidez, a descendência sem sexo, a transacção de gâmetas, embriões e fetos, a manifestação de aspirações eugénicas, o apuramento da raça, a criação de embriões para utilização em experiências cientificas. Uma enorme distância separa aquilo que é cientificamente possível e o efectivo direito de fazer uso dessa possibilidade. A sua regulamentação poderá pautar-se por diversos princípios distintos, consoante aquele que se entenda ser o seu principal objectivo: a cura da infertilidade e a concomitante satisfação de um (eventual) direito dos casais inférteis, o direito à reprodução; ou antes a atribuição da dádiva da vida a seres humanos que de outro modo nunca poderiam nascer, cumprindo assim um dos mais básicos direitos fundamentais, o direito à vida, enquanto direito a nascer4 (isto para quem entenda que os não nascidos podem já reivindicar direitos, opinião que não partilhamos). Embora não exista em muitas Constituições qualquer referência constitucional expressa a estas técnicas, os problemas por elas suscitados são em grande parte resolvidos com o auxílio da doutrina constitucional dos direitos fundamentais. No âmbito da Constituição portuguesa (CRP) encontramos uma referência específica no art. 67.º/2/ 3, que enuncia algumas funções do Estado, entre elas a regulamentação das técnicas de procriação assistida. 2. O direito à reprodução Para a espécie humana a reprodução não é apenas consequência do instinto animal. Encerra em si consequências que vão muito para além disso e que, em última instância, se ligam à própria ideia de realização da pessoa humana e de dignidade humana. O filho tornou-se, pelo menos na sociedade ocidental, um reflexo de nós mesmos, uma forma de prolongar a nossa existência quando já não estivermos, a garantia de uma imortalidade que pensávamos impossível. Todas estas notas elevam o direito à reprodução à figura de direito humano (no plano internacional) e de direito fundamental (no plano interno). 3 Discutindo os perigos das novas técnicas e das manipulações a que podem dar azo (seres gerados com dois gâmetas do mesmo sexo, híbridos e quimeras, fecundação inter-espécies e transferência de embriões interespécies), Carlos Maria ROMEO CASABONA, Del Gen al Derecho, Servicio de Publicaciones Universidad Externado de Colombia, Santafé de Bogotá, 1996, p. 298 ss. 4 Quanto a esta segunda hipótese, Max CHARLESWORTH, “Community Control of IVF and Embryo Experimentation”, in AA.VV, Embryo Experimentation – Ethical, Legal and Social Issues, Cambridge University Press, New York, Victoria, 1990, p. 151. SIDA NET 29 Este direito está em íntima conexão com vários outros direitos, incontestavelmente reconhecidos na nossa Constituição. Aquele que, em nosso entender, apresentam uma ligação mais directa com ele são o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e o direito a constituir família, embora não queiramos deixar de sublinhar o direito à disposição do corpo e o direito à saúde com os seus importantes contributos. 2.1. O direito à reprodução como direito ao livre desenvolvimento da personalidade Entre nós tem-se invocado o art. 26.º CRP para estribar constitucionalmente os direitos reprodutivos, mormente na vertente de direito à não reprodução. Assim, no acórdão do Tribunal Constitucional, nº 288/98, de 17 de Abril de 1998, declarou-se que “o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, englobando a autonomia individual e a autodeterminação e assegurando a cada um a liberdade de traçar o seu próprio plano de vida, designadamente quando associado ao direito a uma maternidade consciente, terá a virtualidade de avalizar uma eventual opção legislativa no sentido da exclusão da ilicitude da interrupção voluntária da gravidez efectuada nas primeiras dez semanas”, embora tenha finalizado reconhecendo que este direito “ não implicará o reconhecimento de que a mulher tem inteira liberdade de controlar a sua própria capacidade reprodutiva (um direito constitucional a livremente abortar)”5. Aliás, uma das primeiras afirmações da reprodução como direito cheganos do Supreme Court norte-americano (caso Skinnner v. Oklahoma de 1942, mas também os casos Meyer v. Nebraska de 1922 e Buck v. Bell de 1927) caracterizandoo precisamente como direito de autonomia. Qualquer das duas dimensões do direito ao desenvolvimento da personalidade – quer a tutela da personalidade, quer a liberdade geral de acção – podem servir de justificativo ao reconhecimento constitucional dos direitos reprodutivos. Assim é em relação à dimensão de protecção da personalidade, na medida em do que se trata é de permitir que cada pessoa realize o seu próprio projecto de vida, o qual pode muito bem passar pela reprodução. Mas o mesmo se verifica em relação à dimensão de liberdade geral de acção, porquanto a auto-determinação aberta e livre da personalidade confere uma liberdade de acção para a realização de fins próprios, entre os quais o de ter filhos. 2.2. O direito à reprodução como direito a constituir família Estes dois direitos – o direito a constituir família e o direito à reprodução – não se confundem, porquanto o direito a constituir família apresenta um espectro mais amplo e rico de sentido do que o direito à reprodução, o qual pode ser considerado um dos vários corolários daquele. 5 No mesmo sentido, Yolanda GOMEZ SANCHEZ, El Derecho a la Reproducción Humana, Marcial Pons, Servicio de Publicaciones Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1994, p. 48: “Así, el problema del derecho a la reproducción como derecho de autodeterminación física es propriamente um problema de liberdad (…) en en si mismo y directamente un acto de autodeterminación y autonomía del sujeto”. Todavia, a autora reporte esta liberdade ao art. 17.º/1 da Constituição espanhola, que corresponde mais ao nosso direito a liberdade e à segurança do que o ao nosso direito ao desenvolvimento da personalidade; mais coincidente connosco no que respeita à fundamentação desta liberdade, J. de ESTEBAN, P. J. GONZALEZ TREVIJANO, Curso de Derecho Constitucional Español, Vol. II, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1993, p. 65. SIDA NET 30 Guilherme de Oliveira desde sempre defendeu que o direito à reprodução encontrava recepção constitucional neste art. 36.º CRP: “O art. 36.º. n.º 1 consagra o direito fundamental de constituir família – trata-se, sem dúvida, do direito fundamental de procriar e de ver a prole juridicamente reconhecida: o preceito invoca-se no sentido de eliminar todos os obstáculos ao estabelecimento jurídico das relações de filiação”. O direito à reprodução envolve o direito a ter filhos biológicos e a mantê-los no agregado familiar. Logo, só se reproduz aquele que tem um filho que lhe está geneticamente vinculado por ter sido gerado com os seus gâmetas. Não se reproduz o companheiro ou companheira desta pessoa, ainda que possa ser juridicamente considerado como pai ou como mãe. A qualificação jurídica não tem que coincidir com a titularidade do direito reprodutivo, como aliás o demonstra o instituto da adopção: os adoptantes são considerados pela lei pai e mãe do adoptado, mas não podemos dizer que a adopção implica uma reprodução. O direito a constituir família abarca todas as possibilidades de constituir relações familiares, no sentido em que a fonte de tais relações está definida no direito da família (art. 1576.º do Código Civil): o casamento (segundo cremos, e apesar de não expressamente mencionada no Código Civil como relação familiar, abarca igualmente o direito a viver com alguém em união de facto, do mesmo sexo ou do sexo oposto, quer derive daqui um relacionamento amoroso-sexual, quer não6, como resulta da lei 7/2001, de 11 de Maio), o parentesco, a afinidade e a adopção. Por conseguinte, implica o direito de contrair matrimónio, de adoptar, de ter filhos biológicos. Porque este direito é mais vasto, a sua titularidade cabe a mais pessoas, mesmo àquelas que não são titulares de direitos reprodutivos. Referimo-nos, desde logo, ao companheiro da mulher inseminada com esperma de dador ou à mulher que recorre a uma mãe de substituição genética e gestacional, nos ordenamentos jurídicos em que tal seja admitido, o que não é o caso do português, como deriva do art. 8.º da lei 32/ 2006, de 26 de Julho. Em contrapartida, se a mãe de substituição apenas gerar a criança, mas não forneceu o ovócito, por este pertencer à companheira do homem que aportou o esperma, desejando este casal para si a criança, já se pode dizer que esta última se está efectivamente a reproduzir, dada a sua contribuição biológica. Estas pessoas, em bom rigor, não se reproduzem, mas efectivamente estão a constituir família. Em contrapartida, o dador de esperma, a dadora de ovócitos e mãe de subsituação estão efectivamente a reproduzir-se em termos biológicos, mas não a constituir família. E porque não pretendem conservar o filho para si entendemos que também não estão a exercer o direito reprodutivo que, como já vimos, abrange duas dimensões. O titular do direito a constituir família não tem que ser necessariamente titular de um direito reprodutivo, mas o titular do direito reprodutivo é necessariamente titular do direito a constituir família. A compreensão do conceito de família vertida no texto constitucional permite esta leitura ampla de família, que não exclui laços 6 Guilherme de OLIVEIRA, “Aspectos Jurídicos da Procriação Assistida”, Revista de Ordem dos Advogados, Dez., 1989, p. 768 – note-se como o autor sublinha os dois aspectos essenciais deste direito, não apenas o biológico, mas igualmente o aspecto jurídico relacionado com o reconhecido, pelo ordenamento jurídico, daquele facto biológico. SIDA NET 31 genéticos, mas que também não se esgota neles7. Porém, a ligação entre ambos é inegável, desde logo porque a geração de novas pessoas aparece como elemento determinante básico da família, desde o momento em que este direito aparece pela primeira vez consagrado no art. 16.º da DUDH. 3. Conteúdo do direito à reprodução: o direito a ter filhos biológicos Tal como já ficou referido, este direito materializa-se na possibilidade de ter filhos biológicos, filhos com os quais mantenhamos um vínculo genético8 (e talvez o mero vínculo gestacional também funcione aqui, desde que associado ao requisito seguinte). Mas além do requisito do vínculo genético-biológico, cremos que ainda deverá ser tido em conta um vinculo afectivo-emocional, materializado num projecto de vida comum com a criança. Serão estes os dois elementos que compõe os direitos reprodutivos. Não que queiramos reduzir a paternidade a um mero estatuto biológico 9 . Reconhecemos que, mais do que vínculos genéticos, o que existe aqui são vínculos afectivos e sociais, e por isso mesmo fundamentámos os direitos reprodutivos nos dois requisitos acima mencionados Mas ainda que se aceitem as premissas anteriores, daqui não se retira que o direito à reprodução permita, para além da possibilidades procriar, também a possibilidade de o fazer nas condições desejadas. No fundo, estamos agora a discutir se o direito à reprodução nos garante não apenas o direito de ter filhos, mas também o direito de ter filhos com determinadas características. É óbvio que o desejo de ter um filho com determinada cor de cabelo ou com certo quociente de inteligência vai para além do âmbito de protecção deste direito. Mas, e se a característica em causa não se tratar de um mero traço supérfluo da fisionomia ou da personalidade, e sim de uma nota essencial: a saúde? Dar-nos-ão os direitos reprodutivos o direito a ter filhos saudáveis? Segundo cremos, assim como não existe o direito a ser saudável, mas tão-só o direito a receber cuidados de saúde (é este o único conteúdo do direito à saúde), também os direitos reprodutivos não englobam o direito a ter filhos saudáveis, mas apenas o direito a aceder a técnicas que nos permitem aumentar as hipóteses de ter filhos saudáveis (sobretudo tratando-se de pessoas que já contam com um historial médico susceptível de fazer perigar a progenia, e para as quais tem particular interesse a utilização da lavagem de esperma ou do diagnóstico genético pré-implantatório), sem que daqui resulte uma qualquer obrigação de resultado. 7 A favor da restrição do direito reprodutivo apenas àqueles que aportam contributos biológicos, mas restringindo o entendimento constitucional de família ao elemento consanguíneo, Francisco AGUILAR, “O Principio da Dignidade da Pessoa Humana e a Determinação da Filiação em Sede de Procriação Medicamente Assistida”, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa , 2000, p. 672, 673. 8 “Termos em que o direito a procriar deverá ser entendido como direito a ter filhos próprios (direito à descendência biológica directa) …” (Francisco AGUILAR, “O Principio da Dignidade da Pessoa Humana…”, cit., p. 672) 9 Considerando preferível a reprodução assistida (homologa) à adopção, com o argumento do valor do laço genético, Fernando SANTOSUOSSO, La Procreazione Medicalmente Assistita , Milano, 2004, p. 21. SIDA NET 32 4. Requisitos para o exercício do direito à reprodução mediante técnicas de reprodução assistida Teoricamente várias motivações, mais ou menos legítimas, podem justificar o apelo às técnicas reprodutivas e a outras práticas que lhe andam associadas: a vontade de ter filhos sem passar por uma gravidez (maternidade de substituição) ou abdicando do acto sexual (todas as técnicas referidas); o desejo de um filho com determinadas características (clonagem, DGPI, engenharia genética) ou que seja filho de uma pessoa que já não esteja viva (reprodução post-mortem). Apenas duas condições surgem como legitimas: a infertilidade e o perigo de transmissão de doenças ou malformações (art. 4.º/2 da Lei 32/2006). Totalmente afastadas estão qualquer tipo de aspirações eugénicas de apuramento da raça, ou inclusive de mera selecção de sexo. Face a esta miríade de perigos, as referidas técnicas deverão ser concebidas como mecanismos subsidiários de reprodução, aos quais apelar nas situações em que é biologicamente impossível gerar descendência, e não enquanto método alternativo, mera escolha dependente de caprichos pessoais. De facto, a maior parte das legislações não permite a livre escolha do método de reprodução: se por via sexual se por via das técnicas reprodutivas. Pelo contrário, esta última surgem como uma solução subsidiária, apenas possível quando a reprodução por via sexual não seja possível (infertilidade) ou se torne perigosa (perigo de transmissão de doenças ou malformações). Não negando que o acesso a estas técnicas não deve estar na inteira disponibilidade das partes, também não adoptamos a posição da lei, que consideramos demasiado restrita, porque cremos que existem outros motivos capazes de justificar a utilização das técnicas, tais como a indisponibilidade para um envolvimento sentimental/sexual, a orientação sexual, o esgotamento da idade fértil. E não cremos que a abertura a estas novas possibilidades choque com o valor da dignidade humana, usualmente considerado fundamento da subsidiariedade das técnicas reprodutivas, como parecem fazer crer alguns autores10. 4.1. Risco de transmissão de doenças ou anomalias genéticas Os portadores de doenças genéticas ou infecciosas correm o sério risco de transmitir essas doenças à descendência caso se reproduzam pela via coital. Porém, as técnicas reprodutivas oferecem-lhes a possibilidade de gerar crianças saudáveis, na medida em que permitem seleccionar e utilizar gâmetas sãos ou, após a fertilização, seleccionar e implantar os embriões que se encontrem nas mesmas condições. De tal forma esta imposição de uma prole saudável se enraizou que se tornou criticável que pais nestas condições não recorram às técnicas reprodutivas e prefiram usar a via sexual, uma verdadeira aposta na lotaria biológica ou uma crença infalível na providência divina. Há quem entenda que a liberalização do acesso a estas técnicas implicaria ceder 10 “O princípio da dignidade da pessoa humana, adverso à instrumentalização do ser humano e da sua faculdade reprodutiva, opõe-se à utilização da procriação assistida como um processo normal, incondicionalmente alternativo à procriação através de relações sexuais” (Francisco AGUILAR, “O Principio da Dignidade da Pessoa Humana…”, cit., p. 769). SIDA NET 33 aos interesses da indústria reprodutiva11, mas parece-nos a nós que este raciocínio seria equivalente a dizer que uma liberalização da liberdade de religião equivaleria a ceder aos interesses das seitas e dos movimentos religiosos duvidosos, pelo que se deveria limitar a liberdade de religião. E de facto, o art. 4.º/2 da Lei 32/2006 estipula que “[a] utilização de técnicas de PMA só pode verificar-se mediante diagnóstico de infertilidade ou ainda, sendo caso disso, para tratamento de doença grave ou do risco de transmissão de doenças de origem genética, infecciosa ou outras”. Ora, face a esta norma não restam dúvidas de que os portadores de HIV, sendo esta uma doença infecciosa passível de transmissão, estão abarcados pela autorização concedida na lei. O grande perigo escondido nesta hipótese é o eugenismo. Talvez por isso o legislador tenha tido o cuidado de limitar esta finalidade de impedir a transmissão de doenças hereditárias ou congénitas mediante a proibição da engenharia genética (art. 7.º/2 da lei 32/2006). 4.1.1. HIV e técnicas reprodutivas Se nos primeiros tempos aqueles que padeciam de HIV contrairiam seguramente SIDA, falecendo a breve trecho, a actual panóplia de antibióticos à disposição permitelhes levar uma vida praticamente normal durante um período razoável de tempo e, por conseguinte, aspirar aos conteúdos dessa vida normal. O HIV representa uma importante obstáculo à reprodução, não apenas nos casos em que ambos progenitores são portadores da doença, mas igualmente nos casos em que apenas um deles o é, com a agravante de, nesta segunda hipótese, para além do perigo de transmissão à descendência, advém o risco de contaminar o parceiro são. Para evitar esta última consequência várias soluções foram sendo apresentadas (por exemplo, o homem não portador pode ter sexo com a parceira infectada usando um preservativo com um furo na ponta, que permita a saída do esperma), mas nenhuma delas se revelou verdadeiramente segura. Quanto à prevenção da transmissão do vírus para o embrião, sendo a mãe a portadora, recorre-se em regra a terapêuticos antivirais, mas igualmente sem garantia de sucesso; sendo o pai o portador, as técnicas reprodutivas oferece-nos o método da lavagem de esperma, sendo esta uma das mais bem sucedidas soluções para evitar a transmissão. A lavagem de esperma pode, eventualmente, ser complementada com a injecção intracitoplasmática de espermatozóides. Ultimamente começou a utilizar-se uma nova técnica, ainda mais bem sucedida do que a lavagem de esperma, a qual consiste no aquecimento do sémen a temperaturas muito elevadas, de modo a destruir o HIV e outros vírus; todavia, como isto implica a perda de mobilidade do esperma depois é necessário recorrer à injecção intracitoplasmática para proceder à fertilização. Porém, no relatório anexo ao parecer 44/CNECV/04, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) reprovou o recurso à procriação assistida como forma de evitar a transmissão do HIV, em virtude do “risco de orfandade precoce ou a programação livre da vinda de filhos com pais doentes”. Por outras palavras, permitir a reprodução aos portadores de HIV – ainda que com a garantia (oferecida 11 Dan BROCK, “The Non-Identity Problem and Genetic Harms—The Case of Wrongful Handicap”, Bioethics, 9, 1995, p. 272, 273. SIDA NET 34 pelas técnicas reprodutivas) de que a descendência nasceria sã – iria conta o melhor interesse do filho, que seria privado “logo à nascença dos benefícios de que dispõem as crianças com progenitores saudáveis”. Este excerto merece-nos uma série de comentários. Primeiro, a saúde não é um dado adquirido para nenhum de nós, pelo que não está excluído que qualquer pai ou mãe recentes venham a padecer de uma doença grave e acabem mesmo por morrer. Uma forma mais refinada deste argumento surge-nos sob a versão de um pretenso direito a um pai e uma mãe sãos, o que vale por dizer que as pessoas doentes não poderiam ter filhos, sob pena de violarem este direito. Ora, antes de mais, o embrião não pode reivindicar para si direito algum porque não é pessoa. Depois, ainda que assim não fosse, nunca este direito lhe caberia, pois o máximo que se pode dizer é que os filhos têm direito à assistência e cuidado dos pais (quando existam e o possam fazer) ou, numa outra perspectiva, que os pais, tal como de resto qualquer outra pessoa, têm direito à saúde. O referido parecer fundamenta este direito na preocupação pela saúde da descendência, mas note-se que o intuído das técnicas reprodutivas é precisamente o de permitir a pessoas doentes terem filhos saudáveis12. Quanto ao argumento de evitar o nascimento de crianças que a breve trecho ficarão órfãos, é de sublinhar que a orfandade durante a mais terna infância não é assim tão inusual. Claro que em regra o nascimento imediatamente seguido da morte dos progenitores se refere a uma obra do infortúnio e não a uma acção de pessoas que já transportam consigo um certo risco de morte e, por conseguinte, um acto devidamente pensado e planeado, o que sempre é susceptível de outro tipo de avaliação. Mas note-se que em todos as demais situações de pessoas doentes, e mesmo em risco de vida (casos graves de carcinomas, por exemplo), nunca se pensou em as proibir de ter filhos, ainda que seja quase certo que em breve morrerão. Efectivamente, tais pessoas podem obviamente reproduzir-se sexualmente e, ao que parece, também nada as impede de utilizar a procriação assistida caso os demais requisitos se encontrem preenchidos. Se queremos ser congruentes com este raciocínio, então, a proibição proclamada pelo CNECV valeria para todo o tipo de doenças, não apenas para o HIV. Finalmente, tememos que subjacente a semelhantes conclusões esteja na verdade um juízo de censura contra determinados estilos de vida, em regra (mas impropriamente) associados a esta doença, tais como a homossexualidade, a promiscuidade e a toxicodependência. 5. A proibição de acesso às técnicas reprodutivas como uma discriminação Porém, este relatório não é caso único. Vários ordenamentos jurídicos proíbem a transferência para o organismo de alguém de esperma, embriões ou tecidos infectados com HIV, mesmo que a pessoa consinta. É o que sucede com as leis de muitos estados norte-americanos. Um dos casos mas estranhos é o da Califórnia, que autoriza a doação de sémen para uso autólogo por parte de pessoas infectadas com hepatite B, hepatite C e sífilis (desde que exista consentimento informado da esposa ou companheira), mas não tratando-se de portadores de HIV13. Porém, estas normas encontram-se em contradição com a jurisprudência do Supreme Court, que considera que os portadores de HIV podem ser consideradas pessoas com deficiências à luz do Americans 12 Gino CONCETTI, L’Embrione Uno di Noi, Edizioni Vivere In, Roma, 1997, p. 22/24. 13 Lynn M. ZUCHOWSKI, “The Americans with Disabilities Act – Paving the Way for Use of Assisted Reproductive Technologies for the HIV-Positive”, Suffolk University Law Review, 36, 2002, p. 199. SIDA NET 35 with Disabilities Act (ADA), de 199014, logo, a referida proibição é vista como uma prática prejudicial e discriminatória15. No caso Bragdon v. Abbottm (524 U.S. 624, 1998), o Supreme Court considerou que os portadores de HIV se poderiam qualificar como pessoas com deficiências à luz deste diploma (pelo que constituía tratamento discriminatório a recusa de um dentista em tratar no seu consultório uma paciente com HIV), uma vez que o vírus constituía um limite físico para o indivíduo. No mesmo sentido, a Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) entende que as pessoas infectadas com HIV, mesmo que ainda não apresentem sintomas da doença, devem ser protegidas pelo referido diploma16. Em nosso entender estas opiniões vai demasiado longe ao equiparar o HIV a uma deficiência, mas não deixa de ser certo que esta doença afecta a normalidade da vida, especialmente a capacidade de ter filhos sãos. E não só perturba a vida da pessoa afectada, como também a do seu companheiro não infectado, que assim vê igualmente limitadas as suas possibilidades reprodutivas. Nesta medida, pode de facto impedir uma “major life activity”, a reprodução. 6. Últimas notas Embora defendendo a existência da figura dos direitos reprodutivos como direitos fundamentais, estamos conscientes dos seus limites, como, de resto, quaisquer outros direitos. Nomeadamente, não pretendemos elevar a utilização das técnicas de reprodução assistida a um método alternativo de reprodução, acessível a todos aqueles que pretendem “construir” um filho apelando às mesmas possibilidade de escolha de quem elege os acessórios de um carro, nem tão pouco àquelas que desejam ser mães evitando os transtornos de uma gravidez. A reprodução coital tem que continuar a ser o método por excelência da espécie humana procriar. Todavia, a reprodução sexual nem sempre é possível. Ou porque dada a infertilidade de um ou ambos parceiros seria improdutiva em termos reprodutivos; ou porque se a transmissão dos patrimónios genéticos não for de alguma forma controlada a prole nascerá doente ou com alguma mal-formação; ou porque o desejo de ter filhos está impedido pela impossibilidade de acesso a gâmetas do género oposto, necessários para a fertilização. Dentro do leque das motivações acima referidas como admissíveis, encontra-se claramente a situação daqueles que são portadores de uma doença infecciosa e que, por conseguinte, no âmbito de uma reprodução coital correm o sério risco de a transmitir à descendência e ao parceiro. Uma vez que o HIV é cada vez menos impeditivo de uma vida dita “normal”, não vemos porque motivo esta parte da normalidade da existência – a reprodução – deve ser expropriada aos portadores do vírus. Certamente que estes indivíduos mantém a capacidade física de se reproduzirem por via sexual. Mas, a que preço? Espalhando o vírus por quantas pessoas? Se já ninguém acredita que o HIV é castigo divino, não se vê porque não hão-de os seus portadores ser também eles visitados pela cegonha. E, já agora, por um cegonha que traga no bico um bebé saudável. 14 “… no individual shall be discriminated against on the basis of disability in the full and equal enjoyment of the goods, services, facilities, privileges, advantages, or accommodations of any place of public accommodation by any person who owns, leases (or leases to), or operates a place of public accommodation.” 15 Lynn M. ZUCHOWSKI, “The Americans with Disabilities Act…”, cit., p. 187 ss. 16 Cfr. Sandra TOMKOWICZ, “The Disabling Effects of Infertility: Fertile Grounds for Accommodating Infertile Couples under the Americans with Disabilities Act”, Syracuse Law Review, 46, 1996, p. 1069 ss. Na p. 1075 ss. a autora descreve outros casos da jurisprudência norte-americana no mesmo sentido. SIDA NET 36 VIH, RISCO E APTIDÃO PARA O TRABALHO António José Vilar Queirós - Universidade de Coimbra - Portugal 1. A noção de risco Pode afirmar-se que, de forma consistente, a noção de risco só se impõe com o desenvolvimento da ciência e do pensamento racionalista, com a visão de um mundo que se rege por leis, logo por fenómenos previsíveis e mensuráveis. Se até então as causas ditas naturais ou sobrenaturais (divinas, do destino) se sobrepunham como fenómenos explicativos do perigo e do dano, o advento da matemática probabilística e da estatística possibilitou a criação de instrumentos de cálculo que permitem distinguir a norma do desvio que ultrapassa a imprevisibilidade. O risco passa, assim, a reportar-se a condições em que a probabilidade pode ser calculada e os acontecimentos se tornam passíveis de antecipação. 1.1. Perigo versus risco Os conceitos de “perigo” e de “risco”, ainda que utilizados correntemente como sinónimos, têm, em Segurança e Saúde no Trabalho, significados claramente diferentes. Por perigo designa-se uma propriedade intrínseca ou uma situação com capacidade para causar lesões ou danos. Reporta-se, pois, a uma condição estática – substâncias, máquinas, métodos de trabalho. Já o risco é a resultante de uma combinação de probabilidades de ocorrência de um fenómeno perigoso com a gravidade das lesões ou danos que possa ocasionar. Possibilita, assim, antecipar as situações em que o perigo possa manifestar-se, atingindo pessoas e/ou bens. 1.2. Avaliação do risco Dir-se-ia que, se o perigo é identificável, o risco é estimável, ou seja, passível de quantificação. Na sua expressão mais simples o risco traduz-se por uma fórmula matemática em que R (risco) = F (frequência de ocorrência) x G (gravidade do dano). Recorrendo a métodos de natureza quantitativa, semi-quantitativa ou qualitativa pretende-se sempre, em última análise, obter um valor compreendido numa escala, com máximos e mínimos definidos. SIDA NET 37 A expressão numérica do risco calcula-se multiplicando valores dos factores “frequência” pelos de “gravidade”, obtidos a partir de matrizes de escalonamento numéricas e/ou descritivas previamente construídas. Para a elaboração destas matrizes recorre-se a informação relativa a regulamentação existente, normas e orientações de boas práticas, dados estatísticos, publicações científicas, entre outros. 1.3. Valoração do risco Estimada a magnitude do risco, com a atribuição de valores enquadráveis numa escala definida, procede-se à sua valoração, ou seja, compara-se o valor obtido com padrões de referência, que lhe conferem significado. A valoração é a etapa final da avaliação do risco e corresponde a um processo através do qual se fazem juízos de valor sobre a aceitabilidade desse risco, tendo em conta um agregado de factores e critérios de natureza legal, socioeconómica e ambiental. A aceitabilidade do risco corresponde ao risco que os actores de um sistema aceitam incorrer conscientemente, apesar de eventualmente se dispor de soluções conhecidas ou potenciais que o possam reduzir, porquanto tais soluções contêm um agregado de inconvenientes (custo, eficácia, …) para que a eles se renuncie. Tratase, pois, de formular um juízo, influenciado naturalmente pelo sentir de cada sociedade em cada época, num processo de permanente evolução. Casos há em que, por força de normativos legais, esses limiares de aceitabilidade estão perfeitamente definidos (atente-se no caso do ruído), mas na maioria das vezes não existem opções universais para o que se considera “risco aceitável”. Cada organização deve estabelecer, com base em critérios por si definidos, quando os riscos são aceitáveis, pugnando para que sejam eliminados ou, pelo menos, minimizados e controlados. 2. O VIH e a aptidão para o trabalho É objectivo último da Segurança e Saúde no Trabalho a preservação da saúde dos trabalhadores e a promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável. A vigilância da saúde dos trabalhadores, da responsabilidade da Medicina do Trabalho, deve ser condicionada pelos riscos ocupacionais presentes nos locais de trabalho, necessariamente avaliados de forma sistemática. Por esse motivo, não pode haver um modelo único de exame de saúde. Cada exame deve ser adaptado ao tipo de trabalho, às aptidões do trabalhador e aos riscos ocupacionais conhecidos. Pretende-se detectar, tão cedo quanto possível, alterações de saúde resultantes das condições de trabalho existentes, bem como avaliar a capacidade do trabalhador para o desempenho de uma determinada actividade, com o fim último de procurar adaptar o trabalho ao trabalhador e nunca exclui-lo do seu direito fundamental ao trabalho. A questão específica da infecção VIH do trabalhador ou candidato a trabalho, pela carga discriminatória e de estigmatização que geralmente comporta, tem merecido especial atenção por parte de vários organismos, nacionais e internacionais. A Comissão Nacional de Protecção de Dados, citada por André Dias Pereira 1, defende que o portador de VIH, na qualidade de candidato a emprego, não está obrigado nem a fornecer informação que lhe diga respeito, nem a ser submetido a qualquer teste. Esse tipo de informação não poderá ser utilizada para impedir alguém de obter um SIDA NET 38 emprego nem para fundamentar o seu despedimento. No mesmo sentido se pronuncia a O.I.T. no seu Código de Conduta sobre o VIH/SIDA (2001)2: os testes de despistagem de VIH/SIDA não devem ser solicitados para os candidatos a emprego nem para os empregados. Mais declara não haver justificação para solicitar aos candidatos a emprego informação pessoal sobre o seu estado de saúde quanto a esta infecção. Os casos recentemente divulgados em Portugal de um cirurgião e de um cozinheiro, portadores do VIH/SIDA, a quem foram impostas limitações ao desempenho da sua actividade profissional ou simplesmente despedidos, nas quais se encontravam envolvidas, ao que tudo indica, decisões do âmbito da Medicina do Trabalho, trouxeram à ribalta preocupações antigas de discriminação laboral. A inexistência de orientações de actuação claras para os Médicos do Trabalho, nomeadamente no que se refere à infecção pelo VIH, contribui para o desencadear e desenlace de muitas situações injustas, indignas e claramente discriminatórias. Por diversas vezes nos pronunciámos pela necessidade de estabelecer, nos organismos adequados, vide Ordem dos Médicos, normas de actuação mas, infelizmente, ao que sabemos, nenhuma repercussão tiveram3. Obviamente que, na avaliação da aptidão para o exercício de funções, não pode o Médico do Trabalho alhear-se da protecção de terceiros, entre os quais se contam os destinatários dos bens ou serviços disponibilizados. Disso dá conta o art.º 19º do Código do Trabalho bem como o Acórdão do Tribunal Constitucional nº 368/02, de 25 de Setembro4. O mesmo afirmam Joana Nunes Vicente e Milena Rouxinol5, referindose à problemática dos testes diagnósticos de infecção pelo VIH, “ a sujeição aos aludidos testes não se justifica, prima facie, em nome dos interesses da protecção do próprio trabalhador/candidato ao emprego (…) pelo que são, essencialmente, razões de tutela da saúde de terceiros que justificarão uma intromissão na saúde do candidato a emprego/trabalhador”. Para as autoras, “no jogo dos dois pólos valorativos em causa – o direito dos trabalhadores ou candidatos à preservação da sua intimidade, por um lado; a necessidade de evitar a infecção por terceiros, por outro – faz prevalecer o segundo “. E assim propõem a determinação das profissões relativamente às quais se pode afirmar comportam risco de contágio, destacando as “profissões médicas e paramédicas e as actividades que implicam contacto sexual”, por contraponto com todas as outras em que o risco seria desprezível. 3. A análise do risco em Segurança e Saúde no Trabalho – uma proposta de actuação A questão da legitimidade do pedido de testes de despistagem de infecção pelo VIH no âmbito da Medicina do Trabalho pode, em nosso entender, ser analisada à luz dos princípios gerais, já enunciados, da análise do risco em Segurança e Saúde no Trabalho: identificação dos perigos; estimativa dos riscos; valoração desses riscos. Identificado o perigo (de infecção pelo VIH), há que estimar o risco decorrente da exposição dos doentes a esse perigo, em contexto ocupacional, e valorá-lo, de acordo com a noção de aceitabilidade já descrita. Recorrendo à metodologia descrita da construção de matrizes de avaliação do risco, poderemos propor uma gradação dos factores-chave (frequência e gravidade do dano) na avaliação do risco de contágio pelo VIH do doente pelo profissional de saúde. Parecendo-nos consensual a atribuição de valores máximos no “eixo do dano”, seja qual for o referencial utilizado, porquanto conscientes da gravidade da infecção, SIDA NET 39 assentará, porventura, no “eixo da frequência” a chave para a correcta estimativa do risco. A literatura científica mundial e múltiplas organizações cientificoprofissionais referem riscos de exposição muito baixos, vide virtualmente inexistentes, quando se analisa, em particular, o risco de transmissão do profissional de saúde para o doente. Estão, até hoje, reportados apenas três casos em que poderá ter ocorrido essa transmissão5: um dentista da Florida; um ortopedista francês; e uma enfermeira francesa. E mesmo nestes, com a excepção do ortopedista, a via de transmissão não ficou esclarecida, podendo, no caso do dentista, nem se ter verificado. Por contraponto citam-se os mais de 300 casos reportados de profissionais que foram contaminados pelos seus pacientes. Poderíamos, assim, de forma que julgamos consensual, atribuir o menor dos valores na escala “frequência”. Recorrendo a tabelas pré-construídas, das quais se apresenta um exemplo em que os valores se estendem, simplesmente, de 1 a 4, ao escolher o valor de 1 no factor “frequência” e o de 4 no factor “gravidade”, verificaríamos que na operação matemática Frequência x Gravidade, ao estimarmos o risco de transmissão do VIH do profissional de saúde para o doente, obteríamos um valor de 4 (1x4), numa escala possível que varia entre o valor mínimo de 1 e o máximo de 16. Tabela de Frequência Tabela de Gravidade Obviamente que, ao utilizarmos tabelas de avaliação em que os valores atribuídos aos vários escalões de estendam por um maior leque de possibilidades, os resultados do cruzamento da Frequência pela Gravidade vão dispor-se ao longo de uma escala mais extensa. Por conseguinte, os valores extremos afastam-se cada vez mais. No caso em análise, se se admitissem valores de Frequência e Gravidade de 1 a 10, o Risco calculado seria de 10 (1x10), num máximo de 100, ou seja 10%. Se esses valores de estendessem de 1 a 100, obteríamos um Risco de 100 (1x100) num máximo de 10 000, isto é, 1%. SIDA NET 40 Tabela de Avaliação de Riscos Restar-nos-ia valorar o risco obtido, atribuindo níveis de significado aos valores possíveis na escala constr uída. Entra aqui, como já explicado, a noção de aceitabilidade do risco, que corresponde ao “risco de acidente ou de falha que os actores de um sistema aceitam incorrer conscientemente apesar de se dispor de soluções conhecidas ou potenciais que, sem dúvida, podem ainda reduzir esse risco, porquanto tais soluções contêm um agregado de inconvenientes suficientes (designadamente o seu custo, o respectivo desempenho ou eficácia, a qualificação das pessoas…) para que se renuncie a elas” (Fishhoff e tal, 1983, citado por Roxo7). No caso concreto da avaliação do risco de transmissão do VIH do profissional de saúde para o paciente a obtenção de um valor de 4, numa escala em que o valor máximo é de 16, coloca-nos perante a necessidade de atribuir significado ao nível de risco estimado. Se considerarmos apenas quatro níveis de significado na escala resultante – risco muito baixo, baixo, médio, alto) o valor encontrado situa-se, claramente, no 1/4 inferior. Se ao escalonar os níveis de risco optarmos por um maior número de intervalos, poderemos enquadrar o risco encontrado num valor diferente do mínimo, mas ainda assim indubitavelmente num dos escalões mais baixos. Idêntico raciocínio se poderia fazer se, ao invés de tabelas 4x4, se utilizassem tabelas de 10x10 ou 100x100, aqui com resultados mais expressivos. Concluímos, pois, que aplicando metodologias de análise de risco habitualmente utilizadas em Segurança e Saúde no Trabalho para avaliar o nível de risco de transmissão do VIH do profissional de saúde para o doente, se obtêm valores sempre próximos dos mínimos. O risco calculado é, assim, muito baixo, retirando, em nosso entender, legitimidade à realização de testes diagnósticos de VIH no âmbito dos exames de saúde da Medicina do Trabalho, quando entendidos como mecanismos de justificação para a atribuição de incapacidade para o trabalho dos profissionais de saúde. SIDA NET 41 Bibliografia: 1. Pereira, A.D. Parecer para o Coordenador Nacional para a infecção VIH/SIDA. Centro de Direito Biomédico. Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Julho 2007 2. An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work. International Labour Office. Geneva. 2001 3. Queirós, A.J. Os exames de saúde em Medicina do Trabalho – as doenças infecciosas. Rev. Ordem Médicos, 88. Março 2008 4. Acórdão do Tribunal Constitucional nº 368/02. Diário da República II série, de 25-10-2002 5. Vicente, J. N., Rouxinol, M.S. VIH/SIDA e Contrato de Trabalho. Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais. Homenagem aos Profs. Doutores A. F. Correia, O. Carvalho e V. L. Xavier. Coimbra Editora. 2007 6. Scully, C., Greenspan, J.S. Human Immunodeficiency Virus (HIV) – Transmission in Dentistry. J Dent Res 85(9): 794-800. 2006 7. Roxo, M.M. Segurança e Saúde do Trabalho: avaliação e controlo de riscos. Almedina, Abril 2006 SIDA NET 42 SIGILO DOCENTE E O DIREITO À PRIVACIDADE DE ALUNOS COM HIV/AIDS Walk Loureiro - Kenia Loureiro - Secr. Mun. Educação de Vitória - Brasil 1. UM TEMA INSTIGANTE O estudo da prática pedagógica de professores de Educação Física de escolas da Educação Básica com crianças, adolescentes e jovens soropositivos para o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e/ou doentes com a Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (aids) desperta nosso interesse há pelo menos três anos e meio, quando começamos a publicar trabalhos sobre essa temática (LOUREIRO, W.; LOUREIRO, K. S. F., 2005, 2006, 2007a, 2007b; LOUREIRO, W., 2008). Na época, a co-autora deste texto manteve um primeiro contato, em sua sala de aula, com um aluno reconhecidamente com aids e se viu cercada por medos, expectativas, desconhecimento, mitos e preconceitos. Sabedores de que precisávamos saber mais sobre a aids, haja vista que as informações veiculadas pela mídia e os programas financiados pelo governo brasileiro se mostram insuficientes para superar a crise interna pela qual muitos docentes em situação semelhante passam, procuramos entender um pouco mais sobre o assunto. A experiência com alunos com HIV/aids instigou-nos em nossa prática pedagógica, uma vez que não nos sentíamos preparados para lidar com a questão. Sentimo-nos desafiados a preencher uma parcela da lacuna do conhecimento sobre o cotidiano de alunos com HIV/aids.1 Afinal, constatamos com Krokoscz (2005) que, apesar de no ano de 1992 ter acontecido no Brasil o primeiro grande movimento em prol do ingresso e permanência desse público no ambiente escolar, 2 poucas informações foram 1 Somos sabedores de que “HIV significa, em inglês, vírus da imunodeficiência humana” (BERER, 1997, p. 28), enquanto que “AIDS significa, em inglês, Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida. Deficiência imunológica quer dizer que o sistema imunológico está sendo impedido de funcionar. Síndrome é um grupo de sintomas ou doenças com uma só causa originária, nesse caso, o HIV” (BERER, 1997, p. 32). Entretanto, apesar da nítida diferenciação de significados dessas expressões, muitas vezes elas serão utilizadas neste texto como tendo o mesmo sentido (HIV/aids). 2 Krokoscz se refere ao “Caso Sheila”, no qual uma criança de cinco anos teve sua matrícula negada em uma escola de São Paulo por ser doente de aids. De acordo com o autor, não se tratava, naquele momento, do único caso de alunos com HIV/aids que se viam impossibilitados de ingressar nas escolas ou de continuar os estudos, mas, certamente, foi o primeiro a ganhar notoriedade, a ponto de serem veiculadas informações a seu respeito em jornais de grande circulação, como o Estado de São Paulo e o Folha da Tarde e, até mesmo em outros de abrangência nacional, como no periódico O Globo. Tendo, ainda, ampla cobertura na Rede Globo de Televisão, especialmente no programa Fantástico que, de acordo com Barata (2006), dava preferência, a época de seu estudo, a assuntos atinentes ao preconceito sofrido por crianças com aids, entre outros. SIDA NET 43 produzidas a respeito do cotidiano escolar dos alunos com situação sorológica positiva para o HIV, tanto por pesquisadores acadêmicos, quanto pelos meios de comunicação, até a publicação de sua pesquisa. Passados mais de quinze anos da emissão da Portaria Interministerial número 796, em 1992,3 consideramos de enorme relevância refletir sobre o direito de alunos, seus pais/responsáveis e demais membros da comunidade escolar (apesar de os dois últimos grupos não serem o foco principal deste texto) à privacidade. Para tanto, partiremos de um caso concreto de discriminação vivida por dois alunos (soropositivos para o HIV) de uma escola da rede Municipal de Ensino de Guarapari, no Estado do Espírito Santo. 2. UM POUCO DE HISTÓRIA: QUANDO O DESCONHECIMENTO PRODUZ O PRECONCEITO Nossos estudos relacionados ao HIV/aids no espaço escolar foram motivados por uma situação concreta vivida pela co-autora deste texto: de uma maneira até hoje desconhecida, professores da escola na qual ela trabalhava souberam que dois alunos da instituição eram soropositivos para o HIV e expressaram o medo de adquirirem o vírus e de outros alunos da escola também se contaminarem com a doença naquele espaço. Refletindo sobre esse episódio, o que parece acontecer em casos em que a condição de infecção positiva para o HIV de algum dos membros da comunidade escolar tornase conhecida por todos é a multiplicação da ignorância, pois, de acordo com a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), [...] marcada pelo estigma do medo e do preconceito, a Aids parece ter o poder de substituir nossa inteligência pelo pânico, e nosso conhecimento pelo obscurantismo, o que faz com que muitos de nossos educadores se recusem até mesmo a pensar na hipótese de conviver nas escolas com pessoas que têm HIV4 ou que já tenham a saúde abalada pela multiplicação do vírus no organismo. Conseqüentemente, a presença de crianças com HIV nas escolas tem provocado crises compreensíveis, porém desnecessárias e perigosas [...] (ABIA, 1993, p. 8, grifo nosso). Quando nos propusemos a pesquisar sobre essa temática, objetivamos entender sobre a situação desses dois alunos, já que eram dois casos concretos, diante de nossos olhos. Grande foi nossa surpresa ao descobrir que aqueles alunos já haviam vivido uma situação de preconceito na escola da qual vieram transferidos. Alguns pais/responsáveis de outros estudantes, ao saberem que os dois estavam com HIV/ aids, se mobilizaram e redigiram um abaixo-assinado, a fim de pressionar a diretora para que ela impedisse os dois de freqüentar a escola ou, na pior das hipóteses, que os proibisse de usar os mesmos espaços que suas crianças. Até hoje não se sabe como o estado clínico das duas crianças tornou-se conhecido 3 Essa Portaria, de autoria conjunta dos Ministérios da Educação e da Saúde tratou da primeira resposta à discriminação sofrida por alunos com HIV/aids em âmbito governamental. 4 Esse aspecto foi constatado numa pesquisa que realizamos, pois parece normal que os professores venham a “[...] negar a possibilidade da existência de alunos com o vírus HIV ou mesmo doentes de aids dentro das escolas. Como nos relatou o professor Jeferson, ao tratar da dificuldade de lidar com esse aluno, ‘[...] Nós não convivemos com esse tipo de aluno, então a dificuldade de adaptação é a convivência, é a vivência da realidade e hoje nós não temos essa realidade na escola [...]’” (LOUREIRO; LOUREIRO, 2007b, p. 233). SIDA NET 44 por aquela comunidade: se a informação foi espalhada entre os pais/responsáveis de alunos da escola e chegou aos ouvidos dos professores ou se algum profissional da escola a divulgou. Aos professores e demais profissionais presentes nas escolas é importante deixar claro que o artigo primeiro, inciso IV da Portaria Interministerial 796, orienta que “A divulgação de diagnóstico de infecção pelo HIV ou de Aids de que tenha conhecimento qualquer pessoa da comunidade escolar, entre alunos, professores ou funcionários, não deve ser feita” (BRASIL, 1992). Além disso, esse tipo de revelação constitui ato criminoso, devido ao constrangimento e à privação de direitos a que essas pessoas ficam expostas, pois, conforme determina nosso Código Penal (BRASIL, 1940), Art. 325 – Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. [...] § 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. De qualquer forma, mesmo sofrendo com o movimento liderado por alguns pais/ responsáveis com pouca ou nenhuma informação a respeito do HIV/aids, a direção da instituição, de uma maneira firme, decidiu pela garantia aos alunos do direito de “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”, expresso no artigo 206, inciso I de nossa Constituição (BRASIL, 1988). No que se refere ao desejo daqueles pais/responsáveis de segregar as duas crianças, o artigo primeiro, inciso V, da Portaria 796 (BRASIL, 1992) é muito claro, ao definir que “Não deve ser permitida a existência de classes especiais ou de escolas específicas para infectados pelo HIV”. Conforme comentamos em publicação recente (LOUREIRO; LOUREIRO, 2007b), para que um estudante se contamine em ambiente escolar é preciso haver uma grande lesão entre dois alunos – um com HIV/aids e outro sem a doença – e, mesmo assim, deve haver contato entre alguma ferida do segundo e o sangue do primeiro.5 Além disso, as chances de acontecer uma lesão de grandes proporções de sangramento é muito pequena, uma vez que [...] os alunos estão constantemente sob a supervisão de adultos na escola, o que pode gerar um atendimento mais rápido no caso de necessidade e, principalmente, porque eles estão indo à escola e não para uma batalha campal, para um episódio de tamanha magnitude ocorrer (LOUREIRO; LOUREIRO, 2007b, p. 234). É preciso destacar, ainda, que os professores devem encarar com naturalidade a existência de pessoas com HIV/aids no ambiente escolar – já que essa doença não é transmitida pelo convívio social, mas pela troca de sangue e sêmen contaminados ou pela via materno-fetal –, porque essa doença não é de outro mundo, mas do nosso e porque ela não está tão distante de nós como imaginamos. 5 Fernando Rossetti, em reportagem veiculada na Folha de São Paulo, em 10 de maio de 1992, afirmou, baseado em informações obtidas com a Associação Médica Americana, que o risco de um estudante pegar aids no ambiente escolar é o mesmo de um meteoro cair em cima da escola. Ele também afirmou que, mesmo em casos de mordidas entre uma pessoa com o HIV e outra sem o vírus, não se verificou a existência comprovada de novos casos de contaminação, segundo pesquisas da Divisão de HIV/aids do Centro Nacional para Doenças Infecciosas daquele mesmo país (ROSSETTI, 1992). SIDA NET 45 [...] Mesmo porque, se essa neurose pegar, nós vamos nos fechar dentro de casa. Porque, quando nós vamos aos clubes, ao cinema, a um restaurante ou a um bar, certamente vocês podem apostar que pelo menos nas últimas 48 horas alguém passou por ali com o vírus HIV (NEGRA, 1993, p. 45). Apesar do correto posicionamento assumido pela direção da escola, a mãe das crianças optou por transferi-las para outra instituição, 6 devido ao desconforto e constrangimento gerados, na esperança de que seus filhos pudessem seguir suas vidas escolares da maneira mais normal possível. 3. DIREITO À PRIVACIDADE DE PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA ESCOLA COM HIV/AIDS Conforme já assinalamos, este artigo não tem a intenção de refletir profunda e exaustivamente a respeito do direito à privacidade de pais/responsáveis de alunos e profissionais da escola contaminados com HIV/aids. O que não quer dizer que não vamos fazer algumas reflexões iniciais sobre esse assunto no qual, em momento oportuno, pretendemos nos aprofundar. Se, por um acaso, algum membro da instituição escolar ficar sabendo da contaminação pelo HIV de algum pai/responsável de aluno, em hipótese alguma ele deve compartilhar essa informação com qualquer outra pessoa. E não apenas por consistir crime fazer tal revelação, mas, também, por causa do constrangimento gerado, devido ao julgamento de valor ao qual as pessoas com HIV/aids são submetidas, desde comentários maldosos sobre o estilo de vida que elas adotam, até observações depreciativas sobre suas preferências sexuais. Além do mais, com a divulgação da doença dos pais, nos casos em que os filhos não têm o HIV/aids, o preconceito sofrido pelos primeiros pode ser estendido aos segundos. Assim como acontece com alunos e pais/responsáveis, também os professores e demais profissionais da escola que tenham HIV/aids necessitam que seja garantido o sigilo de sua condição, não somente porque, de maneira análoga ao caso dos primeiros, eles podem ser julgados moralmente devido ao seu estado de saúde – o que poderia culminar em sua “morte social”, precedendo sua morte física inevitável – mas porque eles podem ter seus empregos ameaçados devido a essa revelação. Conforme a Portaria Interministerial 796 (BRASIL, 1992), artigo 1º, inciso II, “[...] não devem ser exigidos testes sorológicos prévios à contratação e manutenção do emprego de professores e funcionários por parte de estabelecimentos de ensino”. Afinal, se o empregador descobrir que um de seus funcionários é HIV positivo ele pode proceder de maneira ilegítima para demiti-lo por preconceito, falta de informações sobre a doença, ou, até mesmo, por medo da reação dos demais membros da comunidade escolar, especialmente dos pais, que podem tomar medidas similares àquelas adotadas (e já relatadas anteriormente) por alguns pais de alunos que temiam que seus filhos se contaminassem, em função do convívio social com pessoas com HIV/aids. É de fundamental importância que se reafirme para todos os membros da comunidade escolar e para seus empregados que 6 Estamos nos referindo à escola na qual a co-autora deste trabalho lecionava e onde ela ficou sabendo da situação dos alunos com HIV/aids e de sua família. SIDA NET 46 [...] a integração de crianças e adultos que têm HIV/Aids nas salas de aula e nas atividades recreativas ou esportivas, assim como o convívio e as brincadeiras destas crianças com outras, não representam uma ameaça para a saúde no meio escolar, nem implicam em transtornos para a rotina educacional [...] (ABIA , 1993, p. 8). Evidentemente, nas escolas públicas brasileiras, nas quais professores e funcionários com HIV/aids sejam funcionários efetivos, essa prática não é possível, se levarmos em conta que esses trabalhadores passam a gozar de estabilidade assim que é findado seu estágio probatório. Contudo, em instituições privadas pode ocorrer a demissão sumária do profissional, independentemente de sua competência, pois o medo de perder a clientela (e o faturamento advindo com ela), por vezes torna-se maior do que a razão e o bom-senso do empregador. Como exemplo de situação semelhante, na ficção, há o filme Filadélfia (1993), no qual Andrew Beckett (Tom Hanks), um promissor advogado de uma grande empresa de advocacia, esconde seu estado de contaminação pelo HIV, por medo de ser discriminado. Apesar de seu ótimo desempenho e competência, demonstrados nos ser viços prestados, seus patrões sabotamno para demiti-lo, alegando que fosse incompetente e irresponsável. Além de os empregadores negarem a descoberta de que seu funcionário era soropositivo para o HIV, os advogados da empresa, na tentativa de vencer a contenda judicial, tentam convencer os jurados de que, além de incompetente, Andrew teria sido desonesto ao esconder a doença e, valendose de argumentos homofóbicos, ressaltam, no julgamento, as preferências sexuais e o comportamento de Beckett fora do ambiente de trabalho. Da ficção para a realidade, apresentamos como exemplo a demissão de um cozinheiro (infectado pelo HIV) de uma rede de hotéis da zona da Grande Lisboa, 7 meses após o médico do trabalho da empresa descobrir que ele estava com aids. A empresa alegou que o empregado estava inapto para o trabalho; assim, ele foi afastado da cozinha, não sendo solicitado a executar qualquer outra tarefa no hotel. Logicamente, os empregadores negaram que soubessem da condição de saúde do cozinheiro antes de demiti-lo, apesar de haver fortes indícios de que o médico do trabalho (da empresa) tenha conseguido informações sobre o estado de saúde dele com seu médico particular. Infelizmente, apesar de algumas conquistas alcançadas mundialmente, no âmbito do direito, em prol das pessoas com HIV/aids, e, mesmo dispondo de dois pareceres científicos que desmentem haver riscos de um cozinheiro transmitir o HIV em sua atividade laboral, o Tribunal da Relação de Lisboa considerou justificada e legítima a demissão, alegando que o funcionário representaria risco à Saúde Pública dos usuários do restaurante do hotel. Em nossa Constituição (BRASIL, 1988, grifo nosso), encontramos diferentes garantias aos direitos dos trabalhadores, com ou sem HIV/aids, Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] 7 Para entender o caso ler a reportagem “Tribunal da Relação deu razão a despedimento de cozinheiro com HIV” no jornal Público. Disponível em: <http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id= 1311099>. Acesso em 30 ago. 2008. SIDA NET 47 IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, g a r a n t i n d o - s e a o s b r a s i l e i r o s e a o s e s t r a n g e i r o s r e s i d e n t e s n o Pa í s a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; [...] Portanto, qualquer espécie de restrição ao trabalho de pessoas com HIV/aids (na escola ou em qualquer outro ambiente) fere nossa Constituição e consiste crime, não podendo ser permitida, além de dever ser denunciada, evitando, assim, que casos como o do cozinheiro português aconteçam neste País. 4. QUANDO A DIVULGAÇÃO DA CONDIÇÃO SOROLÓGICA PODE GARANTIR DIREITOS AOS ALUNOS Quando ocorreu o ingresso dos dois alunos a quem nos referimos neste artigo, na nova escola, a diretora já sabia do caso deles. Ao se ver diante do quadro de medo generalizado de muitos docentes, ela decidiu conversar com todos os funcionários da escola sobre a condição e a história de vida daqueles alunos, além de trazer profissionais da saúde para dirimir as dúvidas sobre transmissão da aids, prevenção, entre outras possíveis questões. O caso foi atípico, uma vez que muitos professores souberam do estado clínico dos dois alunos, o que forçou que a direção tentasse sanar o pânico entre os docentes, antes que ele se multiplicasse para toda a comunidade escolar, causando problemas de maior dimensão. A nosso ver a decisão da diretora foi acertada – apesar de contrariar a orientação do artigo primeiro, inciso IV, da Portaria 796, citada neste texto, que não recomenda a divulgação de diagnóstico do HIV/aids de qualquer pessoa da comunidade escolar entre seus membros –, pois entendemos que ela percebeu que poderiam ser impostas novas privações de direitos àquelas crianças. A diretora decidiu preparar o corpo docente daquela instituição para enfrentar o problema, tanto internamente, com o apaziguamento de medos infundados, quanto externamente, caso algum pai descobrisse a condição dos dois alunos com HIV/aids, haja vista que a nova escola ficava relativamente próxima à anterior. A Portaria Interministerial 796, em seu artigo primeiro, inciso III, esclarece que “Os indivíduos sorologicamente positivos, sejam alunos, professores ou funcionários, não estão obrigados a informar sobre sua condição à direção, a funcionários ou a qualquer outro membro da comunidade escolar” (BRASIL, 1992). Contudo, levandose em consideração o papel que a instituição escolar pode desempenhar na ajuda a crianças, adolescentes e jovens com HIV/aids, por ela ser “[...] a referência que permanece estável e preserva a rotina da criança, podendo servir como ponto de apoio ao longo do processo de instabilidade familiar [...]” (OLIVEIRA, 2000, p. 61), acreditamos que, em casos bastante específicos, revelar a condição sorológica positiva para o HIV de crianças, adolescentes e jovens pode ser aconselhável, se esse tipo de ação garantir-lhes alguma atenção especial no espaço escolar. SIDA NET 48 Nesses casos, acreditamos que a condição sorológica poderia ser revelada para algum profissional do ambiente escolar, com o qual haja uma relação de confiança, entre ele e o estudante. Esse profissional deve ser preparado para lidar com a situação, e sua interferência deve ocorrer quando o estudante necessitar de algum cuidado especial, como flexibilização de horários, administração de medicamentos, adaptação de atividades físicas (se houver alguma orientação médica nesse sentido), entre outros. Acreditamos que a divulgação da doença a qualquer profissional deve ocorrer somente mediante total aceitação e concordância do aluno de seus responsáveis; além disso, esse profissional precisa saber que ele não tem o direito de divulgar para outros a existência de alunos, pais/responsáveis ou mesmo professores com HIV/aids na escola. 5. CONCLUINDO, MAS NÃO TERMINANDO... Por mais que nossa orientação seja recorrente em trabalhos acadêmicos, não podemos deixar de apontar a necessidade de novos estudos sobre a temática discutida neste artigo: pesquisas que acompanhem, problematizem e ampliem os conhecimentos relacionados ao cotidiano escolar de alunos com HIV/aids; o que se justifica não somente pela escassez de estudos acerca do tema, mas, principalmente, pelo compromisso social que os pesquisadores devem assumir com esse público, com a melhoria de qualidade de vida dessa clientela, pelo empenho em expurgar do ambiente escolar, quiçá da sociedade, quaisquer mitos e preconceitos em relação àqueles com HIV/aids. Produzir conhecimento sobre o cotidiano das pessoas com HIV/aids e seus direitos é muito importante, mas não é suficiente. È preciso que se divulguem amplamente as garantias constantes em nossa Constituição aos trabalhadores, às crianças, aos jovens e adolescentes HIV positivos; que se façam conhecer as sanções determinadas pelo Código Civil brasileiro, aplicadas às pessoas que constranjam e/ou humilhem as pessoas com aids, e a Portaria Interministerial 796 de 29 de maio de 1992,8 bem como as pesquisas sobre a temática. Finalmente, temos de levar os resultados e teorizações que desenvolvemos ao professor “encarnado” – aquele que lida com todas as situações do cotidiano escolar e, talvez, com alunos, pais/responsáveis e outros colegas profissionais da educação com HIV/aids – para que ele possa (re)construir (reinventar) essas teorias de uma maneira autônoma e crítica, em sua prática pedagógica, e, acima de tudo, ser um agente contra o desconhecimento em relação à epidemia de aids e ao preconceito que as pessoas com o HIV ainda sofrem. 8 Com o objetivo de divulgá-los trazemos a Portaria Interministerial n. 796, de 29 de maio de 1992 e o Anexo da mesma nas seções Anexo A e Anexo B, no final deste texto. SIDA NET 49 6. REFERÊNCIAS ABIA. A Aids na escola: nem indiferença nem discriminação. Rio de Janeiro: ABIA, 1993. BARATA, Germana Fernandes. A primeira década da aids no Brasil: o Fantástico apresenta a doença ao público (1983-1992). 2006. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História Social, Faculdade de Filosofia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. BERER, Marge. Mulheres e HIV/AIDS. São Paulo: Brasiliense, 1997. BRASIL. Decreto-Lei nº.2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 20 jan. 2007. _____. Constituição (1988). Constituição [da] República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. _____. Portaria Interministerial n. 769, de 29 de maio de 1992. Ministério da Educação. Ministério da Saúde. In: ABIA. A Aids na escola: nem indiferença nem discriminação. Rio de Janeiro: ABIA, p. 12. 1993. FILADÉLFIA. Direção: Jonathan Demme. Produção: Jonathan Demme e Edward Saxon. Estados Unidos da América: Clinica Estetico, Columbia Pictures, 1993. 1 DVD (128 min). KROKOSCZ, Marcelo. Aids na escola: representações docentes sobre o cotidiano dos alunos e alunas soropositivos. 2005. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. LOUREIRO, Walk. HIV/AIDS no espaço escolar e a Educação Física: refletindo sobre essa temática. Trabalho de Conclusão de Curso. (Especialização em Educação Física Escolar). Faculdades Integradas de Jacarepaguá, Jacarepaguá, 2008. LOUREIRO, Walk; LOUREIRO, Kenia dos Santos Francelino. A aids na escola: o que pensam os professores de educação física da cidade de Guarapari-ES? In: ENCONTRO FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 11., 2007, Niterói. Anais... Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2007a. LOUREIRO, Walk; LOUREIRO, Kenia dos Santos Francelino. A aids/HIV na escola, as possíveis contribuições da educação física perante esse novo desafio. In: ENCONTRO FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 9., 2005, Niterói. Anais... Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2005. LOUREIRO, Walk; LOUREIRO, Kenia dos Santos Francelino. Educação Física e Aids na escola: são necessários cuidados especiais? Coleção Pesquisa em Educação Física, Jundiaí, v. 5, n. 1, p. 229-236, jun. 2007b. LOUREIRO, Walk; LOUREIRO, Kenia dos Santos Francelino. Reflexões a cerca do avanço da epidemia de aids/HIV na escola e as primeiras questões sobre a situação do professor de educação física. In: CONGRESSO GOIANO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 5.; CONGRESSO CENTRO OESTE DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 2., 2006, Goiânia. Anais... Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2006. 1 CD-ROM. OLIVEIRA, Cecília Casali. Trabalhando perdas na escola: luto, ausência e outras perdas. In: PINTO, Teresinha; TELLES, Izabel da Silva (Org.). Aids e escola: reflexões e propostas do EDUCAIDS. São Paulo: Cortez, 2000. p. 51-62. ROSSETI, Fernando. Risco de pegar aids na classe é igual ao de um meteoro cair na sua cabeça. Folha de São Paulo, 10 maio. 1992. In: ABIA. A Aids na escola: nem indiferença nem discriminação. Rio de Janeiro: ABIA, p. 28. 1993. TRIBUNAL DA RELAÇÃO deu razão a despedimento de cozinheiro com HIV. Jornal Público, 18 nov. 2007. Disponível em: <http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx? id=1311099>. Acesso em 30 ago. 2008. SIDA NET 50 ANEXO A - PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 796, DE 29 DE MAIO DE 1992 Veda práticas discriminatórias, na âmbito da educação, a pessoas portadoras de HIV. Portaria Interministerial n. 796, de 29 de maio de 1992 Os Ministros de Estado da Educação e da Saúde, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV da Constituição Federal, e considerando o dever de proteger a dignidade e os direitos humanos das pessoas infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV); Considerando que têm ocorrido injustificadas restrições a esses direitos no País; Considerando que não foi documentado nenhum caso de transmissão mediante contatos casuais entre pessoas em ambiente familiar, social, de trabalho, escolar ou qualquer outro; Considerando que a educação é direito constitucionalmente definido e que o ensino fundamental é obrigatório na forma do Título VIII, Capítulo III, Seção I da Constituição Federal; Considerando que a ampla informação sobre a infecção pelo HIV é estratégia para eliminar o preconceito contra portadores e doentes e essa medida é essencial para controle da infecção; Considerando que a limitação ou violação de direitos constitucionais à saúde, à educação e ao trabalho de pessoas infectadas pelo HIV não se justificam, resolvem: Art. 1.º Recomendar a observância das seguintes normas e procedimentos: I - A realização de teste sorológico compulsório, prévio à admissão ou matrícula de aluno, e a exigência de testes para manutenção da matrícula e de sua freqüência nas redes pública e privada de ensino de todos os níveis, são injustificadas e não devem ser exigidas. II - Da mesma forma não devem ser exigidos testes sorológicos prévios à contratação e manutenção do emprego de professores e funcionários, por parte de estabelecimentos de ensino. III - Os indivíduos sorologicamente positivos, sejam alunos, professores ou funcionários, não estão obrigados a informar sobre sua condição à direção, a funcionários ou a qualquer membro da comunidade escolar. IV - A divulgação de diagnóstico de infecção pelo HIV ou de AIDS de que tenha conhecimento qualquer pessoa da comunidade escolar, entre alunos, professores ou funcionários, não deve ser feita. V - Não deve ser permitida a existência de classes especiais ou de escolas específicas para infectados pelo HIV. Art. 2º Recomendar a implantação, onde não exista, e a manutenção e ampliação, onde já se executa, de projeto educativo, enfatizando os aspectos de transmissão e prevenção da infecção pelo HIV e AIDS, dirigido a professores, pais, alunos, funcionários e dirigentes das redes oficial e privada de ensino de todos os níveis, na SIDA NET 51 forma do anexo. § 1º - O projeto educativo de que trata o caput deste artigo deverá ser desenvolvido em todos os estabelecimentos de ensino do País, em todos os níveis, com participação e apoio dos serviços que compõem o Sistema Único de Saúde. § 2º - Os conteúdos programáticos do projeto educativo deverão estar em consonância com as diretrizes do Programa Nacional de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS do Ministério da Saúde. § 3º - Os resultados do projeto educativo serão avaliados pela Coordenação do Programa Nacional de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS e seus relatórios encaminhados periodicamente aos Ministros da Educação e da Saúde. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. JOSÉ GOLDEMBERG Ministro da Educação ADIB JATENE Ministro da Saúde ANEXO B – ANEXO À PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 796, DE 29 DE MAIO DE 1992 AIDS NAS ESCOLAS I. Introdução Há preocupação legítima por parte de pais, professores, funcionários e até das próprias crianças, em escolas de primeiro grau, quanto a eventuais riscos de transmissão do vírus da AIDS no ambiente escolar. Os mecanismos de transmissão, permitem, com grande margem de certeza, qualificar como desprezível o perigo no que se refere às crianças que ainda não iniciaram atividade sexual ou encontram-se em idades nas quais o uso de drogas pela via endovenosa é muito pouco freqüente: o vírus da AIDS (HIV) é transmitido através do sangue, do relacionamento sexual e de gestante infectada para seu filho. Não há nenhum caso rigorosamente documentado, no mundo, de propagação no convívio escolar, sem a interveniência do uso de drogas ou do contato sexual. A literatura médica é consensual no sentido de que a convivência com o indivíduo portador do vírus da AIDS, no âmbito familiar ou em lugares de trabalho, clubes, escolas e outras comunidades sociais, afigura-se plenamente admissível. Observações decorrentes do que vem sucedendo em alguns países, há pelo menos cinco anos, atestam a inocuidade desses tipos de convívio. Medidas habituais de higiene, inclusive nos sanitários de uso comum, devem ser respeitadas. Situações nas quais pessoas podem se expor a sangue de contaminados, tendo igualmente lesões de tegumento cutâneo, oferecem riscos potenciais; todavia, elas não são mais freqüentes nas escolas do que na vida civil de um modo geral, já que acidentes acontecem em todos os locais onde tem lugar atividade humana. SIDA NET 52 Outras infecções, além da provocada pelo HIV, podem ser transmitidas pelo sangue. A Hepatite, pelo vírus B, por exemplo, nunca mereceu destacada atenção e nem causou episódios de pânico e discriminação, o que mostra não ser racional nem uma coisa nem outra, quando está em foco a AIDS. Diante desses fatos, é judicioso que as escolas do primeiro grau preparem-se para implantação de precauções pertinentes ao sangue, envolvendo todos os alunos, sem nenhuma preocupação com informações advindas de exames sorológicos. Qualquer ocorrência precisa ser manuseada com cuidado, para que o sangue não entre em contato com quem presta atendimento e isso implica no uso de luvas descartáveis. O sangue deixado no lugar requer cobertura com álcool a 70%, por dez minutos, ou hipoclorito de sódio 1% (ver item IV superfícies não corpóreas), igualmente durante dez minutos, para inativar possíveis vírus presentes, só devendo ser removido depois da adoção desta providência. São essas, aliás, as normas seguidas por médicos e seus colaboradores em tarefas assistenciais, assim como por bombeiros, policiais e outros profissionais que não raramente podem ter contato com sangue, em virtude das exposições a que ficam sujeitos. Secreções e excreções (saliva, suor, lágrima, fezes e urina), excluídos o sangue, esperma e secreções vaginais, não geram risco palpável, inexistindo relatos de contaminação por intermédio delas. Precauções simples e rotineiras de higiene em relação às secreções ou excreções, nas escolas e em quaisquer outras situações de convivência, são suficientes para se eliminar qualquer risco, mesmo teórico, de contaminação. As precauções indicadas nesta instrução possuem da mesma forma o valor de prevenir outras moléstias potencialmente transmissíveis por sangue, além da infecção pelo HIV; não dependem de custosos investimentos ou de materiais complexos, estando ao alcance de qualquer escola. Os tópicos subseqüentes procuram responder questões gerais e específicas que surgem com freqüência no âmbito das escolas. II. Situações Gerais 1. É segura a convivência com pessoas infectadas pelo vírus da AIDS na comunidade escolar? Sim. O vírus da AIDS não é transmitido pelo contato casual cotidiano. O HIV (vírus da AIDS) é mais freqüentemente transmitido através de relações sexuais e pelo uso comum de agulhas e seringas infectadas. Estas atividades são obviamente proibidas nas escolas. 2. Segundo o Ministério da Saúde os indivíduos infectados não estão obrigados a informar sobre sua condição à direção. Caso isto ocorra, qual deve ser o procedimento da Direção da Escola? Por intermédio da pessoa ou da família, em se tratando de menor, contactar confidencialmente o médico assistente e/ou autoridade de saúde pública para verificar se é necessária a adoção de cuidados especiais para preservação da saúde do indivíduo em questão. III. Situações Específicas 1. Mordidas Após ter sido exaustivamente pesquisado, concluiu-se que mordeduras não constituem meio de transmissão do HIV. Embora o vírus da AIDS tenha sido isolado da saliva, isto ocorreu com muito pouca freqüência. Além do mais, há evidências de que a saliva pode bloquear a ação infectante do HIV. SIDA NET 53 No entanto, o risco teórico pode existir. Por risco teórico deve se entender “algo que nunca ocorreu e é improvável que venha ocorrer”. Portanto, a transmissão do HIV através de mordeduras não deve ser motivo de preocupação na comunidade escolar. Em relação ao mordedor “contumaz” recomenda-se a busca de orientação profissional adequada, por tratar-se de distúrbio de comportamento e não por significar risco de transmissão do HIV. 2. Limpeza após acidentes A perda de controle orgânico, em decorrência de acidentes, pode provocar vômitos e a liberação de fezes e urina. Embora o vírus da AIDS tenha sido isolado destas excreções, bem como de secreção nasal, o risco de transmissão por estas vias inexiste. Com relação a limpeza de sangue e outros fluídos corporais, ver uso de precauções universais (item IV - ferimentos). IV. Controle de Infecções 1. Como os fluídos corpóreos podem ser manipulados na comunidade escolar para prevenir a infecção pelo HIV? Como dito anteriormente não existe nenhuma evidência da transmissão do HIV através de vômitos, saliva, secreção nasal, fezes ou urina. Entretanto, estes fluídos podem transmitir outras infecções como Hepatite A. Por esta razão recomenda-se a adoção dos seguintes procedimentos: - O uso de luvas de latex ou papel toalha para limpeza da criança. - Lavar as mãos com água e sabão após o atendimento de cada criança. - Desinfetar superfícies ou áreas contaminadas. 2. Qual o risco da transmissão do HIV através da exposição ao sangue? O risco, embora pequeno, existe nas seguintes condições: a) Ferimentos com instrumentos pérfuro-cortantes contaminados. Para que isto ocorra é necessário que haja corte ou perfuração de outrem ou que haja contato imediato do instrumento com mucosa ou pele lesadas. Mesmo assim, a quantidade de sangue introduzido deverá ser grande para significar risco. b) Contato direto do sangue com mucosa ou pele lesadas. - Quais são as Precauções? Ferimentos: - Usar luvas de latex para manipulação de sangue em geral. - Lavar o local do ferimento com água e sabão. - Cobrir com curativo. - Encorajar a criança a tomar as primeiras iniciativas, como comprimir o local do ferimento com gaze ou papel toalha, enquanto aguarda atendimento. Superfícies não corpóreas: - Cobrir a superfície com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 1%(9) durante 10 minutos. - Limpar o local com pano embebido em desinfetante. 9 Hipoclorito de sódio de 1% é = 1 parte de água para 4 partes de água sanitária ou água de lavadeira (Q-Boa, cândida ou similares).; SIDA NET 54 V. Sorologia Não existe indicação médica para triagem sorológica de estudantes ou funcionários de escolas, nem para admissão, nem para manutenção de matrícula e/ou emprego. VI. Confidencialidade Em nenhuma hipótese os resultados de testes anti-HIV, eventualmente realizados, poderão ser divulgados. Aqui, como em qualquer outra situação relacionada a esta síndrome, a privacidade do indivíduo e da família deve ser sempre respeitada. A perda do sigilo, como já ocorreu, pode levar a preconceitos, com rejeição ou isolamento, acarretando sérios problemas para o indivíduo e sua família. Assim, qualquer informação sobre o estado clínico ou laboratorial deve ser estritamente confidencial. Em casos específicos de indivíduos com sintomatologia, caberá ao médico assistente ou autoridade sanitária, estabelecer as medidas de proteção ao indivíduo e à comunidade escolar. Em algumas situações, definidas pelos profissionais de saúde, poderá ser necessário que pessoas da escola saibam da condição do infectado. Por exemplo, em casos da necessidade de medicação específica, de ausências para tratamento e na eventualidade de algum surto de doenças infecto-contagiosas na escola (ex.: catapora, sarampo) que poderá exigir medidas de proteção à criança portadora do HIV. Existe risco para a comunidade escolar quando uma criança, quer seja positiva ou negativa para o vírus da AIDS, desenvolve doenças como tuberculose ou meningite. Nestes casos mas só nestes casos recomenda-se o afastamento temporário da escola. - Referências: - Global Programme on AIDS Consensus Statements from Consutation on AIDS and Sports - 16, January 1989 World Health Organization - Someone at School has AIDS National Association of State Boards of Education - Implementation of the Global Strategies for the Prevention and Control of AIDS World Health Organization February, 1992 - Normatividade sobre SIDA em América Latina y el Caribe Fuenzalida-Nuelma et. al. - Lei Federal n. 6.259(1) - 30.10.1975 - AIDS e o Trabalho Divisão Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS - 1987 - AIDS - Recomendações Técnicas e Éticas Divisão Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS – 1988 SIDA NET 55 SIDA NET 56 PESSOAS COM HIV/SIDA E MÉDICO COM DUPLA RESPONSABILIDADE(MDR) Maria do Céu Rueff - Universidade Lusíada de Lisboa - Portugal 1. Pessoas com HIV/Sida Com a possibilidade de utilização de uma terapêutica anti-retrovírica cada vez mais eficaz a situação das pessoas vivendo com HIV tornou-se essencialmente crónica. O período assintomático e tempo de vida com relativa qualidade aumentou consideravelmente, sendo possível ao portador do vírus viver em condições normais e em função do seu trabalho por um lapso de tempo inimaginável no início da epidemia. Dependendo, evidentemente, das circunstâncias concretas de cada caso. Devem ser enfatizados os aspectos absolutamente singulares desta epidemia que permitem separá-la de outras doenças conotadas normalmente com a expressão “infecto-contagiosas” de que o HIV e Sida justamente se diferencia. Isto essencialmente por dois motivos: por um lado, devido ao modo de transmissão do vírus; por outro, dadas as circunstâncias e tempo de manifestação do síndroma, que se tornou essencialmente crónico. Quanto ao primeiro aspecto, cumpre dizer que é possível ao portador do vírus ter uma atitude responsável, tomando medidas impeditivas da respectiva transmissibilidade, o que aparta esta situação de outras, como por exemplo, as doenças nosocomiais ou a tuberculose, transmissíveis por via aérea e de modo independente da atitude comportamental do seu portador, ou, pelo menos, de maneira muito menos controlável por este. Daudel e Montagnier (1995: 46, 104 e 105) afirmaram, sobre a transmissibilidade do HIV e responsabilização, muito concretamente o seguinte: “A sida é uma doença transmissível, mas não contagiosa. Felizmente, não se transmite ‘pelo ar’ ou através de um aperto de mão, como as constipações vulgares. O vírus da sida transmite-se pelo sangue e pelas secreções sexuais (esperma, secreções vaginais). (...) pode transmitir-se pela mãe contaminada ao feto ou ao recém-nascido. (...) Nestas circunstâncias, temos o dever de fazer apelo à responsabilização dos indivíduos. (...) Esta política de responsabilização dos indivíduos é essencial (...) O seropositivo tem de ser responsável pelo seu próprio comportamento.” Desta perspectiva, a medida preventiva por excelência de não transmissão da infecção por HIV passa, a um tempo, pela responsabilização do portador do vírus, mas, a outro – e não menos importante – , pela sua informação, integração e acolhimento no sistema de saúde. O que pressupõe cativar a confiança de eventuais pessoas SIDA NET 57 infectadas, bem como a necessidade de adesão voluntária à realização de testes para diagnóstico por HIV. Há que “apostar” fortemente numa “ética da responsabilidade” de todos, tanto dos portadores do vírus como das restantes pessoas da sociedade e no reconhecimento dos direitos e deveres humanos em jogo, assim como nos valores da dignidade, integridade e igualdade dentro do sistema de saúde. Quanto ao segundo aspecto que enunciámos e o qual respeita às circunstâncias e tempo de manifestação do síndroma, podemos dizer que o portador do vírus HIV pode encontrar-se durante um largo período de tempo sem que se registe qualquer sintoma, apesar de já poder ser seropositivo. Isto significa que pode haver transmissão do vírus sem que uma pessoa tenha sintomas, se já se encontrar infectada, podendo os anticorpos ser susceptíveis de detecção no sangue mediante testes ou ainda não, uma vez que medeiam alguns meses até que a resposta imunitária seja suficientemente forte para ser susceptível de detecção pelo teste antigénio de HIV . Jorge Torgal (1995: 401) descreve o seguinte quadro: “Os elementos epidemiológicos decorrentes de estudos prospectivos metodologicamente correctos permitem afirmar que medeiam, em média, 11 anos entre a infecção pelo VIH 1 e a situação de doença passível do diagnóstico de sida. Estima-se que este período se vem alongando, fruto de um melhor conhecimento da história natural da doença e em consequência das atitudes e terapêuticas preventivas actualmente disponíveis. Um número não negligenciável de indivíduos mantém uma condição de saúde que os permite serem socialmente activos com 15, 20 e mesmo mais anos de infecção.”1 Nestas circunstâncias, encontramo-nos perante seres humanos portadores de um vírus, é certo, mas ainda sem qualquer manifestação de doença, ou com manifestações tão ténues e toleráveis que lhes é possível ter uma vida quase normal. Não será justo tratar e equiparar estas pessoas a outras cuja doença se tenha manifestado de forma invasiva e sofrendo as limitações resultantes dos seus sintomas . À pergunta sobre a necessidade de identificação do síndroma por meio de testes ou exames obrigatórios foi respondido negativamente pelos especialistas em saúde pública. Sublinha-se, em alternativa e como via mais eficaz, a disponibilidade da realização de testes voluntários, concomitantemente com uma campanha largamente baseada na informação e educação, que encoraje à submissão a testes de diagnóstico de HIV e ao abandono de comportamentos de risco. (Ver a este respeito Rueff, 2007). A Resolução do Conselho e dos Ministros da Saúde dos Estados-Membros, de 22 de Dezembro de 1989 (in: Jornal Oficial no C 010 de 16/01/1990, pp.0003 a 0006) afirma que as análises de diagnóstico devem ser efectuadas numa base voluntária e confidencial, no âmbito dos sistemas de saúde pública, podendo ser criados dispositivos suplementares que dêem às pessoas a possibilidade de fazerem essas análises no anonimato e, se possível, gratuitamente. 1 No Manual de Formação sobre tratamentos para pessoas seropositivas, publicado em 2007 pelo G.A.T. – Grupo Português de Activistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA – Pedro Santos – (doravante Manual GAT 2007), lê-se sobre “infecção crónica”: “é o termo que define a infecção do VIH depois dos primeiros seis meses de infecção. A infecção crónica pode durar muitos anos. A maioria das pessoas não precisa de tratamento antes de 2 a 10 anos. Com o tratamento, a infecção crónica pode durar para o resto da vida: 20, 30, 40 anos ou mais.” (p. 34). SIDA NET 58 Tudo isto a coberto de consentimento informado tal como sublinhou o Procurador Geral António Bernardo Colaço (v. Revista do RSMMP, 1.º Trimestre, 2003, pp. 101 e seg) e utilizando as suas palavras “só assim havendo compatibilidade com o artigo 8.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem”. É crucial a criação de um ambiente de confiança que leve as pessoas a quererem saber se são portadoras do vírus HIV e este clima de confiança só é alcançável se houver garantia de confidencialidade médica e protecção de dados pessoais. Na verdade, apesar da grande vantagem em detectar precocemente a infecção por HIV, a qual se prende essencialmente com o aumento da qualidade de vida e tempo de vida dos seropositivos, as pessoas afastar-se-ão do sistema de saúde caso pressintam que vão ser discriminadas. Por isso é tão importante o respeito dos direitos humanos – à liberdade, à integridade pessoal, à privacidade, a constituir uma família, a procriar, entre outros – antes ainda da exigência do cumprimento de deveres, como acontece quando se é portador de uma doença ou de um vírus que pode ser transmitido comportamentalmente. Acerca da questão de saber se é justificado o internamento compulsivo de doentes com HIV/Sida, também não se deve responder afirmativamente, justamente por ser medida que vem a traduzir-se em modo de afastamento dos doentes do sistema de saúde, não levando eventuais portadores do vírus a rastrear-se (tal como defendemos, cfr Rueff, 2007). Os portadores do vírus de HIV contam diferentes etapas na história da sua doença. Esta começa com a infecção, passa pela seroconversão, depois a infecção primária e secundária, atingindo-se a doença avançada.2 Quando alguém sabe que é seropositivo e está em contacto com o sistema de saúde, pode utilizar a Terapêutica Anti-Retrovírica Altamente Eficaz (conhecida pela sigla em inglês HAART – Highly Active Anti-Retroviral Therapy), terapêutica esta de combinação de três ou mais medicamentos Anti-Retrovirais (ARVs) de ataque ao vírus. No entanto, a escolha dos trilhos a pisar na caminhada da infecção não é fácil nem desligada do acompanhamento por uma equipa técnica que tem a susceptibilidade de ajudar nas linhas de orientação para o tratamento, escolha do tratamento em função dos múltiplos efeitos secundários dos ARVs, nas infecções oportunistas e coinfecções. A vida das pessoas portadoras de HIV não se desenrola assim à margem do sistema de saúde ou, de modo mais restrito, à margem de uma relação médica ou dual entre o portador do vírus e o médico ou profissional de saúde. O portador de HIV vive com um pé no sistema de saúde e com o outro no seu mundo da vida. Sempre, sem que o respectivo estatuto serológico deva constituir notícia para a maior parte das pessoas com quem se cruza, como não o são em geral outras doenças de que possa ser portador. Este é um ponto crucial na estratégia que deve levar ao cativar das pessoas para o rastreio e, em caso de resultado positivo, ao melhoramento do seu estado de saúde, bem como à não transmissão do vírus, adoptando toda a panóplia de comportamentos protegidos, incluindo a terapêutica anti-retovírica que evita a transmissão vertical. É nesta encruzilhada que surge o Médico com Dupla Responsabilidade (MDR), médico caracterizado pela circunstância de ter, concomitantemente, uma relação 2 Acerca da Classificação da infecção pelo VIH (OMS) cfr Manual GAT 2007, pp. 139. SIDA NET 59 com o doente e outra com uma pessoa/instituição a quem ele próprio presta igualmente os seus serviços clínicos. Este MDR é também caracterizado pelo facto de ter um pé no sistema de saúde ou médico e outro nos vários sistemas que possa integrar em função das suas actividades profissionais, desde o sistema do Direito do Trabalho, ao sistema judicial, prisional, passando pelo das companhias de seguros e outros. Cabe-lhe fazer a ponte entre as pessoas vivendo com HIV e determinadas instituições ou sistemas com que estas se relacionam ou venham a relacionar. Vejamos. 2. Médico com Dupla Responsabilidade A relação médica estabelece-se normalmente entre médico e doente. Essa foi a situação paradigmática até terem emergido, já mais perto do nosso tempo, a medicina hospitalar, os esquemas de seguro de saúde – particulares ou estatais – , e mesmo os novos moldes de recrutamento e organização do trabalho. Tendeu a surgir também uma realidade nova, que Kennedy e Grubb (2000: 1072) denominaram “Doctors with dual responsabilities” e a British Medical Association celebrizou através da expressão “Doctors with dual obligations” (British Medical Association Ethics Department - BMAED, 2004: 565). Podemos tentar definir esta situação socorrendo-nos das palavras deste último organismo: normalmente na prática médica está-se preocupado com a relação directa entre médicos e pacientes e embora o impacto das decisões nos outros seja importante, há apenas duas partes principais na relação. Esta secção respeita a situações nas quais há uma terceira parte, que pode ser um segurador ou empregador – perante quem o médico tenha uma responsabilidade contratual – , ou um tribunal – face ao qual o médico actue como testemunha. As obrigações para com terceiras partes podem ser expressas ou implícitas, reais ou percebidas. O factor comum traduz-se no facto de a relação médicodoente ser insusceptível de reduzir-se ao modelo comum de comunhão ou partilha terapêutica, com implicações para ambas as partes, o médico e o doente (BMAED, 2004: 565). Nestas situações, os médicos, encontrando-se embora vinculados ao doente, permanecem igualmente ligados a um terceiro – seja a entidade patronal, a seguradora, o tribunal, o estabelecimento prisional, as forças armadas ou outro – , relativamente ao qual mantêm também um nexo profissional. E as implicações para ambas as partes – médico e doente – são óbvias. Na verdade, a relação que se estabelece com um terceiro relativamente à relação médico-doente pode vir a colocar o profissional de saúde numa situação de concurso e (ou) conflito de deveres, que se traduz no facto de, as mais das vezes, se encontrar num dos pratos da balança o tradicional dever de segredo médico para com o doente e, no outro, o dever de fidelidade ou verdade para com o empregador ou segurador, e tudo isto tendo em conta a mesma questão fundamental: a informação médica recebida numa relação dual a coberto de confidencialidade. SIDA NET 60 Este circunstancialismo ocorre cada vez mais nos nossos dias 3 e o General Medical Council (GMC) também o reflecte claramente num preceito do seu Guideline Confidentiality: Protecting and Providing Information (in: Jones & Morris, 2003), que elenca algumas situações em que tal pode ocorrer, nomeadamente, com médicos que trabalhem em empresas, seguradoras, forças armadas, serviço de prisões, etc4. O BMAED (2004: 566) sabiamente avisa que, nestas circunstâncias, os médicos muitas vezes sentem que a sua responsabilidade para com os doentes é vaga e não específica, enquanto os seus deveres para com o empregador ou entidade financiadora dos relatórios médicos são mais claramente definidos. Há ainda o risco de que os médicos venham a assimilar as normas e valores da parte terceira em vez de actuarem de acordo com os seus próprios padrões e valores profissionais. Por isso, o Guideline Confidentiality: Protecting and Providing Information do GMC (in: Jones & Morris, 2003: 450) disciplina expressa e claramente a questão nos artigos 34 e 355. Deles resulta que a revelação a terceiros de informação recebida na relação médico-doente só é possível em duas situações: quando haja consentimento 3 Uma das situações mais correntes e preocupantes prende-se com a prática das seguradoras. Sobre elas o BMAED (2004: 570) diz: “One of the most common situations in which doctors have a duty to another party is when they are completing medical reports about patients who want to buy theinsurance cover. Patients are under no obligation to accept either an examination orthe release of personal medical information, although financial constraints do put pressure on patients to agree to examination and disclosure. There is, however, little that doctors can do in such situations after impartially counselling the patient.” Acerca da situação específica do HIV, Hepatite B e C pode ler-se o seguinte em BMAED (2004: 573): “Insurance companies, should not ask whether an applicant has had an HIV or ahepatitis B or C test, received counselling in connection with such a test, or receiveda negative test result. Doctors should not reveal this information when writingreports and insurance companies do not expect it to be provided. Insurers may askonly whether someone has had a positive test result, or is receiving treatment for HIV/AIDS, or for hepatitis B or C. For high value policies or when there is a need to clarify the level of risk, insurersmay send applicants a supplementary questionnaire and/or request that they aretested for HIV, or for hepatitis B or C. A test must be administered only after theapplicant has:• been notified of the test procedure • given valid consent in writing • nominated a doctor or clinic to receive the results if the test is positive • received appropriate counselling before the test is undertaken.” 4 O artigo 33º do Guideline denominado Confidentiality: Protecting and Providing Information (in: Jones & Morris, 2003: 449) reza assim: “Disclosures where doctors have dual responsibilities 33. Situations arise where doctors have contractual obligations to third parties, such as companies or organisations, as well as obligations to patients. Such situations occur, for example,when doctors: a. Provide occupational health services or medical care for employees of a companyor organisation. b. Are employed by an organisation such as an insurance company. c. Work for an agency assessing claims for benefits. d. Provide medical care for patients and are subsequently asked to provide medicalreports or information for third parties about them. e. Work as police surgeons. f. Work in the armed forces. g. Work in the prison service.” 5 Que rezam assim: “34. If you are asked to write a report about and/or examine a patient, or to disclose information from existing records for a third party to whom you have contractual obligations, you must: a) Be satisfied that the patient has been told at the earliest opportunity about for thepurpose of the examination and/or disclosure, the extent of the information to bedisclosed and the fact that relevant information cannot be concealed or withheld.You might wish to show the form to the patient before you complete it to ensurethe patient understands the scope of the information requested. b) Obtain, or have seen, written consent to the disclosure from the patient or a person properly authorised to act on the patient’s behalf. You may, however, accept written assurances from an officer of a government department that the patient’s written consent has been given. c) Disclose only information relevant to the request for disclosure: accordingly, youshould not usually disclose the whole record. The full record may be relevant tosome benefits paid by government departments. d) Include only factual information you can substantiate, presented in an unbiasedmanner. e) The Access to Medical Reports Act 1988 entitles patients to see reports written about them before they are disclosed, in some circumstances. In all circumstancesyou should check whether patients wish to see their report, unless patients haveclearly and specifically stated that they do not wish to do so. 35. Disclosures without consent to employers, insurance companies, or any otherparty, can be justified only in exceptional circumstances, for example, when they are necessary to protect others from risk of death or serious harm.” SIDA NET 61 expresso do doente; quando, inexistindo este consentimento, em circunstâncias excepcionais, a revelação se mostre necessária para proteger outras pessoas do risco de morte ou de sério dano. Precisando melhor os preceitos, é de assinalar a preocupação expressa na alínea a) do artigo 34 do Guideline, a qual leva à necessidade de impor ao médico que delimite, com precisão, o âmbito do seu dever de segredo, devendo informar o doente, nomeadamente, do propósito do exame e (ou) revelação, a extensão da informação a ser revelada e o facto de alguma informação relevante poder não deixar de ser retida. Na esteira de Kennedy e Grubb (2000: 1073) tudo isto se prende, em último termo, com os requisitos em que assenta tradicionalmente a acção de quebra de confidencialidade no Reino Unido e que são, por um lado, a qualidade de confidencial da própria informação e, por outro, as circunstâncias exactas em que a mesma é confiada. Ora, se quisermos, tratase aqui de impor ao médico que explicitamente crie uma obrigação limitada aos termos então enunciados ao doente, com o que fica, não só circunstanciadamente delimitado também o âmbito da obrigação de segredo, como o da eventual revelação a efectuar. Não obstante ser em qualquer caso necessário o consentimento expresso para a revelação e esta dever ser reduzida apenas ao que for relevante. Entre nós, o Código Deontológico da Ordem dos Médicos – CDOM – trata da questão em capítulo autónomo, denominado Médico Perito, definindo os contornos deste e também da figura do MDR no artigo 97.º, desta maneira: “O Médico encarregado de funções de carácter pericial, tais como serviços biométricos, Juntas de Saúde, Médico de Companhias de Seguros e Médico do Trabalho, deve submeter-se aos preceitos deste Código, nomeadamente em matéria de segredo profissional, não podendo aceitar que ponham em causa esses preceitos.” Esta enunciação, claramente não exaustiva, apresenta como nota característica o facto de estarmos perante um médico que é encarregado de “funções de carácter pericial”, v.g. em Juntas de Saúde, Companhias de Seguros, na área da Medicina do Trabalho, mas que mantém a sua qualidade-base de profissional da medicina, ou seja, qualidade que se traduz na dupla titularidade de grau académico em Medicina e inscrição na OM, exercendo a profissão. Este preceito esclarece, justamente, que esse profissional deve manter-se fiel à sua qualificação de base, pela submissão aos preceitos do CDOM, “nomeadamente em matéria de segredo profissional, não podendo aceitar que ponham em causa esses preceitos” (sublinhado nosso da expressão da norma deontológica). Cremos ter encontrado aqui uma das pedras de toque da medicina ou, pelo menos, da medicina tal como é entendida pelo nosso ordenamento. Na verdade, mesmo quando o médico se encontra vinculado a um terceiro relativamente à relação médica – basicamente encabeçada por doente e médico –, ele deve manter o traço dominante do seu carácter de médico, sendo este carácter dado paradigmaticamente pela sua deontologia, e dentro desta, maximamente, pela matéria do segredo profissional. Os preceitos que se seguem a esta definição de médico perito ou, como preferimos chamar-lhe, “médico com dupla responsabilidade” (MDR) servem na essência para explicar como levar a cabo a preponderância daquela qualidade-base. É o que veremos de seguida. O artigo 98.º, sob a epígrafe de “Independência” é peremptório em afirmar que o MDR deve assumir uma atitude de total independência em face da entidade que o tiver mandatado e das pessoas que tiver de examinar, dispondo mesmo que ele se deve recusar a examinar SIDA NET 62 pessoas com quem tenha relações susceptíveis de influenciar a sua capacidade de julgamento. No preceito seguinte, indo ainda mais longe neste desiderato, sob o título de Incompatibilidades, o CDOM estatui que : “As funções de Médico assistente e Médico perito são incompatíveis, não devendo ser exercidas pela mesma pessoa, salvo disposição expressa da lei que imponha ou permita o seu exercício simultâneo.” É em função deste preceito que Cunha Rodrigues tece este simples mas elucidativo comentário: “A posição processual em que o médico assistente intervém sobre factos que conheceu através da observação e do acompanhamento do doente é de testemunha e não perito. É louvável a disposição do artigo 99.º do Código Deontológico quando estabelece que as funções de médico assistente e de perito não devem, em princípio, ser exercidas pela mesma pessoa” (Rodrigues, 1999: 486). É que a própria separação das funções, susceptíveis de ser exercidas pela mesma pessoa, ajuda a tornar esta mais isenta na sua actuação, ao mesmo tempo que consubstancia mais uma garantia de que não venham a ocorrer influências ou confusões de qualquer ordem na actuação do médico perito e médico assistente. Seja como for, no artigo 100.º, o CDOM centra-se especificamente na função pericial, afirmando, no n.º 1, que esta deve circunscrever-se ao que tiver sido confiado. No entanto, também aqui não é esquecida a qualidade-base do médico, mesmo quando actua com as vestes de médico perito ou MDR, e é por isso que o n.º 2 do preceito estatui que, se no decurso do exame for descoberto algo “útil à condução do tratamento que possa não ter sido tomado em consideração pelo Médico assistente”, deve o MDR comunicá-lo confidencialmente a este último. Isto prova claramente três realidades: primeiro – no caso do MDR permanece sempre a sua qualidade essencial de médico, que pode vir a traduzir-se numa colaboração também sua, pontual, com o médico assistente; segundo – mantém-se intocada a regra individual do segredo de cada médico em presença – o MDR e o médico assistente – o que leva à comunicação confidencial entre os dois; terceiro – tal como o médico expert do sistema francês, também o MDR se encontra submetido às regras do segredo médico, apesar de um certo equilíbrio que, apesar de tudo, é permitido a ambos. Porém, como afirma Demichel (2001: 63), no contexto do sistema jurídico francês e que é aqui igualmente válido, o problema é sempre o do estabelecimento da fronteira entre o que médico expert pode dizer e o que deve calar, mas tudo isso se traça no interior do próprio segredo médico. Prova desta última realidade é ainda o estatuído no artigo 102.º do CDOM, de acordo com o qual o médico perito só pode consultar o processo do examinando com prévio conhecimento deste e seu médico assistente, conhecedores da qualidade em que aquele intervém. O CDOM procura, de resto, assegurar o respeito total pela vontade do paciente, impondo ao MDR, no artigo 101.º, o dever de certificar-se de que a pessoa examinanda tem conhecimento, não só da sua qualidade, como da missão que lhe está confiada e mesmo da sua obrigação de comunicação à entidade mandante dos resultados da mesma. Algo muito semelhante estabelece a alínea a) do art. 34.º do Guideline do GMC Confidentiality: Protecting and Providing Information do Reino Unido que vimos. O MDR deve mesmo abster-se de levar a cabo o exame, caso o paciente se recuse formalmente a deixar-se examinar (art.103.º, n.º 1), não podendo utilizar métodos ou substâncias que tenham como efeito condicionar a livre determinação do examinando SIDA NET 63 (art.103.º, n.º 2). Ou seja, exige-se, sem dúvida, consentimento do doente e a sua livre determinação ao efectuá-lo. Por fim o n.º 3 do art. 103.º é muito expressivo e reza assim: “O relatório final deve ser redigido de modo prudente e sóbrio, não devendo incluir elementos alheios às questões postas pela entidade requerente.” Tanto a necessidade de consentimento como a necessidade da sobriedade e prudência na revelação limitada dos resultados são igualmente postas em evidência nas alíneas b) e c) do art. 34.º do Guideline do GMC sobre Confidentiality supra referido. Todo este clausulado do CDOM português permite concluir o seguinte sobre o MDR no sistema português: É médico que possui dupla responsabilidade, para com o doente e a entidade mandante, e que mantém a sua independência e liberdade de julgamento face às duas entidades; As qualidades de médico assistente e de MDR são incompatíveis, não devendo ser exercidas pela mesma pessoa; O MDR mantém-se vinculado, como qualquer outro médico, à deontologia médica e ao segredo médico na sua abrangência total; Pratica, na sua actuação, um acto médico, e se, no decurso dela, vem a conhecer algo essencial ao doente deve comunicá-lo confidencialmente ao médico assistente; Deve circunscrever a sua actuação estritamente ao que lhe foi confiado pela entidade mandante; Só pode consultar o processo clínico do examinado com conhecimento prévio deste e seu médico assistente; Nada disto impede o MDR de revelar os resultados do exame pericial para que, de resto, foi precisamente convocado, o qual tem de ser levado a cabo sempre com consentimento do doente. A comunicação dos resultados é feita exclusivamente à entidade mandante (entidade empregadora, Companhia de Seguros, Junta, Tribunal ou outro), não devendo incluir, no entanto, no relatório final, elementos alheios às questões postas pela entidade requerente e devendo redigir este de modo prudente e sóbrio.6 A comunicação dos resultados da missão pericial exclui qualquer comunicação a terceiros, entendendo-se como tais todas as pessoas ou entidades exteriores ao triângulo MDR, doente e entidade requerente (por ex. Imprensa, quando a entidade requerente é o Tribunal, ou Companhia Seguradora se a entidade requerente é a entidade empregadora e vice versa). 6 Comentando o artigo 26.º da CRP, pode ler-se em Miranda e Medeiros (anotação de Medeiros e Cortês, 2005: 291) o seguinte: “A relação laboral pode também levantar questões relativas à intimidadeda vida privada. O Tribunal Constitucional considerou que não era inconstitucional a previsão legal de exames médicos destinados à verificação da aptidão física e psíquica do trabalhador para o exercício da sua profissão, bemcomo a elaboração e registo informático de fichas clínicas e de aptidão (Acórdão n.º 368/02). Mas já seria inconstitucional o pedido de informações, por partedo próprio empregador, relativas à saúde ou estado de gravidez, ainda que‘particulares exigências inerentes à natureza da actividade profissional o justifiquem’. O tribunal considerou que, por essa via, se autorizava uma excessivaintromissão na esfera privada do trabalhador ou do candidato ao emprego, dado não ser esse o meio menos intrusivo para saber se o trabalhador está ou não aptopara o trabalho” (Acórdão n.º 306/03). SIDA NET 64 Após todos estes considerandos, não hesitamos em afirmar que nos encontramos em total desacordo com Oliveira Sá (1993: 16) quando este afirma que, nas perícias médico-legais requisitadas por entidades oficiais ou mesmo pelas Seguradoras, “faz pouco sentido falar de segredo médico”. Este autor vem, aliás, a contradizer-se e, nessa contradição, acaba mesmo por ajudar a esclarecer o sentido do segredo médico em conjugação com o segredo de justiça, considerando a seguinte passagem: “Isto não significa que o perito médico esteja dispensado de respeitar o segredo médico relativamente a factos exteriores e alheios aos objectivospróprios da peritagem, ou seja, aqueles factos irrelevantes na discussão evalorização médico-legal dos danos corporais em causa. Mas a necessária liberdade de movimentos do perito médico face aosegredo profissional não significa que ele possa divulgar o conteúdo dorelatório enviado às entidades requisitantes. Estas partilham do segredomédico que passa, aliás, a funcionar na órbita do segredo de Justiça. E oprincípio do segredo de Justiça deve prevalecer mesmo quando a perícia tenha sido requisitada por entidade seguradora. A divulgação do relatóriomédico-legal é ilegítima quando extravasa do circuito normal da suautilização. Nem o perito que elaborou o relatório nem a entidade que orecebeu estão dispensados do dever de discrição (do segredo de informação) que lhe impede de publicitar o conteúdo do relatório ou mesmo(e só) as suas conclusões. Para além do circuito normal e restrito percorridopor um relatório médico-legal, a sua divulgação (do seu conteúdo) só éadmissível em trabalhos científicos desde que se tomem as cautelasnecessárias para evitar a identificação (a referenciação) do examinado” (Sá, 1993: 17). O MDR, mesmo quando chamado pela máquina judicial a dar apoio técnico ao Juiz, e tendo por missão revelar certos conhecimentos médicos a este, tem a sua função de tal modo delimitada e circunscrita que pode dizer-se que se encontra efectivamente sujeito a sigilo, traçando-se a fronteira do que pode ou não dizer no interior, ou do próprio segredo médico, ou do segredo médico intrincado com o segredo de justiça, o que vem a ter o mesmo resultado: a salvaguarda da integridade da relação médico-doente no seu cariz deontológico de sigilo. Que o traçar da fronteira entre o que é permitido ou não dizer se estabelece dentro do próprio segredo médico é algo que ficou muito claro no Acórdão do Tribunal Constitucional N.º 368/02 7, no qual o Tribunal declarou não serem inconstitucionais as normas dos artigos 16.º a 19.º do Decreto Lei n.º 26/94, de 1 de Fevereiro, alterado pelo Decreto Lei n.º 109/2000, de 30 de Junho, que estabelece o Regime de Organização e Funcionamento das Actividades de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, na redacção dada pela Lei n.º 7/95, de 29 de Março (não conhecendo embora da constitucionalidade das normas ínsitas nos artigos 16.º, n.ºs 2, alínea a) e 6 e 17.º n.º 2 do Decreto Lei n.º 26/94, de 1 de Fevereiro, na redacção dada pela Lei n.º 7/95, de 29 de Março).8 7 Identificando-o com exactidão: Acórdão n.º 368/2002, de 25 de Setembro – Processo N.º 577/98, que se encontra publicado no Diário da República, IIª Série, de 25 de Outubro de 2002. Encontra-se disponível na Internet: www.tribunalconstitucional.pt . 8 Resumindo a “filosofia” do Acórdão, que é longo e tocando múltiplos aspectos, escreve assim Colaço (2003: 2): “O Acórdão entendeu por bem não conhecer da constitucionalidade nem julgar inconstitucionais onúcleo das normas em apreço. Respeitante ao direito à reserva da intimidade da vida privada, aodireito à liberdade e à integridade física e psíquica (com referência a exames médicos) e ao direito àprotecção da saúde, o Acórdão veio a reconhecer que, na sua generalidade, os direitos em causa nãosão absolutos em todas as SIDA NET 65 O Tribunal Constitucional analisou a questão da criação de um banco de dados sobre o estado de saúde dos trabalhadores no seio da empresa empregadora, bem como a falta de garantias sobre a recolha, o tratamento e acesso aos dados em causa, baseando a sua argumentação em três aspectos diferenciados: a) o das fichas onde se encontram os dados; b) o do segredo médico e respectivo tratamento pelo CDOM; c) o da protecção conferida pela Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro (LPDP), que transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Directiva n.º 94/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção dos dados pessoais e à livre circulação desses dados. Sobre o descrito em a) o Tribunal estabelece uma distinção entre ficha clínica e ficha de aptidão, baseada nos termos do preceituado nos artigos 20.º e 21.º do Decreto Lei n.º 26/94, tal como republicado em anexo ao Decreto Lei n.º 109/2000, de 30 de Junho, que também a efectua, opinando da seguinte maneira quanto à ficha clínica: “Na ficha clínica são anotadas ‘as observações clínicas relativas aos exames médicos’ (artigo 20.º, n.º 1), sendo certo que esta ficha ‘encontra-se sujeita ao regime do segredo profissional, só podendo ser facultada às autoridades de saúde e aos médicos da Inspecção Geral do Trabalho’ (artigo 20.º, n.º 2), o que significa que a ela, no seio da empresa, só tem acesso o médico dotrabalho, a quem cabe ‘a responsabilidade técnica da vigilância da saúde’ (artigo 25.º n.º 1) e que ‘exerce as suas funções com independência técnica e em estrita obediência aos princípios da deontologia profissional’ (artigo 25.º n.º 5).” Sobre a ficha de aptidão esclarece o Tribunal: “A ficha de aptidão, igualmente preenchida pelo médico do trabalho, que deve ‘remeter uma cópia ao responsável dos recursos humanos da empresa’ (n.º 1), já ‘não pode conter elementos que envolvam segredo profissional’ (n.º 3). Que isto é assim revela-o até o próprio modelo de ficha de aptidão, aprovado pela Portaria n.º 1031/ 8 circunstâncias e relativamente a todos os domínios. Assim, por ex: quanto àrealização de testes e exames médicos embora condicionados à aceitação pelo trabalhadorreconhece-se a imprescindibilidade da sua realização como um ‘ónus’ para a obtenção de emprego enoutros casos como um verdadeiro ‘dever jurídico’ de que pode depender a própria manutenção darelação laboral. A obrigação de sujeição a testes não pode porém ser abusiva nem discricionária . Oexame está condicionado aos princípios de adequação e proporcionalidade, confinado exclusivamenteao fim a que se destina. Neste entendimento, não se pode falar de devassa da reserva da vida privada.Quanto ao direito à intimidade da vida privada , este tem de ser harmonizado com outros direitos ouinteresses legítimos constitucionalmente reconhecidos (ex: protecção da saúde pública ou a realizaçãoda justiça). Daí a razão da sua limitação, pese embora assente em critério de razoabilidade , de modoque não constitua perigo ou risco para terceiros. Quanto ao médico de trabalho, este não pode afastar-se do objectivo legal, não podendo ultrapassar o âmbito para que o exame é requerido – apenas e tão-só a constatação da aptidão física e psíquica. Este médico não pode sujeitar-se a interferências externas. Assim, dado o sigilo profissional a que estásujeito, só ele tem acesso à ficha clínica, pelo que é muito forçado falar-se nesta sede de um banco dedados ao dispor do empregador. No tocante à confidencialidade de dados clínicos, é a própria lei, aliás, a impor, como se disse, a sujeição ao segredo profissional, sendo que as fichas não podem conter elementos sujeitos a este segredo. O artigo 195.º do Código Penal pune a violação do segredo profissional médico. Quanto ao perigo de o médico fazer uma apreciação arbitrária tratando-se da aptidão do candidato aotrabalho ou do trabalhador, a verdade é que a jurisprudência é muito exigente quanto ao requisito deabsolutidade. Assim, uma simples diminuição na produção laboral do trabalhador em dado sectorquando ainda lhe possam ser distribuídas outras tarefas, não conduz à caducidade (do contrato detrabalho). Ao Estado cabe a obrigação de legislar com vista à protecção do estado sanitário geral da comunidadee, neste quadrante, exigir do cidadão, impondo determinados comportamentos (ou abstenções) quandodoente. Assim se legitima que se realizem exames pela necessidade de se verificar que a prestaçãode trabalho decorra sem risco para o trabalhador. Ainda neste enquadramento é de mencionar o Parecer do Conselho Consultivo da PGR onde se defende que a Lei Portuguesa actual não exclui a emissão, relativamente a indivíduos portadores de VIH, do atestado de robustez física e de perfil psíquico previsto no artigo 22.º do Decreto-Lei N.º498/1988, de 30 de Dezembro.” SIDA NET 66 2002, de 10 de Agosto, onde se vê que a única informaçãorelativa ao resultado do exame se traduz na inscrição de um sinal nas quadrículas que correspondem aos itens ‘Apto’, ‘Apto condicionalmente’, ‘Inapto temporariamente’ e ‘Inapto definitivamente’. Acerca do descrito em b), chama-se à colação o art. 195.º do C. Penal, que pune a violação de segredo profissional e, após ser referido que o CDOM é particularmente elucidativo em matéria de segredo médico e de se opinar que à parte da questão de saber qual o seu valor jurídico este não “pode deixar de servir, pelo menos, para iluminar interpretativamente as normas legais e regulamentares que adoptam conceitos por ele abrangidos”, o Tribunal vem a afirmar o seguinte: “Ora, o referido Código Deontológico dispõe no seu artigo 4.º que o médico é ‘técnica e deontologicamente independente e responsável pelos seus actos, não podendo ser subordinado à orientação técnica e deontológica de estranhos à profissão médica no exercício de funções clínicas’e acrescenta, no seu artigo 28.º, que o médico não pode aceitar ‘situações de interferência externa que lhe cerceiem a liberdade de fazer juízos clínicos e éticos’. O segredo profissional encontra-sedetalhadamente regulado nos artigos 67.º a 80.º, explicitando o artigo 68.º que ele compreendeespecialmente, quer os factos revelados directamente pelo doente ou por terceiro, quer os factosapercebidos pelo médico, quer os factos comunicados por outro médico; e o artigo 77.º esclarece queo médico deve conservar as fichas clínicas ‘ao abrigo de, qualquer indiscrição, de acordo com as normas do segredo profissional’. Finalmente, assinalese que se encontra expressamentedeterminado que o médico do trabalho se deve submeter aos preceitos do Código Deontológico,‘nomeadamente em matéria de, segredo profissional’ (artigo 97.º) e que ‘deve assumir uma atitude de total independência em face da entidade, que o tiver mandatado’. Em consequência de tudo isto, o Tribunal Constitucional extrai a seguinte ilação: “Nesta conformidade, pode-se concluir que, à imagem do que acontece noutros ordenamentos jurídicos, o médico do trabalho não pode transmitir ao empregador, sob pena de violação do segredoprofissional, qualquer indicação que traduza um diagnóstico sobre o estado de saúde (...) Consequentemente, não é possível entender que o diploma em apreço permite que se crie um banco de dados sobre o estado de saúde dos trabalhadores no âmbito da própria empresa empregadora (...).” 9 Esta afirmação é de utilidade máxima para o nosso entendimento acerca do perfil do MDR e que é um perfil que se recorta essencialmente pela sujeição do MDR à sua qualidade-base de médico inscrito numa Ordem profissional, sujeito a uma deontologia na qual avulta, por sua vez, como traço característico o segredo médico, apesar do laço laboral que o prende a outra entidade. Esta última entidade mantém-se estranha à relação primária médico doente, sendo como tal insusceptível de acesso à verdade do / trabalhador/segurado/outro. O acesso a informações sobre o trabalhador/segurado/outro há-de efectuar-se sempre através da mediação do médico de trabalho/seguradora/perito com a cooperação, por vezes, do médico assistente do trabalhador/segurado/outro, o que comprova ainda a nossa afirmação de que o delinear da fronteira entre o que pode ou não dizer-se sobre este último se estabelece sempre no interior do próprio segredo médico. 9 Sobre o que é descrito em texto na alínea c) e respeita à LPDP entretanto publicada, o Tribunal Constitucional chama à colação a disciplina dos artigos 7.º, n.ºs 1 e 2, 14.º, n.º1, 15.º, 17.º e 27.º, concluindo, em conformidade, que “não oferece dúvidas que existe a obrigação de garantir a segurança e confidencialidade do tratamento dos dados atinentes ao estado de saúde dos trabalhadores, pelo que se não verifica a alegada violação do artigo 35.º n.ºs 1 a 7 da Constituição.” SIDA NET 67 Com o Código do Trabalho – Cod. Trabalho – (Lei nº 99/2003, de 27 de Agosto) e Regulamentação do Código de Trabalho – Reg. Cod. Trabalho – (Lei nº 35/2004, de 29 de Julho) toda esta doutrina foi confirmada, encontrando-se ínsita entre os artigos 244º a 250º deste último diploma. De facto, a responsabilidade técnica da vigilância da saúde cabe ao médico de trabalho, existindo exames de admissão, periódicos e ocasionais e devendo instituir-se uma cooperação com o médico assistente (arts 244º e 245º). Existem dois tipos de fichas – ficha clínica e ficha de aptidão – , sendo certo que as observações clínicas relativas aos exames de saúde são anotadas na primeira, que se encontra sujeita ao segredo profissional, só podendo ser facultada às autoridades de saúde e aos médicos da Inspecção-Geral do Trabalho (art. 247º). Quanto aos resultados do exame de admissão, periódicos ou ocasionais, o médico do trabalho deve preencher uma ficha de aptidão e remeter uma cópia ao responsável dos recursos humanos da empresa. Se o resultado revelar a inaptidão do trabalhador, o médico do trabalho deve indicar, sendo esse o caso, outras funções que aquele possa desempenhar. Esta ficha de aptidão não pode conter elementos que envolvam segredo profissional (art. 248º, nºs 1 a 3). O modelo da ficha de aptidão é aliás fixado por Portaria do ministro responsável pela área laboral (nº 5 do art 248º). Vigora neste momento a Portaria nº 299/ 2007, de 16 de Março, do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, que no espaço relativo aos resultados contém as expressões Apto, Apto Condicionalmente, Inapto Temporariamente e Inapto Definitivamente, a que se segue rubrica denominada Outras funções que pode desempenhar. A existência de fichas diferenciadas, por um lado, e a limitação da sua acessibilidade relativamente a todo e qualquer tipo de terceiros, por outro, servem ainda o desiderato de garantia do sigilo e são talvez o modo eficaz de não discriminação do trabalhador no âmbito empresarial, bem como de não exclusão de acesso ao emprego de certas pessoas, entre as quais precisamente as que possuem seropositividade assintomática ou VIH.10 De qualquer modo, como no caso de haver recusa de posto de trabalho ou despedimento por motivo de doença, maxime por se estar infectado por VIH, é difícil ao trabalhador argumentar no campo processual e do direito probatório,11 concordamos 10 Na verdade, como diz o Procurador-Geral Colaço (2003): “A tónica começa por incidir predominantemente no estatuto do médico da empresa e seu ‘behaviour’ deontológico. É afinal o médico quem preconiza os exames e testes, anotando o seu resultado em fichas. Sendo titular do direito e destinatário do dever de sigilo profissional, só ele pode garantir aconfidencialidade dos dados obtidos. O sigilo médico sobreleva à subordinação ou ao dever de informaro empregador nesta específica questão. Está apurado cientificamente que a seropositividade assintomática não afecta as condições de saúde nem a capacidade do dador de trabalho, como insignificante é o risco de transmissão de vírus. É por isso de ter por despropositada e desproporcional a verificação médica para efeitos laborais. Neste contexto, as fichas da empresa não poderão conter neste âmbito anotações para além da anotação ‘Apto/Não Apto’.” Sobre ficha clínica, ficha de aptidão e segredo médico cfr Quintas (2006: 142-150). 11 Colaço (2003: 4) admite a possibilidade de realização de testes de despistagem, desta maneira: “A autorização escrita do trabalhador, depois de ser cabalmente informado pelo médico da empresapara a conveniência da sua realização e da garantia de que em caso positivo tal não constitui motivo deexclusão ou do termo de contrato, salvaguarda a realização do teste de despistagem. O alcance não absoluto do direito à privacidade não deverá sobrepor-se ao direito à saúde docidadão/trabalhador; daí que o direito de um portador de VIH ao trabalho terá que ser conciliado com odever de não colocar em risco, com o seu comportamento, a saúde de outros trabalhadores daempresa, o que ocorreria sempre que se tratasse de ocupações ou lugares onde o trabalhador podeser veículo de transmissão ou ser destinatário dessa transmissão. É o caso por exemplo da profissãomédica ou paramédica ou congénere.” Em nota o autor esclarece ainda que “Numa circunstância dessas a existência de um teste de despistagem constitui um ónus da actividade que se pretende exercer, e tem por limite a exigência de tutela à saúde entendida como interesse da colectividade e de terceiros” (Colaço, 2003: 6, nota 22). SIDA NET 68 ainda com este autor quando ele propõe a consagração de uma “ presunção de discriminação”12 nestes termos: “Para se efectuar e dar realização prática ao princípio da justiça, seria de se consagrar a presunção de discriminação, recaindo sobre a entidade empregadora a prova dos factos impeditivos, modificativos ou extintivos, de modo a desfazer essa presunção, com suporte nos normativos do artigo 342.º e do artigo 344.º, ambos do Código Civil.” 13 O artigo 16.º do Cod. Trabalho refere especificamente o direito à reserva da intimidade da vida privada, concretizando no seu n.º 2: “O direito à reserva da intimidade da vida privada abrange quer o acesso, quer a divulgação de aspectos atinentes à esfera íntima e pessoal das partes, nomeadamente relacionadas com a vida familiar, afectiva e sexual, com o estado de saúde e com as convicções políticas e religiosas.” José João Abrantes (2004: 160) comenta, a propósito, que a reserva da intimidade da vida privada deve ser a regra e não a excepção, por imposição constitucional, apenas se justificando limitações quando interesses superiores o exijam, nos termos do n.º 2 do art. 18.º da CRP e 335.º do Código Civil. O autor afirma mesmo: “De acordo com o princípio, fundado neste direito, da separação entre esfera privada e a relação de trabalho, o trabalhador pode, em regra, dispor livremente da sua vida extraprofissional , sendo vedado ao empregador investigar e/ou fazer relevar factos dessa esfera privada do trabalhador, a não ser que haja uma ligação directa com as 12 Também J. Loureiro (2005: 35-36) se refere à necessidade de uma presunção de discriminação quando exista recusa de arrendamento nas relações interprivadas. A este propósito o autor afirma: “Em princípio, estamos num plano paritário em que se reconhece uma esfera de livre conformação pelas partes. A liberdade contratual é, não apenas uma liberdade quanto ao conteúdo do contrato,mas, desde logo, a liberdade de contratar ou nãocontratar. Simplesmente, há um limite último queé a ideia fundante de dignidade da pessoa humana.Será que este tipo de discriminação se pode considerarcomo uma violação evidente deste princípio? Afigura-se-nos que a resposta não pode deixarde ser afirmativa, mas a questão da efectividade dodireito permanece. Na verdade, normalmente essemotivo não é invocado, à semelhança do que acontece com a não contratação de mulheres por certasempresas: é um critério que não é expresso. Visandoatenuar estas dificuldades, no sistema norte-americano, estabeleceu-se que não caberia a quem invoquea discriminação a prova de que há essa intenção, bastando apenas que o efeito o seja. Assim sendo, a jurisprudência tem utilizado a regra ‘prima facie case’ que se traduz, na esfera da habitação, noseguinte: caso se tenha recusado vender ou arrendara um seropositivo uma residência e esta ainda estejadisponível, assistimos a uma inversão do ónus daprova, cabendo ao senhorio demonstrar que a suaatitude não tinha intenção discriminatória. EmFrança, foi-se mais longe e através de uma lei relativaàs discriminações em razão do estado de saúde (Em nota: Lei n.º 90-602, de 12 de Julho de1990 e artigo 225.º/1 do Código penal francês)estabeleceu-se que a recusa de arrendamento a umapessoa infectada poderia ser sancionada penalmente.” 13 Finalizando, Colaço (2003: 4) escreve ainda o seguinte: “Registe-se que a problemáticade que vimos tratando ultrapassa o mero campo de cultura. Esta ajuda-nos a compreender e aentender as coisas da vida, mas nem sempre tem a virtualidade de tirar-nos do nosso comodismo e dos ‘vested interests’ que a sociedade nos proporciona. É preciso algo mais – o impulso exógeno de umaprevisão normativa a determinar a nossa vontade do ‘ter que agir’. A experiência garante-nos que cedoou tarde esta realidade conhecerá expressão legal com as inerentes consequências que se impõemenquadradas na solução que aqui se propõe. Enquanto tal não suceder, ao portador do VIH serárejeitado o direito à cidadania integral, rejeição que nenhuma razão de ordem psicossomática ou deética social justifica. Neste entendimento das coisas, toda a discriminação activa ou por omissão constitui abuso de poderprevisto no artigo 334.º do Código Civil, como tal passível de responsabilização. Aos Órgãos do Estadoe ao Legislativo, que estão cientes da sua natureza efémera, cabe, por isso, a tarefa de daratempadamente forma normativa e estruturada à definição de direitos e dos limites em queproblemática do infectado de VIH no sector laboral se há-de exprimir, sob pena de também virem a serresponsabilizados e criticados no concerto das Nações, no caso de conduta omissiva. E a verdadeé que até hoje no Portugal Democrático se mantém inalterado este estado de desatenção legislativa,fazendo com que nesta questão se não passe de mera boa intencionalidade, deixando campo livre parao preconceito, a discriminação e a desumanidade.” SIDA NET 69 suas funções. Ao empregador é proibido levar em contaesses factos, ainda que deles tenha tido conhecimento de formacasual, porque a proibição tem também a ver com uma evidentepreocupação de garantir a não discriminação” (Abrantes, 2004: 160161). Abrantes (2004: 165) conclui que os artigos 15.º a 21.º do Cod. Trabalho não podem pôr em questão os princípios constitucionais da necessidade, adequação e proibição do excesso.14 14 Acrescentando em nota o seguinte, que pela sua relevância se transcreve totalmente: “O empregador só deverá, pois, poder solicitar os dados sobre a vida privada que ‘sejam estritamente necessários e relevantes’ para avaliar a aptidão no querespeita à execução do contrato: assim, por exemplo, alguém que se candidate atesoureiro pode ser inquirido sobre eventuais delitos relacionados com dinheiro,sendo igualmente lícito averiguar se um motorista costuma ou não infringir as regrasde trânsito. Seguindo, aliás, jurisprudência de tribunais superiores, dir-se-á igualmente quesó determinados interesses dignos de protecção social (v. g., a segurança rodoviária,a prevenção de acidentes de trabalho ou de situações de risco para terceiros, comoé o caso de um potencial contágio para os restantes trabalhadores) poderão justificar a realização de testes de alcoolémia ou de exames para detecção de drogas. Quanto aos artigos 20.º e 21.º do código, poder-se-á exemplificar a sua aplicação tendo como ilícita a utilização de equipamentos tecnológicos destinados acontrolar a utilização pelos trabalhadores das casas de banho e, ao contrário, nãoconsiderar ilegal a instalação de câmaras de vídeo em estabelecimentos de vendaao público ou em dependências bancárias ou, no decurso de uma viagem de avião,a escuta e registo das comunicações estabelecidas entre um piloto e os controladores aéreos. Ainda a propósito, não se deixará sem uma referência que, por força da censura feita pelo Tribunal Constitucional. no acórdão n.º 306/2003, de 25-6, à norma que admitia o acesso directo do empregador a informações sobre a saúde do trabalhador ou o estado de gravidez da trabalhadora, o n.º 3 do artigo 17.º veio estatuir(numa solução similar à do n.º 3 do artigo 19.º) que essas informações serão prestadas a médico, que só poderá comunicar ao empregador se o trabalhador está ou nãoapto para o desempenho da sua actividade. Acrescente-se, porém, que, em nossoentender, a possibilidade de o empregador aceder a tais informações, mediante autorização escrita do trabalhador, é criticável, por desrespeito dos limites dos n.º 2 doartigo 18.º da CRP. Não se vislumbra, com efeito, que razões objectivas poderáhaver para que o empregador pretenda conhecer mais sobre a esfera íntima do trabalhador, para além da única coisa que verdadeiramente para ele pode ter relevância no âmbito da relação laboral, que é se o trabalhador está ou não apto.” (Abrantes, 2004: 165, nota 52). Sobre os direitos fundamentais e de personalidade no contrato de trabalho e no novo Código de Trabalho ver Abrantes (2005: 142-203; 251-265). Sobre o novo Código do Trabalho e conteúdo do Direito do Trabalho cfr. Fernandes (2006: 45-63). SIDA NET 70 Referências AAVV (2007) Manual de Formação sobre tratamentos para pessoas seropositivas, s.l., Apoio à produção: GlaxoSmithKline, Edição: G.A.T. – Grupo Português de Activistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA – Pedro Santos. Abrantes, José João (2004) Estudos sobre o Código do Trabalho, Coimbra, Coimbra Editora. Abrantes, José João (2005) Contrato de Trabalho e Direitos Fundamentais, Coimbra, Coimbra Editora. British Medical Association Ethics Department (BMAED) (2004) Medical Ethics Today - The BMA’s handbook of ethics and law, 2ªed., London, BMJ Publishing Group. Colaço, António Bernardo (2003) “O infectado de VIH: a aguardar cidadania plena em sede laboral”, in: Revista do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (RSMMP), Nº 93 - 1º Trimestre. Daudel, R. / Montagnier, L. (1995) A SIDA, Lisboa, Instituto Piaget. Demichel, André (2001) Le Secret Médical, Bordeaux Centre, Les Études Hospitalières. Fernandes, António Monteiro (2006) Direito do Trabalho, 13.ª edição, Coimbra, Edições Almedina, SA. Jones, Michael. A. & Morris, Anne E. (ed) (2003) Blackstone‘s Statutes on Medical Law, Oxford, New York, etc, Oxford University Press. Kennedy, Ian / Grubb, Andrew (2000) Medical law, London, etc., Butterworths. Loureiro, João Carlos Simões Gonçalves (2005) “Sida e Discriminação Social - Escola, Habitação, Imigração, Rastreio Obrigatório, Isolamento Clínico, Tratamento Forçado”, in: Lex Medicinae - Revista Portuguesa de Direito da Saúde, Ano 2 - nº 3 - 2005, pp 9-54. Miranda, Jorge e Medeiros, Rui (2005) Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, Coimbra, Coimbra Editora. Quintas, Paula (2006) Manual de Direito da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Coimbra, Almedina. Rodrigues, Cunha (1999) Lugares do Direito, Coimbra, Coimbra Editora. Rueff, Maria do Céu (2007) “Direitos Humanos, acesso à saúde e VIH/Sida”, in: Arquivos de Medicina, v. 21 n. 2 (Mar. 2007), pp. 59-65. Sá, Fernado Manuel Oliveira (1993) “Segredo Médico – Peritagem Médico-Legal”, in: Revista Portuguesa do Dano Corporal, Novembro 1993 - Ano II - Nº 3, pp 9-25. Torgal, Jorge (1995) “O Direito ao Trabalho e a Não Discriminação dos Infectados pelo Vírus da Imunodeficiencia Humana, VIH/SIDA – O Atestado de Robustez”, in: Acta Medica Portuguesa, 1995, 8: pp. 401-404. SIDA NET 71 SIDA NET 72 PROSTITUIÇÃO, LENOCÍNIO, HIV A REGULAMENTAÇÃO DA ACTIVIDADE DE TRABALHADOR@S DO SEXO Teresa Pizarro Beleza - Helena Pereira de Melo - Universidade Nova de Lisboa - Portugal O Tribunal Constitucional (TC) decidiu em 20041, num Acórdão relatado por Mª Fernanda Palma, uma interessante questão no campo da legitimidade constitucional da incriminação do lenocínio (exploração da prostituição). Uma parte essencial da argumentação do TC implica a invocação directa do Direito Internacional, obviamente parte integrante do Direito Português, nos termos da Constituição da República, mas frequentemente “esquecido” pelos nossos tribunais. No caso, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contras as Mulheres, de 1979, assinada e ratificada por inúmeros países, ainda que por vezes com inadmissíveis reservas2. Esta Convenção é, como é sabido, conhecida pelo acrónimo do nome oficial em língua inglesa (CEDAW). O essencial da argumentação do TC é o que aquilo que o lenocínio representa, em geral, na realidade (empiricamente comprovável) para as prostitutas3: exploração, subordinação, indignidade. Essa é o cerne da explicação da referência à aplicação da CEDAW. É interessante notar que a forma de argumentar do Ministério Público (recurso) e dos Juízes no texto do Acórdão é diferente. Aquele concentra-se essencialmente em razões de “moral sexual”, que é o plano em que a questão se coloca tradicionalmente, estes (os Juízes) fundamentalmente na perspectiva da protecção das mulheres e da sua dignidade, posta em causa pela prática do lenocínio. Há quem, contrapondo-se a um discurso que pode raiar a enfraquecedora vitimização, argumente que na realidade do dia a dia da sua actividade as prostitutas exercem, de facto, um certo poder (“sexual”) sobre os homens - mas aqui, neste lugar argumentativo, a referência é directamente aos clientes e não aos proxenetas4 (sendo 1 ACÓRDÃO N.º 144/2004, Proc. nº 566/2003, 2ª Secção, Rel. Consª Maria Fernanda Palma. 2 Ver site da DAW (Division for the Advancement of Women) das Nações Unidas. 3 O uso da palavra no feminino é consciente e deliberado. Ver uma curiosa referência a questão paralela em A. M.HESPANHA, El Estatuto de la Mujer en el Derecho ComúnEl Estatuto de la Mujer en el Derecho Comúnin www.amh.pt . 4 Ou, é claro, das madames. SIDA NET 73 que estes são o objecto da questão na decisão do TC). Mesmo neste plano, o seu poder negocial é problemático: se a necessidade conómica for grande, uma prostituta aceitará ter relações sexuais sem preservativo, por exemplo. E correrá com frequência riscos não só de contaminação e doença, mas também de sujeição a situações de violência incontrolada. A tradicional desprotecção e mesmo assédio por parte das forças de segurança das populações marginais - as prostitutas são, por antonomásia, a sua imagem – será boa parte da explicação para o sucesso comercial da actividade do proxenetismo, na versão tradicional do “chulo de rua” ou na sofisticada veste de redes internacionais de tráfico de carne “branca” ou de qualquer outra “cor”. O advento da Infecção VIH/SIDA voltou a trazer à ribalta a discussão sobre a regulação legal da prostituição. Os modelos são inúmeros, desde a “indiferença legal” – como, no essencial, o actual Dt Português – até à incriminação da prostituição em si, do soliciting, do kerb crawling, da utilização da prostituição (criminalização dos clientes), do lenocínio em certas situações ou em todas, ou da regulamentação apertada da actividade de prostituição com justificações associadas à saúde pública, ie, modelos essencialmente sanitários. Finalmente, continua a ganhar terreno a ideia, discutível como todas mas digna de ser considerada com a maior atenção, e em alguns países efectivamente adoptada, de uma regulação da actividade da prostituição – ou, mais amplamente, do trabalho de sexo – como qualquer outra actividade produtiva/laboral. Isto implica sujeição às regras de Direito do Trabalho, Fiscal, da Segurança Social, legítima actividade sindical, ... As autoras estão envolvidas num projecto académico de investigação em curso que inclui a realização de inquéritos a profissionais do sexo, de forma a tentar obter alguma informação “de dentro”, para que não se resuma o assunto à discussão erudita que, “de fora”, disserta sobre outrem e a sua protecção, os seus interesses, as eventuais limitações legais que lhes podem/devem ser impostas, em nome de supostos ou reais “interesses sociais”, pouco discutidos e muitas vezes mal compreendidos e defendidos. No plano das regulações de tipo sanitário, a preocupação com a transmissão do HIV sucedeu à sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis nas preocupações políticas, ideológicas e legislativas, como pode ser visto, noutro campo e em outro contexto jurídico e social, no recente Acórdão do STJ sobre cessação do contrato de trabalho por impossibilidade superveniente5. Um dos problemas mais sérios desta discussão é o facto de habitualmente ignorar o efeito injustamente selectivo – e por isso ineficaz e injusto, por vezes até paradoxal – de muitas regulamentações de carácter sanitário. É sobretudo esse aspecto potencialmente discriminatório de tais regulações que nos interessa discutir. 5 Ac. STJ sobre “despedimento” de um cozinheiro de hotel, Rel. Consº MÁRIO PEREIRA [SJ20080924037934, de 24-09-2008]. SIDA NET 74 A INFECÇÃO POR VIH RESULTANTE DE TRANSFUSÃO DE SANGUE CONTAMINADO NO CONTEXTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO Luísa Neto - Universidade do Porto - Portugal 1. Breve enquadramento contextual e histórico Nos anos 80, descobriu-se que o sangue pode ser contaminado pelo HIV. De início, os donos de bancos de sangue não queriam aceitar a possibilidade de contaminação dos stocks, tendo reagido com cepticismo aos perigos então enunciados. A responsabilidade jurídica que pode advir de eventual transfusão foi também, ao menos inicialmente, desconsiderada nalguns Estados – sendo por exemplo clara neste sentido a prática espanhola. 1 Gradualmente, a situação foi adquirindo novos contornos: comecemos por recordar antecedentes explorados até à saciedade pelos media – salvaguardadas as questões relativas a um diferenciado enquadramento, ditado pelas então vigentes leges artis, já que o primeiro teste de despistagem apenas ficou disponível no início de 1985. Em Portugal, Leonor Beleza, Ministra da Saúde nos X e XI Governos Constitucionais (1985-90), viu o seu mandato maculado pelo escândalo da infecção de dezenas de hemofílicos com VIH, devido a transfusões de sangue contaminado, proveniente da Áustria e não inspeccionado, realizadas em hospitais públicos. Em 1995, os hemofílicos portugueses contaminados com o HIV começaram a receber as indemnizações de 12 mil contos (na moeda da altura) determinadas por um tribunal arbitral criado pelo Governo, sendo que a responsabilidade criminal sempre foi simultaneamente refutada pelos tribunais – mormente a Leonor Beleza. Já em França, e também em meados dos anos 90, no âmbito de um outro escândalo relativo a sangue contaminado, Michel Garetta, ex-director do Centro francês de Tranfusão Sanguínea, é condenado a quatro anos de prisão efectiva. Um ex-DirectorGeral da Saúde francês é condenado a quatro anos de prisão com pena suspensa. O Parlamento francês decide levar a tribunal o ex-primeiro-ministro Laurent Fabius, a 1 Para efeitos de contextualização geral da matéria, vejam-se: Curiel, A., Domínguez-Gil M., Martínez M., Queipo, D, Un grave problema ético y médico-legal en el diagnóstico de VIH, Comunicación en el III Congreso Latinoamericano de Derecho médico, II Congreso ibérico de medicina legal y X Jornadas de la Sociedad Española de Medicina Legal y forense, 2003; Gatel J.M.; Clotet B,.; Podzamczer, D; Miró, Jm; Mallolas J., Guía Práctica Del Sida. Clínica, Diagnóstico Y Tratamiento, 7ª Edición, Masson, 2002; Merle A, Sande, Paul A. Volberding, The Medical Management of AIDS, 6th Edition, PhilSWLPHI, Pennsylvania, 1999; Vicenc Soriano, Juan González-La Hoz, Manual del Sida, 3ª edición, IDEPSA, 1999; Minardi S, Victoria I, Ortega M.P., Aids in Spain: Incidence by autonomous communities, transmisión rules and sex. (1981-1998). Ars Pharmaceutica, 40:4; 253-264,1999. SIDA NET 75 ex-ministra Georgina Dufoix e o ex-secretário de estado Edmond Hervé. Em 1997, o segundo processo do sangue contaminado acaba: Fabius e Dufoix são ilibados e completamente reabilitados, Hervé é condenado com pena suspensa. Um outro exemplo resume-se do seguinte modo: dezanove seropositivos chineses, que contraíram o vírus da sida por transfusão sanguínea em Junho de 2002, processaram o hospital onde receberam o sangue por negligência, recolha e distribuição ilegal de sangue e exigem uma indemnização de 3,172 milhões de euros (30 milhões de reminbi). O caso chegou ao conhecimento das autoridades de saúde da província de Heilongjiang (nordeste da China) após a morte de uma mulher que recebeu uma transfusão de sangue depois de ter dado entrada no hospital de Baian com uma gravidez extra-uterina. Apesar de o marido ter tentado recolher sangue junto dos familiares, um médico do hospital sugeriu a compra do sangue (que estava contaminado), tendo o casal pago 400 remimbi por 400 centilitros de sangue. As autoridades descobriram depois que outras 18 pessoas, incluindo uma criança de cinco anos de idade, tinham sido infectadas no mesmo hospital, durante partos e tratamento de hemorragias. A origem da infecção terá sido um casal seropositivo (já falecido) que em 1997, a pedido do hospital, vendeu 12 litros de sangue. O director do hospital foi condenado a dois anos de prisão e o director do departamento clínico e o director do laboratório a cinco e dez anos, respectivamente. Segundo o ministério da Saúde da China, 70 mil pessoas teriam contraído o vírus da sida após transfusões de sangue contaminado. Mais recentemente, em Janeiro de 2008, o Ministério da Defesa britânico revelou que vários tropas britânicos que receberam transfusões de sangue de doadores americanos correriam o risco de doenças infecciosas, como a Sida, apesar de ser reduzido o risco de infecção. O argumento de que as transfusões eram necessárias aos tratamentos de emergência para manter as tropas vivas não elimina o facto de os doadores não terem realizado a devida análise para doar sangue. É certo que o estado actual da ciência convida a que sejam ampliados os testes de marcadores víricos e imunológicos, para identificar portadores seronegativos e assim evitar a transmissão do vírus de imunodeficiência humana através deles. Assim, no contexto actual, parece dever entender-se que existe responsabilidade profissional se não houver adequada informação sobre a ocorrência deste risco ou se não forem proporcionados aos docentes os cuidados que são exigidos pelas leges artis - regras generalizadamente reconhecidas da ciência médica, através dos quais se define o modo usual e comprovado de realizar a actividade. Em geral, pode ainda assim falarse desta questão, dado que não é normalmente referenciada a informação relativa à utilização de produtos derivados do sangue como a albumina, a gamaglobulina e o plasma, entre outros factores. Mais remota, devido a exames mais minuciosos, mas ainda assim possível, a transmissão de HIV pelo sangue é hoje rara em países desenvolvidos, mas a a possibilidade de contaminação por via de transmissão do HIV por transfusão sanguínea é no entanto ainda um problema importante em países em desenvolvimento nos quais se não realizam com regularidade exames para detectar a Sida. Por outro lado, não pode olvidar-se que a tecnologia utilizada para minimizar estes riscos apresenta um custo considerável. As considerações da Organização Mundial da Saúde em 1989 no relatório “Global blood safety initiative: Consensus SIDA NET 76 statement on accelerated strategies to reduce the risk of transmission of VIH by blood transfusion”, estabelecem que a segurança das transfusões implica atenção a três dimensões essenciais: segurança dos dadores, segurança dos componentes sanguíneos, diminuição do número de unidades transfundidas. Para atingir cada um destes três objectivos, terão que ser respectivamente implementados mecanismos de informação e controlo, aplicadas técnicas de detecção viral – em especial no campo da genética molecular e da análise da cadeira de polímeros que permite detectar a infecção num período anterior ao da positividade num testo anti HIV -e, last but not the least, promovidas campanhas de treino do pessoal clínico e hospitalar. Finalmente, não deixa ainda de ser interessante realçar que estas questões de segurança – e cuja importância inicialmente se pretendeu menorizar – vieram aumentar bastante, em anos recentes, o interesse em tratamentos médicos e cirurgia sem sangue. 2. O contexto da aparente responsabilidade médica: a reconfiguração dos pressupostos de responsabilidade Cingindo-nos ao contexto específico da prestação de cuidados de saúde, parece hoje claro que nos devemos preocupar em separar a questão da responsabilidade estrita médica daquela que pode ser qualificada como responsabilidade hospitalar, consoante atendamos aos vários agentes em presença. Nesta matéria, não podemos deixar de partir do pressuposto aqui implicado, qual seja o da noção de “actos médicos”- que se recorda que continua a carecer de regulação em Portugal, já que o último decreto aprovado foi objecto de veto pelo então Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. Será também importante ter enquadrado o facto de os médicos serem tradicionalmente encarados como profissões liberais. Ora, como tem feito notar v.g. Jorge Miranda não há profissões livres - como a médica ou a do jurista - sem o sentimento jurídico de que são necessárias, úteis e idóneas; não há profissões livres sem confiança social e a confiança resulta tanto da verificação reiterada de idoneidade científica e técnica como da certeza da sujeição dos profissionais a um sentido ético da profissão. Daí a importância, muito maior do que noutras actividades, das regras deontológicas. - que se convertem em regras jurídicas - e daí uma disciplina que deve abranger todos os que se dedicam à mesma profissão; daí, enfim, um enquadramento estatutário destinado a permitir a integração dos profissionais, com liberdade, quer perante os órgãos de decisão política do Estado quer perante quaisquer outros poderes e quaisquer eventuais empregadores privados. E dever-se-á aqui invocar mais detidamente a letra das normas deontológicas sobre a prescrição de cuidados e respectivas, constantes quer do Estatuto da Ordem dos Médicos, quer do Código Deontológico da Ordem dos Médicos quer da Convenção sobre a Ética do Acto Médico, de 4 de Novembro de 1990. Podemos talvez por exemplo recorrer aqui às propostas de definição de Alfonso de La Osa e Martinez-Calcerrada – critério profissional, execução típica e regular, objectivo da actividade médica, licitude – que permite prevenir a confusão entre actos médicos e actos administrativos. De facto, a ilicitude da actuação do médico pode resultar quer da violação dos deveres contratualmente assumidos (positive Vertragverletzung ), quer da violação de um genérico dever de cuidado SIDA NET 77 ( Rechtsverletzung durch Sor falgverstoss ), de um dever de informação (Aufklärungsplifcht), de uma norma de protecção (Verletzung eines Schutsgesetzes), de um dever funcional (Amtspflichtverletzung ) ou genericamente da violação de qualquer direito de personalidade com que o tratamento ou intervenção directa ou indirectamente possa contender. Mesmo quanto ao conteúdo da obrigação assumida, importará eventualmente proceder a uma maior especificação dos vários momentos em que se traduz a relação médico/doente, na esteira por exemplo de Abelardo Lobato, e outros, Etica dell’atto medico, a cura di Abelardo Lobato, Philosophia 7, Edizioni Studio Domenicano, 1991, pp. 23. De acordo com uma outra perspectiva, podemos distinguir: a) a culpa médica por omissão de prudência comum; b) a culpa médica por omissão ou desconhecimento da técnica médica; c) a culpa médica por actos contrários ao humanismo médico: a deontologia médica. Trata-se, pois, de analisar os valores envolvidos e as opções razoáveis para médicos e para os doentes, no melhor bem de ambos e da relação humana que os une para a promoção da saúde ou o tratamento da doença, entende Daniel Serrão.2 O hoje reconhecido dever de obter o consentimento informado do doente – para o que ora nos interessa, informação que deve abranger (todos) os riscos - funda-se num direito inato da personalidade e não depende na sua afirmação básica, da estrutura contratual em que se pratique o acto médico, dada a sua consagração e relevância civil, penal e mesmo constitucional. O direito à autodeterminação impõe um consentimento suficiente, o que implica atenção ao padrão subjectivo do doente - e não a um mero critério normativo -, para cada acto médico mesmo nos casos em que o interesse público determina a obrigatoriedade - como no caso da vacinação. Na expressão de Simon Lee, “the doctor’s duty arises from his patient’s rights”. Mas o médico não tem apenas obrigação de responder às perguntas que lhe forem formuladas. O consentimento deve ser visto como um processo interactivo e dinâmico, como um diálogo que há-de culminar na concordância ou anuência do doente à realização de um certo tratamento ou de uma certa intervenção.3 Esta necessidade de informação coloca-se pois ao nível dos requisitos de validade do acto médico, fundando-se na exigência que decorre do direito essencial e irrenunciável de cada pessoa se autodeterminar4, e que tem sido densificado por 2 Bioética, Coordenação de Luís Archer, Jorge Biscaia, Walter Osswald, Editorial Verbo, 1996, pp. 78, Daniel Serrão, Consentimento informado. 3 Veja-se João Vaz Rodrigues, O consentimento informado para o acto médico, Coimbra Editora, Centro de Direito Biomédico, INML, 2001 4 Vejam-se por todos, Almeida, Carlos Ferreira de, Os Contratos Civis de Prestação de Serviço Médico, in Direito da Saúde e Bioética, AAFDL, 1996; Beauchamp, Tom L., Etica Medica: las responsabilidades morales de los médicos, Labor, Barcelona, 1987; Hierro, J.M. Fernandez, Sistema de responsabilidad médica, Granada, 1997, Rodrigues, J.M. Martinez Peneda, La responsabilidad penal del médico y del sanitario, 3ª edição, Madrid, 1997; Cavanillas Múgica, Santiago & Tapia Fernandez, Isabel, La concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual : tratamiento sustantivo y procesal. 1.ª ed. Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramon Areces, SA, 1992; Oliveira, Guilherme Freire Falcão, Estrutura jurídica do acto médico, consentimento informado e responsabilidade médica. Revista de Legislação e de Jurisprudência. 125 : 3816 (Jul. 1992) p. 72; Rodrigues, Álvaro da Cunha Gomes, Reflexões em torno da Responsabilidade Civil dos Médicos. Direito e Justiça, XIX : 3 (2000) 161-252. SIDA NET 78 previsões jusconstitucionais e por inúmeras decisões, v.g., do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Importa no entanto recordar que mesmo desta qualificação dos actos de cuidados prestados em estabelecimentos públicos como actos de gestão pública não resulta necessariamente uma opção clara pela responsabilidade extracontratual e muito menos pela respectiva titularidade, já que podemos configurar três situações – a de responsabilidade exclusiva do agente, a de responsabilidade exclusiva da Instituição, a de responsabilidade solidária. Assim, pode aceitar-se o regime de responsabilidade extracontratual nos casos em que, para além da violação dos deveres contratuais, haja violação de direitos absolutos como o direito à vida ou à integridade física. No entanto, a sua aplicação prática deverá ser cautelosa, não estando em causa um concurso de acções mas verdadeiramente uma única acção”. Por outro lado, e ainda assim, deverá aqui ser igualmente contextualizada a questão dos danos causados por actos não médicos, da questão dos danos anónimos e ainda lidar com o peso do elemento culpa. Já quanto ao dano ressarcível enquanto ratio da responsabilização, é inequívoco que a realidade social hodierna reclama uma maior justiça equitativa, o que implica uma mais qualificada e quantificada restituição do dano e do prejuízo sofrido. Tratase no fundo também de uma atitude filosófica, qual seja a da negação da doença como uma fatalidade e ainda de uma certa dessacralização da medicina e de uma correspondente “laicização” do conceito de dano5. Ora, a avaliação deste dano corporal, que provoca uma limitação de uma ou várias funções orgânicas, intelectuais ou psíquicas, e a diminuição parcial ou total das aptidões no terreno físico, intelectual ou mental tem que ser pressuposto do tema a que ora nos dedicamos na medida em que estão aqui em causa os factores determinantes da respectiva valoração: factores médicos, como os critérios de diagnóstico e tratamento, a variabilidade do conceito de normalidade e funcionalidade dos distintos sistemas, e a própria falta de critérios estandardizados. De facto, no que respeita às sanções e reparações a violação ao corpo humano, a restitutio in integrum é impossível - em causa está muitas vezes a noção de “actos não emendáveis” que encontramos em direito comparado. Ora, precisamente, “Onde não chega a restituição, à eliminação do dano serve a reparação”, escrevia Carnelutti. Mas quer para proceder ao ressarcimento quer para providenciar a reparação, um facto se exige como preliminar: a tal avaliação do dano corporal. Assim, este dano surge como pressuposto da responsabilidade a par do facto (acção ou omissão), do nexo de causalidade, da ilicitude (variantes e causas gerais e específicas de exclusão) e da culpa (dolo directo/necessário/eventual e/ou negligência). Aliás, muitos entendem este dano corporal como um dano autónomo tertium genus, como dano infligido à saúde (impropriamente chamado dano biológico, como acentua Álvaro Dias), com um lugar próprio que não se esgota nem é assimilado pelo dualismo patrimonial/não patrimonial, questão a que voltaremos quanto à ideia de dano ressarcível. A avaliação do dano corporal surge pois entre o desiderato da restitutio in integrum, o princípio do livre arbítrio do juiz e a apreciação discricionária por parte dos tribunais 5 Aliás, sobre esta desmistificação da bata branca Olivier Guillold, Le consentement à l’acte médical: une longue convalescence, In Aspects du droit médical, Froibourg, Éditions Universitaires, 1988, pps 83 a 91, em esp. pp. 84 – mostra bem que de súbita esta problemática nada tem. SIDA NET 79 – o que levanta aliás duas questões a que não se refere e que podiam ser interessantes do ponto de vista de análise do regime processual: por um lado, a avaliação do dano corporal como questão de facto ou de direito e a intervenção dos peritos, por outro lado a possibilidade de nestas matérias serem seguidas soluções de justiça restaurativa e proposta uma desjudicialização – a via da arbitragem prevista hoje na lei processual administrativa. Quando não é possível afirmar que determinado prejuízo se deve a um acto ou omissão do médico, a Cour de Cassation francesa tem suposto que o prejuízo consiste na perda de uma possibilidade de cura – em termos aproximados à perte de chance, e em consequência, condena o profissional de saúde à indemnização por esta perda. Deste modo, desaparece a dificuldade em se estabelecer a relação de causalidade entre o acto ou omissão médica e o agravamento da condição de saúde, invalidez ou morte do paciente. Supera-se assim, a dificuldade de estabelecer o nexo de causalidade entre a acção médica e o agravamento do estado do paciente, ou mesmo da sua morte, que pode ter decorrido tanto do profissional, quando das condições patológicas do doente. Essa dúvida é suficiente, posto que a culpa consiste em não ter oferecido ao paciente todas as oportunidades. A causalidade é jurídica uma vez que não foi o médico que causou o dano, pois o seu erro baseia-se no facto de não ter interrompido um processo natural da enfermidade, faltando o dever de agir para evitar o dano. Em tal caso, não se repara o dano, mas a oportunidade subtraída ao paciente É por tudo isto que não é verdade que seja meramente ressarcível o dano certo, devendo antes remeter-se com cuidado para a questão do dano especial e anormal na responsabilidade da administração – que adiante retomaremos. E este pressuposto é inelutável quer se opte pelos sistemas de tipicidade ou de pressupostos fechados que limitam a possibilidade de exigir a reparação de outros danos fora dos tipificados – Alemanha e Grã-Bretanha - ou pelos sistemas abertos, de atipicidade dos danos ou de cláusula aberta em que se assinalam os requisitos essenciais que dão lugar à responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana – França, Itália, Espanha. Se é certo que o novo regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas (RCEEP) que vigora em Portugal imputa o dano ao titular e obriga à indemnização patrimonial em caso de impossibilidade de reconstituição in natura – situação que se evidencia muito comum nos casos a que aludimos -, importaria ainda ter em conta que a racionalização da avaliação do dano corporal enquanto pressuposto de responsabilidade6 pode ser prosseguida nos dias de hoje ou de acordo com uma reequacionação do nexo de causalidade – no seguimento da escola italiana de Franchini, da escola anglo espanhola de Bradford Hill ou espanhola de Bofill Soliguer e Calabuig –, assentando em bases de consenso como as do concurso de causas redundantes, cumulativas, condições de efeito não simultâneo, irrelevância das omissões de terceiro, causas sobrepostas (overtaking causes), ou 6 Em especial quanto ao conceito de dano corporal, ver também Criado del Rio, M. Valoración Médico Legal del Daño a la Persona por Responsabilidad Civil, Madrid, Fundación Mapfre de Medicina, 1994; Domingo, Vicente, Los daños corporales, tipologia y valoración, Jose Maria Bosch, Barcelona, 1994; Hernández Cueto, C., Valoración Médica del Daño Corporal. Guía Práctica para la Exploración y Evaluación de Lesionados, Barcelona, Masson, 1996; Hinojal Fonseca, R., Daño Corporal: Fundamentos y Métodos de Valoración Médica, Oviedo, Ed. Arcano Medicina, 1996 ; Lambert-Faivre, Y., Le droit du dommage corporel, Paris, Dalloz, 1990; Mélennec, L., Valoración de las discapacidades y del daño corporal. Baremo Internacional de Invalideces, Barcelona, Masson, 1997. SIDA NET 80 ainda através de novos métodos como os da busca de soluções mistas que considerem simultaneamente as consequências pecuniárias, como os métodos de cálculo por pontos de incapacidade, do multiplicador, do método matemático, do método d avaliação em concreto, ex aequo et bono pelo juiz (“método intuitivo”). Esta senda propõe olhar para a incapacidade vista através de um enfoque funcional – valoração social e não propriamente traumatológica -, o que leva àquilo a que Teresa Magalhães apelida de estudo tridimensional do dano corporal. E este novo método implica necessariamente uma reequacionação do papel dos peritos e dos magistrados e uma revolução do ponto de vista da avaliação do dano, com consequências muito evidentes no domínio desta matéria que hoje aqui nos reúne. Uma outra via de racionalização da avaliação do dano corporal é obviamente a da fixação através de tabelas, pelo que representa de segurança e determinabilidade. E não me refiro aqui às Tabelas ad hoc das seguradoras, nos termos fixados pelo Acórdão do STJ, 18.3.2004, mas a uma tabela funcional indicativa das incapacidades no direito comum, e que hoje em dia temos já finalmente em Portugal - Portaria n.º 685/2005 de 18 de Agosto e no Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro, sendo o próximo passo o da construção de uma tabela médica e indemnizações europeia. Não obstante o que fica dito, não parece que tenha havido aumento de responsabilidade – id est aumento de verificação de pressupostos de ilicitude - e muito menos de recurso a meios de tutela nestes casos. Ter-se-á antes verificado um alargamento do âmbito de actuação médica e hospitalar – e portanto apenas um âmbito de actuação protegido pelas normas. Por outro lado, sabendo que a arte da técnica se apresenta como referencial nesta sede, importará também aquilatar do cotejo da obrigação de indemnizar com as leges artis aqui implicadas. Deve ser no entanto evitada a confusão entres estes vários planos, id est, deve evitar confundir-se a verificação dos pressupostos de ilicitude com os respectivos pressupostos ontológicos e axiológicos e com o que é depois a respectiva consciência e/ou recurso a meios de tutela. Uma última palavra para lembrar que apesar da distinção dos pressupostos de verificação e efectivação de responsabilidade penal, civil e disciplinar, não pode deixar de se configurar a susceptibilidade de cumulação destas três fontes e regimes de responsabilidade. Ora, uma das matérias mais interessantes na questão aqui objecto de tratamento é a da responsabilidade penal. De facto, se é inequívoco o seu carácter pessoal, importa hoje pensar na eventual responsabilidade penal das pessoas colectivas, até por causa das supostas falhas de sistemas organizacionais. 3. A atenção da jurisprudência A jurisprudência tem-se dedicado ao contexto aqui pressuposto, seja directamente a propósito do caso do HIV seja através de raciocínio homotético quanto à contaminação por Hepatite C. Para efeitos de simples amostragem, e sem preocupação de exaustividade, mencionam-se em seguinte situações já levadas ao conhecimento e consideração do poder jurisdicional, mormente no Brasil - país em que as demandas judiciais nesta matéria têm sido significativas, em quantidade e qualidade - espelhando de alguma forma a relativa displicência com que estas questões começaram por ser tratadas e sendo de alguma forma evidente a evolução temporal da discussão em causa: SIDA NET 81 - “Indemnização - Responsabilidade civil - Danos morais e materiais - AIDS Moléstia contraída em hospital que mantinha banco de sangue clandestino Procedência”. (Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. J. L. Oliveira, Agravo de Instrumento nº 127452-1, 6ª CCIV, 08.03.90); - “Indemnização - Responsabilidade civil - Ato ilícito - Hospital - Morte de paciente que contraiu AIDS em decorrência de transfusão sanguínea realização do exame anti-AIDS não comprovada pelo banco de sangue - responsabilização solidária com a clínica hemoterápica, fornecedora do material contaminado - Recurso provido” (Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Urbano Ruiz, AC nº 170026-1, 04.08.92); - “Indemnização - Responsabilidade civil - Hospital - Transfusão de sangue contaminado pelo vírus da AIDS - Não realização dos testes de detecção - Acção procedente - Embargos rejeitados. A análise do sangue a ser transfundido, é obrigatória, pois quem realiza a transfusão responde pelos danos que o acto cirúrgico possa vir a causar”. (Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Walter Moraes Embargos Infringentes nº. 170.026-1 - São Paulo - 03.08.93); - “Reparação do dano. Acidente de trânsito. AIDS. Vítima de acidente que se torna sintomática após a internação que exigiu diversas transfusões de sangue. Alegação, pelo causador do dano, de inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a “causa mortis” decorrente da AIDS. Alegação de que, pelo curto espaço de tempo a medear entre o evento e a manifestação da doença, esta teria sido contraída anteriormente ao acidente. Impossibilidade científica de afirmar-se se o vírus fora contraído antes ou depois do acidente. Único dado científico, concreto, revelado na experiência médica aponta no sentido de que a sanidade ou debilidade físicas podem, respectivamente, inibir ou possibilitar o aparecimento dos sintomas. Destarte, o nexo causal se acha presente, seja pela aquisição do vírus no curso do tratamento decorrente do acidente, seja pela debilitação do organismo a ensejar a sua manifestação. Negado provimento. Unanime”. (Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul, Rel. Juiz Mário Oliveira Puggina, 12.08.93, JULGADOS TARGS, vol. 67, p. 144) -”Indemnização - Responsabilidade civil - Acto ilícito - Danos morais e materiais - Hospital - Morte de menor paciente que contraiu AIDS em decorrência de transfusão sanguínea - Ausência de obrigatoriedade legal do uso do teste anti-HIV na época em que a menor esteve internada no hospital - Conexão entre a transfusão e a moléstia e culpa do réu não demonstradas - Ademais, hospital que não inter veio nos procedimentos hematológicos e médicos, que foram realizados por profissionais sem vínculo contratual ou empregatício com ele - Acção improcedente - Recurso não provido se não provada a culpa do hospital por morte do paciente que supostamente teria contraído o vírus da AIDS em transfusão de sangue realizada em suas dependências, não há falar-se em responsabilidade objectiva, tendo em vista que na época da internação da vítima não havia legislação que obrigasse à adopção de cautelas nas transfusões de sangue “. (Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Alexandre Germano, - Apelação Cível nº 206.754-1 - Santos - 10.05.94). Em especial e exemplificativamente, tomemos como estudo de caso a condenação, conhecida em Maio de 2006, do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul ao pagamento de indemnização a paciente infectada com o vírus da SIDA quando fazia transfusão devido a outra doença. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conheceu do recurso especial impetrado pela SIDA NET 82 entidade, mantendo assim a condenação imposta pela Justiça gaúcha. A paciente V. R. C. havia sido diagnosticada com o mal de Von Willebrand (doença hereditária do sangue que dificulta a coagulação e causa hemorragias) e tratava-se no hospital recebendo transfusões sanguíneas desde 1982, quando tinha apenas um ano de idade. Somente em Julho de 1991, quando contava dez anos e após quatro transfusões, foi identificada como portadora do vírus HIV. V. R. C., representada pelo pai, apresentou uma acção de indemnização por perdas e danos contra o Hospital São Lucas. O Hospital contestou o pedido e alegou que o serviço de captação de sangue foi prestado de 1979 a 1986 pelo Serviço de Transfusão de Sangue Reunidos Ltda, portanto não era responsável pelas transfusões. Também alegou que teria sido impossível identificar de que forma ocorrera a contaminação, pois, na época das primeiras transfusões, o vírus da SIDA não era sequer conhecido, algo que só ocorreu em 1985. Já o Serviço de Transfusão alegou, por sua vez, não ter realizado transfusão de sangue ou aplicação do factor VIII (hemoderivado usado no tratamento doença de Von Willebrand) na autora e reincidiu no mesmo argumento do Hospital São Lucas de que o vírus HIV só foi identificado em 1985. ””Em primeira instância, o juiz concluiu que a contaminação da menina ocorrera pelas transfusões de sangue realizadas no São Lucas e condenou o hospital a garantir o seu tratamento e a pagar-lhe indemnização de três mil salários mínimos, com juros calculados desde o dia em que saiu o resultado do teste diagnosticando a contaminação (23/7/1991), já que não havia como se definir a verdadeira data. O tribunal não negou porém a possibilidade de exercício de direito de regresso do Hospital contra a empresa responsável pelo serviço de transfusão. ”Inconformados com esta decisão, o hospital e a empresa de hemoterapia apelaram ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O primeiro insistiu na tese de que a sua responsabilidade só poderia ser demonstrada se ficasse provado que o contágio ocorreu em 1986, quando iniciou o serviço de transfusões. Afirmou ainda que V. R. C. poderia ter sido contaminada em outras instituições de saúde, pois teria recebido medicação endovenosa. Além disso, só a partir de 1988, os testes de identificação do vírus da SIDA se teriam tornaram obrigatórios. Também pediu a redução da indemnização e que, caso a paciente falecesse ou fosse descoberta uma cura, a indemnização fosse interrompida. Por seu turno, o serviço de transfusão afirmou inexistir nexo causal entre a transfusão e o contágio. ”O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul veio no entanto a manter a condenação, destacando haver um contrato de serviço entre a paciente e o hospital e outro entre este e o serviço de transfusão, o que caracterizaria uma responsabilidade solidária. Por outro lado, a não exigência legal do uso do teste anti-HIV antes de 1988 não eximiria da responsabilidade de ter sido prestado um serviço de forma inadequada. O Hospital recorreu ainda ao STJ. O relator do recurso especial, ministro Aldir Passarinho Junior, manteve no entanto a mesma decisão, reconhecendo, em tese, divergências na interpretação de outros tribunais de se atribuir negligência ao hospital antes da existência da obrigatoriedade do cadastramento de doadores e exames prévios para detecção do vírus HIV: No entanto, e apesar de também salientar não existir à época, a possibilidade de teste preventivo eficaz, veio afirmar que “ não foi apenas uma, mas diversas as transfusões, a primeira em 1983 e as demais em 1986, quando o ‘kit’ de exame já estava disponível”, destacou o ministro. Ora, nem o hospital nem o serviço de transfusão tinham controle da origem do sangue, o que indicava negligência. SIDA NET 83 ”A situação tem também sido objecto de tratamento pela jurisprudência portuguesa. Apesar de se referir à contaminação com o vírus da Hepatite C, mas por ser homotético o processo de fundamentação aí expendido, veja-se a situação que conduziu à doutrina expendida no Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra (Processo 3529/05), de 11.7.2006. O caso respeita a uma transfusão de sangue que se mostrou necessária na sequência de uma intervenção cirúrgica ao joelho do autor, estando aquele sangue, proveniente de um terceiro dador, infectado com o vírus VHC, gerador de Hepatite C. Como resultado dessa transfusão, o paciente foi contaminado com Hepatite C, a qual causou por sua vez uma cirrose hepática, doença de que o autor ficou a padecer e que foi diagnosticada cerca de dez anos após a intervenção cirúrgica, mais sucedendo que na altura em que a transfusão foi efectuada, era conhecido em termos de ciência médica que uma nova doença de natureza viral era transmissível por via sanguínea, sem que esse vírus estivesse ainda cientificamente identificado. O Tribunal negou a responsabilidade por não haver responsabilidade por actos médicos, apesar de entender a existência do facto – transfusão – bem como da respectiva ilicitude – dado ter sido provocada violação do direito à integridade física do paciente lesado - e dano. No entanto, o Tribunal deixou também bem claro não se poder entender o tratamento de transfusão como ofensa, justificada aquelas pelas indicação médica e intenção terapêutica. O Tribunal veio no entanto deixar claro o seu entendimento de que a adequação pressuposta no nexo de causalidade deve ser aferida face às circunstâncias reconhecíveis à data do facto por um observador experiente e às que são efectivamente conhecidas pelo lesante. Ora, em 1989, data da transfusão, não era realizado qualquer tipo de rastreio das dádivas de sangue para o VHC, logo, não dispondo a ciência média de meios de detecção do vírus da hepatite c, não seria possível concluir que o ré médico conhecia ou deveria conhecer que a transfusão de sangue ministrada ao autor era, em abstracto, adequada a contaminá-lo com esse vírus. O Tribunal aponta ainda para a conclusão de que mesmo por via de análise do pressuposto da culpa se verificaria ilibação, dado que o lesante à data não poderia nem deveria ter agido de outra forma: apesar da detecção do vírus em 1989 o teste para a sua detecção apenas surgiu em 1991, estando o início da sua execução reportada a 1992. Leia-se o sumário do referido Acórdão: “I. Perguntando-se num quesito se a contaminação pelo VHC foi causada pela transfusão de sangue, o julgador não pode transpor para a resposta o parecer pericial segundo o qual a transfusão foi «a causa provável» dessa contaminação, antes deve tomar posição definida respondendo não provado ou provado ainda que com esclarecimentos.” II. Numa acção, para a prova dum facto não se exige a certeza absoluta, mas tão só a certeza relativa, um alto grau de probabilidade objectivável, suficiente para as necessidades práticas da vida. III. Se à data da transfusão havia o conhecimento médico de que uma nova doença de origem viral era transmissível por via sanguínea mas sem que o vírus estivesse identificado pela ciência, nenhuma análise ao sangue do dador podia revelar que este estivesse contaminado com o vírus mais tarde identificado como VHC.” IV. Em Portugal inexiste regime legal específico sobre responsabilidade por actos médicos.” V. O juízo normativo de adequação, que há-de acrescer ao juízo naturalístico da SIDA NET 84 causalidade, deve ter um sentido que se coadune com a espécie de responsabilidade civil em causa, a pré-determinar. VI. Para que o tratamento consistente em transfusão constitua ofensa à integridade física é necessário que se verifique a falta de algum destes requisitos: qualificação do agente; intenção terapêutica; indicação médica; realização do acto segundo as «leges artis».” VII. Impende sobre o paciente lesado o ónus da prova da ilicitude da transfusão de sangue, ilicitude que não se deve ter por verificada quando o médico assumiu o tratamento com transfusão que se mostrou necessária na sequência de intervenção cirúrgica ao joelho, não se mostrando verificado negativamente algum dos ditos requisitos.” VIII. Provindo o sangue humano a transfundir não de banco de sangue mas de determinado dador, e porque este sangue está fora do comércio, inexiste legislação que sancione os danos resultantes em termos de pura responsabilidade objectiva.” IX. Havendo especial periculosidade pela possibilidade de contaminação viral, a actividade de transfusão de sangue é perigosa para os efeitos do art. 493º nº2 do Código Civil, que consagra regime de responsabilidade subjectiva agravada ou objectiva atenuada, atenta a específica presunção de culpa. X. Tendo o serviço médico empregado todas as providências exigidas e em discussão, face ao estado da ciência e da técnica até à data da transfusão, não se pode concluir em termos de juízo de prognose póstuma que haja responsabilidade pelos danos resultantes da transfusão”. A conclusão quanto ao nexo de causalidade a que se alude foi no entanto rebatida pelo Autor: apesar de em Janeiro de 1989 não estar identificado o VHC, a ciência médica, baseada na exclusão sorológica das hepatites A e B, sem estar identificado o agente histológico, classificava já uma nova forma de hepatite como “não-A, não-B”, que, a partir de 1991, passou a ser designada como hepatite C. De facto, estariam identificados os vírus da SIDA, da hepatite A, da hepatite B e da sífilis e todo o sangue colectado era sujeito à pesquisa destes microrganimos, para o que a ciência médica dispunha de equipamentos e meios de diagnóstico eficazes. O Autor veio ainda refutar a sua sujeição a outras possíveis formas de contágio da doença que se veio a verificar - intervenções cirúrgicas e outras transfusões de sangue ou de produtos derivados do sangue, contactos homossexuais e consumo de drogas, “piercings” ou tatuagens – para tentar provar que no seu passado pessoal e clínico inexistiam conhecidos factores de risco para a contracção da Hepatite C. A argumentação do Autor quanto ao nexo de causalidade não logrou vencimento em sede de recurso “(...) por duas razões principais: a primeira, pela consideração de que a resposta segundo a qual a transfusão operada é «a causa provável da contaminação do autor pelo VHC» não responde juridicamente à pergunta formulada, é dubitativa, não é um não nem um sim mas um “nim”; a segunda, pela ponderação de toda a prova produzida. Que os pareceres juntos ou os depoimentos médicos prestados refiram a transfusão apenas como causa provável da contaminação pelo VHC compreende-se, pois quem os emitiu pode não estar na posse de todos os elementos e sobretudo não tem de julgar o caso. Mas ao julgador impõe-se tomar uma posição definida, no caso respondendo não provado ou provado ainda que com esclarecimentos. SIDA NET 85 A resposta ao quesito 8º equivale a dizer que há uma probabilidade (elevada ou diminuta ou em que percentagem?) de que a transfusão tenha causado a contaminação, havendo portanto também uma probabilidade de a não ter causado.” Veio enfim o Tribunal na seguinte sequência cronológica: - o A. foi objecto da transfusão de sangue em 12/1/89 na Casa de Saúde da 1ª ré e não lhe foi feita alguma outra transfusão nem foi sujeito a outra intervenção cirúrgica antes da desse dia na dita Casa; - na altura ainda não estava identificado o vírus VHC mas já era sabido que tal vírus se transmitia por via sanguínea e só por essa via; - por falta dessa identificação o sangue transfusionado não fora sujeito à pesquisa desse micro-organismo;”- até à transfusão o A.não integrava qualquer gripo de risco nem lhe sendo conhecido qualquer comportamento de risco (contacto homossexual, consumo ou injecção de drogas, piercings, tatuagens, picadas de agulhas fora de estabelecimento de saúde e tendo o médico de família do A.esclarecido que a mulher deste foi sujeita à triagem competente com resultados negativos); - a hepatite C, resultante da infecção pelo VHC, só se manifesta após um período de cerca de 10 a 20 anos sobre a contaminação. Ou seja, o Tribunal entendeu simplesmente que à data da transfusão não era exigida a pesquisa dos “anticorpos” da Hepatite C e que, assim sendo, o sangue ministrado ao autor estava nas condições regulamentares da época e que o autor pode ter sido contaminado pelo VHC noutras circunstâncias. Assim, apesar de aceitar que a transfusão sanguínea foi a causa provável da contaminação do autor pelo VHC, sendo que qualquer transfusão de sangue recebida antes da introdução dos ensaios imunoenzimáticos para a detecção dos anticorpos anti-VHC (em 1992) é um importante factor para a transmissão do vírus (8º). Seguindo a argumentação do Tribunal, quanto à primeira modalidade de ilicitude prevista no art. 483º do CC, não é claro que a mesma se verifique, pois falta encontrar a norma cuja infracção tenha ocasionado a lesão do direito subjectivo nela directamente visado. Já que segundo o disposto no Código Penal, aqui convocável ex vi do nº1 do artigo 9º do Código Civil (consideração da ordem jurídica no seu conjunto), é de considerar-se que o tratamento consistente na transfusão não constitui ofensa à integridade física do paciente pois que não se mostra não preenchido qualquer dos quatro requisitos ali consignados: qualificação do agente (no caso são médicos), intenção terapêutica (a transfusão foi feita porque necessária após intervenção ao joelho naturalmente com apreciável perda de sangue e daqui o alegado perigo de anemia requerendo transfusão), indicação médica (atendendo ao diagnóstico e à escolha da terapia) e realização segundo as leges artis. Quanto à segunda modalidade de ilicitude prevista no art. 483º nº1 do CC, também não se vê que norma de protecção, tutelando reflexamente direitos do Autor, tenha sido violada e não o é nenhuma das invocadas avulsamente pelo recorrente. De resto, para o efeito de responsabilidade por facto ilícito extracontratual ou contratual, sempre impenderia sobre o Autor o ónus da prova da ilicitude da conduta, apenas dispensada no caso de responsabilidade objectiva, pelo risco, ou por facto lícito. Naquele âmbito, mesmo onde haja presunção legal de culpa, tal presunção não se estende à ilicitude. SIDA NET 86 É pois patente – e não isento de dúvidas - que na sentença, depois de ter sido apontada a verificação do ilícito, a fundamentação de direito foi explanada sob o pano de fundo da responsabilidade por facto ilícito e culposo, como se vê do trecho sobre o nexo causal (ponto 1) e do trecho sobre a culpa (ponto 2), assim: «Neste quadro factual não há a prova directa que a transfusão ministrada ao autor foi a condição da sua contaminação com o VHC. Ela é, no entanto, a causa provável dessa contaminação. Antes da instituição do rastreio sistemático da infecção pelo VHC (em 1992), a transfusão de sangue é um importante factor de contaminação por esse vírus. O parecer do INML acentua que, na literatura, a transfusão de sangue recebida antes da introdução dos ensaios imunoenzimáticos para a detecção dos anti-corpos anti-VHC é considerada como um importante factor para a transmissão do vírus (fls. 218). Tendo o autor sido sujeito a transfusão de sangue em 1989 e não integrando qualquer grupo de risco, é a transfusão a causa provável da sua contaminação. «No fundo o facto apurado poderá ser susceptível de contemplar o juízo normativo de imputação, mas falece o juízo naturalístico e, faltando a verificação deste patamar da causalidade adequada (a conexão factual, a “condição sine qua non ou causa hoc sensu”), é inviável ajuizar o nexo de causalidade entre a transfusão de sangue e a contaminação pelo VHC. Mesmo em relação ao juízo normativo, a adequação da condição ao dano tem de ser feita face às circunstâncias reconhecíveis à data do facto por um observador experiente e às que são efectivamente conhecidas do lesante. Ora, em 1989, não se fazia o rastreio das dádivas de sangue para o VHC. Só o Despacho 19/91, publicado no Diário da República, II Série, de 12 de Setembro, introduziu a obrigatoriedade dessa pesquisa e, apenas em 1992, começaram a fazerse tais testes de despistagem. Logo, não dispondo a ciência médica de meios de detecção do vírus da hepatite C, não seria possível concluir que a ré B... conhecia ou deveria conhecer que a transfusão de sangue ministrada ao autor era, em abstracto, adequada a contaminá-lo com tal vírus. Dir-se-á que, não obstante não estar identificado o vírus da hepatite C, a ciência médica sabia existir um terceiro género de hepatite, então designado por não-A e não-B, que poderia contaminar qualquer receptor de sangue. Porém, não dispunha a ciência de meios para a sua determinação, sem prejuízo de poder admitir a existência de qualquer tipo de hepatite se a pesquisa de transaminases as mostrar elevadas. Crê-se, ainda assim, que como a amostra da unidade de sangue transfusionada ao autor foi submetida, em 19.12.88, aos testes de despistagem ao vírus da hepatite A e B, sífilis e sida e obteve resultados negativos, seria inviável fazer o tal juízo de adequação da condição ao dano por não permitir, nesse estádio da ciência médica, prever o concreto dano (VHC) como seu efeito provável (n.º 55 dos factos provados)». ...« Agir com culpa significa actuar em termos da conduta do agente merecer a reprovação ou censura do direito: o lesante, pela sua capacidade e circunstâncias concretas da situação, podia e devia ter agido de outro modo. Como se disse, o VHC foi descoberto em 1989 mas só surgiu um teste para a sua detecção em 1991, estando o início da sua execução reportada a 1992. (...) Pelos riscos e perigos que envolve, o ministrar de uma transfusão de sangue pode consubstanciar uma actividade perigosa. O n.º2 do artigo 493º estabelece uma presunção legal de culpa (“juris tantum”) por parte de quem causar danos a outrem no exercício de uma actividade perigosa. Nesse caso, provar o facto que serve de base à presunção equivale a provar o facto presumido SIDA NET 87 (artigos 344º, 1, e 350º, 1). Provando o lesado que os danos foram causados no exercício de uma actividade perigosa, fica presumida a culpa do lesante. E é ele que tem de provar que usou de todos os mecanismos de diligência que a situação impunha.”«Julga-se que essa prova está efectuada. Está positivamente identificado o dador de sangue, sujeito aos critérios de elegibilidade, e foram efectuados os testes víricos exigidos à época, a ponto de estar garantida a qualidade do sangue ministrada ao autor, de acordo com os procedimentos exigidos naquela altura (n.ºs 52 a 55 da fundamentação de facto). Donde se considere que a acção sempre estaria votada ao insucesso mesmo pela via da culpa. Ainda que se considerasse existir responsabilidade contratual da ré, também a presunção de culpa que sobre ela impenderia (artigo 799º) estaria ilidida pela prova de ter usado a diligência que o caso exigia» (Fim de transcrição). ”Segundo o recorrente, a ré não ilidiu a presunção legal de culpa em razão da sua responsabilidade contratual e delitual em resultado do exercício de actividade perigosa e estão provados os factos da culpa. Não deixa no entanto de se realçar aqui o facto de o Tribunal não ter configurado a situação à luz de uma eventual situação de responsabilidade objectiva e/ou de risco, o que poderia ser relevante face à previsão da Lei nº 67/2007, como veremos Ora, no caso sub judice , a prova demonstra que a 1ª Ré empregou todas as providências exigidas, atendendo ao estado da ciência e da técnica até à data da transfusão de 12/01/89. O dador foi seleccionado com todo o cuidado possível que o provado em 51 a 53 mostra e, recolhido o sangue do dador, a ré fez com que o sangue fosse examinado laboratorialmente para despistagem dos vír us infecciosos identificáveis: os da sida, sífilis, hepatite A e B (provado 54 e 55). Não houve despistagem do VHC porque tal teria sido impossível: tal vírus ainda não fora identificado, pois havia somente conhecimento epidemiológico e ainda não também microbiológico e imunológico duma nova forma de hepatite (v. provado 23 e 24). E só o Despacho 19/91, publicado no Diário da República, II Série, de 12 de Setembro, introduziu a obrigatoriedade da pesquisa ao VHC e, apenas em 1992, começaram a fazer-se tais testes de despistagem. Logo, não dispondo em Janeiro de 1989 a ciência médica de meios de detecção do vírus da hepatite C, a despistagem deste vírus não só não era exigida (no sentido do art.493º nº2), como era impossível ser realizada, em sangue de qualquer dador e por qualquer entidade. Vale por dizer: não houve sequer culpa levíssima. Conclusão mais questionável do tribunal é a de que, porque a contaminação do sangue do dador era imprevisível e inevitável, “bem se pode dizer que o contágio sofrido pelo A. se deveu a caso fortuito ou de força maior”, apreciado em sede de juízo de prognose póstuma, e não devendo ser modificado por referência ao momento em que mais tarde vem a saber-se do resultado nefasto para o A.. ”Por outro lado, concluiu ainda o Tribunal, o sangue humano, provindo não de banco de sangue mas dum dador, embora possa ser havido como coisa móvel (mas fora do comércio), não poderia ser considerado produto, para o efeito da aplicação do regime da responsabilidade objectiva do produtor. Noutra sede, também o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (Processo 0351/05), de 14.12.2005 veio determinar que uma transfusão de sangue não é especialmente perigosa se for realizada numa data em que o vírus HIV é desconhecido da ciência médica e, em função desse desconhecimento, o receptor fica contaminado com aquele vírus. Leia-se o sumário do referido Acórdão: SIDA NET 88 ”I - A responsabilidade por factos ilícitos assenta nos pressupostos de responsabilidade civil previstos nos arts. 483.º e seg.s do CC, o que significa que a sua concretização depende da prática de um facto (ou da sua omissão), da ilicitude deste, da culpa do agente, do dano e do nexo de causalidade entre o facto e o dano. II - O legislador previu que ao lado da responsabilidade por actos ilícitos - que garante o ressarcimento de todos os danos (qualquer que seja a sua gravidade) provocados pela condutas dos órgãos ou agentes dos entes públicos violadoras de normas legais ou regulamentares – pudesse operar a responsabilidade por actos lícitos, designadamente a responsabilidade pelo risco, destinada a reparar os sacrifícios causados a uma pessoa ou a um pequeno grupo de pessoas por actividades legítimas da Administração, só que neste caso fez depender essa operatividade da verificação de determinados pressupostos. III – Os quais encontram-se especificados no art.º 8.º do DL 48.051 e estão associados ao funcionamento de serviços ou ao exercício de actividades excepcionalmente perigosas e à necessidade de delas resultarem prejuízos especiais ou anormais. IV - Uma actividade é excepcionalmente perigosa quando for razoável esperar que dela possam, objectivamente, resultar graves danos, isto é, danos que superem os que eventualmente possam decorrer da normalidade das outras actividades e que os prejuízos são anormais ou especiais quando oneram pesada e especialmente algum ou alguns cidadãos e, consequentemente, ultrapassam os pequenos transtornos e prejuízos que são inerentes à actividade administrativa e sobrecarregam de forma mais ou menos igualitária todos eles. V – Uma transfusão de sangue não é especialmente perigosa se for realizada numa data em que o vírus HIV é desconhecido da ciência médica e, em função desse desconhecimento, o receptor fica contaminado com aquele vírus. E não o é porque a qualificação de uma actividade como especialmente perigosa tem de ser contemporânea da sua realização e se no momento desta, atenta a dita ignorância, não era previsível que dela pudesse resultar a referida infecção esse acto médico, porque é comum e por regra seguro, não é uma actividade especialmente perigosa.” Compulsando o texto integral desta decisão, merecem referência especial: a) a expressa derivação do regime de responsabilidade do elenco normativo constitucional dos artigos 17°, 18° e 22° da CRP; b) a tónica quanto à questão da responsabilidade subjectiva ou culposa, na culpa do serviço ou falta de serviço, por violação das regras de prudência geral, juízo de censura colectiva por parte da Administração Pública do Estado e em particular do Ministério da Saúde, aqui se remetendo para a lição de Rivero citada por Freitas do Amaral, quanto à culpa do serviço ou falta do serviço, entendida como facto “anómalo e colectivo de uma administração, em geral, mal gerida, de tal modo que é difícil descobrir os seus verdadeiros autores”. O Réu, Hospital de Santo António (HSA), veio ao invés invocar que o dador hoc casu havia doado sangue, entre outros, no HSAP, entre 1975 e 1986 e que somente em 1987, quando foi tecnicamente possível fazer o diagnóstico, foi possível saber que esse dador era portador de HIV 2+. Mais argumentou o hospital que em 1986, era impossível, em qualquer parte do mundo, saber que um indivíduo completamente saudável poderia ser portador de HIV 2+, dado que tal vírus não era então conhecido. SIDA NET 89 Em sede de 1ª instância o Juiz a quo entendera que a procedência desta acção só podia ocorrer a coberto da responsabilidade civil por factos ilícitos, o que exigia que se provasse que os órgãos e/ou os funcionários do HSA tinham agido com ilicitude e culpa no exercício das suas funções e que fora essa circunstância a determinar a infecção do Autor com o vírus da SIDA. E, porque assim, e porque essa culpa se não provara - mais não fosse porque à data da primeira transfusão a que aquele fora submetido ainda não era cientificamente possível diagnosticar o HIV 2 – havia que concluir que o HSA não praticara acções ou omissões ilícitas e culposas susceptíveis sustentar o pedido indemnizatório formulado. E daí a sua absolvição do pedido. ”E, nessa conformidade, considerando que, in casu, não se provara a existência de factos ilícitos na conduta do Hospital réu uma vez que, em 1986 - ano em que ocorreu a transfusão que determinou a infecção – “era impossível, em qualquer parte do mundo, saber que um indivíduo completamente saudável poderia ser portador de HIV 2+, porquanto tal vírus não era então conhecido”, concluiu que a conduta dos titulares dos órgãos ou agentes daquele Hospital não se podia qualificar como ilícita e culposa e, consequentemente, pela impossibilidade da sua responsabilização ao abrigo daquele tipo de responsabilidade. O que determinou a sua absolvição do pedido. ”A decisão do STA visou no entanto analisar se o pedido indemnizatório formulado só poderia apenas ser satisfeito a coberto do instituto da responsabilidade civil por factos ilícitos e, respondendo-se positivamente a esta interrogação, se Juiz a quo decidira bem quando considerou que a prova recolhida nos autos demonstrava que a acção dos serviços do Hospital Réu estava isenta de culpa e de ilicitude Ora, poder-se-ia configurar uma indemnização ao abrigo da responsabilidade civil pelo risco que impõe o dever reparatório do Estado e outros entes públicos ser estendido a situações em que se não verifica ilicitude e culpa no comportamento dos seus órgãos ou agentes.” Ponto é que essas situações reúnam os requisitos próprios da responsabilidade pelo risco, como prescrevia, com efeito, e à data da prolação da decisão analisanda, o artigo 8.º do Decreto-Lei nº 48051:“O Estado e demais pessoas colectivas públicas respondem pelos prejuízos especiais e anormais resultantes do funcionamento de serviços administrativos excepcionalmente perigosos ou de coisas e actividades da mesma natureza, salvo se, nos termos gerais, se provar que houve força maior estranha ao funcionamento desses serviços ou ao exercício dessas actividades, ou culpa das vítimas ou de terceiro, sendo neste caso a responsabilidade determinada segundo o grau de culpa de cada um”. ”De facto, o legislador previu que ao lado da responsabilidade por actos ilícitos que garante o ressarcimento de todos os danos (qualquer que seja a sua gravidade) provocados pela condutas dos órgãos ou agentes dos entes públicos violadoras de normas legais ou regulamentares, pudesse operar a responsabilidade por actos lícitos destinada a reparar os sacrifícios causados a uma pessoa ou a um pequeno grupo de pessoas por actividades legítimas da Administração, fazendo no entanto depender essa operatividade da reunião de certas e determinadas condições, às quais a doutrina e a jurisprudência tem chamado de elementos travão e que se encontram claramente especificados no transcrito art.º 8.º, os quais, como se verá, estão associados (1) ao funcionamento de serviços ou ao exercício de actividades excepcionalmente perigosas e à (2) necessidade de delas resultarem prejuízos especiais ou anormais. SIDA NET 90 Como veio recordar o Acórdão, o legislador não fixou critérios nem definiu orientações que esclarecessem o que se devia entender por funcionamento de serviços ou actividades excepcionalmente perigosas ou por prejuízos especiais e anormais, pelo que terá de ser o intérprete a traçá-los em função das circunstâncias concretas de cada caso. Sendo certo, por outro lado, que estas preocupações de justiça e equidade têm de ser conformadas com as realidades concretas das entidades públicas responsáveis pois que, se assim não for, poder-se-á colocar em risco a sua viabilidade ou, pelo menos, pôr em causa a sua normal actividade. Deste modo, poderá afirmar-se que uma actividade é excepcionalmente perigosa quando for razoável esperar que dela possam resultar graves danos, isto é, danos que superem o que é normal esperar de uma qualquer outra actividade e que os prejuízos são anormais ou especiais quando ultrapassam os pequenos transtornos e prejuízos que são inerentes à actividade administrativa e que decorrem da natureza da própria actividade e se configuram como o custo a suportar pela integração social, ou seja, são danos que vão onerar pesada e especialmente penas algum ou alguns cidadãos, sobrecarregando-os de forma desigual em relação a todos os demais. O que significa que o que caracteriza a excepcional perigosidade da actividade é a especial e significativa probabilidade dela importar, em si mesma e por si só, grave ou intensa lesão e o que qualifica a anormalidade ou a especialidade do prejuízo é o facto deste, pelo seu carácter e volume, exceder aquilo que é razoável fazer suportar ao cidadão normal socialmente integrado. Referia o Acórdão do STA de 05/11/2003 (rec. 1.100/02):“Por prejuízo anormal deve entender-se aquele que se revista de certo peso ou gravidade, em termos de ultrapassar os limites daquilo que o cidadão tem de suportar enquanto membro da comunidade, isto é, que extravase dos encargos sociais normais exigíveis como contrapartida da existência e funcionamento dos serviços públicos. Prejuízo especial é aquele que não é imposto à generalidade das pessoas, mas que incide desigualmente sobre um grupo determinado.” No mesmo sentido podem ver-se, entre os mais recentes, os Acórdãos de 16/05/2002 (rec. 509/02), de 10/10/2002 (rec. 48.404), de 21/01/2003 (rec. 990/02), de 29/05/2003 (rec. 688/03), de 2/12/2002 (rec. 670/04) e de 01/03/ 2005 (rec. 1.610/03). ”Nesta conformidade, e a coberto da responsabilidade pelo risco, só devem merecer tutela os danos provocados uma actividade que, objectivamente, encerre um perigo que exceda o que é normal na actividade administrativa e, além disso, que recaiam apenas sobre um único cidadão ou um grupo restrito de cidadãos e que pela sua intensidade ou volume se distinguem dos são normalmente suportado pelo cidadão comum. O que vale por dizer que, sob pena de se gerarem insolúveis problemas financeiros às pessoas públicas demandadas, inviabilizadores das suas actividades normais e correntes, serão de eliminar do conjunto dos danos indemnizáveis “as meras bagatelas, os sacrifícios ligeiros que, sendo custos de sociabilidade, são compensados por outras vantagens proporcionadas pela actuação das máquinas estadual e local” - Acórdão de 13/01/2004. ”Pode, pois, concluir-se – como o Ac. deste Tribunal de 19/11/98 (rec. 43.751 que “o Estado e demais pessoas colectivas públicas – a coberto do disposto no art.º 8.º do DL 48.051 - só são sancionados com a obrigação de indemnizar os prejuízos que, em função da sua natureza, volume, extensão e actualidade, sejam suficientemente SIDA NET 91 graves e afectem determinado cidadão ou grupo de cidadãos, impondo-lhes um sacrifício iniquamente desigual em confronto com a generalidade das pessoas.” ”Ora, entendeu o STA que os danos em causa na situação sub judice não integram este conceito, e que a referida transfusão não pode ser considerada uma actividade excepcionalmente perigosa nem o prejuízo dela decorrente ser considerado anormal e especial, não havendo pois razão para que não deva ser suportado pelos então Autores. De facto, veio o Tribunal defender a ideia de que as transfusões sanguíneas constituem um tratamento médico vulgar desde há muitos anos, pelo que - muito embora cada caso seja específico e singular – se pode afirmar que, desde que rodeadas dos cuidados e normas de segurança exigíveis, são, em princípio, actos médicos seguros, isto é, actos de que, por via de regra, não resultarão danos que atentem contra a vida ou afectem gravemente a saúde dos que a eles se submetem. Muito embora se admita que as mesmas envolvem sempre algum risco e, portanto, que a sua realização contém sempre uma dose não negligenciável de perigo, pode afirmar-se que os prejuízos dela esperáveis não podem, por regra, ser qualificados como prejuízos especiais e anormais. E pode, também, afirmar-se que as mesmas, desde que rodeadas daqueles cuidados e normas de segurança, não se podem considerar como uma actividade excepcionalmente perigosa, uma vez que este conceito está reservado para aquelas actividades que, objectivamente, por si só e à partida, isto é, no momento em que são realizadas, se preveja que encerrem perigos muito mais intensos que as actividades correntes e vulgares e, portanto, actos de que seja razoável esperar que provoquem, com forte grau de probabilidade, lesão grave. É o caso, por exemplo, de certo tipo de cirurgias. O que significa, prossegue o Supremo Tribunal de Justiça, que não se pode qualificar como excepcionalmente perigosa uma actividade, quando esta é vulgar, corrente e, por norma, segura, muito embora a mesma possa, num ou noutro caso, esporadicamente, causar grave dano. Ou seja, e revertendo ao caso dos autos, o facto de, por excepção, e por motivos inesperados e de previsão impossível, uma transfusão de sangue provocar a morte do doente ou colocar a sua saúde em sério risco e, consequentemente, não é suficiente para que a mesma possa ser qualificada como actividade excepcionalmente perigosa, pois que, como se disse, o que caracteriza a excepcional perigosidade da actividade é a significativa possibilidade dela importar, em si mesma e normalmente, lesão grave ou intensa. Ora, as transfusões sanguíneas, pelas razões expostas, não cabem nesta categoria de actos médicos. No caso sub judicio, ficou assente que o vírus que infectou o Autor marido era desconhecido na época em que ocorreu a fatídica transfusão e não foi alegado nem, tão pouco há notícia, de que ela tenha sido realizada com inobservância das leges artis próprias da época. E, porque assim, e porque se tratava de um acto médico vulgar e corrente não era previsível que a mesma pudesse vir a provocar mais perigos do que aqueles que normalmente lhe estão associados, os quais, como é sabido, não incluem danos de uma intensidade tão forte como aqueles que afectaram o Autor marido. O que significa que a mesma, no momento em que foi realizada, não podia ser qualificada como uma actividade excepcionalmente perigosa. SIDA NET 92 ”Ou seja, a circunstância daquela infecção ter ocorrido não basta para que a mesma possa ser qualificada como uma actividade excepcionalmente perigosa, porque essa avaliação tem de ser contemporânea do momento em que o mesmo é realizado e não, posteriormente, em função dos conhecimentos que a ciência, entretanto, aportou ou dos resultados inesperados dela resultantes. ”É certo que essa transfusão, mercê do citado desconhecimento e da consequente ignorância dos danos que a mesma podia causar, provocou aos Autores prejuízos anormais, visto não ser comum nem normal que uma transfusão de sangue provoque a morte ou doença grave na pessoa receptora, e especiais uma vez que, das muitas transfusões ocorridas no período em que ela ocorreu, poucas foram, felizmente, as que tiveram os desastrosos efeitos que o atingiram. Só que não basta a verificação deste requisito – os prejuízos anormais ou especiais – para se poder fazer funcionar a responsabilidade pelo risco, uma vez que, como se disse, a operatividade deste tipo de responsabilidade depende da reunião de dois pressupostos : a ocorrência de prejuízos anormais ou especiais e destes terem sido causados por uma actividade excepcionalmente perigosa. ”Nesta conformidade, e sendo forçoso concluir que a transfusão a que os autos se reportam não pode ser qualificada como uma actividade excepcionalmente perigosa e ter-se-á, também, de concluir que a sua realização e as graves consequências dela decorrentes não dão motivo a que, a coberto do que se dispõe no art.º 8.º do DL 48.051, se possa exigir do Hospital réu o pagamento de um qualquer pedido indemnizatório. Nestes termos, entenderam os juízes do STA que era impossível censurar a sentença recorrida quando julgou a acção improcedente. 4. O “estado da arte” em Portugal: o contexto do novo RCEEP Centraremos o nosso estudo essencialmente no contexto da responsabilidade administrativa - id est, resultante de facto ou acto praticado por entidades públicas – e do respectivo regime hoje vigente. Assim, e neste contexto, importará ter hoje em conta a redacção da Lei nº 67/2007, de 31 de Dezembro que veio revogar o vetusto DL 48051, de 21 de Novembro de 1967, e aprovar o novo Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas (RCEEP), não esquecendo que a lei preambular salvaguarda, no nº1 do artigo 2º, os regimes especiais de responsabilidade civil por danos decorrentes do exercício da função administrativa - e a que nos referiremos infra, no que tange a determinadas matérias específicas, v.g. bases da saúde, ensaios clínicos, procriação medicamente assistida, informação genética e avaliação do dano corporal. Apenas uma nota para referir não ser isenta de dúvidas a configuração última deste universo de entidades públicas de prestação de cuidados de saúde – independentemente da categorização variada que encontramos na lei ordinária. De facto, se nos podemos referir aos estabelecimentos públicos de saúde como integrando a administração estadual indirecta, importará ter hoje em conta que esse universo não tem permanecido imutável no ordenamento jurídico português, devendo ser reequacionada à luz de novas figuras como as das parcerias público privadas ou a dos hospitais EPE, que implicam tratar da matéria da ”responsabilidade dos médicos por actos médicos praticados em contexto hospitalar público”, indagar da responsabilidade do Estado por qualquer dano verificado em sede de estabelecimento SIDA NET 93 hospitalar público e assentar verdadeiramente no que abrange hoje a expressão “instituições e serviços públicos de saúde” - se todas as unidades prestadoras de cuidados de saúde primárias, se também as unidades de prestação de cuidados continuados, se as unidades de prestação de cuidados privadas sujeitas a fiscalização estadual e fazendo parte da rede, se também os hospitais SA, se também os hospitais EPE. Essas são no entanto matérias que se têm aqui que dar como pressupostas e que não poderemos explanar já que muitas delas extravasam de forma evidente o escopo deste trabalho. Acresce que por expressa menção do nº 2 do artigo 2º da referida Lei nº 67/2007, deve esta prevalecer sobre qualquer remissão legal para o regime de responsabilidade civil extracontratual de direito privado aplicável a pessoas colectivas de direito público. Faça-se aliás menção ao Acórdão de 18/10/1988 do Tribunal da Relação de Coimbra, cujo sumário determina que a prática de actos médicos em hospitais do estado ou de outros entes públicos, se causadores de danos a terceiros, constituem actos de gestão pública que poderão estar na base de responsabilidade extracontratual. O Acórdão considera ainda que esta responsabilidade é a que melhor se enquadra nos serviços públicos ou de interesse público, já que qualquer pessoa os pode utilizar sem possibilidade de recusa por parte do serviço e também sem que ao doente/utente seja verdadeiramente possível a livre escolha da entidade pública de saúde. Ainda segundo o referido Acórdão, não há qualquer possibilidade de personalizar os direitos e as obrigações dos utentes relativamente aos serviços públicos. Os serviços têm perante cada utente as obrigações gerais e especiais que assumem, regularmente, perante todos os outros. A nossa jurisprudência, seguindo o modelo francês, tem privilegiado a responsabilidade extracontratual dos hospitais públicos. Esta também era a posição adoptada pela nossa lei, como resultava claro do artigo 12º da original Lei de Bases da Saúde. No entanto, esta disposição veio a ser revogada pela Lei nº 48/90, que nada dispôs sobre esta matéria. Entende Freitas do Amaral que o silêncio do legislador visou deixar liberdade à doutrina e à jurisprudência, enquanto por exemplo Moitinho de Almeida optou pela teoria da gestão privada tendo em conta a teoria da natureza material da actividade e já António Gaspar aqui configura uma verdadeira e própria relação de serviço público Parece certo que o acto de cuidados – conceito preferível ao de acto médico, por razões que se prendem com a própria delimitação histórica do conceito – se enquadra no conceito de acto de gestão pública seja pela teoria da natureza material da actividade, seja pela teoria dos poderes de autoridade, seja pela teoria do enquadramento institucional, seja pela teoria da prevalência do interesse público. De facto, se não parece dever poder aplicar-se qua tale a teoria dos poderes de autoridade de Marcello Caetano, parece consensual admitir, com Freitas do Amaral que a actividade médica nos estabelecimentos públicos de saúde se insere num enquadramento institucional de carácter público. Assim constitui exercício de uma função pública, desenvolvendo-se sob a égide de normas de direito público e condiciona os médicos em função de deveres e restrições especiais de carácter público. Desta conclusão resulta que o direito substantivo aplicável não é o direito civil mas o direito público que resulta fundamentalmente do disposto no já referido RCEEP. Aliás, como resulta claro do nº2 do artigo 1º do RCEEP, “correspondem ao exercício da função administrativa as acções e omissões adoptadas no exercício de prerrogativas SIDA NET 94 de poder público ou reguladas por disposições ou princípios de direito administrativo” mas – nº5 do mesmo artigo – “as disposições que, na presente lei, regulam a responsabilidade das pessoas colectivas de direito público, bem como dos titulares dos seus órgãos, funcionários e agentes, por danos decorrentes do exercício da função administrativa, são também aplicáveis à responsabilidade civil de pessoas colectivas de direito privado e respectivos trabalhadores, titulares de órgãos sociais, representantes legais ou auxiliares, por acções ou omissões que adoptem no exercício de prerrogativas de poder público ou que sejam reguladas por disposições ou princípios de direito administrativo.” No que tange à definição de “Danos ou encargos especiais e anormais” esclarece o artigo 3º do RCEEP que se consideram enquanto tais ”os danos ou encargos que incidam sobre uma pessoa ou um grupo, sem afectarem a generalidade das pessoas, e anormais os que, ultrapassando os custos próprios da vida em sociedade, mereçam, pela sua gravidade, a tutela do direito.” Recorda-se ainda a norma do artigo 4.º do mesmo RCEEP quanto às situações de concorrência de culpa do lesado: “Quando o comportamento culposo do lesado tenha concorrido para a produção ou agravamento dos danos causados, designadamente por não ter utilizado a via processual adequada à eliminação do acto jurídico lesivo, cabe ao tribunal determinar, com base na gravidade das culpas de ambas as partes e nas consequências que delas tenham resultado, se a indemnização deve ser totalmente concedida, reduzida ou mesmo excluída.” E acentue-se ainda uma regra que pode ser da maior importância na matéria a que nos dedicamos, qual seja a da prescrição tratada no artigo 5º - mormente quando falamos em situações que se podem prolongar ao longo do tempo e só virem a ser descobertas na sua plenitude bem mais tarde, num ciclo prodrómico de desenvolvimento. Assim, recorda-se que “o direito à indemnização por responsabilidade civil extracontratual do Estado, das demais pessoas colectivas de direito público e dos titulares dos respectivos órgãos, funcionários e agentes bem como o direito de regresso prescrevem nos termos do artigo 498.º do Código Civil, sendo-lhes aplicável o disposto no mesmo Código em matéria de suspensão e interrupção da prescrição.”7 Ora, o novo RCEEP distingue claramente, no âmbito da responsabilidade civil por danos decorrentes do exercício da função administrativa, a responsabilidade por facto ilícito, a responsabilidade pelo risco e a responsabilidade pelo sacrifício. Quanto à primeira – artigos 7º e ss – prevê a lei que o Estado e as demais pessoas colectivas de direito público são exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de acções ou omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, pelos titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, no exercício da função administrativa e por causa desse exercício. O nº3 do artigo 7º refere-se especificamente aos chamados casos de culpa funcional ou do serviço – matéria que desenvolveremos infra -, acentuando que o Estado e as demais pessoas colectivas de direito público são ainda responsáveis quando os danos não tenham resultado do comportamento concreto de um titular de 7 Leia-se v.g. o sumário do Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (Processo RESP 605671), de 19.2.2003: “I - No crime de propagação contagiosa - por administração de sangue contaminado, de que resultou a morte de hemofílicos - p. e p. pelo artº 270º nºs 1 e 2, do C.P. de1982, a que correspondem os artºs 283º, nº 1 a 285º, do CP de 1995, o início do prazo de prescrição do procedimento criminal, quando derivem várias mortes, conta-se da primeira morte e não do último resultado agravativo, segundo o entendimento do Tribunal Constitucional.” SIDA NET 95 órgão, funcionário ou agente determinado, ou não seja possível provar a autoria pessoal da acção ou omissão, mas devam ser atribuídos a um funcionamento anormal do serviço, sendo que o número seguinte do mesmo artigo define que existe “funcionamento anormal do serviço” quando, atendendo às circunstâncias e a padrões médios de resultado, fosse razoavelmente exigível ao serviço uma actuação susceptível de evitar os danos produzidos. Neste caso, a responsabilidade será solidária entre o Estado e os titulares de órgãos, funcionários e agentes em caso de dolo ou culpa grave e se tiverem sido cometidas por estes no exercício das suas funções e por causa desse exercício, não obstante o direito de regresso na medida do grau de culpa apurado. Já quanto às dimensões que integram os pressupostos da responsabilidade por facto ilícito, entende a lei como ilícitas – artigo 9º - as acções ou omissões dos titulares de órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem técnica ou deveres objectivos de cuidado e de que resulte a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos, ou quando a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos resulte do funcionamento anormal do serviço, segundo o disposto no n.º 3 do artigo 7.º Por seu turno, a culpa – artigo 10º - dos titulares de órgãos, funcionários e agentes deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. Mas saliente-se que sem prejuízo da demonstração de dolo ou culpa grave, se presume hoje a existência de culpa leve na prática de actos jurídicos ilícitos, havendo ainda presunção de culpa leve, por aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil, sempre que tenha havido incumprimento de deveres de vigilância. Já quanto à responsabilidade pelo risco, rege o artigo 11.º, prevendo que o Estado e as demais pessoas colectivas de direito público respondem pelos danos decorrentes de actividades, coisas ou serviços administrativos especialmente perigosos, salvo quando, nos termos gerais, se prove que houve força maior ou concorrência de culpa do lesado, podendo o tribunal, neste último caso, tendo em conta todas as circunstâncias, reduzir ou excluir a indemnização. Em termos complementares, prevê o número 2 do mesmo artigo que quando um facto culposo de terceiro tenha concorrido para a produção ou agravamento dos danos, o Estado e as demais pessoas colectivas de direito público respondem solidariamente com o terceiro, sem prejuízo do direito de regresso. Por último, no que tange à chamada “indemnização pelo sacrifício”, encontramos no artigo 16º do RCEEP a regra segundo a qual o Estado e as demais pessoas colectivas de direito público indemnizam os particulares a quem, por razões de interesse público, imponham encargos ou causem danos especiais e anormais, devendo, para o cálculo da indemnização, atender-se, designadamente, ao grau de afectação do conteúdo substancial do direito ou interesse violado ou sacrificado. Não deixa de ser curioso encontrarmos agora esta previsão em termos genéricos e não apenas associada à responsabilidade por actos da função administrativa, mas não pode deixar de se entender que esta previsão se reconduz em termos históricos à outrora prevista responsabilidade por facto lícito. SIDA NET 96 Retomaremos a análise deste diploma infra, a pretexto da configuração do regime aplicável in concreto à questão em apreço, mas deixa-se já uma chamada especial de atenção – aliás, com Pedro Machete, em A responsabilidade da administração por facto ilícito e as novas regras de repartição do ónus da prova, Cadernos de Justiça Administrativa, nº 69, Maio/Junho 2008, pps 30-40 – para o especial contexto do reforço jurisprudencial comunitário da ideia de culpa funcional bem assim como a especificidade do exercício da função administrativa por comparação com a autonomia privada e a distribuição do risco da perda de bens. De facto, é aqui digna de nota a autonomização do funcionamento anormal do serviço – no referido nº3 do artigo 7º face aos comportamentos individuais e concretos, activos ou omissivos, mas ilícitos e cometidos com culpa leve (nº1). Tal autonomização leva a que se distinga hoje, em sede da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais pessoas colectivas públicas por danos resultantes do exercício da função administrativa as duas seguintes situações: i) a responsabilidade exclusiva prevista no artigo 7º do RCEEP de carácter objectivo e com uma função exclusivamente reparadora; ii) a responsabilidade solidária prevista no artigo 8º do RCEEP de carácter subjectivo e com uma função simultaneamente punitiva do lesante e garantística dos lesados e da comunidade. 5. A culpa funcional/organizacional e a responsabilidade pelo risco Os termos em que a jurisprudência de referência tem colocado a questão e a previsão legislativa actual implicam olhar hoje de forma mais evidente para o âmbito de aplicação da responsabilidade objectiva ínsita na previsão da culpa funcional e da responsabilidade pelo risco, nos termos em que se lhes refere a Lei nº 67/2007, como já vimos. De facto, e na sequência do que já se disse, não podemos falar de responsabilidade médica no sentido sinónimo de responsabilidade hospitalar do Estado, não se devendo igualmente confundir os títulos de responsabilidade subjectiva e objectiva. Estamos porventura já não a falar de estrita responsabilidade médica mas de uma genérica responsabilidade da administração pública por danos causados no exercício da prestação de cuidados de saúde em estabelecimentos públicos – aqui abrangidas todas as pessoas colectivas públicas que, no seio do serviço nacional de saúde, asseguram cuidados de saúde aos beneficiários destes, de forma a abarcar os hospitais públicos, os centros de saúde dotados de personalidade jurídica e as associações de centros de saúde De facto, por força desde logo do ditame constitucional, o hospital-réu, na condição de pessoa jurídica de direito público, responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causam, independentemente da averiguação da culpa. A opção pela responsabilidade objectiva dispensa aqueloutro juízo sobre a conduta do sujeito e pelo contrário, coloca o enfoque sobre os comportamentos, os quais são aceitáveis do ponto de vista social e especialmente vantajosos para quem os desenvolve causando prejuízos, mostrando-se por isso justo o facto de sobre esse mesmo agente recair a obrigação de arcar com as consequências resultantes da sua actividade SIDA NET 97 A responsabilidade objectiva subdivide-se, por seu turno, em dois tipos. Por um lado, a responsabilidade pelo risco a qual advém de um comportamento ou actuação que revela especial perigosidade para terceiros e causador de prejuízos. Por outro lado, a responsabilidade pela prática de actos lícitos que resulta da prática de um acto administrativo lícito, mas que ocasionou um dano. Uma eventual tipologia de actos médicos - Actos médicos em sentido geral, Actos médicos propriamente ditos, Actos médicos paramédicos – não se basta com a invocação do Arrêt Rouzet de 6 de Janeiro de 1962 que opera a distinção entre acto médico e o mero acto de cuidados de saúde ou outros, em função não da qualidade do autor do acto mas sim na natureza complexidade ou simplicidade desse mesmo acto – que pode aliás integrar v.g. questões da responsabilidade de equipas, no caso de utilização de meios complementares de diagnóstico. De facto, só para a ‘responsabilidade pessoal’ dos profissionais liberais é que se pode utilizar o sistema alicerçado em culpa. Logo, se o médico trabalhar em hospital responderá apenas pela culpa, enquanto a responsabilidade do hospital será apreciada objectivamente’. Uma vez comprovado o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano sofrido pelo consumidor, o profissional seria responsável tão-somente pela reparação do dano patrimonial. Para o que nos interessa, a responsabilidade civil específica do profissional médico (isto é, daquele que tem habilitação universitária e exerce a medicina com habitualidade, vivendo do seu trabalho) tem como pressupostos: o acto médico, praticado com violação de um dever médico, imposto pela lei, pelo uso social, ou pelo contrato, imputável a título de culpa, causador de um dano injusto patrimonial ou extrapatrimonial. Esta responsabilidade poderá decorrer de título contratual, derivada de um contrato estabelecido livremente entre paciente e profissional, a maioria das vezes de forma tácita, e compreende as relações restritas ao âmbito da medicina privada, isto é, do profissional que é livremente escolhido, contratado e pago pelo cliente, ou de título extracontratual quando, não existindo o contrato, as circunstâncias da vida colocam frente a frente médico e doente, incumbindo àquele o dever de prestar assistência, como acontece no encontro de um ferido em plena via pública, ou na emergência de intervenção em favor de incapaz por idade ou doença mental. Será igualmente extracontratual a relação em qual participa o médico servidor público, que atende em instituição obrigada a receber quem necessite dos serviços de saúde. Nestes casos, o atendimento é obrigatório, pressupondo uma relação primária de direito administrativo ou de direito civil entre o médico e a empresa ou o hospital público, incumbindo ao réu demonstrar que o dano decorreu de uma causa estranha a ele. No âmbito da responsabilidade extracontratual ou delitual, o autor da acção deve provar a imprudência, negligência ou imperícia do causador do dano (culpa), isentando-se o réu de responder pela indemnização em caso de incumprimento do referido ónus. Ora, na prática, esta perspectiva só tem significado em articulação com essoutra distinção entre obrigação de resultado e obrigação de meio. Mas no caso da responsabilidade em contexto dos hospitais públicos, pouco interesse têm os problemas da responsabilidade de grupo, dado que o autor só poderá intentar a acção contra o próprio estabelecimento, não necessitando sequer de identificar a pessoa do responsável. A individualização da responsabilidade só tem interesse para o exercício de um direito de regresso do próprio hospital. SIDA NET 98 De facto, a culpa funcional funda-se no direito que os cidadãos têm a um funcionamento normal e adequado dos serviços públicos e no pressuposto de que os danos são indemnizáveis na medida em que são exigidas as características da especialidade ou anormalidade. Assim, os danos resultantes do exercício de determinadas actividades particularmente perigosas desenvolvidas pela administração pública, para que possam ser indemnizados, têm de consistir em danos anormais ou prejuízos especiais A natureza intervencionista do Estado Social de Direito impõe pois a consideração da “faute de service” – facto ilícito e culposo causador do dano não pode ser imputado a um determinado autor ou vários, sendo considerado responsável o serviço administrativo globalmente entendido e sendo a culpa aferida pelo que , de forma razoável, poderia ser exigido do serviço, em função da sua natureza, pelos meios de que dispõe e circunstâncias em que desenvolve a sua actividade. Trata-se pois, no fundo de discutir também noutros termos as funções da responsabilidade extracontratual do Estado: função punitiva ou punitivo-preventiva ou função meramente reparadora. Este tratamento não pode no entanto apartar-se das considerações do estado de conhecimento da ciência – lex artis ad hoc medicinae – para qualificação do que possa ser considerado como funcionamento anormal do serviço público hospitalar, já que será permitido distinguir entre faltas cometidas por pessoa física, as quais podem ser faltas do serviço ou faltas pessoais distintas do próprio serviço e faltas do serviço público hospitalar relativa ao desrespeito de uma norma de funcionamento ou às regras de uma actividade administrativa e cuidados de saúde e as quais não são atribuídas a nenhuma pessoa física determinada. Ora, estas segundas faltas são aquelas cometidas no âmbito da organização ou funcionamento do serviço público hospitalar susceptíveis de uma apreciação abstracta e objectiva, sendo aconselhável admitir uma obrigação de resultado. Em França, a jurisprudência Thouzellier tem operado a extensão do beneficio da responsabilidade sem falta ou objectiva no que toca a danos causados a pacientes, isto é, a pessoas expostas a um risco especial de danos provenientes de métodos terapêuticos e tratamentos administrados em estabelecimentos públicos de saúde. Por outro lado, verifica-se ainda uma dicotomia quanto aos requisitos exigidos respectivamente pelo direito civil e pelo direito administrativo: apesar de no primeiro caso se exigir uma “faute simple” e no segundo “faute lourde”, muitas vezes a jurisprudência desqualifica o acto médico quanto à “faute lourde”, bastando-se com a “faute simple” para a responsabilização dos estabelecimentos públicos de saúde, em casos de danos graves provocados por um acto de carácter banal, danos resultantes de infecção hospitalar, danos derivados de complicações decorridas no âmbito de acto médico ou de saúde e danos resultantes de defeito de vigilância. Em Portugal, o novo RCEEP distingue a responsabilidade objectiva, directa e exclusiva das entidades públicas, a responsabilidade pelo risco - situação que apenas releva, como se verá, no âmbito da função administrativa, ou a título de indemnização pelo sacrifício especial e anormal, de que se falará, ou no caso de danos anormais provocados no exercício das funções política e legislativa, ou, no caso que mais nos interessa agora, a título de funcionamento anormal do serviço público, desde que só haja culpa leve, situação esta que releva no âmbito da função administrativa embora, por arrastamento, releve também no da jurisdicional, como ficou claro. SIDA NET 99 Assim sendo, a responsabilidade puramente objectiva, directa e exclusiva das entidades públicas não é atributo da função política e legislativa, parecendo que as considerações de culpa foram agora abandonadas. E pode mesmo ir-se mais longe, pretendendo que as considerações privatísticas do instituto da responsabilidade civil foram com vantagem abandonadas em prol de considerações mais publicísticas tributárias da obrigação de indemnizar por funcionamento anormal do serviço, como se diz no nº3 do artigo 7º. Tal funcionamento presume-se imediatamente ilicitude, nos termos do nº2 do artigo 9º, tal como no caso das acções ou omissões que resultem da violação de disposições ou princípios constitucionais, legais ou regulamentares ou ainda de regras de ordem técnica ou deveres objectivos de cuidado, nos termos do nº1 do artigo 9º, e ainda por incumprimento de deveres de vigilância, nos termos do nº3 do artigo 10º, desde que, em qualquer daqueles casos, afectem direitos ou interesses legalmente protegidos. A presunção de ilicitude por funcionamento anormal do serviço ou em qualquer dos outros casos equivale a culpa leve, nos termos do nº2 do artigo 10º. Claro está que aquele funcionamento não pode depreender-se, pelo menos em exclusivo, da violação de regras jurídicas, nem sempre presentes, ou da omissão de deveres de vigilância e de cuidado, nem sempre suficientes para evitar o dano. É por isso que o nº4 do artigo 7º da nova lei nos fornece um critério de funcionamento anormal. Há, assim, funcionamento anormal quando atendendo às circunstâncias e a padrões médios de resultados, fosse razoavelmente exigível ao serviço uma actuação susceptível de evitar os danos produzidos. O esforço para objectivar o critério do funcionamento anormal do serviço, aliviando o cidadão do ónus da prova, é claro. O cidadão não é um técnico de manutenção e assistência dos serviços públicos. Quer no caso do funcionamento anormal do serviço quer no da violação daquelas regras ou omissão de deveres de vigilância e de cuidado, presume assim a nova lei, sem mais, ilicitude por culpa leve. Como justificar a referida presunção de ilicitude por culpa leve? É porque, de outro modo, a prova da culpa do titular do órgão, funcionário ou agente representaria um ónus muito pesado para o lesado, tendo em atenção o funcionamento do serviço público, O ónus da prova contra o cidadão equivaleria aqui a uma verdadeira negação da justiça. Daí a presunção de ilicitude. Isto que se diz para justificar a presunção é particularmente evidente no âmbito de serviços públicos em que a prova de ilicitude a fazer pelo particular seria particularmente difícil como estes dos serviços hospitalares, tendo em vista a natureza técnica e científica da actividade. A nova lei presume que a culpa já vai inserida na violação de normas jurídicas ou técnicas bem como na de deveres objectivos de cuidado e de vigilância. A observância daquelas normas e destes deveres é uma clara obrigação objectiva de conduta. Presume-se assim que quem a não observou agiu (subjectivamente) com culpa porque actuou sem o cuidado exigível ou violando as normas e regras aplicáveis. A referida presunção de ilicitude serve a responsabilidade objectiva e exclusiva da Administração, apesar de a referida presunção não ser absoluta, dado que a Administração pode demonstrar não ter ocorrido violação de normas ou regras ou de deveres de cuidado, nomeadamente se as disposições a observar não são claras nem inequívocas ou se a respectiva interpretação constitui fonte de dúvidas. A responsabilidade objectiva por funcionamento anormal do serviço deve ser alargada às entidades privadas que gerem o serviço público hospitalar mediante contrato administrativo de concessão ou em contexto de integral privatização. SIDA NET 100 A responsabilidade objectiva no âmbito da função administrativa é directa e exclusivamente imputada às entidades públicas, de facto, como se diz no nº1 do artigo 9º d a nova lei, a ilicitude dos titulares dos órgãos, funcionários ou agentes presume-se e atribui-se exclusivamente às entidades públicas. Basta que exista violação de disposições ou princípios constitucionais, legislativos ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem técnica ou deveres objectivos de cuidado e de vigilância ou que devam ser atribuídas a um funcionamento anormal do serviço. Verificando-se tal, a ilicitude por culpa leve presume-se e consequentemente a acção ou omissão danosas são directa e exclusivamente imputadas às entidades públicas – aliás já na senda do artigo 6º do DL 48051. Quer isto dizer que a culpa como condição da ilicitude continua a funcionar, mas logo se desvaloriza a conduta individual dela causa porque se presume, sem mais, culpa leve, podendo estar em causa a violação de regras de ordem técnica ou de deveres objectivos de cuidado. Assim, sendo, o dano decorre logo da ausência de padrões médicos de resultado, ou seja, do funcionamento anormal do serviço, como se diz no nº3 do artigo 7º da nova lei , a propósito do exercício da função administrativa. Concretizando, o nº4 do artigo 7º do novo diploma indica-nos um critério de funcionamento anormal do serviço, como já se viu. E é aqui que é indispensável clarificar que a responsabilidade objectiva por funcionamento anormal do serviço, seja ele administrativo ou jurisdicional, ocorre independentemente dos casos em que se possa provar culpa do titular do órgão, funcionário ou agente ou ilegalidade da actividade desenvolvida. O referido nº3 do artigo 7º do novo diploma consagra claramente esta orientação. Isto significa que naquele caso a responsabilidade é verdadeiramente exclusiva das entidades públicas, respondendo estas independentemente (da responsabilidade) do autor material do acto (ou da omissão). Diga-se no entanto que a responsabilidade por “faute de service” não deve suprimir sempre qualquer consideração da responsabilidade individual do titular do órgão, agente ou funcionário e não exclui solidariedade. Bem vistas as coisas nem o nº3 do artigo 7º exclui esta solução, já que apenas consagra a responsabilidade exclusiva das entidades públicas quando os danos não tenham resultado de um comportamento concreto de um titular de órgão, funcionário ou agente determinado, ou não seja possível determinar a autoria pessoal da acção ou omisso. O que fica exposto significa que se no domínio da responsabilidade pelo funcionamento anormal do serviço funciona uma presunção de ilicitude contra as entidades públicas e em termos exclusivos, isso não quer dizer que a consideração da culpa deva ser sempre irrelevante – nomeadamente se se verificar dolo ou culpa grave do titular do órgão, funcionário ou agente. O serviço público dispensa ao particular lesado a identificação e a prova da culpa mas não é o pretexto para a impunidade do titular do órgão, funcionário ou agente que agiu como dolo ou culpa grave. Do contexto do Estado Social a que já aludimos decorre a circunstância de a responsabilidade pelo risco não ter hoje de ser excepcional e tipificada. De facto, o regime da responsabilidade pelo risco é semelhante ao da responsabilidade por acto SIDA NET 101 lícito, chamado pela nova lei da indemnização pelo sacrifício, cujo fundamento é o da compensação pelos danos decorrentes o exercício de certas actividades perigosas, enquanto o da indemnização pelo sacrifício é o da tutela de confiança no estado. A responsabilidade do estado pelo risco só deixa de ser exclusiva dele passando a ser solidária com a de terceiro se este contribuiu culposamente para a produção ou agravamento dos danos, nos termos do nº2 do artigo 11º do novo diploma, mantendo o estado e aquelas entidades direito de regresso se indemnizou lesado. Neste caso o terceiro também é responsável, naquelas condições. No contexto a que nos vimos referindo tem no entanto relevância a qualificação do tipo de culpa – leve ou grave. Como vimos, nos termos da Lei nº 67/2007, nos casos de culpa leve só existe responsabilidade exclusiva da instituição e serviço publico de saúde que não tem direito de regresso no âmbito das relações internas contra o profissional de saúde. Já em caso de culpa grave, ou seja, em que se verifique a diligência e zelo manifestamente inferiores aos exigidos ou negligência grosseira, a responsabilidade civil continuava a ser exclusiva da pessoa colectiva pública nas relações externas, gozando esta de direito de regresso. Estamos no fundo a aproximar-nos de sistemas de socialização do risco – o que implicará também equacionar a questão da cobertura desse risco seja através dos mecanismos de segurança social seja através do seguro pessoal obrigatório -, ou, ao menos, de sistemas alternativos de reparação do dano, sejam estes de tipo escandinavo – de pura responsabilidade objectiva quanto a danos provocados por cuidados de saúde -, do tipo alemão – fazendo intervir a teoria das esferas de risco como teoria justificativa da inversão do ónus de prova -, ou mesmo recorrendo a novas teorias sobre análise do erro que transferem o ónus de culpa mais para o sistema e menos para os indivíduos. O prejuízo causado por serviço público pressupõe pois uma presunção de culpa, a qual implicaria um ónus de prova da culpa a cargo da administração pública, como se reclamava desde a jurisprudência fixada pelo Arrêt Déjous de 7 de Março de 1958 e que entre nós se clarificava já no Acórdão do STA de 17/6/1997 que doutrinava que “a culpa do ente colectivo, como um hospital, não se esgota na imputação de uma culpa psicológica aos agentes que actuaram em seu nome, porque o facto ilícito que causar certos danos, pode resultar de um conjunto, ainda que mal definido, de factores, próprios da desorganização ou da falta de controlo ou da falta de colocação de certos elementos em determinadas funções, ou de outras falhas que se reportam ao serviço como um todo (...) ao lado da culpa dos agentes, é possível falar-se de uma culpa do serviço”. Mas não pode no entanto esquecer-se que a socialização do risco ou à objectivização da responsabilidade não são alheias preocupações – mormente em matéria de seguros – que relevam de um plano de análise económica do Direito, o que tem sido sobremaneira claro por exemplo no debate que a Espanha tem travado recentemente. Está pois em causa a especial atenção devida ao desenho dos circuitos, à correcta e eficiente direcção dos serviços, à revisão periódica de protocolos, normas de segurança e programas de treino, a falhas de comunicação resultantes de deficiente entendimento dos protocolos, e portanto, para o que nos interessa, também à sindicabilidade noutros termos, de uma eventual decisão (por acção ou omissão) de não sujeição do sangue a transfundir a testes, ou de o submeter a testes que não os SIDA NET 102 reclamados pelas leges artis, ou mesmo de proceder à transfusão com desrespeito dos protocolos aplicáveis, todas situações que merecem óbvia distinção. 6. As obrigações de meios, as obrigações de resultados, as obrigações de segurança A transposição do plano médico para o plano hospitalar leva já à consideração de faltas não médicas de gestão e funcionamento ou organização do hospital, em que a Administração actua como écran entre lesado e agentes, o que é favorável para o lesado. Neste sentido de evolução do critério da culpa para o critério do risco8, se deve entender a jurisprudência que neste contexto hoje apela à violação de dever objectivo de cuidado, à possibilidade objectiva de prever o preenchimento do tipo, à produção do resultado típico quando este seja a consequência da criação ou potenciação pelo agente, de um risco proibido de ocorrência do resultado. Estas considerações implicam também a reequacionação do distinguo entre as obrigações de meios e de resultados, fazendo surgir antes o terceiro termo das obrigações de segurança, que revolucionam a referida dicotomia em termos objectivos. A obrigação é de meios quando o profissional assume prestar um serviço ao qual dedicará atenção, cuidado e diligência exigidos pelas circunstâncias, de acordo com o seu título, com os recursos de que dispõe e com o desenvolvimento actual da ciência, sem se comprometer com a obtenção de um certo resultado. O médico, normalmente, assume uma obrigação de meios. ”A obrigação será de resultado quando o devedor se comprometer a realizar um certo fim, assumida pelo médico quando se compromete a efectuar uma transfusão de sangue, ou a realizar certa visita. ”Ora, sendo a obrigação de resultado, basta ao lesado demonstrar, além da existência do contrato, a não-obtenção do resultado prometido, pois isso basta para caracterizar o não cumprimento do contrato, independentemente das suas razões, cabendo ao devedor provar o caso fortuito ou a força maior que o exonerem de responsabilidade. Na obrigação de meios, o credor (lesado, paciente) deverá provar a conduta ilícita do obrigado, isto é, que o devedor (agente, médico) não agiu com atenção, diligência e cuidados adequados na execução do contrato. No caso da transfusão de sangue, o contexto do uso de derivados do sangue pode também aproximar-se da disciplina dos direitos básicos do consumidor e da obrigação de segurança que impende sobre o produtor em caso de produtos defeituosos – recordese que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos mesmos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.9 ”Esta articulação resulta aliás bem patente no Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social Europeu - Terceiro relatório 8 Veja-se Mafalda Miranda Barbosa, Liberdade vs responsabilidade – a precaução como fundamento da imputação delitual?, Almedina, 2006. 9 Sobre a dicotomia entre obrigação de meios e obrigação de resultados em matéria de utilização de objectos defeituosos veja-se em França o exemplificativo Arrêt de 22.2.84 da Cour d’Appel de Colmar. SIDA NET 103 sobre a aplicação da Directiva do Conselho relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos (Directiva 85/374/CEe do Conselho, de 25 de Julho de 1985,com a redacção que lhe foi dada pela Directiva 1999/34 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Maio de 1999)/* COM/2006/ 0496 final. Nesta matéria, mencione-se ainda o Relatório da Fondazione Rosselli (publicado em 2004) quanto ao desenvolvimento de produtos de risco previsto na alínea e) do artigo 7.º da Directiva 85/374/CEE em matéria de responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos. Esta cláusula exclui a responsabilidade por danos causados por um defeito que não podia ser previsto, tendo em conta o estado dos conhecimentos científicos e técnicos no momento em que o produto foi desenvolvido. A interpretação da alínea e) do artigo 7.º criou algumas dificuldades, dando lugar a diferentes interpretações dos tribunais: por exemplo nos processos relativos a sangue infectado: em A contra National Blood Authority (1999) Supremo Tribunal Inglês (English High Court) – sangue infectado com hepatite C, e Hartman contra Stichting Sanquin Bloedvoorziening (1999) Tribunal Distrital de Amesterdão - VIH, as conclusões são opostas. Conclusões 1. Parece hoje que a lei e a jurisprudência – mormente no contexto da revisão da lei ordinária vigente em Portugal e a que não é alheia a evolução normativa comunitária – evoluem num sentido de objectivização da responsabilidade, ainda que não ainda em termos definitivos ou exclusivos. 2. O STA mantém uma postura indefinida. Ora aceita a responsabilidade por culpa imputável ao serviço ora exige a individualização de um funcionário a que pode atribuir a culpa do acto lesivo. No entanto, parece poder dizer-se que ao menos tentativamente a responsabilidade objectiva operou a superação do modelo aquiliano da responsabilidade civil, e que a face visível da autonomia publicista do dever de indemnizar do Estado reside na extensão e na importância da sua “responsabilidade objectiva” de garante por oposição à regra de responsabilidade subjectiva característica do direito privado. 3. A referida objectivização da responsabilidade pode verificar-se a dois níveis: ou no sentido de a responsabilidade hospitalar surgir em primeira linha por lhe serem imputadas falhas do sistema de organização de gestão, ou no sentido de surgir como subsidiária em relação à responsabilidade estritamente decorrente de acto médico. 4. Nestes sentidos, parece cada vez mais evidente que a responsabilidade neste contexto será progressivamente mais complexa, sendo devida pelo “acto de cuidado de saúde” também progressivamente densificado pelas leges artis, ou seja, por regras de avaliação de determinada conduta médica. 5. No entanto, não mais se pode perspectivar uma dicotomia simples entre obrigações de meios e de resultados, já que o conceito de actividade perigosa, de prejuízo especial e anormal e de falha organizacional impõem a valoração do resultado da dita conduta em conformidade com a técnica e padrões exigidos ou a adequação da mesma com actuações profissionais em casos análogos. SIDA NET 104 6. Assim, o cotejo de um dever de diligência com a aferição de eventual negligência importa nova configuração das teorias em torno do nexo ou relação de causalidade equivalência das condições ou conditio sine qua non, cursos causais não verificáveis, but for test, substancial factor test, probabilidade estatística, pertes de chances , agravação pelo resultado, falta virtual, comportamento lícito alternativo. 7. Ou seja, e se fosse hoje reanalisada a matéria em apreço: i) Apesar de se ter verificado uma alteração recente da lei ordinária, sempre se dirá que a génese do movimento de objectivização da responsabilidade já de alguma forma se perspectivava no Decreto-Lei nº 48051, apesar da roupagem mais sistemática que agora recebe na Lei nº 67/2007; ii) Ter-se-ia obviamente em conta a alteração das leges artis, já que não seria possível hoje em dia alegar o desconhecimento ou a não exigência de rastreio; iii) Quase paradoxalmente, se uma análise simplificada nos levaria – precisamente por causa da evolução da ciência – a excluir a responsabilidade pelo risco nos mesmos termos em que o fez a jurisprudência do STA em casos anteriores, a verdade é que análise mais funda nos levaria provavelmente a constatar a inexorabilidade de tal risco – em matérias de evolução incerta e de prognóstico reservado; iv) Seria de admitir a responsabilidade objectiva, parecendo verificados os requisitos a que lei alude hodiernamente para imposição do dever reparatório ao Estado. SIDA NET 105 SIDA NET 106 A TRANSMISSÃO DO VÍRUS DA SIDA CONSTITUI UMA CONDUTA CRIMINALMENTE RELEVANTE? (CONSIDERAÇÕES SOBRE A TIPICIDADE CRIMINAL) Susana Aires de Sousa - Universidade de Coimbra - Portugal I. Introdução A sida constitui não apenas um problema médico como também um problema social que suscita à ordem jurídica e, em particular, à ordem jurídico-penal a consideração e resolução de diversos problemas. Estas questões confrontam o sistema penal em toda a sua extensão: desde os pressupostos que legitimam a intervenção penal até à imputação objectiva de condutas tardias e ao domínio da prova processualmente admissível, passando pela adequação da técnica legislativa e pelo concreto tipo de crime eventualmente realizado. Neste trabalho elege-se como objecto de estudo a eventual relevância típica da conduta daquele que infecta outra pessoa com o VIH, por via sexual. Tem-se em vista analisar os tipos legais convocados pela conduta, tomando por parâmetros os princípios jurídico-penais dominantes em matéria de imputação objectiva, designadamente o âmbito de protecção da norma, de modo a delimitar a relevância jurídico-criminal daquela conduta. Uma das questões principais e primeiras que confronta o jurista é a questão da tipicidade criminal, designadamente quanto a eventuais delitos de resultado como o homicídio ou a ofensa à integridade física (artigos 131.º e 143.º, ambos do Código Penal) ou ainda de delitos estruturalmente mais complexos como a propagação de doença (artigo 283.º do mesmo diploma). Por sua vez, o problema da imputação do perigo de contágio ou do eventual resultado lesivo assume particular dificuldade, designadamente, nesta última hipótese por se referir à imputação de resultados tardios. II. A imputação de resultados tardios. Breve referência doutrinal Na ilustração deste problema recorre-se às expressivas palavras de Claus Roxin quando a propósito dos danos sobrevindos posteriormente, no contexto dos crimes negligentes, se interroga sobre o sentido semântico atribuível ao dizer-se que um soldado “caíu” na guerra, quando esse soldado morre muito tempo depois de firmada a paz, mas em consequência das feridas de guerra1. A nota distintiva da imputação de resultados tardios traduz-se no facto de mediar um considerável lapso temporal entre a acção e a consequência lesiva. Deste modo é 1 Cf. Problemas Fundamentais de Direito Penal, Lisboa: Vega, 2004, p. 288. SIDA NET 107 importante determinar se o primeiro processo causal posto em marcha pela conduta do agente foi interrompido ou se o seu próprio devir é responsável pelo desencadear do resultado posterior2. Com frequência se aponta como exemplo destas situações o estado de coma provocado por uma lesão (primeiro resultado da acção inicial) que evolui até um resultado lesivo posterior (a morte). Por conseguinte, há um continuum na produção de um resultado (ou entre as distintas fases do seu processo causal) susceptível de o reconduzir à actuação inicial. Todavia, os exemplos são variados e estendem-se a diferentes realidades, tendo alguns deles merecido amplo destaque na opinião pública pelas consequências nefastas que originaram. Pense-se, por exemplo, nas mortes e doenças decorrentes da comercialização da talidomida na década de 60 do século passado, ou nas consequências pessoais e ambientais do desastre de Chernobyl, muitas das quais ainda hoje não totalmente esclarecidas. Esta discussão pode ser igualmente transposta para o contexto da transmissão, por via sexual, do vírus da sida, na medida em que as consequências desta infecção podem manifestar-se transcorrido um considerável lapso temporal. Resta pois saber se a progressão da doença desde o momento do contágio até à produção de um resultado lesivo se pode ainda considerar linear, pressupostos os actuais avanços médicos e de tratamento clínico – o que sobrevém actualmente marcado pela dúvida. Por conseguinte, destaca-se a questão de saber se, neste contexto, existe um eventual resultado lesivo posterior (v. g., a morte ou ofensa à integridade física) ainda susceptível de ser imputado à acção infecciosa do portador do VIH. A título meramente exemplificativo da complexidade e da discussão doutrinal gerada pelo problema da imputação de resultados tardios faz-se uma breve alusão a algumas das principais propostas doutrinárias3. A doutrina alemã tem concedido particular atenção quer em geral ao estudo da imputação dos resultados tardios, quer referindo-se especificamente à problemática da sida. Alguns autores admitem a imputação dos resultados tardios sem qualquer limite ou restrição. Para esta corrente doutrinal prevalece a ideia de que, de um ponto de vista valorativo, não há motivos para tratar de forma diferente quem produz um resultado lesivo de forma imediata à realização da conduta proibida frente a quem provoca o resultado decorrida que esteja uma margem temporal mais ampla. É esta a posição de, entre outros, Scherf, Schram, Scheuerl, Bottke ou Jakobs. Implicitamente em relação à problemática da sida, Eberbach4. Entre os autores que excluem a imputação pelos resultados tardios destaca-se Schünemann5. Vinculando o seu raciocínio à problemática específica do VIH, este autor apresenta dois critérios – a imprevisibilidade e a incontrolabilidade – determinantes na exclusão da imputação da transmissão do VIH a título de homicídio. Considera que nos processos causais que se desenvolvem no tempo, o agente não 2 Desenvolvidamente, GOMEZ RIVERO, Maria Cármen, La Imputación de los Resultados Producidos a Largo Plazo, Valencia: Tirant lo Blanch, 1998, p. 11 e ss. 3 Seguimos a este propósito a sistematização e análise dogmática realizada por GOMEZ RIVERO, Maria Cármen, La Imputación…, op. cit., p. 67 e ss. 4 Cf. GÓMEZ RIVERO, Maria Carmen, La Imputación…, op. cit p. 67, com mais referências e desenvolvimentos. 5 Cf. «Problemas jurídico-penales relacionados con el Sida», in: Problemas Jurídico Penales del Sida, Barcelona: J. M. Bosch Editor, 1993, p. 27 e ss. (também disponível in: Temas Actuales y Permanentes del Derecho Penal después del Milenio, Madrid: Editorial Tecnos, 2002, pp. 227 e ss.). SIDA NET 108 dispõe de qualquer forma de influência no desenrolar da enfermidade (Unbeherrschbarkeit) o que impede que lhe possa ser imputado o resultado posterior. Consistindo esse resultado na morte da vítima, rejeita a possibilidade de o reconduzir à tipicidade de homicídio com base em diversos argumentos, na maioria assentes no que designa como uma correcta interpretação (gramatical, sistemática e teleológica) da norma incriminadora. Em primeiro lugar, considera incompatível o sentido social da acção de matar, inequivocamente ligada à imediação do resultado, e a recondução destas situações ao tipo legal de homicídio, sublinhando o paradoxo decorrente da afirmação do agora infectado de que foi vítima de homicídio e que a dita tentativa não fracassou. Em segundo lugar, Schünemann sublinha que a distinção realizada pelo legislador entre os tipos de ofensa à integridade física e homicídio impede de forma definitiva a recondução destes casos ao tipo legal de homicídio, na medida em que toda a ofensa, enquanto tal, supõe o esgotar parcial de recursos vitais e consequentemente diminui a expectativa de vida restante. Ora, o legislador ao fixar no catálogo a moldura penal correspondente às ofensas à integridade física considerou também o encurtar da vida como algo de consubstancial àquele tipo legal. Por outro lado, se a diminuição da expectativa de vida fosse equivalente à acção de matar, então praticamente todas as lesões à integridade física, na medida em que determinam um esgotar dos recursos vitais, estariam abrangidas por aquele conceito. Por fim, Schünemann considera ainda que, de um ponto de vista político-criminal, uma eventual condenação por homicídio não conseguiria um maior efeito preventivo do que a eventual condenação por ofensas à integridade física, pois dificilmente se poderia demonstrar a insuficiência desta norma para criar no infectado com VIH a vivência do desvalor da transmissão do vírus6. Ainda neste contexto, merece especial referência Herzberg 7 que considera ser uma exigência imposta pelo sentimento jurídico não fazer responder por tentativa de homicídio o portador do VIH que se limita a admitir a produção do resultado letal (diferentemente de outros casos em que o mesmo sentimento jurídico parece afirmar a responsabilidade penal). A aplicação dos seus critérios à específica problemática colocada pela infecção do vírus leva-o a afirmar que, mesmo no caso do portador pretender dolosamente infectar a outra pessoa na esperança de o contaminar e de por esta via lhe causar a morte passado alguns anos, a sua responsabilidade haveria de decorrer dos tipos de lesões à integridade física e nunca do tipo de homicídio. Considera o decurso do tempo um factor determinante para a limitação da responsabilidade penal. Entende que os limites da responsabilidade são definidos pela aplicação analógica dos prazos de prescrição do delito, de tal modo que, em princípio, a atribuição normativa do resultado será possível enquanto estes não tenham decorrido. Também o autor espanhol Luzon Peña8, referindo-se à problemática da imputação dos resultados tardios de lesões ou morte no contexto da transmissão do VIH, coloca sérias dúvidas e obstáculos à afirmação da conduta típica de homicídio. Muito embora 6 Ibidem, p. 35. 7 «Die Strafdrohung als Waffe im Kampf gegen Aids?», NJW 1987, apud GÓMEZ RIVERO Maria Carmen, op. cit.., pp.71 e ss. 8 Cf. «Problemas de la transmisión y prevención del Sida en Derecho Penal español», Problemas Jurídico Penales del Sida, (cord. Mir Puig), Barcelona: Bosch Editor, 1993, p. 18. SIDA NET 109 não exclua essa possibilidade, sublinha que a exclusão do tipo legal de homicídio dar-se-á não tanto por falta da imputação objectiva, mas antes porque «encurtar em alguns anos a vida não tem o significado da acção típica de matar»9. Uma posição algo diferente é seguida por Maria Carmen Gómez Rivero que considera não existirem, em abstracto, obstáculos conceptuais em referir a conduta do portador à tipicidade das ofensas corporais, nem, sendo o caso, ao tipo de homicídio. Todavia, em matéria de imputação de resultados tardios deve convocar-se, segundo a autora, dois critérios adicionais limitativos como forma de prevenir resultados injustos e com a finalidade de limitar ou excluir a responsabilidade criminal. Estas subcategorias são designadas como adequação ou procedência da imputação e, em segundo lugar, a atribuição típica do comportamento. O primeiro limite baseia-se exclusivamente em exigências político-criminais de punição a partir dos fins das penas. Através deste limite fundamentam-se quer casos de atenuação punitiva – resultados negligentes produzidos a longo prazo –, como casos de exclusão da punição de um ponto de vista preventivo – actuação negligente não seguida de resultado. Ao invés do primeiro, o segundo daqueles limites não se restringe a corrigir a pena que de outro modo corresponderia à conduta. Na verdade, o seu âmbito de actuação é mais extenso na medida em que exclui totalmente a responsabilidade do autor transcorrido um lapso temporal importante (cujo critério se encontra nas regras da prescrição). Nas situações de verificação cumulativa destes dois limites (que, para a autora seriam referidas aos casos em que o agente não actuou intencionalmente) prevalece uma nota evidente de subsidiariedade: só quando a dilação temporal entre a conduta e o resultado não obrigue, por razões de segurança jurídica, a excluir a punição, é que funcionará a atenuação punitiva do primeiro limite. III. Uma questão prévia Surge como necessária uma reflexão prévia acerca da legitimidade e eficácia da intervenção penal no contexto da transmissão do vírus da sida. Na verdade, a possibilidade de incriminar penalmente a transmissão dolosa ou imprudente do VIH aparece directamente condicionada pela própria realidade social e criminológica em que se contextualiza o contágio. Todavia, as respostas da doutrina penal estão longe de alcançar um consenso unânime acerca desta intervenção e/ou do modo como ela deve realizar-se. Alguns autores têm defendido a exclusão do direito penal nesta matéria encontrando arrimo em diversos argumentos, designadamente na ineficácia das normas penais em travar a difusão do vírus; nos prejuízos pessoais e sociais que a criminalização destes comportamentos acarreta; na inexistência de um comportamento criminalmente relevante, pressuposta na normalidade dos casos dada a ausência de uma vontade de contágio e como tal, do ponto de vista jurídico, de uma actuação dolosa; e, por fim, na auto-responsabilidade do risco de infecção em que o companheiro, ainda que não informado, incorre10. Esta perspectiva minimalista do direito penal pretende sobretudo realçar que «a intervenção penal neste contexto obnubila e desincentiva as políticas 9 Ibidem 10 Para uma análise mais desenvolvida destes argumentos, HERZBERG, Rolf Dietrich, «Sida: desafio y piedra de toque del derecho penal. Comentário a la sentencia del BGH de 4 de Noviembre de 1988 (1StR 262/88), in: Problemas Jurídico Penales del Sida, Barcelona: Bosch Editor, 1993, p. 122 e ss. SIDA NET 110 sanitárias e de sensibilização para o flagelo da sida, pois introduz uma tutela estatal heterónoma onde se pretende educar e estimular a auto-responsabilidade. Este efeito de concorrência faz com que essa tutela seja altamente contra-producente»11. Um maior grau de consenso merecem as soluções diferenciadoras que fazem depender a intervenção penal de uma análise casuística, e, em concreto, do âmbito e contexto em que se desenvolve a relação de contágio, bem como da igualdade ou disparidade do conhecimento sobre a situação do risco por parte de cada um dos parceiros 12. Deve ser sublinhado e reconhecido que a ressonância do direito penal no contexto de transmissão do VIH é muito diminuta. A sida é um problema social que ultrapassa desmedidamente o direito penal. As motivações humanas presentes neste cenário tornam-se surdas à capacidade de motivação da norma penal. Como tal, não pode esperar-se que o direito penal seja o único ou sequer o primeiro instrumento no combate à propagação da doença. E, de todo, não será o mais eficaz. Mas, como refere Augusto Silva Dias, isso não significa que a proibição jurídico-penal de certos comportamentos não desempenhe nenhum papel nesse combate e muito menos que o direito penal impeça a formação de premissas de auto-responsabilidade13. Todavia, entendemos que uma intervenção criminal adequada tem necessariamente de atender às especificidades problemáticas do contexto de transmissão. Trata-se de uma intervenção fragmentária, vinculada a comportamentos de uma gravidade tal perante bens jurídico-penais que, em obediência ao princípio da proporcionalidade, sustentem e convoquem a aplicação de uma sanção criminal. A funcionalidade e a conveniência da intervenção penal há-de adequar-se, em nosso modo de ver, não só às realidades dogmáticas que possa oferecer o direito penal, mas também à realidade contextual em que se desenvolve a transmissão da própria enfermidade. Deste modo, deverá atender-se à concreta situação contextual em que ocorre o contágio. Nesta medida, destaca-se a relação de conflito entre dois princípios fundamentais: o princípio da confiança e o princípio do risco. De um lado, o conhecimento hoje socialmente generalizado sobre os riscos e modos de transmissão da doença, permitem afirmar como regra geral que o sujeito que voluntariamente assume determinadas práticas perigosas, como partilhar seringas ou manter relações sexuais de risco, está implicitamente a aceitar a perigosidade que lhe é inerente; mas, por outro lado, esta consciência generalizada em torno do risco que determinadas condutas comportam, não converte automaticamente aquele que é infectado no único responsável da sua actuação, com a consequente exclusão de responsabilidade do portador, pois é possível, nalguns casos, afirmar uma margem de confiança que iniba o risco referido. Na sequência destes dois pressupostos Maria Cármen Gómez Rivero14 distingue uma relação conflitual entre um certo grau de confiança depositado na pessoa do 11 Cf. DIAS, Augusto Silva, «Responsabilidade criminal por transmissão irresponsável do vírus da Sida: um olhar sobre o Código Penal português e o novo Código Penal de Cabo Verde», in: Colectânea de Textos de Parte Especial do Direito Penal, Lisboa: AAFDL, 2008, p. 77. 12 Cf. Gómez Rivero, La Imputación…, op. cit., p. 165 e nota 273. 13 Cf., mais desenvolvidamente, DIAS, Augusto Silva, «Responsabilidade criminal por transmissão irresponsável do vírus da Sida», op. cit., p. 78 e s. 14 Cf. La Imputación…, op. cit., pp. 169 e ss. SIDA NET 111 portador e o risco de infecção assumido pelo não portador. Considera esta autora que faltando um destes vectores o problema se simplifica. E, na verdade, nos casos em que a relação é estável seria difícil considerar que quem voluntariamente decide ter relações sexuais sem adoptar medidas de protecção esteja assumindo implicitamente um risco de contágio e negar-lhe, desta forma, tutela penal. O único princípio que subsistiria nestas situações é o princípio da confiança na condição de não portador do companheiro. Por conseguinte, seria imprudente excluir de um modo geral e apriorístico a eventual responsabilidade criminal inerente à transmissão do vírus. Afirmar o contrário corresponderia a aceitar que toda a relação sexual comporta um risco para a vida que terá de ser assumido por quem nela consente. Com efeito, alguns autores têm defendido a existência, nestes casos, de uma posição de garantia por parte do portador/infectado fundamentado no conhecimento especial da sua situação, o que lhe confere o domínio sobre a causa do resultado15. Esta posição de garantia seria então suficiente para fundamentar uma eventual responsabilidade criminal por omissão. No extremo oposto, situam-se aquelas situações em que não existe qualquer vestígio daquele chamado princípio de confiança (v. g., prática de relações sexuais com membros dos denominados grupos de risco ou a partilha de seringas). A intervenção do direito penal revelar-se-ia carecida de sentido por não existir qualquer confiança a tutelar. Por conseguinte, neste particular contexto, deve prevalecer o risco assumido pelo não portador, não se justificando a intervenção penal. Porém, a maioria das situações não se situam em qualquer um daqueles pólos extremos. Basta atender ao quadro das relações esporádicas entre sujeitos que, não tendo conhecimento sobre a condição de portador do vírus do parceiro, tão pouco realiza um comportamento que possa reconduzir-se àquelas situações de risco. Neste contexto relacional deve convocar-se, mais uma vez, a relação de conflito entre os princípios da confiança e do risco. Em particular e na concretização desse conflito, adquire especial relevância, nestes casos, o grau de conhecimento da doença tido por cada um dos membros da relação. Neste sentido, se ambos têm conhecimento da situação de risco de transmissão do vírus, cabe perguntar qual o efeito da anuência na situação de risco por parte daquele que conhece a condição de portador da outra pessoa. A pergunta ganha relevância se se considerar que a infecção pode ou não ser tomada como possível pela outra pessoa, dada a inexistência de uma probabilidade de 100% na transmissão da doença16. A este propósito talvez se possa convocar a distinção proposta pela doutrina a propósito de eventuais correcções da imputação de um resultado a uma conduta por forma a restringir a afirmação do nexo de causalidade e consequentemente a responsabilidade criminal que daí poderia resultar. Trata-se dos princípios da auto-colocação em perigo realizada pela própria vítima (“ Selbstgefährdung ”) frente aos casos de consentimento desta na colocação em perigo por terceiro (“ Einwilligung in einer Fremdgefährdung ” ) . O critério da distinção reside em saber quem tem o domínio de facto sobre a fonte perigo, e neste sentido se a “vítima” se auto-coloca em perigo ou assente que outrem o coloque em 15 Cf. SCHÜNEMANN, Bernd, «Problemas Jurídico-penales del Sida», op. cit., p. 54. 16 Cf. desenvolvidamente e com mais referências GÓMEZ RIVERO, Maria Carmen, La Imputación…, op. cit., p. 180 e ss. SIDA NET 112 perigo17. Na primeira há uma co-actuação de alguém na auto-colocação em perigo de outrem (por exemplo: alguém morre de overdose por se ter injectado com uma quantidade de heroína deixada na sua mesa de cabeceira por um amigo). Nas situações de heterocolocação em perigo a actuação de uma pessoa põe em risco outra mas com a concordância desta (v. g. o conhecido “caso de escola” do barqueiro que, apesar de uma forte tempestade, acede a atravessar o rio perante a insistência de outrem que pretendia passar para o outro lado, acabando por se voltar o barco e provocando a morte daquele passageiro). Em ambos os casos, a doutrina alemã tem defendido a exclusão do âmbito de tutela da norma penal. Tal solução é igualmente suportada pelo quadro jurídico-penal. Com efeito, na primeira hipótese o fundamento para sustentar a não punição defendida por alguma doutrina alemã, decorre de um argumento retirado da lei penal alemã a partir da não punição das condutas de auxílio ao suicídio e das lesões infligidas ao próprio. O mesmo argumento não procede no quadro da lei penal portuguesa, uma vez que os actos de auxílio ao suicídio são entre nós punidos, nos quadros do artigo 135.º do CP18. Deste modo, o nosso quadro legal há um maior constrangimento à disponibilidade do bem jurídico vida (de outrem) na medida em que o auxílio à morte, pedido e consentido por aquele que quer morrer, é punido. Deste modo, importa saber, na procura de solução para as situações em análise, se estas são ainda abrangidas pelo âmbito de protecção do homicídio e das normas penais com ele relacionados (o que se analisa no ponto IV. 1) e, em última instância, se nas situações em análise está ou não em causa a tutela imediata do bem jurídico-penal vida humana (de outrem). Deste modo, pressuposta a relativa indisponibilidade criminal em consentir na lesão por outrem de alguns bens jurídicos – como a vida – somos remetidos para um segundo momento que consiste na análise concreta do tipo legal ou tipos legais de crime que estas situações convocam. Ao contrário das situações extremas atrás consideradas, não é possível resolver estes casos num primeiro momento onde se averigua do conflito entre o princípio da confiança e o princípio do risco e da supremacia absoluta de um deles sobre o outro. A força relativa de ambos os princípios exige um passo posterior concretizado na determinação do âmbito de protecção da norma incriminadora. Num contexto em que apenas o portador tem conhecimento do seu estado de saúde as necessidades de confiança aumentam perante a inerente aceitação do risco. É a diferença significativa entre o conhecimento que cada um dos sujeitos tem sobre o risco situacional que faz aumentar a necessidade da tutela da confiança. O portador actua com pleno conhecimento da sua condição, consciente que o risco assumido pelo seu parceiro assume é bastante mais elevado do que pensa. É este conhecimento superior que, segundo a análise de Maria Cármen Gómez Rivero, leva parte da doutrina a excluir, nestes casos, a auto-responsabilidade da vítima e a ver nela um mero instrumento fundamentando a responsabilidade do transmissor a partir do expediente da autoria mediata19. 17 ROXIN, Claus, «Sobre o fim da protecção da norma nos crimes negligentes», Problemas Fundamentais de Direito Penal, Lisboa: Veja, 2004, p. 284, que entende que «o sentido profundo de tal diferenciação radica em que uma pessoa domina a todo o momento com a sua própria decisão a medida em que se quer expor ao perigo procedente das suas próprias acções, enquanto que o mero facto de tolerar a exposição ao perigo que é obra de outra pessoa deixa a vítima à mercê de um desenvolvimento imprevisível que, por vezes, por vezes, pode não ser controlado nem interrompido num estádio em que, pelo contrário, ainda o pode fazer quem se põe em perigo a si mesmo». 18 Quanto ao ordenamento jurídico-penal espanhol vide GÓMEZ RIVERO, Maria Cármen, La Imputación…, op. cit., p. 183. 19 Cf. Ibidem, p. 188. Seguem esta posição, segundo a autora, HERZOG / NESTLER-TREMEL e SCHÜNEMAMNN. SIDA NET 113 Na generalidade dos casos, parece extremamente difícil que se possa qualificar aquele que não dispõe da totalidade da informação como um mero instrumento nas mãos do portador do vírus. Por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, a instrumentalização pressuposta na autoria mediata pressupõe um total domínio da vontade do instrumento que confere ao homem de trás (autor mediato) o total domínio do acontecimento criminoso. Ora, esse total domínio da vontade, essencial à figura da autoria mediata, não existe nestes casos, desde logo porque o “instrumento” nãoportador da doença, está ou deve estar consciente do risco inerente à sua conduta. O que imediatamente se liga com a segunda razão inerente ao contexto informacional que actualmente rodeia a transmissão do vírus que consequente generalizou e consciencializou o risco. Esta consciencialização do risco, embora não anule, faz regredir a necessidade de tutelar a confiança daquele que dele está consciente. Existe o risco de a outra pessoa estar infectada, risco que compreende a eventualidade da infecção, risco que é voluntariamente assumido. Deste modo, há um “erro”, não quanto à existência do risco, mas relativo à quantidade de risco. Procurar estender a protecção penal a estes casos corresponde a correr o risco de querer transformar o direito penal num meio de prevenção da transmissão do vírus VIH20. Até aqui considerámos hipóteses em que o infectado não adoptou precauções mas a mesma ideia parece ter lugar nos casos em que o infectado adopte medidas para evitar o contágio. O direito penal não deve perder de vista o seu carácter de ultima ratio. Um desses limites à intervenção penal é preconizado pelo risco permitido. E esta parece ser uma situação aí reconduzível21. Todavia, a delimitação do risco proibido há-de resultar da análise das normas incriminadoras, e do respectivo âmbito de protecção. Trata-se de uma reflexão jurídica breve e funcionalizada ao quadro factual aqui pressuposto, a saber, se actuação do agente portador do vírus da sida que infecta outrem pode reconduzir-se a algum dos tipos legais previstos no Código Penal (CP). IV. Transmissão do VIH no contexto da lei penal portuguesa 1. O tipo legal de homicídio (artigo 131.º do CP) A tutela jurídico-penal da vida funda-se, em primeiro linha, no tipo de homicídio simples previsto e punido no artigo 131.º. É a partir deste tipo fundamental que a lei constrói os restantes tipos de crimes contra a vida, ora qualificando-o, ora privilegiando-o, ora especializando as formas de ataque ao bem jurídico ou o tipo subjectivo de ilícito e de culpa. O bem jurídico protegido é a vida humana, desde o seu início e até ao seu termo. O tipo objectivo de ilícito de homicídio realiza-se com a morte de outra pessoa, isto é, com o causar a morte de pessoa diferente do agente. Assim, “causar a morte” quer significar a necessidade de se estabelecer o indispensável nexo de imputação objectiva do resultado à conduta. 20 Alguns autores admitem neste contexto a relevância de um erro na formação da vontade e, por esta via, uma eventual responsabilidade do infectado decorreria dos tipos legais que procuram tutelar a livre formação da vontade da vítima, mais concretamente através de uma interpretação extensiva dos tipos de crimes relativos à coacção. Neste sentido GÓMEZ RIVERO, Maria Carmen, La Imputación…, op. cit., p. 190. 21 Neste sentido e de modo mais desenvolvido GÓMEZ RIVERO, Maria Carmen, ibidem, pp. 191 e ss. SIDA NET 114 A doutrina da imputação objectiva introduziu algumas correcções práticas de forma a evitar determinadas soluções a que chegaríamos pela teoria da causalidade adequada. Em causa não está a determinação de uma relação causal (natural), mas antes a avaliação da imputação jurídica: “será juridicamente adequado imputar este resultado a esta conduta?” Esta doutrina parte da ideia fundamental de risco (todos nós, vivendo no mesmo mundo, somos obrigados a partilhá-lo) e mobiliza vários critérios no sentido de limitar as condutas que realizam um risco proibido. Um desses critérios corresponde à determinação do âmbito de protecção da norma cujo conteúdo reside na ideia de que o resultado jurídico-penalmente desvalioso não deve ser imputado a uma conduta geradora de um risco proibido quando a norma determinante de tal proibição não visa impedir a produção daquele resultado. É certo que o tipo objectivo de ilícito do artigo 131.º se realiza com o causar a morte a pessoa diferente do agente. Todavia, embora se possa afirmar um contributo da doença contraída no resultado final morte, tal não é suficiente para que se possa imputar juridicamente aquele resultado àquela acção. E é assim tanto de uma perspectiva de causalidade adequada, uma vez que é hoje questionável, face aos avanços médicos e clínicos, se, segundo as regras da experiência médica, transmitir o vírus da sida é uma conduta adequada a causar a morte. Como de uma perspectiva assente no âmbito de protecção da norma incriminadora de homicídio. Na verdade, como refere Costa Andrade, a sida é um «processo longo e dinâmico», sendo que «entre o contágio e a doença podem mediar mais de vinte anos»22. Deste modo, em nosso modo de ver, o risco criado pela conduta do portador da doença não é um dos riscos proibidos pelo núcleo de protecção da norma. Deve ainda acrescentar-se que o artigo 131.º do CP, enquanto exemplo primário de um delito de lesão, restringe o seu âmbito de protecção às lesões do bem jurídico vida humana. O risco proibido assenta no risco de lesão deste bem jurídico. Deste modo, não se compadece com o mero perigo de lesão deste mesmo bem jurídico. Perigo esse pressuposto e tipificado pelo legislador através de outras incriminações que procuram antecipar a tutela da vida humana (v. g. ofensa à integridade física, a exposição ou abandono, a condução sobre o efeito de drogas ou álcool). Por fim, no contexto da transmissão do VIH, a razão parece acompanhar aqueles autores que entendem que “encurtar a vida não é o mesmo que matar”. Se assim fosse alguns dos comportamentos considerados lesões à integridade seriam abarcados pelo artigo 131.º. O que contraria, desde logo, o sentido e a intenção da lei penal. Quem priva alguém de importante órgão ou lhe retira a capacidade de trabalho ou as capacidades intelectuais ofende a integridade física dessa pessoa, embora a sua esperança de vida possa, por vezes, ficar reduzida. Ora, o adiamento do resultado morte possibilitado pelos novos conhecimentos médicos permite «questionar se a probabilidade de morrer devido à doença (e não devido a outras circunstâncias) não estará realmente enfraquecida»23. Não se entenda do que se expôs uma defesa no sentido de o tipo legal de homicídio implicar um resultado morte imediato à conduta; é óbvio que não é assim. Esse seria todo um outro tema problemático que extravasa este estudo. Apenas se procurou 22 Cf. ANDRADE, Manuel da Costa, Direito Penal Médico, Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 13. 23 Cf. PALMA, Maria Fernanda, «Transmissão da Sida e responsabilidade penal», in: Colectâneas de Textos da Parte Especial do Direito Penal, Lisboa: AAFDL, p. 56. SIDA NET 115 sustentar que, nestas situações de transmissão do VIH, um posterior resultado morte não é reconduzível ao tipo legal de homicídio24. Coloca-se pois a questão de saber se o agente assumiu com a sua conduta algum risco proibido25. Ora se considerarmos que o risco se resume a colocar em perigo e na consequente lesão da integridade física de outra pessoa, o risco proibido corresponde à proibição típica da ofensa à integridade física. E ainda que se invoque que, dada a gravidade da doença, há um perigo para a vida daquele que é infectado, esse perigo é tipificado e absorvido pela qualificação prevista na alínea d) do artigo 144.º (ofensa à integridade física que causa um perigo à vida) e não na área de tutela típica do homicídio26. 2. O tipo legal de ofensas à integridade física (artigos 143.º e 144.º do CP) O crime de ofensas à integridade física simples constitui o tipo legal fundamental em matéria de crimes contra este bem jurídico-penal. O nosso legislador usa esta expressão “integridade física, preterindo a anterior designação de “ofensas corporais” utilizada no Código de 1886, assim como na versão originária do actual Código. Tal modificação deve-se a uma tentativa de aproximação ao bem jurídico tutelado (que não se resume à integridade corporal) e à procura de um maior rigor do texto legal. Contudo, a delimitação do conceito de integridade física tem suscitado algumas reflexões doutrinais designadamente quanto à concretização do seu conteúdo, cuja amplitude excessiva poderá contender com a protecção dispensada a outros bens jurídicos. Porém, a doutrina tem entendido que devem ser referidas a este conteúdo certas consequências psíquicas associadas a lesões do corpo ou da saúde, bem como o abalo psicológico de certa gravidade27. É a partir daquele tipo legal fundamental que o legislador constrói uma série de outros tipos legais referentes ao mesmo bem jurídico: ofensas à integridade física grave (artigo 144.º); agravação pelo resultado (artigo 145.º); ofensas à integridade física qualificada (artigo 146.º); ofensas à integridade física privilegiada (artigo 147.º) e ofensa à integridade física negligente (artigo 148.º)28. No caso em estudo, deverá atender-se, em primeiro lugar, à distinção que a nossa lei efectua entre ofensas no corpo e ofensas na saúde. Embora a maior parte das 24 Em sentido ligeiramente diferente FRISCH que, referindo-se concretamente à problemática da sida, considera que os delitos contra a vida não estão desenhados para aqueles resultados que eventualmente se realizam muitos anos depois da conduta do agente. O perigo que produzam anos mais tarde resultados mortais por causa do comportamento que conduziu ao contágio não é um perigo no sentido do tipo penal dos delitos contra a vida. Por outro lado, nem sequer será necessário recorrer a um argumento baseado na ideia de prevenção como faz SCHÜNEMANN, cf. nota 6 e texto correspondente. 25 Mas também me parece que esta dificuldade se dissiparia se considerasse o âmbito de protecção da norma como uma decorrência da interpretação teleológica a que as normas estão sujeitas, incluindo as normas penais. 26 Também DIAS, Augusto Silva, «Responsabilidade criminal por transmissão…», op. cit., p. 88, desenvolve diversos argumentos no sentido de excluir destas situações o tipo legal de homicídio. 27 FARIA, Paula Ribeiro, «Artigo 143.º», in: Comentário Conimbricense do Código Penal, § 5, p. 204. 28 Para um estudo desenvolvido e aprofundado, por todos, FARIA, Paula Ribeiro, «Artigo 143.º», op. cit., p. 202 e ss; e SÁ, Fernando de Oliveira, «As ofensas corporais no Código Penal: uma perspectiva médico-legal. Autópsia de um workshop»», RPCC 3 (1991), p. 49-443. SIDA NET 116 vezes a coincidência entre estas duas modalidades de realização do tipo prevaleça, nem sempre será assim. Segundo Eser estamos perante dois círculos que se cruzam, embora mantendo a sua autonomia. Por ofensa no corpo poderá entender-se, como refere Paula Ribeiro de Faria, “todo o mau trato através do qual o agente é prejudicado no seu bem-estar físico de uma forma não insignificante” 29. No âmbito deste trabalho importa sobretudo considerar o que deve entender-se por ofensa à saúde. Os significados atribuídos a “saúde” são diversos: saúde individual e saúde pública; saúde psicológica e saúde fisiológica, etc. Porém, deve considerar-se como lesão da saúde, em sede de ofensas à integridade física, “ toda a intervenção que ponha em causa o normal funcionamento das funções corporais da vítima prejudicando-a”, ou seja, uma alteração funcional das capacidades orgânicas (embora a determinação do nexo de causalidade entre a ocorrência de um dado facto e a alteração da saúde psíquica seja mais difícil, esta não é excluída do alcance da definição anterior)30. Deste modo, pode qualificar-se como lesão da saúde a criação de um estado de doença através de uma infecção, ou em particular do contágio de uma doença sexualmente transmissível, como é o caso da transmissão do VIH. No contexto deste trabalho merece especial atenção o disposto no artigo 144.º do CP, de modo a determinar se se verifica alguma circunstância que agrave a ofensa à integridade física. A alínea a) deste preceito refere-se à produção de lesões graves no corpo. Da alínea b) da mesma disposição constam lesões funcionais que podem não ser visíveis. Estão em causa ofensas que afectam de forma grave e permanente as funções ali especificadas. Na alínea c) da mesma norma estão tipificadas como lesões graves para a saúde doenças dolorosas ou permanentes e anomalias psíquicas incuráveis em alternativa a graves. O legislador atendeu de modo especial à duração dos efeitos nocivos sobre a saúde e à impossibilidade de os evitar. .A alínea d) , autonomizada pela reforma ao Código de 1995, alude ao perigo para a vida do ofendido. A relevância desta última alínea para os casos de transmissão do VIH advém imediatamente do carácter perigoso e grave reconhecido à doença, dada a actual impossibilidade de cura. Poderia colocar-se a questão de saber se o legislador penal exige para o preenchimento do tipo agravado um perigo concreto ou se é suficiente a ocorrência de um perigo abstracto. A doutrina tem entendido que atendendo à finalidade de protecção do bem jurídico que o tipo pretende desempenhar, deve exigir-se a verificação em concreto de um perigo para a vida para que possa ser desencadeada a punição prevista no artigo 144.º, sob pena de se considerar suficiente para o preenchimento típico uma mera possibilidade de perigo31. A questão que no âmbito deste trabalho se suscita é a de saber se haverá um perigo concreto para a vida humana nos casos de transmissão do VIH por via sexual. É certo que os avanços da medicina no tratamento da doença têm alargado bastante a esperança de vida do portador do VIH. Mas será tal suficiente para excluir a existência de um perigo concreto para a vida? O bem jurídico vida humana é especialmente propiciador a discussões quando se procura concretizar os seus limites. Ora, a vida humana não é só extensão, duração, percurso 29 Ibidem, p. 205 30 Sobre a interessante discussão em torno da existência ou não de um dever de se curar, PUCCINELLI, Oscar R., Derechos Humanos y SIDA, Buenos Aires: Depalma, 1995, p. 287. 31 Neste sentido, na nossa doutrina, FARIA, Paula Ribeiro, «Artigo 144.º», op. cit., p. 231-232. Também DIAS, Augusto Silva, «Responsabilidade criminal por transmissão…», op. cit., p. 96. SIDA NET 117 interrompido pela morte, mas contém em si um devir crescente, denso e axiológico. Ambos os aspectos são abalados. Na verdade, há alguma incongruência em reconhecer que a infecção com o VIH afecta a saúde do paciente mas não põe, actualmente, em perigo (concreto) a vida humana. Por um lado, uma infecção não representa um perigo mas antes uma verdadeira lesão na saúde da pessoa. Por outro lado, pese embora o indiscutível avanço da medicina conseguido nesta matéria, a eminência da morte está presente, ainda que ela venha a ocorrer após um largo lapso temporal, na medida em que o sistema imunitário é enfraquecido, expondo-se o doente a perigos graves para a sua pessoa. Na verdade, a eventual interrupção do nexo de causalidade não constitui por si só um argumento plausível (é óbvio que se colocam aqui as dificuldades presentes no domínio da imputação dos resultados tardios). Outrossim, a interrupção da causalidade pode igualmente acontecer quando o resultado seja quase imediato à acção (por exemplo, se A dispara contra B provocando-lhe um ferimento susceptível de lhe causar a morte mas quem desfere o último golpe e mata B é C, seu inimigo de longa data). Assim, a eventual interrupção do nexo de causalidade (aliás mais provável nos crimes em que o resultado não é imediato) não parece ser suficiente para excluir a existência de um perigo concreto para o bem jurídico vida humana de acordo com as circunstâncias do caso32. Não obstante, deve reconhecer-se que o lapso temporal existente entre o contágio e a manifestação da doença – sida –, de onde resulta o concreto perigo para a vida humana, tem vindo a ser alargado nos últimos anos pelos avanços da medicina, o que confere uma cada vez maior dificuldade em afirmar que a transmissão do VIH coloca em perigo concreto a vida. Todavia, julgamos que do estádio actual da ciência médica relativo à doença não pode, ainda hoje, deixar de derivar um concreto perigo para vida daquele que é infectado. As dificuldades também se manifestam ao nível da prova da relação causal, ou seja, da possibilidade de relacionar as manifestações patológicas decorrentes da infecção com o VIH com um acto de transmissão ou de contágio determinado33. Embora haja autores que se refiram àquela prova como dificilmente exequível, o certo é que alguns autores se têm referido à possibilidade de demonstrar concretamente e com precisão, através da análise das estirpes virais, de quem provém a infecção34. Deste modo, do ponto de vista do tipo objectivo de ilícito será possível determinar o acto de contágio do qual resultou a lesão da integridade física. Em nota conclusiva, do ponto de vista da tipicidade objectiva a conduta de transmissão do VIH é abrangida pelo tipo legal de ofensas à integridade física. Maiores dúvidas e dificuldades se colocam quanto à existência de um concreto perigo para a vida daquele que, em consequência daquele acto de transmissão, é infectado com o VIH. Todavia, apesar de todos os avanços médicos traduzidos em diferir as consequências mais graves da doença sida, dificilmente se poderá excluir este caso de uma concreta situação de perigo para a vida. 32 Em sentido contrário Dias, Augusto Silva, «Responsabilidade criminal por transmissão…», op. cit., pp. 95 e ss. Este autor rejeita também a agravação por via da alínea c) do artigo 144.º por considerar que a existência de uma doença permanente só acontece quando o vírus degenera na doença sida, o que pode implicar uma considerável dilação temporal que dificulta a prova da relação de causalidade entre o contágio e a manifestação da doença. 33 Sublinhando estas dificuldades, embora sem excluir o recurso às ofensas corporais perigosas, PALMA, Maria Fernanda, «Transmissão da Sida…», op. cit., p. 67. 34 Cf. PUNICCINELLI, Oscar Raul., op.cit., p. 429. SIDA NET 118 Contudo, deve ainda acrescentar-se, meramente a título de excurso, que o preenchimento do tipo de ilícito objectivo é por si só insuficiente para imputar qualquer responsabilidade criminal ao agente. Para que se possa afirmar uma actuação dolosa é desde logo necessário que o agente actue com o conhecimento e vontade de realização do tipo objectivo. Quer o dolo, quer a negligência enquanto violação de um dever objectivo de cuidado35, são elementos constitutivos do ilícito de verificação necessária à responsabilidade criminal36. 3. Propagação de doença – artigo 283.º do CP O artigo 283.º do CP reúne no seu corpo normativo três tipos legais, anteriormente autonomizados (crime de propagação de doença contagiosa, crime de alteração de análises e crime de alteração de receituário), relacionados entre si pela criação de um perigo para a vida ou de um perigo grave para a integridade física de outrem. Para o âmbito deste trabalho apenas interessa considerar o conteúdo normativo da alínea a) deste preceito que se refere àquele que “propagar doença contagiosa”. Todavia, o aplicador da lei depara-se com graves dificuldades no processo interpretativo da norma perante a hipótese da sua aplicação a casos de transmissão do vírus da sida por via de relacionamento sexual. Desde logo é discutível que este preceito abranja as situações típicas de contágio. No seu conteúdo normativo este preceito pretendeu abranger a difusão ou propagação de doenças contagiosas, isto é a propagação de vírus ou germes patogénicos que possa pôr em perigo a vida e em perigo grave a integridade física das pessoas que pertencem a uma determinada colectividade. O elemento típico propagar é detentor de um sentido expansivo da doença. Deste modo, situam-se fora do âmbito do presente crime “a eventual transmissão do vírus a uma concreta pessoa, não havendo, de antemão, possibilidade de posterior transmissão”37. Como sublinha Damião da Cunha, este aspecto tem sobretudo relevância no caso de transmissão do vírus da sida por via de relacionamento sexual. Neste caso, entende este autor, se a transmissão do vírus ocorrer no âmbito de uma relação estável e baseada numa legítima confiança, não se pode falar em acto de propagação, pelo que não estará preenchido o tipo legal de crime. Se a transmissão ocorrer no contexto de uma relação ocasional ou num contexto em que haja possibilidade de posterior transmissão do vírus, então, segundo o autor, já se poderá equacionar a propagação e o preenchimento deste crime38. 35 O dever objectivo de cuidado pode decorrer de preceitos normativos que visam limitar ou diminuir os riscos próprios de certas actividades ou das particulares circunstâncias do caso concreto. Também no contexto da transmissão do VIH se revelam algumas dificuldades quanto à determinação de um dever objectivo de cuidado. Porém, será possível descortinar o dever de tomar precauções para evitar a produção do resultado e, embora mais discutível por pôr em causa a intimidade do portador, o dever de informar a outra pessoa sobre o estado de portador do vírus. Esta é uma situação de conflito e consequentemente complexa, desde logo porque põe em causa a esfera íntima de duas pessoas. Mas a existência daquele dever parece impor-se desde logo nos casos em que exista uma relação de confiança. 36 Sobre estes elementos subjectivos vide DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal, op. cit., Cap.13 e 35. 37 Cf. CUNHA, J. M. Damião da, «Artigo 283.º», Comentário Conimbricense do Código Penal, 1999, p. 1011. 38 Ibidem. SIDA NET 119 Já Augusto Silva Dias39 considera que fora do âmbito normativo estariam todas as situações de contágio que têm lugar no contexto de contactos sociais directos ou cara a cara, em que a vítima é uma pessoa determinada. O alcance limitado desta norma compreende-se se se atender à projecção colectiva do bem jurídico que, embora de matriz individual (a vida ou a integridade física), tem um carácter pluri-individual, sendo o seu titular um sujeito indiferenciado. Segundo este autor, a contaminação do namorado ou do cônjuge com VIH escapa «à “ratio” dos crimes de perigo comum e são mais adequadamente resolvidas através de tipos que tutelam bens jurídicos individuais de titularidade determinada»40. Na verdade, deverá questionar-se se o objecto imediato de tutela desta norma é ainda um bem jurídico-individual, ou, diferentemente, se trata de um bem jurídico transindividual ou colectivo41, concretizado na saúde pública. Neste sentido, para que haja realização típica, concebe-se a pessoa concreta cuja vida ou integridade é posta em perigo, como representante da comunidade. Esta é a autêntica titular do bem jurídico colectivo – a saúde pública –, bem este que é lesado com a colocação em perigo de uma concreta vida ou integridade física. Por sua vez, a vida e a integridade física, enquanto bens jurídicos individuais, seriam mediatamente protegidos através da protecção imediata da saúde pública. Com efeito, é a protecção da saúde pública perante a propagação de uma doença contagiosa que justifica que se antecipe a tutela para o momento em que a vida ou a integridade física de alguém é posta em perigo, sem que se aguarde pela sua efectiva lesão. A protecção deste autónomo bem “saúde pública” confere, deste modo, uma ilicitude agravada às condutas típicas que justificaria a intervenção do direito penal ainda antes de qualquer lesão da integridade física ou vida, enquanto bens jurídicos individuais42. Ora, também do ponto de vista do seu objecto de protecção, não faz parte da intencionalidade primeira da norma prevista no artigo 283.º do CP a punição da transmissão por via sexual do vírus da sida, quer em contexto ocasional quer no contexto de um relacionamento estável. Desta forma, em nosso modo de ver, só com algum esforço interpretativo se poderá integrar este comportamento no âmbito de protecção daquela norma. V. CONCLUSÃO O direito penal não escapa ao complexo conjunto de questões associadas à sida. Todavia, procurou-se analisar a relevância criminal da conduta realizada por alguém que, sendo portador do VIH, transmite o vírus por via sexual a outra pessoa. O primeiro degrau da relevância criminal de um comportamento reconduz-se à sua tipicidade legal. Cumprindo o princípio nullum crimen sine lege, segundo o qual não há crime sem lei anterior que preveja tal comportamento, procurou-se analisar os tipos legais a que tal conduta poderia ser reconduzida. Com este objectivo considerou-se os tipos legais de homicídio, ofensa à integridade física e propagação de doença contagiosa. 39 Cf. «Responsabilidade criminal por transmissão…», op. cit., p. 97. 40 Ibidem, p. 84. 41 Sobre a categoria dos bens jurídicos colectivos vide, por todos e com mais referências, DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 148. 42 Neste sentido, SOUSA, Susana Aires, «Medicamentos e responsabilidade criminal: problemas juridícocriminais suscitados a partir de uma análise casuística», Lex Medicinae 9 (2008), p. 92-93. SIDA NET 120 Há ainda que ter presente a possibilidade de a própria tipicidade poder ser excluída nalguns casos. Em nosso modo de ver, é necessário atender, em primeiro lugar, às particularidades do contexto em que se dá aquele contágio. Será assim quando a transmissão do VIH aconteça no âmbito de relações ou contextos de risco. Ainda aqui faz sentido estabelecer uma distinção entre situações em que ambos os intervenientes na relação têm conhecimento do perigo de transmissão do vírus através da relação sexual e casos em que um dos intervenientes na relação tem um conhecimento superior na medida em que sabe que é portador e nada revela. Nas primeiras o não portador conhece o estado de infectado da outra pessoa e assente na relação sexual, o que faz pender a balança para o lado da auto-colocação em perigo que conduziria a excluir, afirmada a possibilidade de se auto-dispor responsavelmente do bem jurídico em causa, a responsabilidade criminal. Todavia, essa disponibilidade é limitada legalmente se se considerar que em causa está a vida de outrem, e que o tipo legal em causa nestas situações é o tipo legal de homicídio, uma vez que a lei penal pune actos de auxílio ao suicídio. Todavia, em nosso modo de ver e como se procurou demonstrar, estas situações não podem ser reconduzidas ao tipo legal de homicídio. De modo diferente se passam as coisas quando exista uma relação estável entre os intervenientes que permita criar em um deles a confiança na condição de não portador do vírus do outro. O princípio da confiança parece afastar o princípio do risco, e consequentemente afirmar a tipicidade da conduta. Coloca-se então a questão de saber qual o tipo objectivo de ilícito preenchido por aquela conduta. Da análise realizada, concluiu-se pela realização de uma ofensa à integridade física. Afastou-se a realização do tipo legal de homicídio por se entender que âmbito da norma prevista no artigo 131.º do CP não abrange as condutas através das quais se transmite o VIH por via sexual. Do mesmo modo, foram sublinhadas as dificuldades em considerar que aquele comportamento corresponde à intencionalidade e sentido do crime de propagação de doença contagiosa previsto no artigo 283.º do CP. Por conseguinte, o contágio do VIH corresponde ao tipo objectivo de ilícito previsto no artigo 143.º do CP. Todavia, deve questionar-se se, perante a gravidade que a sida comporta e a impossibilidade de ser curada, a transmissão do seu vírus não representa um perigo concreto para a vida humana. Uma resposta afirmativa – que em face dos actuais conhecimentos médicos, se apresenta como a mais provável – corresponde a considerar que esta ofensa à integridade física é agravada nos termos da alínea d) do artigo 144.º. Deve ainda acrescentar-se que a realização do tipo objectivo de ilícito é apenas o primeiro passo na afirmação de uma eventual responsabilidade criminal, que somente teria lugar após a comprovação do elemento subjectivo, ao nível do ilícito e da culpa, e da punibilidade43. 43 As dificuldades em afirmar a tipicidade da conduta conduziram um grupo de autores espanhóis e alemães a apresentar uma proposta de incriminação capaz de atender às especificidades destas situações, nos termos da qual, «quem expuser outrem sem o seu consentimento ao perigo de infecção do vírus de imunodeficiência humana conhecendo o risco existente e representando-o como possível, será punido com pena de prisão menor no seu limite médio e máximo (…), cf., com a proposta integral, Problemas Jurídico Penales del Sida (org. Santiago Mir Puig), op. cit., p. 175. SIDA NET 121 SIDA NET 122 O RELEVO DO HIV NO CONTEXTO DOS CRIMES SEXUAIS Ana Rita Alfaiate - Universidade de Coimbra - Portugal 1. Enquadramento da problemática Em Portugal, as penas aplicáveis aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual que assentem num contacto íntimo entre o agente e a vítima são agravadas de um terço, nos seus limites mínimo e máximo, no caso de o agente ser portador de doença sexualmente transmissível, como é o caso do HIV (art. 177.º/3 CP). Se houver efectiva transmissão do agente patogénico, então, a agravação das penas é de metade, nos seus limites mínimo e máximo (art. 177.º/4 CP). Embora a doutrina maioritária1 defenda que a lei deve ser lida no sentido de exigir, para a verificação do tipo agravado, o conhecimento da doença, pelo agente, a letra do artigo 177.º do Código Penal prevê aquelas agravações independentemente daquele conhecimento no momento da actividade sexual. Na redacção de 1982 do Código Penal, a previsão desta circunstância agravante clarificava a necessidade do conhecimento da doença por parte do agente no momento do crime (art. 208.º/2). Mas a revisão de 1995 deixou cair como elemento necessário da agravação esse conhecimento. Por isso, não é estranho que, numa primeira análise do artigo, se conclua pela possibilidade de agravação independentemente dele. No entanto, a ideia de uma agravação desprendida de qualquer juízo de culpa do agente não parece justificada, desde logo atendendo às características das circunstâncias agravantes e à sua razão de ser. Apesar disso, em várias oportunidades que teve já para encerrar o conflito, esclarecendo-o, o legislador não mais repôs, na letra do artigo, o conhecimento do agente como um elemento necessário. 2. O n.º 4 do art. 177.º do Código Penal De facto, quanto à qualificação decorrente do contágio não temos dúvida que estamos perante um crime com uma agravação de resultado. Por isso, quanto a este particular, não sobejam óbices a que, em consonância com o artigo 18.º do Código 1 Entre outros, ANTUNES, Maria João, «Artigo 177.º — Agravação», in Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo I, Coimbra Editora, 1999, p. 587 (citado: «177.º») e GONÇALVES, Maia, Código Penal Português Anotado e Comentado, Legislação Complementar, 18.ª edição, Almedina, Setembro de 2007, pp. 657 e 658 (citado: código). Em sentido contrário, LOPES, José Mouraz, Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual no Código Penal, 4.ª ed. (Revista e modificada de acordo com a Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro), Coimbra Editora, Fevereiro de 2008, p. 164. SIDA NET 123 Penal, o agente tenha de conhecer ou, pelo menos, desconhecer com culpa, ser portador do vírus. A agravação da pena será, nestes casos, de metade, nos seus limites mínimo e máximo. É o resultado, ainda que produzido com negligência do agente, que justifica a agravação, sendo possível imputar esse resultado desvalioso à conduta do agente, emergindo um nexo causal entre eles2. Assim, só em sede de determinação da pena concreta os termos do conhecimento ou desconhecimento do agente podem pesar, ditando uma culpa maior ou menor3. Distintamente devem ser tratados os casos em que, além do resultado desvalioso que é o contágio da doença, o agente provoca um outro, de ofensa à integridade física grave ou de morte da vítima. Nestes casos, provando-se que o agente agiu com dolo na produção do resultado ofensa à integridade física grave ou morte da vítima, não é razoável que o mesmo seja punido, tão-só, pelo crime sexual agravado por um resultado. Em tais hipóteses, mais que uma qualificação do crime sexual pela verificação de um resultado desvalioso, estaremos perante um concurso de crimes. E o agente deve ser punido pelo crime sexual e pelo crime de ofensas à integridade física grave ou de homicídio (conforme o caso)4. 3. O n.º 3 do art. 177.º do Código Penal Ao explicitar a agravação do n.º 4 para os casos de efectivo contágio, o legislador deixa que neste n.º 3 a agravação resulte do facto de o agente ser portador de doença sexualmente transmissível, prescindindo da verificação de qualquer resultado e conduzindo-nos a uma qualificação de perigo. Dizer isto acarreta a necessidade fundamental de saber em que termos podemos falar naquela agravação, e porquê nesses e apenas nesses. Ou seja, decidir se aquela agravação opera apenas nos casos em que o agente tem conhecimento que é portador da doença ou desconhece este facto com culpa, ou em todos aqueles em que o agente é portador da doença, independentemente de o saber ou não. Quando a lei qualifica o crime pela simples circunstância em que se encontra o agente, independentemente de qualquer resultado, parece-nos difícil aceitar que não seja sequer necessário que este conheça o seu estado de saúde, o que o colocaria numa posição de domínio sobre a vítima e operaria um desvalor da sua conduta, detentor que estava da informação que, para além de estar a violar a liberdade sexual daquela, estava a pôr em perigo a sua integridade física e, em última análise, a sua vida. Por isso, alguns autores defendem que se exija, para o preenchimento da circunstância agravante, o conhecimento, ou pelo menos o desconhecimento com culpa, por parte do agente, do seu estado de saúde5. Como já vimos, a agravação da pena, nestes casos, não opera em virtude de qualquer resultado, porque o contágio é causa de agravação do n.º 4 e não deste n.º 3 do artigo 177.º do Código Penal. Apesar disso, a vítima fica exposta a um perigo demasiado grave para que o legislador possa ignorá-lo. Razão pela qual agrava a pena do agente. Assim sendo, a agravação 2 ANTUNES, Maria João, «177.º», [n. 1], p. 589. 3 Neste sentido, Ac. STJ, de 11 de Novembro de 2004 (Proc. 04P3259, Relator Simas Santos), disponível em www.dgsi.pt (consultado pela última vez em 21 de Setembro de 2008). 4 ANTUNES, Maria João, «177.º», [n. 1], p. 590. 5 Idem, p. 587 e GONÇALVES, Maia, código, [n. 1], pp. 657 e 658. SIDA NET 124 da pena traduz-se num juízo de censurabilidade acrescida da conduta do agente e repercutese numa exigência de prevenção mais lata. Logo, não nos parece razoável que o agente possa ser punido com uma pena superior se não se provar, pelo menos, o seu desconhecimento com culpa relativamente ao estado de saúde em que se encontra. O interesse da vítima que se protege com esta agravação exige correlatividade na acção do agente. E não, simplesmente, nas suas características ou estado de saúde. A agravação não é uma outra pena, mas desvinculá-la da conduta do agente desprende-a da culpa que tem ainda de estender-se como seu pressuposto e limite. Não há pena sem culpa. E não deverá haver mais pena sem que exista mais culpa. Assim, acompanhamos os autores6 que afirmam que o legislador não explicita a necessidade do conhecimento do agente, neste n.º 3 do artigo 177.º do Código Penal, por essa ser uma explicitação desnecessária à luz da doutrina geral das incriminações. 4. Actos sexuais consentidos Tudo quanto a que já se aludiu diz respeito a uma problemática absolutamente distinta da que emergirá de uma situação de acto sexual válida e eficazmente consentido. Nesses casos, não estaremos perante qualquer crime sexual. Ainda assim, a conduta do portador do vírus, agente, pode não estar isenta de responsabilidade penal. Ponto assente, porém, para esta discussão, é o necessário conhecimento do agente do facto de ser portador da doença. Se o agente desconhece, sem culpa, o seu estado de saúde, o contágio não poderá ser punido. Conhecendo o agente a doença, ou desconhecendo-a com culpa, então, poderá haver responsabilidade penal. Se o portador do vírus não transmite este facto ao parceiro, não o coloca no domínio de todas as consequências implicadas no contacto sexual, privando-o da possibilidade de se determinar a não correr os riscos inerentes àquele contacto. E em situações tais, concretizando-se o contágio, bem se compreende que o agente possa ser punido por ofensa ao bem jurídico integridade física ou, em última análise, vida. Mesmo que não subsistam razões para uma condenação por qualquer crime sexual. Esta solução não impede que se pondere punir o agente também por propagação de doença contagiosa, nos termos do artigo 283.º/1,a do Código Penal, a título doloso ou negligente7, mas isso apenas quando o contágio se subsuma numa relação ocasional de um agente com múltiplos parceiros. Finalmente, há ainda a possibilidade de o agente esclarecer o seu parceiro sexual quanto ao risco de contágio e de este, mesmo assim, acordar na relação. Nestes casos, e embora reconheçamos a indisponibilidade do bem jurídico vida, que é, em última análise, o bem jurídico posto em crise pela conduta do agente, somos da opinião que o acordo do outro, traduzido num dever de cuidado partilhado, funciona como uma autocolocação em perigo ou uma heterocolocação em perigo consentida, que deverá excluir a responsabilidade do agente8. 6 Cf. nota 1. 7 A propósito das dificuldades que podem surgir em incriminações por factos desta natureza, por todos CUNHA, J. M. Damião da, «Artigo 283.º — Propagação de doença, alteração de análise ou de receituário», in Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo II, Coimbra Editora, 1999, p. 101. 8 No mesmo sentido, DIAS, Jorge de Figueiredo, Textos de direito penal. Doutrina geral do crime, (polic.), Coimbra, 2001, p. 268 e VAZQUEZ ACUÑA, Martin, «La transmission dolosa o culposa del virus HIV y el consentimiento de la víctima.», Revista de la Facultad de derecho y ciencias sociales Universidad Nacional de Córdoba, n.º 1, Vol. 2, Año 1993, Nuena série, pp. 645651. Para maiores desenvolvimentos quanto a este assunto, ANDRADE, Manuel da Costa, «Artigo 149.º — Consentimento», in Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo I, Coimbra Editora, 1999, pp. 276 e ss e ANDRADE, Manuel da Costa, Consentimento e acordo em direito penal, reimpressão, Coimbra Editora, 2004, pp. 271 e ss. SIDA NET 125 SIDA NET 126 CULPABILIZAÇAO OU CO-RESPONSABILIDADE: RESPONSABILIZAÇÃO NA NÃO-DECLARAÇÃO DA SOROLOGIA À/AO PARCEIRA/O SEXUAL Ângela Pires Pinto - Programa Nacional de DST e Aids - Brasil Introdução O uso da lei como estratégia de enfrentamento da epidemia de HIV/Aids tem ocorrido desde o início dos anos 80, a partir da descoberta do vírus. De um modo geral, a legislação nacional foi evocada para a criação de Programas Nacionais de Combate à Aids e estabelecimento de diretrizes de ações, nas chamadas “leis de aids”. Estas leis estabeleceram competências de órgãos públicos e deveres junto à população, principalmente quanto ao diagnóstico e tratamento da doença. Em 1996, de uma reunião de especialistas surgem as diretrizes sobre direitos humanos e HIV/Aids, adotadas como documento de Recomendação das Nações Unidas (E/CN.4/1997/37). A partir deste momento, entende-se que nos vários documentos de direitos humanos que tratam da não discriminação, onde se lê “e outras formas de discriminação”, a condição de pessoa vivendo com HIV e aids está incluída. Dessa forma, entende-se que a discriminação em razão do HIV constitui uma violação dos direitos humanos. No ano de 2002, a terceira consulta de especialistas revisou a sexta diretriz para adequá-la às necessidades de tratamento das pessoas que vivem com HIV/Aids.1 As diretrizes aliadas a forte atuação da sociedade civil organizada possibilitou que as ações de enfrentamento da epidemia passassem a atuar na perspectiva dos direitos humanos. Muitos países passaram a realizar testagem voluntária com consentimento informado, além de elaborar normas antidiscriminatórias específicas. Adotando a normativa internacional, muitos países incluíram em sua legislação normas que proíbem a exigência do teste que detecta o HIV nos processos de admissão ou permanência no trabalho, vedam a demissão em razão do HIV, estabelecem benefícios sociais e buscam possibilitar uma vida digna às pessoas que vivem com HIV/Aids. Por outro lado, a legislação também tem sido utilizada para punir os “responsáveis“ pela transmissão ou exposição do HIV2. Nesses casos, a declaração da sorologia à/ao parceira/o tem sido colocada por vários países como elemento-chave que determina a 1 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and UNAIDS (2006), International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights: 2006 Consolidated Version. Disponível on-line em http:// data.unaids.org/Publications/IRC-pub07/jc1252-internguidelines_en.pdf 2 UNAIDS/UNDP. Criminalization of HIV Transmission. Geneva, 2008. Disponível em http://data.unaids.org/ pub/BaseDocument/2008/20080731_jc1513_policy_criminalization_en.pdf SIDA NET 127 responsabilidade penal da pessoa que vive com HIV ao ter relações sexuais e outras condutas que poderiam levar à transmissão do vírus. Criminalização da transmissão do HIV Aproximadamente 53 países criminalizam a transmissão e/ou exposição do HIV. Alguns países possuem leis penais específicas para punir a transmissão ou exposição ao HIV; outros possuem leis gerais que abrangem essa conduta. Também existem leis que punem ter havido a transmissão do HIV durante a relação sexual sem a informação da sorologia positiva; ou simplesmente que punem o ato de fazer sexo sem informar à/ao parceira/o sua condição de HIV positivo. Em outros casos, a sorologia positiva é fator agravante para outros crimes. Uma pesquisa realizada a partir de notícias afirma que entre 14 de julho de 2007 e 18 de julho de 2008, processos criminais em razão da exposição ou transmissão do HIV foram reportados em 12 países (Austrália; Azerbaijão; Bermudas; Botswana; Canadá; Finlândia; França; Cingapura; Suécia; Suíça; Reino Unido e Estados Unidos)3. Uma pesquisa da Rede Global de Pessoas que vivem com HIV/Aids4 sobre a criminalização da transmissão do HIV na Europa e Ásia Central, aponta que dos 41 países que responderam à pesquisa, 36 afirmaram que a real ou potencial transmissão do HIV pode constituir uma ofensa penal. Na Europa e Ásia Central, segundo a pesquisa, 14 países possuem leis específicas para punir a transmissão ou exposição ao HIV. Áustria, Suécia e Suíça são os países com maior número de processos em razão da transmissão do HIV conhecidos, com mais de 30 acusações. Também foram reportados casos de criminalização na Dinamarca, Finlândia, Holanda, Noruega, Azerbaijão, Cipria, República Tcheca, Estônia, França, Geórgia, Alemanha, Hungria, Itália, Latvia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Reino Unido. No âmbito da pesquisa não foram reportados casos referentes a Armênia, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Islândia, Irlanda, Liechtenstein, Lituânia, Malta, Moldovia, Servia e Montenegro, Turquia, Ucrânia. Também segundo a pesquisa, Albânia, Bulgária, Luxemburgo, Eslovênia, Macedônia ainda não teriam criminalizado a transmissão. A pesquisa não conseguiu coletar informação de Andorra, Grécia, Polônia, Rússia, San Marino e Espanha. A criminalização da transmissão do HIV tem ocorrido de várias formas, com punição inclusive em casos em que a conduta não intencional e ainda que a transmissão não se efetive. Na Europa e Ásia Central, a exposição ao HIV é punível na Armênia, Azerbaijão, Dinamarca, França, Geórgia, Alemanha, Islândia, Liechtenstein, Moldovia, Holanda, Noruega, Polônia, Rússia, Eslováquia, Suécia e Ucrânia. Aparentemente na Noruega não se faz distinção entre a transmissão e a exposição. Na Rússia a exposição remete a uma pena de restrição de liberdade de três anos, enquanto para a transmissão a pena é de 5 anos. Geralmente os países que punem a exposição têm leis específicas para a transmissão do HIV, com exceção da Geórgia que tem legislação específica mas ainda não criminalizou a exposição.5 Na África, desde 2005 há uma onda de leis que criminaliza a transmissão do HIV. Benim, 3 Criminalhivtransmission.blogspot.com 4 Global Network of People Living with HIV/AIDS Europe and Terrence Higgins Trust. Criminalisation of HIV transmission in Europe. London, 2008. Disponível em www.gnpplus.net/criminalisation/rapidscan.pdf. 5 Global Network of People Living with HIV/AIDS Europe and Terrence Higgins Trust. Criminalisation of HIV transmission in Europe. London, 2008. Disponível em www.gnpplus.net/criminalisation/rapidscan.pdf. SIDA NET 128 Guiné, Guiné-Bissau, Mali, Níger, Togo e Serra Leoa possuem leis específicas e países como Angola, Republica Democrática do Congo, Malawi, Madagáscar, Tanzânia e Uganda contam com projetos de lei para a mesma finalidade. Os tipos penais para a criminalização da transmissão do HIV podem ser enquadrados em três categorias: 1. Transmissão de doença contagiosa, de doença sexualmente transmissível, causando dano a saúde; 2. Agressão ou Lesões corporais (grave, gravíssima); 3. homicídio e envenenamento. O HIV também é colocado como agravante para outros crimes. No Egito, a sorologia positive para o HIV é fato que corrobora para a acusação do indivíduo como criminoso6. Na África, o modelo legal utilizado considera o dever da pessoa soropositiva em revelar sua sorologia ao “cônjuge ou ao parceiro sexual regular” cujo período máximo para revelação é de seis semanas depois do diagnóstico -, além da obrigatoriedade do teste durante o período pré-natal, depois de uma violação ou para “resolver um conflito matrimonial” . Também prevê como crime a “transmissão propositada” do HIV “através de qualquer meio de uma pessoa com conhecimento prévio do seu estatuto sorológico para o HIV/Aids” , incluindo via sexual, partilha de seringas e transmissão mãe-filho7. Lei específica que pune a mãe que expõe o filho à transmissão do HIV pode ser vista em Serra Leoa. Na América Latina e Caribe vários países também possuem mecanismos para criminalizar a transmissão do HIV. Recentemente, nas Bermudas 8, uma pessoa soropositiva foi condenada a dez anos de prisão por ter exposto a namorada ao HIV ao manter relações sexuais sem proteção. Ela não foi infectada. Em geral, os tipos penais fazem distinção na composição do elemento da culpabilidade a partir da intenção, imprudência e/ou negligência na execução da conduta. A Irlanda e Noruega não haveria distinção de intencionalidade. Na Polônia e Romênia o mero conhecimento da própria sorologia configura elemento de culpabilidade. Na Ucrânia isso também acontece, com uma gradação de pena; ela é mais grave para a pessoa que teve intenção em transmitir do que para a pessoa que somente sabia ser soropositiva. Na Alemanha, ainda que a outra pessoa tenha tido a intenção de deixar-se infectar, esse ato, se “for contra a moral”, é punido9. Nos casos analisados pela pesquisa da GNP+10, na Europa e Ásia Central, 90% dos processos diziam respeito a relações sexuais consensuais. Quanto aos casos identificados no Brasil, as sentenças ocorreram no âmbito de casos de violência sexual e outras agressões, além da relação sexual consentida. O perfil das pessoas sentenciadas na Europa e Ásia Central tem como maioria homens (92%), muitos deles imigrantes e pertencentes a grupos considerados 6 Edwin J Bernard Blog: Criminal HIV transmission: A collection of published news stories and opinion about so-called HIV crimes. Available at http://criminalhivtransmission.blogspot.com 7 BERNARD, Edwin J. Leis de Criminalização da Transmissão do VIH Proliferam como um vírus em todo o mundo. Tuesday, August 12, 2008. In; Edwin J Bernard Blog: Criminal HIV transmission: A collection of published news stories and opinion about so-called HIV crimes. Disponível em http:// criminalhivtransmission.blogspot.com. 8 Edwin Cameron, Michaela Clayton e Scott Burris. Criminalização do portador do HIV. 08/08/2008 Herald Tribune. 9 Global Network of People Living with HIV/AIDS Europe and Terrence Higgins Trust. Criminalisation of HIV transmission in Europe. London, 2008. Disponível em www.gnpplus.net/criminalisation/rapidscan.pdf. 10 Idem. SIDA NET 129 vulneráveis. Os casos trataram da transmissão ou exposição durante relações sexuais heterossexuais (54%), homossexuais(45%) e uso de drogas injetáveis (1%), com menções nas sentenças de que as condutas teriam ocorrido no âmbito de modos de vida promíscuos . Na Europa não foram reportados casos de transmissão vertical (mãe para filho).11 Na África, as novas leis vieram disfarçadas de leis protetoras das mulheres (61% das pessoas infectadas) que têm poucos direitos legais ou humanos em várias nações africanas. Em geral, em razão da obrigatoriedade do teste no pré-natal, as mulheres são as primeiras a saber a sorologia positiva para o HIV e, são culpabilizadas por “trazer o HIV para casa” e, “conseqüentemente, têm receio de revelar o seu estatuto de soropositividade aos companheiros, devido ao medo de violência física ou expulsão. 12”. Em alguns países da Europa e Ásia Central as penas podem ser de 10 anos de prisão ou mais. Na Armênia podem ser utilizados trabalhos forçados. Por outro lado, vislumbra-se também o pagamento de multa e o custeio do tratamento da aids. Ainda na composição da pena, alguns países tendem a agrava-la se a pessoa responde ou já respondeu por outros crimes. O isolamento também tem sido utilizado como medida punitiva e preventiva. Reporta-se que até 1998, das pessoas isoladas para prevenção de contágio, 65 delas eram HIV positivo e o período de isolamento entre seis e nove meses chegou a até sete anos e seis meses. 13 Importante o alerta também para os direitos humanos vulnerados após a sentença, especialmente quanto à descontinuação do tratamento. Criminalização em razão do HIV e a legislação brasileira O Brasil não possui lei específica que criminaliza a transmissão do HIV ou sua exposição. No âmbito dessas situações, entretanto, vários tipos penais dispostos em nosso Código têm sido evocados. Em uma incursão aos processos criminais nos estados de São Paulo, Rio de janeiro e Minas Gerais, é possível verificar que ainda não há um consenso com relação ao tipo cabível. Enquanto em um processo14 conclui-se pela condenação do réu pelo crime de perigo de contágio venéreo, conforme o artigo 130 do Código penal (Art. 130 - Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa), em outro processo15, sustenta-se a impossibilidade de 11 A pesquisa analisou 130 casos. Ver Global Network of People Living with HIV/AIDS Europe and Terrence Higgins Trust. Criminalisation of HIV transmission in Europe. London, 2008. Disponível em www.gnpplus.net/ criminalisation/rapidscan.pdf. 12 BERNARD, Edwin J. Leis de Criminalização da Transmissão do VIH Proliferam como um vírus em todo o mundo. Tuesday, August 12, 2008. In; Edwin J Bernard Blog: Criminal HIV transmission: A collection of published news stories and opinion about so-called HIV crimes. Disponível em http://criminalhivtransmission.blogspot.com 13 É o caso da Bosnia e Herzegovina, Alemanha, Lituania, Holanda, Romenia, Servia e Montenegro e Ucrania. Ver Global Network of People Living with HIV/AIDS Europe and Terrence Higgins Trust. Criminalisation of HIV transmission in Europe. London, 2008. Disponível em www.gnpplus.net/criminalisation/rapidscan.pdf. 14 Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente à Apelação N° 993.02.010354-6. Apesar da condenação, foi identificada a prescrição da pretensão punitiva, de forma que o réu não sofreu a respectiva pena. 15 Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais referente à Apelação Criminal (Apelante) nº 000.242.382-0/00 Comarca de Sete Lagoas. SIDA NET 130 incursão no tipo do artigo 130, recordando lição de Alberto Silva Franco, in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, v.1, T.2, p. 2184: “Quanto à AIDS, parece claro que não se trata de moléstia venérea, tal como exigido pelo tipo do art. 130, CP, muito embora o contágio possa ocorrer também através de relações sexuais ou outros atos libidinosos. A prática de qualquer ato capaz de transmitir AIDS a alguém poderá configurar, dependendo da intenção do agente, o crime previsto no art. 131, CP, ou mesmo homicídio” O artigo 131 do Código Penal (Perigo de contágio de moléstia grave) estabelece como crime “praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio” e atribui pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa. O tipo não exige a efetiva transmissão da doença, mas tãosomente a exposição. Foi o caso da travesti condenada por ter exposto um policial ao vírus HIV ao morder sua panturrilha.16 Neste caso, contudo, é de questionar a real situação de exposição da vítima. Os dados epidemiológicos apontam que, desde o início da epidemia, foi notificado apenas um caso de transmissão do HIV devido a acidente com material biológico. Ele teria ocorrido no ano de 1996 no Estado de São Paulo. Outro tipo penal que tem sido utilizado é o disposto no artigo 129 do Código Penal, crime de lesões corporais, que é considerado gravíssimo se resulta em “enfermidade incurável” (parágrafo 2º, inciso II). Em Minas Gerais, um médico foi condenado a três anos de reclusão por supostamente ter infectado sua parceira. 17 De um lado o médico afirmava ter feito uso de preservativo, ter informado à parceira na única relação sexual que teria tido. Por outro, a parceira apresentou um exame com sorologia negativa para o HIV realizado no início do relacionamento com o réu e outros dois exames com resultado de sorologia positiva, realizados posteriormente. Não é rara ainda a acusação de tentativa de homicídio diante da exposição ao vírus HIV. É emblemático o caso em que foi mantida a condenação por tentativa de homicídio, uma vez que o réu, “munido de uma seringa hipodérmica, enterrou a agulha na perna da criança e no segundo, com violência capaz de provocar até equimose no seio da vítima, beijou-a de maneira agressiva e perfeitamente capaz de produzir a transmissão de saliva ou substância hematóide infectada”18. O mesmo tribunal que julgou esse processo, anos depois entendeu incabível a tentativa de homicídio e em processo de revisão criminal, com um voto vencido, reformou a sentença e reconheceu a posição do Ministério da Saúde de que a Aids não configura atualmente como uma sentença de morte . Para o Tribunal, mesmo que se admita o repasse viral corpo a corpo, com o desenvolver futuro de um quadro doentio que pode se prolongar anos a fio, isso não significa tirar ou tentar tirar a vida alheia. Quando muito, representaria uma diminuição da natural expectativa de vida, 16 Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais referente à Apelação Criminal n° 1.0145.06.354090-3/001 Comarca de Juiz de Fora. 17 Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais referente à Apelação Criminal (apelante) nº 1.0000.00.342300-1/000 Comarca de Itajubá. 18 Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente à Revisão Criminal n.° 232.233-3/1 SIDA NET 131 ou um encurtamento dela ao longo da existência humana, não compatível com a voluntas ad necem (vontade de matar). 19 Em ambos os casos analisados, os tipos penais requerem o conhecimento da sorologia positiva para o HIV. Além das dificuldades já esboçadas anteriormente sobre a criminalização da transmissão, soma-se a comprovação das práticas capazes de transmitir o HIV bem como da informação da sorologia. Atualmente três projetos de lei sobre o assunto estão em tramitação na Câmara dos Deputados, quais sejam, PL-4887/2001, PL-276/1999 e PL-130/1999. O projeto de lei 4887/2001, de autoria do Deputado Feu Rosa pretende introduzir o artigo 267-A, no Código Penal Brasileiro, para considerar crime contra a saúde pública a contaminação de terceiros com doença incurável de que sabe ser portador, incluindo o contágio pelo vírus HIV (AIDS). O projeto de lei 276/1999, de autoria do Deputado Enio Bacci pretende instituir pena para transmissão deliberada do vírus da Aids. O projeto de lei 130/1999, também de autoria do Deputado Enio Bacci, pretende tornar crime hediondo a transmissão deliberada do vírus da AIDS, alterando a Lei nº 8.072, de 1990. Como acertadamente demonstrou o relator do Projeto de Lei n. 130/1999, as proposições são completamente inoportunas face às estratégias de enfrentamento da epidemia. O uso do direito penal no enfrentamento da epidemia “A aids nos enfurece. Mas no âmbito do regime jurídico temos que ser racionais. Nesse campo, nosso principio diretor deve ser algo mais que a formulação de uma resposta a uma epidemia perigosa. Devemos promulgar leis eficazes e justas que contribuam para reduzir a propagação da aids” (Juiz Michael Kirby20) A restrição dos direitos humanos de um indivíduo requer a observância de alguns critérios. O primeiro é a necessidade da medida tendo em vista o objetivo que pretende atingir. A decisão em limitar um direito deve estar bem fundada. A limitação deve ser a medida mais adequada tendo em vista a impossibilidade da aplicação de outras. Ela deve ser a menos agressiva. A limitação deve respeitar o princípio da proporcionalidade. Ou seja, a limitação não pode causar mais dano que a sua ausência. E, por fim, ela deve ter previsão legal, sendo é vedado qualquer tipo de arbitrariedade.21 As diretrizes internacionais sobre HIV/Aids e direitos humanos, adotadas em 1997 pelas Nações Unidas, estabelecem alguns parâmetros nesse tema. A diretriz n.° 3 estabelece que “os Estados deveriam analisar e reformar a legislação sanitária para que se preste atenção suficiente as questões de saúde publica colocadas pelo HIV/aids, para que as disposições sobre as enfermidades de transmissão casual não se apliquem indevidamente 19 Acórdão do Tribunal do Estado de São Paulo referente à REVISÃO CRIMINAL N°: 437.278.3/0-00, COMARCA:,São José dos Campos. 20 Juiz Michael Kirby. HIV and Law A paradoxal relationship of Mutual Interest. Documento apresentado no Congresso Mundial de Aids da IUVDT, Cingapura, 22 de marco de 1995. Disponível em www.fl.asn.au/ resources/kirby/papers. In: ONUSIDA. Versão original em inglês, UNAIDS/02.12E, junio de 2002: Criminal Law, Public Health and HIV Transmission: A Policy Options Paper. P. 14 21 UN Economic and Social Council, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, UN Doc.E/CN.4/1985/4, Annex (1985). SIDA NET 132 ao HIV/Aids e que estas disposições concordem com as obrigações internacionais em matéria de direitos humanos”. A diretriz n.°4 estabelece que “os Estados deveriam reexaminar e reformar as leis penais e os sistemas penitenciários para que concordem com as obrigações internacionais de direitos humanos e que não se apliquem indevidamente aos casos de HIV/Aids nem se utilizem contra os grupos vulneráveis”. Isto é dizer que na construção e implementação de uma política de enfrentamento ao HIV/Aids, o Estado deve seguir alguns passos: · “identificar como a política adotada pode afetar os direitos humanos, mediante consultas a grupos de base comunitária, organizações não governamentais, profissionais de saúde pública e de outros campos, dirigentes da comunidade e pessoas infectadas e afetadas pelo HIV/Aids; · Determinar se o objetivo que se quer alcançar com a política é obrigatório ou urgente, com metas de saúde públicas definidas com claridade e precisão; · Avaliar quão eficaz pode ser a política para alcançar o objetivo de saúde pública em comparação com outras políticas possíveis; · Avaliar se a política está concebida apropriadamente para o objetivo, no sentido de que não é nem demasiada ampla (afeta a mais pessoas que as necessárias) nem demasiado reduzida (afeta a algumas mas não a todas as pessoas que deveria), que é não discriminatória, e que não está orientada a pessoas ou grupos baseando-se em preconceitos e estereótipos; · Examinar o significado da violação dos direitos humanos por parte da política, tendo em conta: a natureza do direito humano afetado, o grau em que a política viola o direito, a freqüência e o alcance da violação e a duração da violação; · Determinar se a política é a forma menos restritiva de alcançar o objetivo de saúde pública; e · Se se considera que a política é a opção mais eficaz e menos restritiva, assegurar que sua aplicação se realiza tendo em conta caso por caso (antes que como uma regra geral aplicável a toda uma classe de pessoas) e se baseia-se em um risco significativo de prejuízo a terceiros, e se aplica mediante um procedimento justo”22. Ao longo dos últimos anos, foram realizadas várias consultas públicas envolvendo especialistas em saúde pública, direitos humanos e HIV/Aids, representantes de governos, pessoas vivendo com HIV/Aids e populações vulneráveis, todas elas concluindo pela ineficácia da criminalização da transmissão do HIV enquanto política de enfrentamento da epidemia. Em 2002, o UNAIDS sustentou que “o respeito aos direitos humanos exige que, entre outras coisas, que as pessoas que vivem com HIV/Aids não estejam submetidas a penalização ou outras medidas coercitivas unicamente com base em seu status sorológico”23. O documento produzido sustenta que “penalizar a pessoa que vive com HIV/Aids que, ainda que não revele seu status sorológico, pratica relações sexuais seguras ou busca a forma de reduzir o risco de transmissão seria diretamente contraproducente para o objetivo de prevenir a transmissão”24 22 ONUSIDA. Versão original en inglês, UNAIDS/02.12E, junho de 2002: Criminal Law, Public Health and HIV Transmission: A Policy Options Paper. P. 20-21. 23 Idem. P. 17 24 Idem. P. 12 SIDA NET 133 Em outubro de 2006, uma consulta da Organização Mundial de Saúde concluiu que a criminalização da transmissão do HIV deve ser um último recurso no enfrentamento da epidemia, uma vez demonstrado o baixo impacto na prevenção da proliferação do vírus, contribuindo tão somente para o aumento do estigma e discriminação.25 Além disso, a criação de leis penais especificas pra o HIV, principalmente quando destacam o HIV/Aids de outras doenças similares, significa não só estigmatizar as pessoas que vivem com HIV/Aids mas atenta ao principio da igualdade perante a lei. Aplicar medidas coercitivas baseadas somente no status sorológico para o HIV vulnera o principio da igualdade e não discriminação.26 Em 2008, a UNAIDS lançou outro documento sobre a transmissão do HIV, diante da repercussão sobre o tema ocorrida durante da Conferência Internacional de Aids. O documento introduz considerações pertinentes à feminização da epidemia e a recente onda de leis na África que tende a criminalizar especialmente as mulheres soropositivas. Nesse sentido, o documento afirma que a criminalização é um procedimento inapropriado pois: · todos têm o direito a ter um filho, incluindo as mulheres que vivem com VIH; · quando a mulher grávida é aconselhada sobre os benefícios da terapêutica anti-retroviral, concorda frequentemente com a realização de um teste e a receber tratamento; · nos casos raros em que as mulheres grávidas se mostram relutantes em fazer o teste ou a terapêutica para o VIH, isso deve-se frequentemente ao receio que o seu estatuto de seropositividade seja conhecido e que tenham de enfrentar violência, discriminação ou abandono; · forçar as mulheres a fazer terapêutica anti-retroviral com o objetivo de evitar uma acusação criminal de transmissão mãe-filho viola ética e legalmente o requisito de que todos os procedimentos médicos sejam realizados com consentimento informado; · e frequentemente, as mães seropositivas não tem alternativas mais seguras à amamentação, pois não possuem substitutos do leite materno ou água potável para preparar os leites artificiais. A UNAIDS argumenta que somente a transmissão intencional deve ser criminalizada, ou seja, quando uma pessoa sabe o seu status sorológico positivo para o VIH e atua com a intenção de transmitir o HIV, e acaba por transmitir de fato. O documento afirma que ”não existem dados que demonstrem que a aplicação generalizada da lei criminal à transmissão do HIV sirva para se fazer justiça ou para prevenir a transmissão. Pelo contrário, este tipo de aplicação da lei arrisca minar a saúde pública e os direitos humanos.”27 25 WHO Europe. WHO technical consultation in collaboration with the European AIDS Treatment Group and AIDS Action Europe on the criminalization of HIV and other sexually transmitted infections. Copenhagen, 2006. Disponível em: http://www.keele.ac.uk/research/lpj/Law_HIVAIDSProject/WHOcrimconsultation_latest.pdf. 26 ONUSIDA. Versão original en inglês, UNAIDS/02.12E, junho de 2002: Criminal Law, Public Health and HIV Transmission: A Policy Options Paper. P 18. 27 UNAIDS/UNDP. Criminalization of HIV Transmission. Geneva, 2008. Disponível em http://data.unaids.org/ pub/BaseDocument/2008/20080731_jc1513_policy_criminalization_en.pdf. SIDA NET 134 Segundo as Nações Unidas, devem haver alternativas às sanções criminais como a intensificação de programas de prevenção que tenham base na proteção dos direitos humanos, seja das pessoas que vivem com HIV, seja das soronegativas. Além disso a UNAIDS sugere que os governos reforcem leis sobre violência contra as mulheres e crianças, assim como tomem medidas para melhoria da eficácia dos sistemas de justiça e segurança para apuração dos casos e para a realização da equidade de gênero. O documento conclui com diversas recomendações importantes, incluindo as seguintes: ”Os governos devem reger-se pelas convenções internacionais de direitos humanos iguais e inalienáveis, incluindo as que se referem à saúde, educação e proteção social de todas as pessoas, inclusive das que vivem com VIH. Os governos devem revogar leis criminais específicas para o VIH, leis que obriguem à revelação do estatuto sorológico, e outras leis que sejam contraproducentes para a prevenção do VIH, tratamento, cuidado e esforços de apoio, ou que violem os direitos humanos das pessoas que vivem, com VIH ou outros grupos vulneráveis. As leis gerais devem aplicar-se exclusivamente à transmissão intencional e os governos devem auditar a sua aplicação, para assegurar que não são usadas de forma inapropriada no contexto da infecção pelo VIH. Os governos devem reencaminhar as reformas legislativas e o fortalecimento da lei de forma a abordar, por um lado, a violência sexual e outras forma de violência contra mulheres e, por outro lado, a discriminação e violação de outros direitos humanos das pessoas que vivem com VIH ou que estão em risco de exposição a este. Deve ser alargado o acesso a programas de prevenção do VIH eficazes (incluindo a prevenção positiva) e o aconselhamento e testagem voluntárias para casais deve ser promovido, bem como a revelação voluntária do estatuto sorológico e notificação ética dos parceiros28.” Estigma, discriminação e uso do sistema penal para rotular e excluir em razão do HIV Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa categoria em que pudesse ser - incluído, sendo, até, de uma espécie menos desejável - num caso extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou fraca. Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande - algumas vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem - e constitui uma discrepância específica entre a identidade social virtual e a identidade social real29. 28 BERNARD, Edwin J. Leis de Criminalização da Transmissão do VIH Proliferam como um vírus em todo o mundo. Tuesday, August 12, 2008. In; Edwin J Bernard Blog: Criminal HIV transmission: A collection of published news stories and opinion about so-called HIV crimes. Disponível em http:// criminalhivtransmission.blogspot.com. 29 Goffman, Erving, Estigma-Notas sobre a Manipulação da Identidade deteriorada, 1980, Brasil, Zahar Editores. P. 6. SIDA NET 135 Para Erving Goffman, o estigma é uma categoria que coloca o outro em uma categoria distinta e, “por definição, acreditamos que alguém com um estigma não seja completamente humano”. A partir do estigma “fazemos vários tipos de discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida: Construímos uma teoria do estigma; uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como as de classe social”.30 No início dos anos 80, o pouco conhecimento sobre a doença levou também a produção do estigma sobre ela. Em um primeiro momento, o estigma levou ao isolamento e limitação do exercício de determinadas profissões pelas pessoas vivendo com HIV/Aids, além da testagem obrigatória de pessoas pertencentes a grupos considerados mais expostos como prostitutas, gays e usuários de drogas injetáveis. O avanços científicos trouxeram a constatação de que o HIV não pode ser transmitido pelo mero contato social. Além disso, tornou-se possível a disponibilização de preservativos para evitar a transmissão, o fornecimento de diagnóstico e tratamento adequado às pessoas infectadas. Mas estes avanços não foram capazes de eliminar o forte estigma associado à doença. O estigma e a discriminação relacionados ao HIV/Aids geram conseqüências diretas nas estratégias de enfrentamento à epidemia e determinam a habilidade de indivíduos e comunidades em se proteger e exercer seus direitos. No âmbito da prevenção, as pessoas ficam com receio de conhecer seu status sorológico, buscar informação e mudar comportamentos para reduzir as possibilidades de transmissão do vírus. O medo do estigma e discriminação também desencoraja as pessoas que vivem com HIV a declararem sua sorologia31, realizar o tratamento e ter uma vida digna. O impacto do estigma faz com que muitas vezes as pessoas que vivem com HIV acreditem merecer seu status positivo como resultado de terem feito ‘algo errado’. Além disso, ao atribuir culpa a indivíduos e grupos, em particular, que são ‘diferentes’, outros podem eximir-se de conhecer seu próprio risco, de confrontar o problema e atentar para aqueles que foram afetados.32 A discriminação, por sua vez, pode ocorrer nos vários espaços. Ela pode ocorrer na família, na comunidade, no âmbito institucional como o ambiente de trabalho, escolas e serviços de saúde. Pessoas que vivem com HIV/Aids muitas vezes são vítimas, por exemplo, de recusa de atendimento médico, são testadas sem consentimento ou aconselhamento apropriado, exclusão de benefícios, isolamento e, prisões, inclusive sob a chancela do Estado. 33 É certo que o direito penal tem sido utilizado pela sociedade para distinguir as condutas graves e que merecem repreensão. Todos os grupos sociais criam regras que definem certas situações e comportamentos como corretos ou incorretos. Conseqüentemente, quem transgride a regra é considerado marginal, a pessoa que se desvia das regras do grupo34. 30 Goffman, Erving, Estigma-Notas sobre a Manipulação da Identidade deteriorada, 1980, Brasil, Zahar Editores. P. 8. 31 UNAIDS. HIV-related stigma, discrimination and human rights violations : case studies of successful programmes. 2005. P. 5. 32 Idem. P. 7. 33 Idem. P. 9. 34 Becker, Howard. Los extraños. Sociología de la desviación. Buenos Aires, Tiempo Contemporâneo, 1971. P. 14-15. SIDA NET 136 Tornar uma conduta crime é uma decisão que implica transladar determinado ato a um status de maior gravidade, que ultrapassa a esfera meramente moral. Tal conduta, considerada criminosa, atinge gravemente o bem publico e, por isso, não se satisfaz com a simples reprovação ou com uma resposta no campo cível, ela merece uma resposta penal. Não a conduta, mas a pessoa considerada criminosa deve ser castigada. E que a sanção imposta sirva de exemplo para que outras pessoas não ousem repetir tal ato. O sociólogo Howard Becker, em sua famosa obra “Outsiders”, inicia sua analise sobre a rotulação de uma pessoa como criminosa, perguntando: o que tem em comum, então, as pessoas que tem sido qualificadas de desviadas? E acrescenta: Pelo menos, compartilham a qualificação e a experiência de serem consideradas marginais35. A conduta desviada é a conduta assim chamada pelo ser humano. Um enfoque menos simples, mas muito mais comum, com relação ao desvio, o identifica como algo patológico, que revela a presença de uma doença.36 No caso da aids, esse elemento inicial da rotulação de uma conduta como desvio é recuperado. O fato de ser soropositivo atualmente é condição elementar de vários tipos penais. O que observa-se a partir da criminalização da transmissão do HIV é a inversão do paradigma do enfrentamento da epidemia: tem-se a pessoa que vive com HIV/Aids como o perigo eminente e não o vírus em si. O medo injustificado do outro conduz ao incremento do estigma e discriminação sobre as pessoas que vivem com HIV/Aids. O Estado que deveria promover os direitos dos seus cidadãos, ao editar leis e processar casos de mera exposição e transmissão não intencional, impondo penalidades severas, incorre em graves violações aos direitos humanos. A criminalização da transmissão ou exposição do HIV contribui para a disseminação de informações errôneas sobre as formas de transmissão, desincentiva a testagem e cria a falsa noção de que grupos, que não os comumente considerados vulneráveis, estão seguros em relação ao contágio. A situação se agrava quando a política criminal voltada à punição da exposição e/ ou transmissão do HIV pune, em sua maioria, indivíduos pertencentes a grupos considerados vulneráveis como homossexuais, travestis, prostitutas, pessoas usuárias de drogas injetáveis, migrantes, ex-presidiário/as. Tal fato demonstra a prática seletiva37 do sistema penal que, além de não contribuir para o enfrentamento da epidemia, reforça o sistema de desigualdades sociais. 35 Becker, Howard. Los extraños. Sociología de la desviación. Buenos Aires, Tiempo Contemporâneo, 1971. P. 20. 36 Idem. P. 16-19. 37 A teoria do etiquetamento ou labelling approach surgiu nos Estados Unidos, na década de 60, rompendo com o paradigma etiológico, dando lugar ao paradigma da reação social, e afirma que a pessoa considerada criminosa pela sociedade é simplesmente aquela que sofre a seleção e etiquetamento. Essa conclusão se dá a partir do contraste entre o número de delitos cometidos na sociedade, o número de casos levados ao conhecimento da autoridade policial, o número de inquéritos abertos até o número de pessoas condenadas. Entre cada uma dessas fases há uma diminuição no número inicial, denotando a existência de uma cifra oculta de criminalidade, que faz com que determinadas pessoas sejam imunizadas pelo sistema e outras, em razão da mesma conduta, sejam criminalizadas. SIDA NET 137 Em 2002, o documento do UNAIDS sobre “direito penal, saúde pública e HIV/ Aids” teceu recomendações para o desenvolvimento de políticas públicas consistentes no âmbito do direito penal e HIV/Aids. São elas: proteger contra a discriminação e proteger a intimidade; abordar as causas subjacentes de vulnerabilidade a infecção pelo HIV e atividades de risco; assegurar o acesso ao diagnostico do HIV, aconselhamento e apoio de boa qualidade para a redução de risco; assegurar o acesso a tratamento; revogar ou alterar leis que dificultam a prevenção, atenção, tratamento e apoio relacionados com o HIV; utilizar medidas coercitivas como ultimo recurso; estabelecer parâmetros no uso do direito penal para evitar sua excessiva ampliação; estabelecer medidas de proteção contra o abuso da legislação em matéria de saúde publica; estabelecer pautas de ajuizamento para evitar o abuso do direito penal; oferecer apoio e serviços jurídicos; assegurar o direito a advogado; educar as autoridades judiciais, a policia, os ficais e defensores; assegurar a imparcialidade no desenvolvimento do juízo; proteger a confidencialidade da informação medica e do assessoramento; proteger a confidencialidade durante os procedimentos judiciais.38 Dessa forma, qualquer norma ou política pública na resposta à epidemia de HIV/ Aids deve estar de acordo com os compromissos assumidos no âmbito dos direitos humanos, em especial o direito à não discriminação, à privacidade, à liberdade de ir e vir, ao devido processo legal e à não submissão a tratamento cruel, desumano e/ou degradante. 38 ONUSIDA. Versão original en inglês, UNAIDS/02.12E, junho de 2002: Criminal Law, Public Health and HIV Transmission: A Policy Options Paper. P. 13. SIDA NET 138 Referências 10 Reasons to Oppose Criminalization of HIV Exposure or Transmission. Open Society Institute, 2008. Amnesty International. Health and Human Rights Policy Paper Series. Criminalisation of HIV Transmission Key Issues. London, 2008. AIDS and Rights Alliance of Southern Africa & Open Society Initiative for Southern Africa. Report on the ARASA/OSISA civil society consultative meeting on the criminalisation of the willful transmission of HIV 11&12 June 2007. Windhoek, 2007. Disponível em: http:/ /www.arasa.info/publications.php. Becker, Howard. Los extraños. Sociología de la desviación. Buenos Aires, Tiempo Contemporâneo, 1971. Burris S, L Beletsky, J Burleson, P Case, Z Lazzarini. Do Criminal Laws Influence HIV Risk Behavior? An Empirical Trial. Az. St. L. J. 2007; 39: 467. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=977274. Burris S, Cameron E. The Case Against Criminalization of HIV Transmission. JAMA 2008; 300(5), 578-581. Cameron E, Burris S, Clayton M. HIV is a virus, not a crime. HIV/AIDS Policy & Law Review 2008; 13(2/3). Canadian HIV/AIDS Legal Network. A Human Rights Analysis of the Ndjamena Model Legislation on AIDS and HIV-specific Legislation in Benin, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Niger, Sierra Leone and Togo. Toronto, 2007. Canadian HIV/AIDS Legal Network. Criminal law and HIV. Info sheets. Toronto, 2008. Disponível em inglês e francês em: www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocEN.php?ref=847. Edwin J Bernard Blog: Criminal HIV transmission: A collection of published news stories and opinion about so-called HIV crimes. Disponível em: http://criminalhivtransmission.blogspot.com. Global Network of People Living with HIV/AIDS Europe and Terrence Higgins Trust. Criminalisation of HIV transmission in Europe. London, 2008. Disponível em: www.gnpplus.net/criminalisation/rapidscan.pdf. Goffman, Erving, Estigma-Notas sobre a Manipulação da Identidade deteriorada, 1980, Brasil, Zahar Editores. International Community of Women Living with HIV/AIDS. ICW concerned over trend to criminalize HIV transmission. Disponível em: www.icw.org/node/354. International Planned Parenthood Federation, International Community of Women Living with HIV/AIDS, Global Network of People Living with HIV/AIDS. Verdict on a Virus. Public Health, Human Rights and Criminal Law. London, 2008. International Planned Parenthood Federation, World AIDS Campaign, United Nations Population Fund, Global Youth Coalition on HIV/AIDS. The criminalisation of HIV. 2008. Inter-Parliamentary Union. Paragraphs 14-18 on criminalization of transmission in: Final conclusions of the First Global Parliamentary Meeting on HIV/AIDS. Parliaments and Leadership in Combating HIV/AIDS. Manila, Philippines, 28-30 November 2007. Disponível em: http://www.ipu.org/splze/haids07.htm. SIDA NET 139 Inter-Parliamentary Union, UNAIDS, UNDP. Chapter 13: A controversial issue: HIV transmission/exposure offenses. In: Taking Action against HIV. Handbook for Parliamentarians No 15. Geneva, 2007. Disponível em inglês, francês e espanhol em http://www.ipu.org/english/handbks.htm#aids07. ONUSIDA. Versão original en inglês, UNAIDS/02.12E, junio de 2002: Criminal Law, Public Health and HIV Transmission: A Policy Options Paper. UNAIDS, 2006 International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights; 2006 Consolidated Version UNAIDS, 2007, Practical Guidelines for Intensifying HIV Prevention: Towards Universal Access UNAIDS Reference Group on HIV and Human Rights, 2007. Issue Paper for session: Criminalization of HIV transmission, Seventh meeting 12 14 February 2007 UNAIDS. HIV-related stigma, discrimination and human rights violations : case studies of successful programmes. Geneva, 2005. UNAIDS. UNAIDS recommendations for alternative language to some problematic articles in the NDjamena model legislation on HIV/AIDS (2004). Geneva, 2008. Disponível em: http://data.unaids.org/pub/Manual/2008/20080912_alternativelanguage_ndajema_legislation_en.pdf or http://www.icw.org/node/354. UNAIDS. Criminal Law, Public Health and HIV Transmission: A Policy Options Paper. Geneva, 2002. Available at www.unaids.org. UNAIDS & UNDP. Summary of main issues and conclusions. International Consultation on the Criminalization of HIV Transmission, 31 October - 2 November 2007. Geneva, 2008. UNAIDS/UNDP. Criminalization of HIV Transmission. Geneva, 2008. Disponível em: http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2008/20080731_jc1513_policy_criminalization_en.pdf. Vernazza P et al. Les personnes séropositives ne souffrant daucune autre MST et suivant un traitement antirétroviral efficace ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle. Bulletin des médecins suisses 2008; 89(5). Weait M. Glasshouse, Intimacy and Responsibility: The Criminalisation of HIV Transmission. London and New York: Routledge-Cavendish, 2007. WHO Europe. WHO technical consultation in collaboration with the European AIDS Treatment Group and AIDS Action Europe on the criminalization of HIV and other sexually transmitted infections. Copenhagen, 2006. Disponível em: http://www.keele.ac.uk/research/lpj/Law_HIVAIDSProject/WHOcrimconsultation_latest.pdf. SIDA NET 140 DETERMINAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL NO CASO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE INFECTADO COM HIV/SIDA Sónia Fidalgo - Universidade de Coimbra - Portugal § 1. A complexidade da actividade médica e o direito penal 1. À eficácia da medicina contemporânea estão inevitavelmente associadas três características: agressividade, perigosidade e complexidade1. A complexidade exigirá o exercício da medicina em equipa; a agressividade e a perigosidade manifestarão a relevância de se pensar o problema da responsabilidade médica. E, não sendo de excluir em absoluto a possibilidade de uma conduta dolosa por parte do médico, falar de responsabilidade médica aliada à actual agressividade e perigosidade do exercício da medicina, será falar de responsabilidade médica por negligência. Com este artigo pretendemos dar um contributo para a clarificação do problema da determinação da responsabilidade penal por negligência no caso de transfusão de sangue infectado pelo HIV no âmbito de uma intervenção cirúrgica. 2. A complexificação da actividade médica fez emergir um novo tipo de médico. A tendência é no sentido de uma divisão de competências. Os médicos reduzem cada vez mais o seu campo de actuação, aprofundando os seus conhecimentos num âmbito científico específico. E, seguindo a lógica da especialização médica, também a própria enfermagem se fragmentou e passou a ter áreas de cuidados especializados. As instituições de saúde apresentam-se hoje como organizações complexas onde a actividade médica é desenvolvida predominantemente no âmbito de equipas pluridisciplinares: as equipas de prestação de cuidados de saúde. A actual complexificação da prática clínica, exigindo “capacidades de coordenação, de comunicação e de resposta perante o inesperado, que excedem a preparação das organizações”, significa “naturalmente (…) maiores oportunidades de erro”2. Deste modo, no decurso de uma intervenção em que a intenção é a de melhorar o estado de saúde do paciente (ou até alcançar a sua cura), podem ocorrer erros de que derivem danos3 para o paciente ou mesmo a sua morte. 1 PENNEAU, Jean, «La réforme de la responsabilité médicale: responsabilité ou assurance», Rev. Int. Droit Comp., 42 (1990), p. 525. 2 OLIVEIRA, Guilherme Falcão de, «Recensão de: José Fragata e Luís Martins - O erro em Medicina. Perspectivas do indivíduo, da organização e da sociedade. Coimbra, Almedina, 2004», Lex Medicinae – Revista Portuguesa de Direito da Saúde, 3 (2005), p. 157 e s. 3 Utilizamos a palavra dano num sentido lato, e não no sentido rigoroso em que é utilizada na classificação que se faz dos crimes atendendo à forma como o bem jurídico é posto em causa pela actuação do agente. SIDA NET 141 3. O direito, nomeadamente o direito penal, reconhece a relevante função social exercida pela classe médica - o Código Penal português (CP) dedica um tratamento diferenciado e privilegiado à actividade médica, através do regime específico das intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos (artigo 150.º). Nos termos do artigo 150.º do CP, a intervenção médico-cirúrgica medicamente indicada, realizada por um médico, com finalidade terapêutica e segundo as leges artis não preenche o tipo de ofensa à integridade física. No entanto, na actividade médica estão em causa bens que se contam entre os mais importantes da ordem legal dos bens jurídicos: a vida, a integridade física e a liberdade do paciente. Quando os profissionais de saúde actuam em violação do seu dever de cuidado, criando um risco não permitido que vem a concretizar-se numa ofensa ao corpo ou à saúde ou mesmo na morte do paciente, o direito penal não pode deixar de intervir - o médico pode vir a ser punido por ofensa à integridade física por negligência (artigo 148.º do CP) ou por homicídio por negligência (artigo 137.º do CP). E no caso de transfusão de sangue infectado pelo HIV pode estar ainda em causa o crime de propagação de doença (artigo 283.º do CP). § 2. A delimitação dos deveres de cuidado na actuação em equipa Actuando os profissionais de saúde no âmbito de uma equipa, coloca-se o problema de saber de que modo há-de determinar-se a responsabilidade de cada um se da intervenção médica resultar uma ofensa para o paciente. A determinação da responsabilidade de cada membro há-de fazer-se a partir da delimitação dos deveres de cuidado de cada um. Os princípios a convocar para proceder a tal delimitação serão o princípio da divisão do trabalho e o princípio da confiança: no exercício da medicina em equipa, atendendo à divisão de trabalho, cada membro da equipa pode confiar numa actuação dos outros adequada à norma de cuidado. Será a partir destes princípios que há-de determinar-se a responsabilidade dos diversos profissionais que, em conjunto, simultânea ou sucessivamente, intervêm no processo terapêutico de um doente. I. O princípio da confiança 1. O princípio da confiança é visto hoje como um princípio de delimitação do tipo de ilícito negligente 4 . Nas palavras de Figueiredo Dias, segundo o princípio da confiança, “quem se comporta no tráfico de acordo com as normas de cuidado objectivo deve poder confiar que o mesmo sucederá com os outros, salvo se tiver razão concretamente fundada para pensar ou dever pensar de outro modo”5. Tendo sido inicialmente afirmado pela jurisprudência e pela doutrina alemãs no âmbito do tráfego rodoviário, o princípio da confiança foi depois objecto de uma 4 DIAS, Figueiredo, Direito Penal. Parte Geral I, Coimbra: Coimbra Editora, 2004, 28.º Cap., §§ 17 e s. 5 DIAS, Figueiredo, Direito Penal…, 28.º Cap., § 17 (itálico do autor). Na doutrina alemã, vide, entre outros, WELZEL, Hans, Derecho Penal Alemán, Parte General, Santiago do Chile: Editorial Jurídica do Chile, 1997, p. 159, SCHUMANN, Heribert, Strafrechtliches Handlungsrecht und das Prinzip der Selbsverantwortung der Anderen, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1986, p. 7, ROXIN, Claus, Strafrecht. Allgemainer Teil. Band I, 4. Auf., München: Verlag C. H. Beck, 2006, § 24, n.º 21. Na doutrina italiana, MANTOVANI, Ferrando, Diritto Penale. Parte Generale, 4.ª ed., Padova: CEDAM, 2001, p. 365. Na doutrina espanhola, JORGE BARREIRO, Agustín, La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, Madrid: Editorial Tecnos, 1995, p. 118. SIDA NET 142 transposição para outras áreas, nomeadamente para o âmbito da divisão de trabalho no seio de uma equipa médica. Assim, em matéria de divisão de tarefas no seio de uma equipa médica “qualquer membro (…) deve poder contar com uma actuação dos outros adequada à norma de cuidado (jurídica, profissional, estatutária, da experiência)”6, quer a intervenção destes seja anterior, simultânea ou posterior ao comportamento que se analisa7. 2. A generalidade da doutrina vê o princípio da confiança como um princípio delimitador dos deveres de cuidado em caso de pluralidade de agentes. No entanto, não há consenso quanto ao fundamento de tal limitação. Por que motivo é que aquele que actua ao abrigo do princípio da confiança não preenche, com a sua conduta, o tipo de ilícito negligente? A doutrina alemã maioritária vê o princípio da confiança como um caso particular (Unterfall) de actuação do princípio do risco permitido e que, por isso, terá o mesmo fundamento8. Entendemos, no entanto, que a justificação substantiva do princípio da confiança radica no princípio da auto-responsabilidade de terceiros9. Será a responsabilidade própria de cada agente a justificar e exigir a redução do âmbito de responsabilidade de cada um dos outros. Segundo Figueiredo Dias “as outras pessoas são também seres responsáveis; se se comportam descuidadamente, tal só poderá afectar, antes de tudo, a sua própria responsabilidade. Dito por outras palavras: como regra geral não se responde pela falta de cuidado alheio, antes o direito autoriza que se confie em que os outros cumprirão os deveres de cuidado. Desta perspectiva, o princípio da confiança é exactamente o correspectivo do princípio da auto-responsabilidade”10. No entanto, dizer que o princípio da confiança radica no princípio da autoresponsabilidade não significará necessariamente afirmar que os limites e o âmbito de actuação do princípio da confiança são determinados exclusivamente a partir da extensão da auto-responsabilidade de terceiros; não implicará que princípio da confiança e princípio da auto-responsabilidade sejam dois princípios com âmbitos de actuação coincidentes. Casos haverá em que os outros são seres responsáveis e em que, apesar disso, o princípio da confiança não pode ser convocado - são precisamente as situações em que razões concretamente fundadas 11 conduzam o agente a não confiar no comportamento do outro. Se, no caso concreto, o terceiro não está (ou não 6 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal ..., 28.º Cap., § 21. 7 Cf. JAKOBS, Günter, «Imputación objetiva, especialmente en el ámbito de las instituciones jurídico-penales del “riesgo permitido”, la “prohibición de regreso” y el “principio de confianza”», in: Estudios de Derecho Penal, Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1997, p. 219. 8 Vide, por todos, WELZEL, Hans, Derecho Penal..., p. 159, ROXIN, Claus, Allgemeiner Teil I..., § 24, n.º 22. Em Espanha, no mesmo sentido, entre outros, LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel, Curso de Derecho Penal. Parte General I, Madrid: Editorial Universitas, S.A., 1996, p. 504-5. 9 Neste sentido, entre nós, DIAS, Figueiredo, Direito Penal …, 28.º Cap., § 18; na doutrina alemã, STRATENWERTH, Günter, «Arbeitsteilung und ärztliche Sorgfaltsplicht», in: Fest. für Eb. Schmidt, Göttigen:Vandenhoeck und Ruprecht, 1961, p. 292; na doutrina italiana, FIANDACA / MUSCO, Diritto Penale. Parte Generale, 3.ª ed., Bologna: Zanichelli Editore, 1995, p. 499; na doutrina espanhola, FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo, «El principio de confianza como criterio normativo de imputación en el derecho penal: fundamento y consecuencias dogmáticas», Derecho Penal y Criminología, 69 (2000), p. 48 e s. 10 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal ..., 28.º Cap., § 18. 11 DIAS, Figueiredo, Direito Penal…, 28.º Cap., § 17. SIDA NET 143 vai) comportar-se de modo responsável e tal é cognoscível para o sujeito que com ele contacta, seria inaceitável - seria até contraditório - que este pudesse convocar o princípio da confiança na actuação do outro para delimitar o seu dever objectivo de cuidado e, deste modo, o seu âmbito de responsabilidade. Ao princípio da confiança não será alheia uma ideia de protecção de bens jurídicos. O princípio da confiança, ao permitir a cada um dedicar a máxima atenção à actividade que está concretamente a realizar, permitir-lhe-á cumprir o dever de cuidado que lhe é exigido pela ordem jurídica e, deste modo, conduzirá à protecção dos bens jurídicos que com essas exigências de cuidado a ordem jurídica pretende salvaguardar12. Numa outra perspectiva, também à delimitação do âmbito de actuação do princípio da confiança não será estranha, parece-nos, uma ideia de protecção de bens jurídicos. O direito penal é um direito de tutela de bens jurídicos e, por isso, compreender-se-á que quando o agente se aperceber (ou dever aperceber-se) que o outro não está a cumprir (ou não vai cumprir) o seu dever objectivo de cuidado deva adequar a sua conduta de modo a evitar uma eventual lesão de bens penalmente tutelados. Em rigor, talvez a razão esteja com Kuhlen quando remete a fundamentação do princípio da confiança para uma “ponderação de interesses, que há-de ter em consideração, para além do aspecto de protecção de bens jurídicos, também os aspectos da auto-responsabilidade de terceiros e da liberdade da acção daquele sobre o qual recai o dever objectivo de cuidado”13. II. O princípio da divisão do trabalho Numa equipa de prestação de cuidados de saúde, entre os diversos profissionais estabelece-se uma teia complexa de relações e o âmbito de actuação do princípio da confiança dependerá da posição que cada profissional assume na equipa. Atendendo à tradicional distinção entre divisão do trabalho horizontal e vertical, a doutrina tem considerado que o âmbito de actuação do princípio da confiança não será o mesmo nos dois tipos de relações: o princípio da confiança terá, no âmbito das relações verticais, um campo de actuação mais restrito do que no âmbito das relações horizontais. a) A divisão do trabalho horizontal 1. A divisão de trabalho horizontal é a que se verifica entre profissionais que, atendendo à sua formação e competência, se encontram em situação de igualdade. A divisão de trabalho horizontal verificar-se-á em qualquer relação entre médicos de especialidades diferentes ou da mesma especialidade, desde que, neste caso, nenhum dos médicos assuma funções de chefia. E esta relação de trabalho horizontal pode verificar-se quer no caso de actuação simultânea, quer no caso de actuação sucessiva dos diversos profissionais sobre um paciente. 12 Cf. JAKOBS, Günter, La imputación objetiva en Derecho Penal, Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1996 p. 105. 13 KUHLEN, Lothar, Fragen einer strafrechtlichen Produkthaftung, Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 1989, p. 133. SIDA NET 144 2. No âmbito das relações horizontais, a relação sobre a qual mais se tem debruçado a doutrina e a jurispr udência é a que se estabelece entre o cir urgião e o anestesiologista14. 2.1. Estes profissionais exercem conjuntamente funções complementares, desenvolvendo cada um a sua actividade de acordo com os conhecimentos próprios das respectivas especialidades. Há décadas atrás o cirurgião era visto como o dominus da sala de operações. Não era reconhecida qualquer autonomia aos seus colaboradores independentemente da qualificação e especialização de cada um deles, e o cirurgião era responsável por tudo o que acontecia no decurso e como consequência da intervenção. A anestesia era dada pelos enfermeiros ou pelo próprio cirurgião, pelo que este seria responsável quer pelo risco cirúrgico propriamente dito, quer pelo designado risco anestésico. No entanto, sobretudo a partir dos anos sessenta, a anestesiologia foi adquirindo progressiva importância, tendo o seu desenvolvimento permitido o alargamento do campo de actuação da própria cirurgia. O anestesiologista deixou de estar numa situação de dependência em relação ao cirurgião e a anestesiologia afirmou-se como uma especialidade, ao lado da cirurgia15. Cirurgião e anestesiologista representam especialidades complementares no âmbito da intervenção médico-cirúrgica, mas actuam com total autonomia: o anestesiologista tem uma função diferente da do cirurgião, não estando dependente deste (nem técnica nem cientificamente) nem sujeito a qualquer grau de hierarquia16. Sendo a relação entre o cirurgião e o anestesiologista uma relação não hierárquica, o princípio da confiança actuará na sua plenitude. Cada especialista, por regra, pode confiar na correcta realização de funções por parte do outro - nenhum deles controla a actividade do outro - não sendo qualquer dos especialistas responsável pelos actos realizados pelo colega. Cada um dos especialistas será apenas responsável por controlar os perigos que, no seu específico âmbito de competência, ameacem concretizar-se num resultado danoso para o paciente. E o que acabou de dizer-se valerá, mutatis mutandis, nos casos de intervenção sucessiva de vários profissionais sobre o mesmo paciente. 14 Vide, por todos, na doutrina alemã, CARSTENSEN, G., «Arbeitsteilung und Verantwortung aus der Sicht der Chirurgie», Langenbecks Arch. Chir., 335 (1981), p. 572; na doutrina italiana, MARINUCCI, Giorgio / MARRUBINI, Gilberto, «Profili penalistici del lavoro medico-chirurgico in équipe», Temi, (1968), p. 230 e s., JORGE BARREIRO, Agustín, La imprudencia punible…, p. 136 e s. 15 Em Portugal, a especialidade de anestesiologia foi reconhecida pela Ordem dos Médicos em 1950 (SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA, «História da Anestesiologia em Portugal. Apontamentos», Boletim Informativo da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, 1 (2004), p. 5). Na mesma década, também na Alemanha e em Itália se reconheceu a anestesiologia como especialidade autónoma; em Espanha, a anestesiologia foi afirmada como uma especialidade médica num diploma da década de oitenta (cf., JORGE BARREIRO, Agustín, La imprudencia punible…, p. 137, nota 142). 16 Neste sentido, NUNES, J. Martins, «Da responsabilidade dos médicos anestesiologistas. Dos diversos tipos de responsabilidade, formas de apuramento e instâncias decisórias. Consentimento informado», Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, 15 (2006), p. 30. Há quem entenda que no âmbito de uma intervenção médico-cirúrgica devem distinguir-se duas equipas: a equipa cirúrgica, constituída pelos cirurgiões, e a equipa anestésica, constituída pelos médicos anestesiologistas (CASEIRO, José Manuel, «A equipa médico-cirúrgica», Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, 15 (2006), p. 11). SIDA NET 145 2.2. No entanto, não podemos atender apenas à delimitação formal de competências - há que atender também à delimitação material das competências17. Pode acontecer que no caso concreto um dos colaboradores avoque uma competência alheia, assumindo fáctica e voluntariamente, para além das suas próprias funções, funções que são próprias de um colega. Neste caso, aquele que assumiu funções que não eram originariamente suas não poderá invocar os princípios da divisão do trabalho e da confiança para afastar a sua responsabilidade. Se no caso concreto o cirurgião assumir funções que eram originariamente do anestesiologista, pode vir a ser responsabilizado se não controlar um perigo surgido numa área de competência que não era formalmente sua, mas que ele assumiu de facto. Tal pode acontecer quando o anestesiologista abandona a sala de operações com a concordância do cirurgião sem que qualquer outro colaborador, para além do próprio cirurgião, assuma o controlo das funções vitais do paciente. Neste caso o cirurgião poderá vir a ser responsabilizado (conjuntamente com o anestesiologista) se o paciente sofrer um dano decorrente de um desequilíbrio das suas funções vitais. Uma outra situação em que pode considerar-se que um dos especialistas alarga, de facto, o seu âmbito de competência acontece quando ele se apercebe que o outro não se encontra em condições de cumprir adequadamente as suas funções (por exemplo, por se encontrar sob o efeito do álcool, ou por ter as suas faculdades físicas ou mentais circunstancialmente afectadas devido a cansaço ou a qualquer outro motivo) e ainda assim aceita actuar juntamente com ele. Se o cirurgião aceitar realizar uma intervenção com a colaboração de um anestesiologista que se encontra nas condições referidas ou, inversamente, se o anestesiologista aceitar colaborar com um cirurgião que não se encontra em condições de realizar a cirurgia, em ambos os casos os dois especialistas podem ser responsabilizados se o paciente sofrer um dano em virtude de um erro anestésico ou de um erro cirúrgico, respectivamente18. 3. A doutrina tem entendido que nas situações de divisão do trabalho horizontal (quer no caso de intervenção simultânea, quer no caso de intervenção sucessiva) o princípio da confiança só poderá ser afastado nas situações de violação clamorosa da norma de cuidado por parte de um dos profissionais. Parece-me que nestes casos, a responsabilização do profissional que confia indevidamente na conduta do colega deve ser rodeada de especiais cautelas, principalmente se se tratar de médicos com especialidades diferentes, pois muitas vezes, ainda que um dos especialistas se aperceba de uma falha do outro, a única coisa que poderá fazer será alertá-lo para tal circunstância, pois tratando-se de um problema surgido no âmbito de uma especialidade diferente da sua este nada poderá fazer para corrigir a falha do colega. b) A divisão do trabalho vertical 1. A divisão de trabalho vertical verifica-se quando há uma relação de hierarquia em que uma pessoa recebe instruções de outra que se encontra num nível superior e é controlada por esta, estabelecendo-se entre ambas uma relação de supra/infra 17 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, Responsabilidad penal del personal sanitario. Atribución de responsabilidad penal en tratamientos médicos efectuados por diversos profesionales sanitarios, Navarra: Editorial Aranzadi S.A., 2003, p. 199. 18 Levantar-se-iam, neste caso, claramente, problemas relacionados com o tipo de culpa negligente. SIDA NET 146 ordenação. O exemplo tradicionalmente indicado deste tipo de divisão de trabalho é o que se verifica na relação entre o médico cirurgião (chefe de equipa) e os enfermeiros que com ele colaboram na cirurgia. No entanto, a relação de trabalho vertical não se resume às relações entre médicos e pessoal não médico. Pode verificar-se também uma relação de trabalho vertical entre médicos da mesma especialidade em que um deles se encontra numa situação de superioridade em relação ao outro, por assumir funções de chefia de uma equipa médica (por exemplo, o cirurgião chefe de equipa em relação aos cirurgiões ajudantes)19. 2. Tradicionalmente, entendia-se que no âmbito das relações hierárquicas o chefe de equipa assumia globalmente a realização do processo terapêutico, pelo que cada acto dos subordinados não seria senão uma parcela delegada da actividade assumida por aquele 20 . Sobre o chefe de equipa recairia um conjunto de deveres que compreendiam, desde logo, o dever de selecção dos seus colaboradores e de comprovação da sua qualificação técnica e pessoal, mas também os deveres de informação, instrução e de vigilância constante da sua actuação, de modo a evitar eventuais erros21. No âmbito das intervenções cirúrgicas desenvolveu-se a designada captain of ship doctrine, segundo a qual o chefe da equipa médico-cirúrgica podia ser comparado ao capitão de um navio que dava as ordens à sua tripulação (borrowed ser vants ). Consequentemente, defendia-se que o chefe de equipa devia ser responsabilizado por qualquer tipo de erro que ocorresse na sala de operações, independentemente da pessoa que o cometesse. Sobre o chefe de equipa impendia um dever geral de controlo sobre a actividade dos seus subordinados22. Tal dever de controlo constante da actividade dos subordinados só seria de afastar em situações em que o chefe de equipa tivesse motivos fundados para confiar na actividade dos seus colaboradores. Afirmava-se, assim, como regra, o princípio da não confiança23. No entanto, esta posição tem sido alvo de fundadas críticas por parte da doutrina maioritária, que vem defendendo que também no âmbito das relações hierárquicas há-de ser convocado o princípio da confiança, ainda que com um campo de actuação mais limitado do que nas relações não hierárquicas. Em rigor, também no âmbito das relações verticais só terá sentido afirmar o princípio da divisão do trabalho se cada um dos participantes puder confiar numa actuação dos demais de acordo com as regras. Deste modo, aquele que ocupa uma posição superior deve poder confiar que as suas instruções serão seguidas, e o que ocupa uma posição de subordinação deve poder confiar que as instruções recebidas são correctas. 3. De qualquer modo, no âmbito da divisão do trabalho vertical, independentemente das competências próprias do pessoal subordinado, a relação de superioridade 19 Neste sentido, WILHELM, Dorothee, «Strafrechtliche Fahrlässigkeit bei Arbeitsteilung in der Medizin», Jura, 4 (1985), p. 184, FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo, «El principio de confianza…», p. 54. 20 Cf. GÓMEZ RIVERO, M. Cármen, La responsabilidad penal del médico, Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, p. 428. 21 Cf. ULSENHEIMER, Klaus, Arztstrafrecht…, I, § 1, n.º 174. 22 Sobre a captain of ship doctrine, TAMMELLEO, A. David, «Are “captain of ship” & “borrowed servant” doctrines alive & well?», Regan Report on Nursing Law, 37 (1997), pp. 1 e ss. 23 Neste sentido, CRESPI, Alberto, La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, Palermo: G. Priulla Editore, 1955, p. 155-6. SIDA NET 147 hierárquica determina o surgimento, para o superior, de deveres de organização e coordenação da actuação da equipa. 3.1. O superior tem o dever de proceder a uma distribuição de tarefas de modo a que todas elas sejam atribuídas e correctamente atribuídas - o superior deverá escolher para as desempenhar as diversas tarefas profissionais que estejam em condições de o fazer de modo adequado. No que concerne a este dever de organização e coordenação da actividade da equipa vale também o princípio da confiança: quando não concorrerem circunstâncias que alterem a normal presunção de capacidade que é lícito supor nos seus colaboradores, o superior pode confiar na qualificação destes, bem como na actuação de acordo com o dever de cuidado que sobre eles impende24. Os limites da confiança do superior na adequada preparação e actuação do pessoal auxiliar hão-de traçar-se precisamente onde surgirem indícios concretos que alterem a situação de normalidade. Tal sucederá nos casos (excepcionais) em que o colaborador manifeste incapacidade para cumprir as ordens que o chefe de equipa lhe dirige. Nestas situações, o superior terá o dever de se assegurar de que no caso concreto o colaborador compreendeu o sentido das instruções que recebeu assim como da sua capacidade para as executar, fornecendo, se necessário, informações e instruções complementares que assegurem a correcta execução da tarefa25. 3.2. Além do dever de organização e coordenação inicial, sobre o superior impenderão também, em certas situações, deveres de vigilância, instrução e coordenação no decurso da actividade da equipa - numa palavra, sobre o superior impenderá, em certas circunstâncias, um dever de controlo da actuação dos seus subordinados. A divisão de trabalho em que assenta o exercício da medicina em equipa constitui uma importante fonte de perigos. No decurso da intervenção podem surgir falhas de qualificação, de comunicação e de coordenação26. O dever de controlo que impende sobre o chefe de equipa destina-se a evitar que esses perigos se concretizem em ofensas à vida ou à integridade física dos pacientes. 4. Havendo consenso na doutrina quanto à afirmação de um dever de controlo a cargo do chefe de equipa para fazer face às especiais fontes de perigo que possam manifestar-se, já quanto à extensão deste dever as opiniões divergem. A extensão do princípio da confiança no âmbito das relações hierárquicas depende do alcance que se conceder ao dever de controlo da actuação dos subordinados27. O princípio da confiança e o dever de controlo delimitam-se reciprocamente: quanto maior for o alcance do dever de controlo, menor será a extensão do princípio da confiança e, inversamente, quanto menor for o dever de controlo, maior será a extensão do princípio da confiança. 24 Neste sentido, GÓMEZ RIVERO, M. Cármen, La responsabilidad..., p. 430-1. 25 GÓMEZ RIVERO, M. Cármen, La responsabilidad..., p. 431. 26 Vide, por todos, na doutrina alemã, STRATENWERTH, Günter, «Arbeitsteilung…», p. 393 e s., na doutrina espanhola, JORGE BARREIRO, Agustín, La imprudencia punible…, p. 161 e s. 27 GÓMEZ RIVERO, M. Cármen, La responsabilidad..., p. 431. SIDA NET 148 Entendo que também nas relações verticais o princípio da confiança continua a ter validade geral. O chefe de equipa não actuará contra o seu dever de cuidado quando confiar que os seus colaboradores cumprirão adequadamente as tarefas para as quais se encontram oficialmente habilitados. Quando não há motivos para duvidar da preparação e da capacidade dos colaboradores vale plenamente o princípio da confiança28. Com a afirmação de um dever de vigilância permanente da actividade dos colaboradores correr-se-ia o risco de esvaziar de conteúdo a distribuição de tarefas. Não faz sentido impor ao superior que supervisione a actuação dos seus colaboradores (mesmo que se trate de colaboradores com formação não médica) quando realizam tarefas que são, precisamente, da sua competência e especialidade. Por exemplo, sendo uma tarefa própria dos enfermeiros a administração da terapêutica prescrita pelo médico, este poderá, por regra, confiar na adequada realização de tal tarefa. Se o médico prescrever adequadamente o fármaco e a posologia e se o enfermeiro trocar o medicamento ou o administrar em dose superior à recomendada, a responsabilidade por eventuais danos será do enfermeiro e não do médico. O dever de controlo da actividade dos colaboradores surgirá na esfera do chefe de equipa apenas como um dever de cuidado secundário que, segundo Stratenwerth, surge apenas no caso em que “a esperança no comportamento de acordo com o dever, tendo em conta a situação ou a pessoa do outro, se torne debilitada”29. O superior pode confiar na actuação adequada dos seus subordinados, salvo se circunstâncias especiais do caso concreto o fizerem (ou deverem fazer) duvidar da capacidade daqueles para desempenhar as tarefas em causa e, consequentemente, o fizerem (ou deverem fazer) esperar uma conduta incorrecta por parte deles. Tal acontecerá, desde logo, nas situações em que o superior se aperceber (ou dever aperceber) de erros do colaborador. Também nos casos em que um membro da equipa, apesar de ter qualificação suficiente, for ainda inexperiente no desempenho da tarefa em causa, além do dever prévio de informação e instrução no início da intervenção, sobre o superior recairá ainda um dever de vigilância da actividade do colaborador inexperiente. Pode acontecer também que um colaborador experiente e habitualmente competente não tenha cometido qualquer erro mas, no decurso da intervenção, manifeste não se encontrar em plenas condições físicas e/ou psíquicas, nomeadamente por se encontrar cansado por excesso de trabalho30. Também neste caso o princípio da confiança deverá ceder o seu lugar a um dever (secundário) de controlo por parte do superior sobre a actuação do colaborador. Não concordamos com Jorge Barreiro quando afirma que pode aceitar-se “a regra geral de que as exigências do dever de vigilância serão tanto maiores quanto menor for a qualificação do pessoal sanitário auxiliar”31. O poder ou não confiar (e, correlativamente, o dever ou não vigiar) não está directamente relacionado com a 28 Assim, também, WILHELM, Dorothee, «Probleme der medizinischen Arbeitsteilung aus strafrechtlicher Sicht», MedR, 2 (1983), p. 51. 29 STRATENWERTH, Günter, «Arbeitsteilung…», p. 392. Nas palavras do autor, os deveres de controlo “não devem ser deduzidos de forma geral a partir da previsibilidade dos erros dos outros nem da mera possibilidade de intervir. Portanto, o princípio da confiança limita, por sua vez, quando não existem circunstâncias especiais, também os deveres de controlo. Caso contrário seria impossível (…) uma efectiva divisão do trabalho” (STRATENWERTH / KUHLEN, Strafrecht. Allgemeiner Teil I. Die Straftat, 5. Auf., Köln: Carl Heymanns, 2004, § 15, n.º 69). 30 FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo, «El principio de confianza…», p. 68. 31 JORGE BARREIRO, Agustín, La imprudencia punible…, p. 163. SIDA NET 149 qualificação da cada membro da equipa, mas sim com a questão de saber se, no caso concreto, cada um está ou não em condições de exercer as tarefas que lhe competem de acordo com a qualificação que apresenta. A qualificação de cada membro determinará o seu âmbito de competência e, dentro deste âmbito, o superior, por regra, poderá confiar no adequado desempenho das tarefas atribuídas a cada colaborador, independentemente de se tratar de um médico especialista, de um enfermeiro ou de um outro técnico de saúde. 5. Na relação de trabalho vertical o profissional que se encontra na posição de chefia dá as instruções e sobre os subordinados impenderá o dever de cumprir as instruções recebidas e executar as tarefas que lhes são distribuídas. E, se aquele que ocupa uma posição superior deve poder confiar que as suas instruções serão seguidas, o que ocupa uma posição inferior deve poder confiar que as instruções recebidas são correctas32. Sobre os subordinados não impende, por princípio, qualquer dever de controlo da actuação do superior33 – seria uma contradição impor aos subordinados, que frequentemente serão profissionais menos experientes e, por vezes, menos qualificados que o superior, o dever de controlar a actividade deste. Por outro lado, os deveres de coordenação e de controlo que impendem sobre o chefe de equipa seriam de escassa operatividade na finalidade de garantir a mais correcta execução da intervenção ou do tratamento, no interesse do paciente, se as ordens por ele dadas não gozassem de um certo carácter imperativo34; seria prejudicial para o próprio paciente se cada decisão só pudesse ser tomada após a concordância de todos os elementos da equipa35. Consequentemente, aos subordinados também não se reconhece um direito geral de crítica e resistência às ordens recebidas do chefe de equipa – os subordinados podem, por regra, confiar na correcção das ordens do superior, tendo o dever de as cumprir. § 3. Concretização: transfusão sanguínea com sangue infectado pelo HIV no âmbito de uma de intervenção cirúrgica 1. Responsabilidade do anestesiologista? Por regra, quando se revela necessária uma transfusão sanguínea no âmbito de uma intervenção cirúrgica, é sobre o anestesiologista que recai o dever de fazer o pedido de sangue ao serviço de hematologia. Uma vez chegado o sangue à sala de operações, o anestesiologista tem o dever de verificar se a identificação que acompanha o sangue armazenado para a transfusão coincide com a do doente em causa. Mas o seu dever em relação ao controlo do sangue armazenado traduz-se apenas nesta verificação. Se o anestesiologista não tiver procedido a esse controlo e se o sangue usado na transfusão vier, por exemplo, a revelar-se incompatível com o sangue do paciente, 32 Assim, JORGE BARREIRO, Agustín, La imprudencia punible…, p. 155. 33 WILHELM, Dorothee, «Probleme der medizinischen Arbeitsteilung...», p. 51. 34 IADECOLA, Gianfranco, Il medico e la legge penale, Padova: CEDAM, 1993, p. 81. 35 LANDRO, Andrea Rocco di, «Vecchie e nuove linee ricostruttive in tema di responsabilità penale nel lavoro medico d’équipe», Riv.DPE, 1-2 (2005), p. 233. SIDA NET 150 este especialista poderá ser responsabilizado36. No entanto, o anestesiologista não será responsável pelo dano que advier para o paciente se, tendo procedido a este controlo e tendo verificado a coincidência da identificação que acompanha o sangue armazenado com a do paciente que dele carece, realizar a transfusão, tratando-se, afinal, de sangue de grupo não compatível com o do paciente. O anestesiologista poderá confiar que o sangue que lhe é enviado pelo serviço de hematologia com a identificação do paciente que está a ser submetido à intervenção cirúrgica é sangue de grupo compatível com o grupo do sangue do paciente em causa. Além de poder confiar que o sangue é sangue do grupo que foi pedido, o anestesiologista pode ainda confiar, obviamente, que o sangue que foi enviado pelo serviço de hematologia é sangue que reúne todas as condições para ser objecto de transfusão. O anestesiologista pode confiar que foi feito o despiste nos dadores de sangue e que o sangue foi devidamente testado e tratado pelo serviço de hematologia antes de ser enviado para a sala de operações. Não é, obviamente, dever do anestesiologista proceder a este tipo de análises e tratamento antes de iniciar a transfusão. Este é um dever dos profissionais que trabalham no serviço de hematologia e, por regra, o anestesiologista pode confiar na actuação dos profissionais daquele serviço (salvo se tiver razão concretamente fundada para pensar de outro modo) – trata-se, no fundo, de um caso de actuação sucessiva de diferentes profissionais no processo terapêutico de um paciente. Deste modo, no caso de o anestesiologista proceder a uma transfusão sanguínea com sangue infectado com HIV, ele não poderá ser responsabilizado – ele confiou (e podia ter confiado) que o sangue enviado pelo serviço de hematologia era sangue idóneo para a transfusão. 2. Responsabilidade do enfermeiro? Pode suceder que quem proceda à transfusão sanguínea seja um enfermeiro, por ordem do anestesiologista ou do cirurgião chefe de equipa. Poderá o enfermeiro ser responsabilizado no caso de transfusão de sangue infectado pelo HIV? Neste caso trata-se de uma relação de trabalho vertical – o anestesiologista ou o cirurgião dão uma ordem de transfusão que é cumprida pelo enfermeiro. Como vimos, nas relações de trabalho vertical também vale inteiramente o princípio da confiança – o enfermeiro pode confiar na adequação da instrução que lhe é dada pelo superior e tem o dever de a cumprir. Podemos repetir aqui o que dissemos anteriormente: não é função do enfermeiro, no âmbito de uma intervenção médico-cirúrgica, proceder aos testes necessários para averiguação da idoneidade do sangue objecto de transfusão. Esta é uma tarefa dos profissionais do serviço de hematologia. O enfermeiro tem apenas o dever de cumprir a ordem que lhe foi dirigida: proceder à transfusão sanguínea. Deste modo, se no âmbito de uma intervenção cirúrgica o enfermeiro proceder à transfusão de sangue contaminado pelo HIV, ele não pode ser responsabilizado pelo dano que o paciente vier a sofrer: por um lado, o enfermeiro cumpriu uma ordem do seu superior na qual podia confiar; por outro lado, a averiguação da idoneidade do sangue para transfusão não é uma tarefa do âmbito de competência do enfermeiro. 36 Esta poderá eventualmente ser uma responsabilidade conjunta com a de profissionais do serviço de hematologia. SIDA NET 151 3. Responsabilidade do cirurgião chefe de equipa? Seguindo a captain of ship doctrine poderíamos ser tentados a afirmar que o cirurgião chefe de equipa poderia ser responsabilizado no caso de transfusão de sangue contaminado pelo HIV no âmbito de uma intervenção cirúrgica: sendo ele o chefe de equipa, deve ser responsabilizado por qualquer tipo de erro que ocorra na sala de operações, independentemente da pessoa que o cometer. No entanto, há que salientar desde já que no caso de transfusão de sangue contaminado pelo HIV não ocorreu qualquer erro na sala de operações: em princípio, o erro foi cometido antes de o sangue ter chegado à sala de operações. E, por outro lado, como vimos já, a captain of ship doctrine está hoje ultrapassada: o cirurgião chefe de equipa pode, por regra, confiar na correcta actuação dos seus colaboradores (salvo se tiver razão concretamente fundada para pensar de outro modo). Para além disso, podemos referir mais uma vez que, por um lado, não é função do cirurgião averiguar a idoneidade do sangue para transfusão e, por outro lado, o cirurgião pode confiar na correcta actuação dos profissionais do serviço de hematologia (salvo quando tiver razão concretamente fundada para pensar de outro modo). Deste modo, o cirurgião chefe de equipa não poderá ser responsabilizado. 4. Conclusão: responsabilidade dos profissionais do serviço de hematologia Do percurso que fizemos resultará que a responsabilidade no caso de transfusão de sangue infectado pelo HIV no âmbito de uma intervenção cirúrgica será, em princípio, dos profissionais do serviço de hematologia. No âmbito deste serviço verificar-se-á uma rede complexa de relações de trabalho horizontais e verticais e valerá, como regra, o princípio da confiança. No caso de transfusão de sangue infectado pelo HIV há que averiguar quem tinha o dever de proceder ao despiste nos dadores, de testar e de tratar o sangue para ser objecto de transfusão. Lançando mão do princípio da confiança e do princípio da divisão do trabalho tornar-se-á possível determinar em que fase do processo (desde o momento da colheita do sangue até ao momento da efectiva transfusão) ocorreu o erro. E, provando-se que um profissional actuou em violação do seu dever de cuidado, criando um risco não permitido que veio a concretizar-se numa ofensa ao corpo ou à saúde ou mesmo na morte do paciente, será possível responsabilizar criminalmente esse profissional. SIDA NET 152
Download