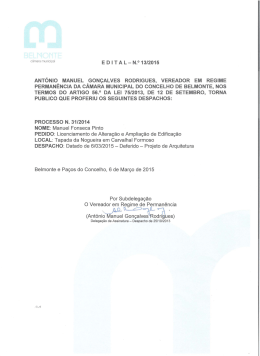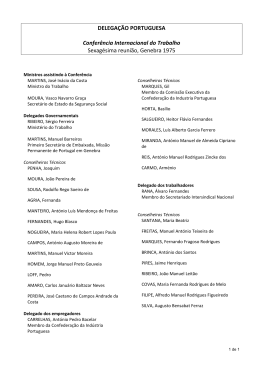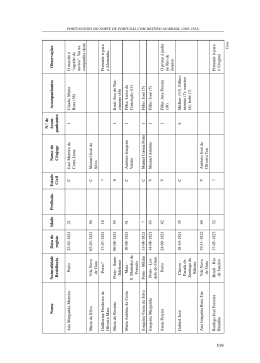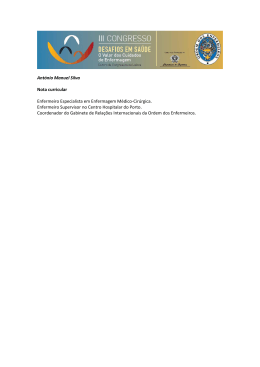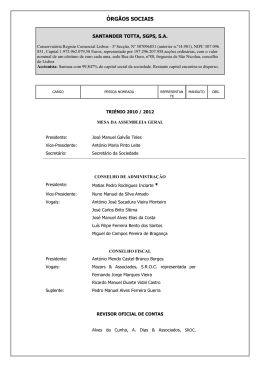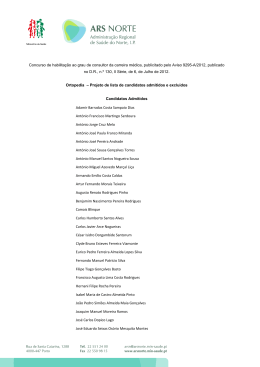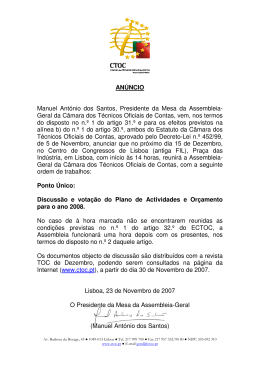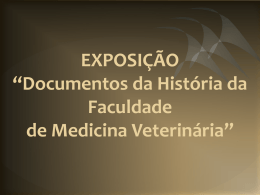95
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
DIREITO COMUM E DIREITO COLONIAL.
António Manuel Hespanha
Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de
Lisboa.
Porque é que existe e em que é que consiste um direito colonial brasileiro.
Desde há uns anos que o tema das relações entre a sociedade Metropolitana e a
sociedade brasileira se tem vindo a libertar de algumas imagens historiográficas
translatícias, adoptando modelos de análise e pontos de vista que têm menos a ser
com os imaginários nacionalistas do que com a incorporação de perspectivas mais
modernas da historiografia geral.
Neste texto, abordo uma questão que interessa particularmente aos historiadores do
poder e das instituições e cuja compreensão necessita de alguns esclarecimentos
que a história do direito de Antigo Regime pode fornecer.
O meu ponto o seguinte. Para se falar de um direito colonial brasileiro - com a
importância política e institucional que e isto tem -, é preciso entender que, no
sistema jurídico de Antigo Regime, a autonomia de um direito não decorria
principalmente da existência de leis próprias, mas, muito mais, da capacidade local
de preencher o os espaços jurídicos de abertura ou indeterminação é assistente as
na própria estrutura do direito comum.
De algum modo, a tendência para andar à procura do leis especiais para o Brasil
quando se quer comprovar existência de um direito próprio é induzida pelo modo
como a historiografia espanhola tratou tradicionalmente o chamado “direito das
96
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
Índias”. Na verdade, só muito recentemente – a partir de um livro do historiador
argentino Vítor Tau Antzoategui 1 – é que a concepção de “direito das Índias” como
complexo de leis da coroa foi substituída por uma concepção de direito construído
pela prática - eventualmente, pela prática dos tribunais – nos espaços que o direito
comum clássico deixava à regulamentação local, consuetudinária ou judicial.
É certo que a monarquia portuguesa emitiu algumas leis para o Brasil, embora em
menor quantidades do que as editadas pela monarquia espanhola para a sua
América 2 . Em todo o caso, se se procurara pelo direito do Brasil colonial, é
minimamente aí que ele se encontra. Diria mesmo que a maior parte destas
providências vindas da corte indiciam - quando não as referem expressamente zonas de incumprimento do direito real e, portanto, de existência de um direito
próprio.
De seguida, lembraremos os conceitos de direito comum que permitiam que as
práticas locais se tornassem direito. Mostraremos, depois, como esta abertura às
particularidades locais era política e doutrinalmente antipática ao poder da coroa,
quer elas se referisse à metrópole, quer se referisse às colónias. Salientaremos, em
todo o caso, como estas virtualidades de diferenciação periférica do direito, embora
existissem em todos os lugares das monarquias, eram enormemente potenciadas
nas situações “de fronteira”, como as colónias. Ao longo do texto, daremos alguns
exemplos, quase todos referentes a Minas e provenientes do Códice Costa
Matoso 3 , do vigor destas práticas particularistas as periféricas que as fontes
continuamente referem como divergentes, ou mesmo contrárias, ao direito do Reino.
1 Tau Anzoategui (1992), Vitor, Casuismo y sistema, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de
Historia del derecho, 1992.
2 O projecto ius Lusitaniae, dirigido por Pedro Cardim e Ângela Barreto Xavier, disponibilizará em
suporte electrónico, uma boa parte dessa legislação. Outra banda dispersa, até porque nem sempre
revestia a forma mais solene, a de carta de lei, consistindo frequentemente em cartas régias,
provisões, portarias, alvarás, regimentos, contendo instruções, por vezes dirigidas a uma pessoa em
concreto. De facto, para além de tudo, nunca podemos perder de vista que o actual conceito de lei
para compreende, nas práticas formulares de Antigo Regime, uma vasta pluralidade de tipologias
documentais. O próprio CCM lista uma séria importante de providências normativas, em geral
relativas aos distritos auríferos de Minas (p. 352-370.
3 Códice Costa Matoso. Colecção das notícias dos primeiros descobrimentos da Minas na América
que fez o Doutor [...] Ouvidor-Geral do Ouro Preto, que tomou posse em Fevereiro de 1749, coord.
geral de Luciano Raposo de Almeida Figueiredo e Maria Verónica Campos; estudo crítico de Luciano
97
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
1. A
autonomia
do
direito
colonial
como
reflexo
do
pluralismo
do
ordenamento jurídico europeu de Antigo Regime.
Na sociedade europeia medieval e moderna, conviviam diversas ordens jurídicas - o
direito comum temporal, (basicamente identificável com a doutrina da tradição
romanística, incorporada numa a mole imensa de textos, invariavelmente escritos
em latim, e existentes nas bibliotecas das universidades e dos tribunais europeus), o
direito canónico (direito comum em matérias espirituais, obedecendo basicamente à
mesma natureza formal) e os direitos dos reinos, constantes, antes do mais, de leis
que representavam a vontade do soberano, mas também do direito estabelecido
pelos tribunais do Reino (praxe ou estilo dos tribunais).
A esta situação de coexistência de ordens jurídicas diversas no seio do mesmo
ordenamento jurídico tem-se chamado pluralismo jurídico 4 , que significa, portanto,
a coexistência de distintos complexos de normas, com legitimidades e conteúdos
distintos, no mesmo espaço social, sem que exista uma regra de conflitos fixa e
inequívoca que delimite, de uma forma previsível de antemão, o âmbito de vigência
de cada ordem jurídica. Tal situação difere da actual - pelo menos tal como ela é
encarada pelo direito oficial -, em que uma ordem jurídica, a estadual, pretende o
monopólio da definição de todo o direito, tendo quaisquer outras fontes jurídicas
(v.g., o costume ou a jurisprudência) uma legitimidade (e, logo, uma vigência)
apenas derivada, ou seja, decorrente de uma determinação da ordem jurídica
estadual.
Referimo-nos, no parágrafo anterior, basicamente a três ordens jurídicas: o direito
secular comum (tradição romanística), o direito canónico e o direito secular próprio
(direito do Reino). Estamos, no entanto, a simplificar muito. Diremos brevemente
porquê.
R. de Almeida Figueiredo, S. Paulo, Biblioteca Mário de Andrade, s/d [?], 2 vols.. Citações ulteriores:
CCM.
98
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
2. A equivocidade das ordens jurídicas. Divergências doutrinais.
O direito comum, quer o secular, quer o eclesiástico, eram quase exclusivamente de
origem doutrinal; e, por isso, estavam cheios de controvérsias, de argumentos de
sentido diferente, desembocando em soluções contrárias. Pode dizer-se que o
tecido do direito no era feito de regras, mas antes de problemas; para a resolução
dos quais os juristas dispunham de fontes contraditórias, logo nos textos de direito
romano, e de argumentos de sentidos contrários. A abordagem de no caso concreto
era, por isso, feita de uma forma tentativa, confrontando o caso com vários
argumentos (ou figuras de direito) possíveis, cada um dos quais justificaria uma
solução diversa.
Dou um exemplo tirado de uma decisão real (embora aqui algo simplificada), que
não é brasileiro, embora trate de um assunto com relevância para o Brasil. Se um
pai, em testamento, legou uma escrava a um filho e, à data da morte testador, desta
tinham nascido cinco filhos, estes fazem parte do legado ou devem ser considerados
como incluídos na massa da herança, a dividir pelos herdeiros ? A resposta a esta
questão depende da qualificação doutrinal que fizermos dos objectos “escrava” e
“filhos de escrava”. Se estes forem tidos como frutos da coisa legada, não entrarão
na herança, de acordo com a regra de direito comum de que os frutos seguem o
destino da coisa principal. Se forem considerados como objectos independentes da
sua mãe, não se consideram legados e entrarão, por isso, na partilha do
remanescente da herança 5 .
É certo que existia o princípio de que se devia decidir pela opinião comum,
incorrendo numa violação deontológica e até em pecado, o jurista que
4 Sobre o tema da arquitectura do ordenamento jurídico medieval, exemplarmente, António Manuel
Hespanha, Cultura jurídica europeia. Síntese de um milénio, ed. bras., Florianópolis, Fundação
Boiteux, cap. 6.3..
5 Inspiro-me num caso semelhante (sentença da Casa da Suplicação, de 1673) em Manuel Álvares
Pegas (ed. Luís Álvares Pegas), Commentaria ad Ordiantiones (Adittiones ad Lib. 1 & 2), Ulyssipone,
Valentino da Costa Deslandes, 1703, p. 138, n. 36 .
99
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
imprudentemente se afastasse da solução mais frequentemente adoptada 6 . Porém,
apesar de se conceber, assim, a prática (local) como uma “ciência digestiva”, a
escolha entre soluções diversas, quaisquer delas justificáveis em direito, criava uma
grande margem de liberdade na altura de decidir. É isto que alimenta a burocracia
judicial ou para judicial: memoriais jurídicos, litígios judiciais, alegações dos
advogados das partes, sentenças contraditórias, recursos ou, puramente, a recusa
de obedecer há ordens mais terminantes do monarca ou dos seus oficiais, mesmo
de alto nível, como base numa opinião jurídica distinta.
A incerteza do direito não é igualmente boa ou má para todos. Normalmente, serve
os mais poderosos, os que têm capacidade de influenciar, de subordinar, de
sustentar com um litígio durante anos em tribunal ou, pura e simplesmente, de se
estribarem no parecer de um letrado por sua conta para desobedecerem ao direito
estabelecido. É, por isso, com este espírito que devemos ler as queixas, frequentes
no Brasil ou em Portugal, sobre em incerteza do direito e liberdade dos juristas (ou
juízes) na sua interpretação. Disso se queixam normalmente dos mais fracos ou, por
outro razões, os funcionários mais zelosos do interesse da coroa.
Num papel do povo amotinado de Minas, dirigido ao governador D. Pedro de
Almeida Portugal, conde de Assumar, em 1720, reclama-se um “Regimento para os
salários [...] de sorte que se forem lá [no Rio] 4 vinténs de prata não duvidem [no
Brasil] que sejam de ouro” (CCM, I, 372).
As próprias leis do Reino não estão da salvo deste entendimento de que o direito
tem muitas faces, abrindo mais questões do que aquelas que fecha.
O que alguns (mas não outros) querem é, portanto, que haja um norte, uma regra
certa, nas interpretações: “Assim como o leme é o governo da embarcação assim
são os despachos para os contadores, e faltando nestes a clareza a respeito das
condenações já se põem os contadores a adivinhar, e disto nascem dúvidas
causadas das interpretações que cada um dá aos despacho, conforme lhe faz mais
6 A. M. Hespanha, Cultura [...], cit., cap. 6.6.2.3..
100
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
conta para se lhe diminuir o que se tem contado ou ao menos dilatar a causa, com o
pretexto de embargo de erros de contas [...] Só assim se poderão evitar muitas
maldade e ladroeira que se fazem, e com muito grande excesso os oficiais dos
contratos e fazenda real” (CCM, I, p. 699).
Pode dizer-se que a interpretação distorcida era a legitimação formal e o princípio do
abuso aberto dos poderosos locais contra a lei: “querem que os senhores do senado
- mais exigem os povos de Minas no papel antes citado - moderem as condenações
tão exorbitantes que costumam fazer sem Regimento nem lei [ … e …] requerem
mais que nenhum ministro faça vexações ao povo com o seu os despachos
violentos, procedendo à prisão e fuga, sem as circunstâncias do direito, e que em
tudo se observe com ele a lei do Reino” (CCM, I, p. 373).
3. A possibilidade de impugnação jurídica das leis régias.
Mas havia mais motivos de incerteza. É que, até aos meados do séc. XVIII, as
próprias leis reais podiam ser embargadas - ou seja, não apenas não obedecidas,
mas ainda positivamente impugnadas na sua validade). Os motivos podiam ser
vários. Os mais comuns eram, porém, ou a arguição de que o rei estava mal
informado 7 , ou da invocação de que a providencia régia lesava direitos adquiridos.
Um exemplo do último tipo foi o que aconteceu, por exemplo, em relação a várias
leis que fixaram o regime da capitação do ouro nas Minas Gerais, contestadas pelas
câmaras e pelos contratadores e embargadas por alguns destes 8 , quer com o
fundamento em que eram contra direito 9 , como ainda com base na irrevogabilidade
7 For mera falta ou por ocultamento doloso da verdade (obrepção e subrepção, respectivamente).
Arguição particularmente adaptada à situação colonial, que o rei não conhecia senão indirectamente,
por intermédio de ministros que podiam esconder informações relevantes.
8 Cf. embargo contra da lei de 3.12.1750, que fixou a oitava de ouro em 1200 reis, oposto por
contratador (CCM, I, 558).
9 Num Papel acerca de como se estabeleceu a capitação nas Minas Gerais, datado de 1749, que
assim fica-se o regime legal como contrário “a todas as disposições das leis e de direito” (CCM, I, p.
492); num outro parecer contra a capitação, de 1751, pode ler-se “da mesma sorte, se consultarmos
juristas sobre o ponto da promessa que em 24 de Março de 1734 fizeram os procuradores das
câmaras ao Conde das Galveias, prometendo fazer certo o número do cem arrobas em que se funda
a sempre venerando lei, estes hão-de de declarar que este fundamento é contrário às regras de
direito [...]” (CCM, I, 543).
101
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
dos contratos anteriormente firmados pela coroa e que as novas leis viessem alterar.
É justamente por esta época que a admissibilidade de embargos em relação às leis
do rei começam a ser considerados como “indecentes” na Europa, nomeadamente
porque se entende que um monarca iluminado não pode emitir leis contrárias à
razão do direito. Mas, os obstáculos da distância, a distorção da informação, ou do
carácter exótico e diferente das colónias, bem poderiam, neste caso, explicar ainda a
falta de informação.
3.1 Contratos, privilégios e normas gerais.
Esta primazia de contratos e privilégios – a que acabamos de nos referir - sobre as
normas gerais - de natureza doutrinal ou da natureza legal - constituía um segundo
factor de particularização (localização) do direito. Muito frequentemente, eram
concedidos privilégios, por vezes “exuberantes” (como então se dizia) por motivos
particulares, por pressão das circunstâncias, por favoritismo os ou em troca de
favores – mesmo que fossem favores à coroa, como o auxílio numa situação de
apuro militar ou financeiro. Também muitos contratos eram celebrados pelas
mesmas razões. Mais tarde, quando se queria proceder à emenda dos erros
políticos, quando o governador era substituído por um outro mais rigoroso, ou
quando a coroa, como sucedeu por volta de 1750 nas Minas Gerais, queria dar uma
nova ordem à administração, já as situações a sanear estavam consolidadas por
privilégios ou contratos passados. E, então, a doutrina era implacável. Como se
escreve num memorial, de 1751, contra a obrigação de os contra dadores pagarem
as somas do contrato em ouro quintado: “são os contratos dos principies leis, e suas
condições tem tanta eficácia que o os mesmos príncipes contraentes não podem
encontrar nem modificar o que neles prometeram e estipularam, e neles nada pode
inovar se. E quando não é lícita qualquer alteração ao príncipe no seu contrato,
menos é facultado a qualquer dos seus subalternos” (CCM, I, 570-571). Qualquer
que fosse o resultado final, a dúvida sobre a prevalência entre contrato e lei permitia
decisões diversas. Neste caso concreto, as primeiras decisões, do “doutor
102
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
Procurador da coroa” de Vila Rica dão razão ao contratador 10 . Só a intervenção de
uma junta ad hoc, nomeada pelo governador, reverte a decisão. Embora um recurso
desta para a justiça ordinária dos tribunais superiores da colónia ou do Reino
pudesse e inverter de novo o sentido do direito.
3.2 A criação de normas particulares: costumes, graça e privilégio.
Um outro factor de autonomia do direito da colónia reside no modelo de relação
entre direito geral e direito particular que a modelava a ordem jurídica de Antigo
Regime.
Abaixo do plano do reino, proliferavam as ordens jurídicas particulares, todas elas
protegidas pela regra da preferência do particular sobre o geral. Por exemplo, as
normas que protegiam os estatutos (ou direitos das comunas, cidades, municípios),
considerando-os, nos termos da lei "omnes populi" 11 , como ius civile ("dicitur ius
civile quod unaqueque civitas sibi constituit", [diz-se direito civil o que cada cidade
institui para si], Odofredo, século XII), ou seja, com dignidade igual à do direito de
Roma. Ou as que protegiam o costume (nomeadamente, o costume local), cujo valor
é equiparado ao da lei ("também aquilo que é provado por longo costume e que se
observa por muitos anos, como se constituísse um acordo tácito dos cidadãos, se
deve observar tanto como aquilo que está escrito", D.,1,3,34; v. também os frags. 33
a 36 do mesmo título) 12 . Ou, finalmente, o regime de protecção dos privilégios, que
impedia a sua revogação por lei geral sem expressa referência; ou mesmo a sua
irrevogabilidade pura e simples, sempre que se tratasse de privilégios concedidos
contratualmente ou em remuneração de serviços ("privilegia remuneratoria") 13 . Ou
seja, em todos estes casos, ainda que as normas particulares não pudessem valer
10 Porém, uma junta nomeada pelo Governador e Capitão Geral da Capitania de Minas, decide o
contrário, contra este e outros rendeiros, Ridicularizando, en passant, a decisão do procurador da
coroa local; 1751, cf. CCM, I, 604 e seguintes.
11 Cf. António Manuel Hespanha, Cultura [...], cit., cap. 6.3..
12 "Lex est sanctio sancta, sed consuetudo est sanctio sanctior, et ubi consuetudo loquitur, lex manet
sopita" [a lei é uma sanção santa, mas o costume ainda é mais santo, e onde fala o costume, cala-se
a lei] (Consuetudines amalfitenses); Hespanha, 1989, 291 ss.
13 Cf. António Manuel Hespanha, Cultura [...], ibid.
103
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
contra o direito comum do reino enquanto manifestação de um poder político,
podiam derrogá-lo enquanto manifestação de um direito especial, válido no âmbito
da jurisdição dos corpos de que provinham. E, nessa medida, eram intocáveis. Pois
decorrendo estes corpos da natureza, a sua capacidade de autogoverno e de edição
de direito era natural e impunha-se, assim, ao próprio poder político mais eminente.
3.3 Direito estrito e ordens normativas próximas. Fundamentos doutrinais.
A razão da preferência outorgada às normas individuais sobre as normas gerais
relaciona-se também com estrutura mais profunda do sistema de direito comum. O
fundamento do direito era, para a visão medieval do mundo, a ordem, um dom
gratuito de Deus. Porém, a ordem mantinha-se, antes de mais, pela existência de
forças íntimas que atraem as coisas umas para as outras, de acordo com as suas
simpatias naturais (amores, affectiones) transformando a criação numa rede
gigantesca de simbioses ou empatias. Numa quaestio sobre o amor (Sum. theol,
IIa.IIae, q. 26, a. 3, resp), S. Tomás define o amor como o (plural, diverso) afecto das
coisas, sublinhando que estes afectos se exprimem através de diferentes níveis de
sensibilidade (intelectual, racional, animal ou natural). Isto explica, desde logo, a
proximidade e estreita relação entre mecanismos disciplinares que hoje são vistos
como muito distantes (direito, religião, amor e amizade). Para os níveis mais
elevados – e menos externos - da ordem, existem mecanismos mais subtis, como a
fé ou as virtudes, que disparam sentimentos também ordenadores (de amizade, de
liberalidade, de gratidão, de sentido de honra, de vergonha). Num certo sentido,
estes mecanismos estão ainda mais próximos da justiça, como virtude que “dá a
cada um o que é seu” (ius suum cuique tribuit), ou do direito natural, como aquele
que a natureza ou Deus ensinaram a cada animal (quod Natura [gl. id est Deus]
omnia animalia docuit). É por isto que os teólogos e os juristas definem este conjunto
de deveres de amor, de amizade, de gratidão como “como que legais” (quasi legali),
cometendo também aos juristas a guarda destes deveres.
Todos estes amores criavam, de facto, obrigações. E a estas ainda se podiam
acrescentar as que surgiam da religião (ou seja, do amor para com Deus e, através
dele, para com todas as suas criaturas, animais, plantas e inanimados incluídos).
104
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
Bem como as afeições que Deus imprimiu nas nossas mentes (afectos intelectuais)
ou nos nossos desejos (afectos sensitivos).
Em alguns casos, estas ordens normativas supra-jurídicas temperavam o rigor da
ordem civil (como no caso do adequação do direito civil às posições mais maleáveis
da aequitas canonica; ou no caso dos juízes criminais, que tinham que compensar a
ferocidade da lei penal (rigor legis) com a misericórdia (misericordia). Nouros casos,
como no da ordem doméstica, as normas decorriam da própria “natureza” (natura,
honestas), sendo transcritas para o corpo do direito os comandos contidos no “direito
do corpo” (na sexualidade, na feminilidade, na masculinidade): a fraqueza, a
indignidade e a maldade das mulheres; a natureza da sexualidade humana
(monogâmica, hetero, vaginal: vir cum foemina, recto vaso, recta positio); a natureza
da comunidade doméstica (unitária, patriarcal). Como a família não era a única
instituição natural, outras relações humanas tinham pretensões “naturais”em relação
ao direito; mesmo no caso daquelas instituições que a cultura actual considera como
perfeitamente arbitrárias e disponíveis, como os contratos. O conceito cunhado para
exprimir estas normas implícitas e forçosas contidas em certos tipos de relações era
o de “natureza dos contratos” (natura contractus) ou de “vestes” dos pactos
(vestimenta pacti, como que dizendo que, sem certos atributos formais, os acordos
[nús] não podiam valer).
Esta necessidade e possibilidade de transcrever normas de uma ordem na outra
tornava-se possível pela existência de conceitos genéricos que serviam como que
de “canais de comunicação” entre elas. Entre a ordem política e o direito, as
importações e exportações faziam-se através de canais como a “utilidade pública”
(publica utilitas), bem comum (bonum communem), poder absoluto ou extraordinário
(absoluta vel extraordinaria potestas), posse de estado (possessio status); direitos
adquiridos (iura quaesita), estabilidade das decisões jurídicas (stare decisis), razão
jurídica (ratio iuris) 14 .
14 Ou seja, valores políticos eram transformados em valores jurídicos porque o direito permitia que
valores externos fossem recebidos em nome de conceitos genéricos [vazios, indeterminados], como
“utilidade pública”, “bem comum”; ou porque o direito reconhecia como jurídicos os valores já
admitidos pelos dados da vida social (“posse de estado”); ou ainda porque o direito incorporava os
comandos de uma razão natural acerca das relações humanas.
105
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
Como as hierarquias entre as diferentes ordens normativas eram sensíveis ao
contexto (case-sensitive) e os modelos de transferência (ou transcrição) não eram
fixos, o resultado era uma ordem entrecruzada e móvel, cujas particularizações não
podiam ser antecipadamente previstas. É a isto que se pode chamar a “geometria
variável” do direito comum (ius commune). Em vez de um sistema fechado de níveis
normativos, cujas relações estavam definidas uma vez por todas (como os sistemas
de fontes de direito do legalismo contemporâneo), o direito comum constituía uma
constelação aberta e flexível de ordens cuja arquitectura só podia ser fixada em face
de um caso concreto.
Nesta constelação, cada ordem normativa (com as suas soluções ou seus princípios
gerais: instituta, dogmata, rationes) era apenas um tópico heurístico (ou perspectiva)
cuja eficiência (na construção do consenso comunitário) havia de ser posta à prova.
Daí que coubesse ao juiz fornecer um solução arbitrária 15 em torno da qual a
harmonia pudesse ser encontrada (interpretatio in dubio est faciendam ad evitandam
correctionem, contrarietatem, repugnantiam) 16 .
4. Flexibilidade do direito em função da graça.
A flexibilidade jurídica não decorria apenas da pluralidade de ordens normativas e do
carácter aberto e casuístico da sua hierarquização.
Resultava também da ideia de que o território do direito era uma espécie de “jardim
suspenso”, entre os céus e a vida quotidiana. Entre o domínio sobrenatural da
religião e o domínio das normas jurídicas terrenas.
Na verdade, as normas jurídicas, as máximas doutrinais e as decisões judiciais
constituíam as regras da vida quotidiana. Normalmente, cumpriam bem o seu papel.
No entanto, elas não constituíam o critério último de normação.
15 “Arbitrium iudex relinquitur quod in iure definitum non est”.
106
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
Passava-se com o direito o que se passava com a natureza. Tal como a lei que
Deus imprimira na natureza (causae secundae [causas segundas], natura rerum
[natureza das coisas]) para os seres não humanos, também o direito positivado (nas
instituições, nos costumes, na lei, na doutrina comum) instituíra uma ordem
razoavelmente boa e justa para as coisas humanas. No entanto, acima da lei da
natureza, tal como acima do direito positivo, existia a suprema, embora
frequentemente misteriosa e inexprimível, ordem da Graça, intimamente ligada à
própria divindade (causa prima, causa incausata).
No nível político-constitucional, os actos incausados (como as leis ou os actos de
graça do príncipe), alterando a ordem estabelecida, são, por isso, prerrogativas
extraordinárias e muito exclusivas dos vigários de Deus na Terra – os príncipes.
Usando este poder extraordinário (extraordinaria potestas), eles imitam a Graça de
Deus, fazendo como que milagres. Como fontes dessa graça terrena, introduzem
uma flexibilidade quase divina na ordem humana 17 .
Como senhores da graça, os príncipes:
Criam novas normas (potestas legislativa) ou revogam as antigas (potestas
revocatoria);
Tornam pontualmente ineficazes normas existentes (dispensa da lei,
dispensatio legis);
Modificam a natureza das coisas humanas (v.g., emancipando menores,
legitimando bastardos, concedendo nobreza a plebeus, perdoando penas);
Modificam e redefinem o “seu” de cada um (v.g., concedendo prémios ou
mercês).
16 Cf. António Manuel Hespanha, Cultura [...], cit...
17 Cf. António Manuel Hespanha, "Les autres raisons de la politique. L'économie de la grâce" (versão
castelhana em La gracia del derecho, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993.
107
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
De certo modo, esta prerrogativa constitui a face mais visível do poder taumatúrgico
dos reis, a que a tradição europeia tanto recorre. Teorizando esta actividade “livre e
absoluta” dos reis, João Salgado de Araújo, um jurista português dos meados do
séc. XVII, usa expressamente a palavra “milagre” (João Salgado de Araújo, Ley
regia de Portugal, Madrid, 1627), enquanto que outro declara que o príncipe, através
da graça, “pode transformar quadrados em círculos” (mutare quadratos rotundis, cf.
Manuel Álvares Pegas, Commenaria ad Ordinationes, t. IX, p. 308, n. 85.), na
sequência de fórmulas que vêm dos primeiros juristas medievais que discutiram os
poderes dos papas e dos reis.
No entanto, esta passagem do mundo da Justiça para o mundo da Graça não nos
introduz num mundo de absoluta flexibilidade. Por um lado, a graça é um acto livre e
absoluto (i.e., como se diz do poder absoluto ou pleno do rei: plenitudo potestatis,
seu arbitrio, nulli necessitate subjecta, nullisque juris publicis limitata, [um poder ou
vontade absolutos, livre de qualquer necessidade, não limitado por quaisquer
vínculos do direito público], Cod. Just., 3, 34, 2). Mas, por outro lado, a graça não é
uma decisão arbitrária, pois tem que corresponder a uma causa justa e elevada
(salus & utilitas publica, necessitas, aut justitiae ratio). Nem isenta da observância da
equidade, da boa fé e da recta razão ("aequitate, recta ratio [...], pietate, honestitate,
& fidei data"), nem do dever de indemnizar por prejuízos colaterais causados a
terceiros. Em contrapartida, pode tornar-se como que “devida”, em face de actos
também gratuitos (favores, serviços) que os vassalos tenham feito ao rei, e que,
assim, forçavam os reis à atribuição de recompensas ou mercês.
Como a graça não é o puro arbítrio e antes configura um nível mais elevado da
ordem, a potestas extraordinaria dos príncipes aparece, não como uma violação da
justiça, mas antes como uma sua versão ainda mais sublime. Para Salgado de
Araújo (Ley regia de Portugal, Madrid, 1627, 46), o governo por estes meios
extraordinários da graça – ou seja, tirado fora dos mecanismos jurídicoadministrativos ordinários – representa uma forma última e eminentemente real de
realizar a justiça, sempre que esta não pudesse ser obtida pelos meios ordinários.
108
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
Este tipo de flexibilidade correspondia, portanto, à existência de vários e sucessivos
níveis de ordem. Quanto mais elevados eles estivessem, tanto mais escondidos,
inexplicitáveis e não generalizáveis seriam. A flexibilidade era, então, a marca da
insuficiência humana para esgotar, pelo menos por meios racionais e explicáveis, o
todo da ordem da natureza e da humanidade.
Apesar da distância, a graça também chegava a Minas.
Por vezes a do rei, directamente ou por intermédio do vice-rei, concedendo mercês
ou perdoando. Logo desde o início, a história de Minas é a história de um perdão, o
de Manuel Borba Gato que, a troco da indicação do lugar de novas minas, foi
provisoriamente perdoado (1699), em nome do rei, pelo Governador do Rio, Artur de
Sá e Menezes, quanto à acusação de morte de um anterior governador (“Com
demonstrações de grande gosto, o levantou nos braços Artur de Sá e prometeu, em
nome de Sua Majestade, o perdão se, com efeito, desse ao manifesto tal
descobrimento (das minas) e então [ … iria …] dar contra a Sua Majestade do
perdão que prometera em seu nome em recompensa do serviço que aquele vassalo
fizera com aqueles descobrimentos, para que, ao mesmo tempo que desse o
perdão, achasse merecimentos para aquela e mais Mercedes […] deu conta Artur de
Sá a Sua Majestade do perdão que, em seu nome, prometera de Manuel de Borba
Gato pela morte de D. Rodrigo [...] confirmou Sua Majestade o perdão e fez-lhe mais
a mercê da patente de tenente-general de uma das praças marítimas que primeiro
vagasse, segundo as lembranças. Já sossegado, livre e premiado de generosa mão
do rei D. Pedro II, o nosso tenente-general Manuel de Borba Gato mandou vir a sua
família para o Rio das Velhas e dois genros que tinha, naturais da Ilha de São
Miguel, António Tavares e Francisco de Arruda. E estes tiraram tanto cabedal que
em poucos anos se passaram à Pátria e fundaram, cada um, seu Morgado, e vivem
regalados com os mimos e fertilidade da Pátria” (CCM, I, 10-191). À graça régia –
sob a forma de alterações na administração e, sobretudo, perdão de faltas – recorre
também o povo de Vila Rica, vindo amotinado à presença do governador de S.
Paulo e Minas, em 1720 (CCM, I, 370 ss.).
109
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
Mas também Minas se sabia que a liberalidade ou graça era uma arma de dois
gumes, desencadeando uma espiral de deveres a que nem todos queriam estar
sujeitos. A história do paulista Garcia Rodrigues, contada no “Diário da jornada fez
ouvidor Caetano da Costa Matoso para minas gerais” (CCM, I, 882) é significativo:
“[o rei D. Pedro II] também [lhe] mercê do ofício de guarda mor das minas, que ele
não cria a aceitar dizendo arrogantemente que não queria que el-rei lhe fizesse
mercê porque ele é que as queria fazer a el-rei, e levado desta mesma elevação de
paulista deu a el-rei passagem destes dois rios que no princípio mandava fazer pelos
seus escravos, sem emolumento, e ofereceu a el-rei dizendo podia fazer nela um
bom rendimento” (ibid, p. 889). Neste caso, porventura, Garcia Rodrigues era
apenas um paulista arrogante e pouco interessado em se prender a um cargo que o
obrigaria a dividir fidelidades entre a comunidade quase independente dos seus
patrícios e o poder longínquo e tendencialmente invasivo do rei, um poder que, no
interior de São Paulo, era quase sinónimo de não poder 18 . Mas, noutros casos, o
cálculo dos custos e benefícios que o aceitar de uma mercê podia causar era uma
medida de elementar prudência.
A graça era apanágio dos poderes supremos, imediatos a Deus - o do Rei e o do
Papa. Em alguns casos podiam ser por estes delegados. Era o que acontecia na
dada ou na apresentação dos ofícios. Como em todos os casos da delegação de
poderes privativos, esta devia ser expressa e constar de carta régia ou de regimento.
Neste caso dos ofícios, a periferização do poder manifestava-se ou pela usurpação
por entidades locais (Câmaras, funcionários subalternos ou mesmo particulares) da
faculdade de os conceder ou pela consolidação, nos titulares dos ofícios, do poder
de os transmitir, em serventia (por arrendamento), por deixa testamentária ou
mesmo por venda. Também no Reino encontramos sinais desta usurpação do poder
real relativa a sua ofícios, com a criação de costumes contra legem que punham na
mão de outras entidades esta importante graça que era a concessão de ofícios. O
arrendamento e a deixa a filhos estavam instituídos por costume, contra o qual se
18 “E pegando o secretário de Estado na lista delas [vilas e cidades do domínio real], foi nomeando
as que se ofereceram; e chegando a de São Paulo, passou por alto [...] porque, Senhor, aquelas vilas
no são de Vossa Majestade, pois se fossem, obedeceriam aos decretos que Vossa Majestade
mandou expedir para todas as partes para que corressem as patacas castelhanas a peso [...] e sendo
em todas obedecido, nesta foi desprezado” (CCM, I, 188-189).
110
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
reage energicamente no reinado de D. José (leis contra o direito consuetudinário dos
ofícios). Na colónia, estes fenómenos parecem ser muito frequentes, tanto no
secular, como no espiritual. Segundo o ouvidor da comarca de Vila Rica (c. 1753), o
bispo de Mariana permitia todos os abusos aos seus oficiais no que respeitava à
admissão de Ordenandos, “por se admitirem todos sem escolha nem eleição, e
alguns com um escândalo do bispado, por ser público e sabido terem impedimentos
animis et corporis e só no se admitem mulatos” (CCM, I, 728). Mas, mais do que
isso, provia os ofícios cuja apresentação competiria ao rei como grão-mestre da
Ordem de Cristo, cobrando, e com demasia, as respectivas pensões (bid, I, 740).
4.1 A extensão do arbítrio (julgamento de equidade) dos magistrados.
Magistrados interesses locais.
A equidade era um outro factor de flexibilidade do direito. A discussão sobre a
equidade foi longa na tradição jurídica europeia 19 , relacionando-se com várias
questões.
No séc. XII, Graciano ligou esta questão à da legitimidade dos privilégios, i.e.,
normas singulares que se opunham à norma geral: “Por isso, concluímos do que
antecede que a Santa Madre Igreja pode manter a alguns os seus privilégios e,
mesmo contra os decretos gerais, conceder benefícios especiais, considerada a
equidade da razão, a qual é a mãe da justiça, em nada diferindo desta. Como, por
exemplo, os privilégios concedidos por causa da religião, da necessidade, ou para
manifestar a graça, já que eles não prejudicam ninguém” (Decretum de Graciano, II,
C. 25, q. 1, c. 16).
A equidade aparece aqui como uma “justiça especial”, não geral e não igual, mas
mais perfeita do que a justiça igual (da qual a equidade seria a mãe).
Um passo suplementar e mais elaborado é dado por S. Tomás, na sua discussão
sobre equidade e justiça (Summa theologica, IIa.IIae, qu. 80, art. 1). Ou seja, ao
111
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
passo que a justiça geral era o produto de uma forma menos refinada e profunda de
conhecimento, a justiça particular (ou equidade) decorria dessa forma superior de
entendimento das coisas que alcançava níveis superiores e mais escondidos da
ordem do mundo – a gnome.
No Antigo Regime, esta ideia de percepções não racionais, não discursivas e não
generalizáveis, nos níveis supremos da ordem, estavam na base de da teoria do
direito concebida como uma teoria argumentativa, da verdade jurídica como uma
verdade “aberta” e “provisória”, da teoria do poder de criação jurídica dos juízes
(arbitrium iudicis), bem como da legitimidade das decisões de equidade, baseadas
num conhecimento mais perfeito, nomeadamente dos particulares das situações.
Nada que melhor conviesse aos magistrados coloniais que tinham na sua frente
casos que, para além de serem particulares, o eram ainda em virtude das próprias
condições excepcionais da colónia.
O número seguinte aborda, justamente, o impacto que tem sobre o direito coumum a
ideia de particularismo das situações locais.
5. A lei geral cede a abusos que, pela repetição, se transformam em práticas e
costumes locais.
O facto de provirem da razão não garantia às normas de direito comum uma
vigência superior, pois da mesma razão decorria a faculdade de cada cidade ou de
cada nação de corrigir ou adaptar, em face da sua situação concreta, o princípio
estabelecido em geral pela razão. Pois, embora a razão natural tivesse em vista
aquilo que resulta justo na generalidade dos casos, a realidade seria tão
multiforme 20 que bem se podia conceber que alguma utilidade particular exijisse a
correcção da norma geral (D.,1,2,16: "o direito singular é aquele que foi introduzido
19 António Manuel Hespanha, Cultura [...], cit., cap. 6.3., e bibliografia aí citada.
20 "Plures sunt casus quam leges" (os casos da vida são mais do que as leis); "nem as leis nem os
senatusconsultos podem ser redigidos de forma a compreender todos os casos que alguma vez
ocorram; basta que contenham aqueles que ocorrem o mais das vezes", pode ler-se em D.,1,2,10.
112
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
pela autoridade do legislador, tendo em vista alguma utilidade particular, contra o
teor da razão"). Assim, o direito comum vigoraria apenas para os casos em que um
direito particular não o tivesse afastado; ou seja, como direito subsidiário; de acordo
com um princípio segundo o qual "as regras do direito [comum] não podem ser
seguidas naqueles domínios em que foi estabelecida [por um direito particular] uma
contradição com a razão do direito", D., 1,2,15).
Assim, a teoria que o direito comum criou sobre as suas relações com os direitos
particulares não deixa de ser muito favorável a estes últimos.
5.1 Direitos dos corpos inferiores.
Desde o século XI que os direitos dos reinos pretendem, no domínio territorial da
jurisdição real, uma validade absoluta, semelhante à do direito do Império (rex
superiorem non recognoscens in regno suo est imperator [o rei que não reconhece
superior é imperador no seu reino], Azo, Guilherme Durante), definindo-se como
"direito comum do reino". O fundamento doutrinal desta ideia pode encontrar-se num
texto do Digesto que afirma que "o que agrada ao príncipe tem o valor de lei; na
medida em que pela Lei regia, que foi concedida ao príncipe sobre o seu poder
político [imperium], o povo lhe conferiu todo o seu poder e autoridade", D.,1,4,1).
Sendo, portanto, comum, o direito do reino continha, tal como o ius commune, uma
ratio iuris que vigorava no seu seio 21 e da qual se podiam extrair consequências
normativas, com o que adquiria alguma da força expansiva do direito comum
imperial. Note-se, porém, que a estreita relacionação entre o direito dos reinos e o
poder real fazia com que nas relações entre o direito real e os direitos locais
inferiores vigorassem normas que não funcionavam nas relações entre direitos
próprios e ius commune, já que a supremacia deste último não decorria da
superioridade política, mas do seu enraizamento na natureza. Assim, a supremacia
do poder real sobre os súbditos ("superioritas iurisdictionis", superioridade quanto à
21 Que, em todo o caso, não anulava a ratio iuris communis, que permanecia como critério superior
(ius naturale).
113
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
jurisdição) traduzia-se numa máxima que não podia valer nas relações entre o ius
commune e os iura propria - a de que "a lei inferior não pode impor-se à lei superior"
("lex superior derrogat legi inferiori", a lei superior derroga a inferior; "inferior non
potest tollere legem superioris", o inferior não pode derrogar a lei do superior), tal
como o inferior não pode limitar o poder do superior. Assim, o direito do reino é,
politicamente, supra-ordenado aos direitos emanados de poderes inferiores do reino,
o que não acontecia com o ius commune em relação aos iura propria.
Porém, esta supra-ordenação em termos políticos não exclui a acima referida
preferência do especial em relação ao geral. Sendo o direito do rei o direito comum
do reino, valem em relação a ele as mesmas regras que valiam quanto ao ius
commune nas suas relações com os direitos próprios. E, assim, a afirmação da
supremacia política não excluía que, desde que esta não estivesse em causa,
pudessem valer dentro do reino, nos seus respectivos âmbitos, direitos especiais de
corpos políticos de natureza territorial ou pessoal. A salvaguarda da supremacia
política do rei seria garantida, então, por um princípio de especialidade, segundo o
qual a capacidade normativa dos corpos inferiores não podia ultrapassar o âmbito do
seu autogoverno 22 .
Esta prevalência dos direitos particulares dos corpos tinha um apoio no direito
romano. De facto, a “lei” Omnes populi, do Digesto (D., I,1,9) reconhecia que “todos
os povos usam de um direito que em parte lhes é próprio, em parte comum a todo o
género humano”. Apesar de a primeira geração de legistas ter sido muito prudente
em retirar daqui um argumento em favor da supremacia dos direitos comunais, o
célebre jurista tercentista Baldo degli Ubaldi encontrou justificação teórica robusta
para que a validade autónoma do direito local: “Populi sunt de iure gntium, ergo
regimen populi est de iure gentium: sed regimen non pot est esse sine legibus et
statutis, ergo eo ipso quod populus habet esse, habet per consequens regimen in
suo esse, sicut omne animal regitur a proprio spiritu et anima” 23 ("os povos existem
22 Para além de se reconhecer que todo o súbdito, mesmo integrado num corpo jurídico inferior, tinha
o direito de apelar para o rei, caso se sentisse injustiçado; mas o rei teria que decidir de acordo com o
direito corporativo desse súbdito.
23 In Dig. Vet., I, 1, de iust et iure, 9, n.4.
114
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
por direito das gentes [i.e., natural] e o seu governo tem origem no direito das
gentes; como o governo não pode existir sem leis e estatutos [i.e., leis particulares],
o próprio facto de um povo existir tem como consequência que existe um governo
nele mesmo, tal como o animal se rege pelo seu próprio espírito e alma").
A situação americana prestava-se a esta invocação do poder genético das
comunidades locais, ecológica e humanamente tão distanciadas da metrópole, para
gerarem um direito próprio, eventualmente contrário ao do reino. A lonjura dos
espaços, com a capacidade de fuga que ela conferia e com o esbater das próprias
situações jurídicas e consequente dificuldade da sua prova ou acertamento, é um
tópico corrente.
Citações judiciais não se faziam nem “nas vilas e menos a irem-nas fazer fora [...],
de mais que na América [os porteiros que deviam fazer as citações, por nunca
encontrarem as pessoas a citar] somente são pregoeiros” (cf. CCM, I, 699). Não
havendo citações, não há processo; e não havendo processo, não há direito oficial.
Os oficiais de justiça, invocando o particularismo da terra e, nomeadamente, o
trabalho que lhes dão a contumácia e rebeldia das partes recusam que se lhes
taxem os emolumentos (cf. CCM, I, 704). No eclesiástico, os habitantes, “ainda que
façam danos ou roubos, não fazem caso da excomunhão e outros não lhe chega a
notícia pelas distâncias do país” (CCM, I, 727); “os que se deixam excomungar
fogem e mudam de terras sem buscar absolvição” (CCM, I, 727). O mesmo se passa
com “os declarados que faltam ao preceito da Quaresma [...] fogem e se retiram para
outros países e não têm domicílio certo, não cuidam em absolver-se nem tirar
mandados para isso” (CCM, I, 734). A prova do estado de solteiro ou de outros
elementos para se poder casar é tão difícil, que a maior parte dos noivos pedem
esperas para prova, que acabam por nunca fazer (cf. CCM, I, 732).
Ou seja, tal como entre os rústicos europeus, o direito estrito no pode valer aqui. E,
no foi lendo o direito oficial, proliferam práticas locais, a que os magistrados reais
chama de abusos, mas que, na realidade, constitui o direito da colónia, pelo menos
nestas mais remotas paragens.
115
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
6. Direito comum e ordem jurídica colonial.
A tese esboçada nos números anteriores no é de que foi a estrutura do direito
comum que provocou particularismo das ordens jurídicas periféricas, nomeadamente
da ordem jurídica colonial brasileira. Esta é, sem dúvida, ou produto da dinâmica de
factores locais, de ordem geográfica, ecológica, humana e política. No entanto, um
modelo de ordenamento jurídico proposto pelo direito comum europeu no punha
grandes obstáculos doutrinais às tensões centrífugas da realidade colonial. Pelo
contrário, fornecia uma série de princípios doutrinais e de modelos de funcionamento
normativo que se acomodavam bem a uma situaço como a do sertão brasileiro.
Na verdade, na arquitectura do ius commune, a primeira preocupação não é reduzir
à unidade a pluralidade de pontos de vista normativos. A primeira preocupação é
torná-los harmónicos, sem que isso implique que alguns deles devam ser
absolutamente sacrificados aos outros ("interpretatio in dubio facienda est ad
evitandam correctionem, contrarietatem, repugnantiam", a interpretação deve ser
feita, em caso de dúvida, no sentido de evitar a correcção [de umas normas pelas
outras], a contradição, a repugnância). Pelo contrário, todas as normas devem valer
integralmente, umas nuns casos, outras nos outros. Assim, cada norma acaba por
funcionar, afinal, como uma perspectiva de resolução do caso, mais forte ou mais
fraca segundo essa norma tenha uma hierarquia mais ou menos elevada, mas,
sobretudo, segundo ela se adapte melhor ao caso ou à situação em exame 24 . Ou
seja, as normas funcionam como "sedes de argumentos" (topoi, loci), como apoios
provisórios de solução; que, no decurso da discussão em torno da solução, irão ser
admitidos ou não, segundo a aceitabilidade da via de solução que abrem.
A regra mais geral de conflitos no seio desta ordem jurídica pluralista não é, assim,
uma regra formal e sistemática que hierarquize as diversas fontes do direito, mas
antes o arbítrio do juiz na apreciação dos casos concretos ("arbitrium iudex
relinquitur quod in iure definitum non est", fica ao arbítrio do juiz aquilo que não está
definido pelo direito). É ele que, caso a caso, ponderando as consequências
116
António Manuel Hespanha
Panóptica, ano 1, n. 3
respectivas, decidirá do equilíbrio entre as várias normas disponíveis. Este arbítrio é,
no entanto, guiado. Pelos princípios gerais a que já nos referimos. Mas, sobretudo,
pelos usos do lugar ao decidir questões semelhantes (no caso de decisões judiciais,
stylus curiae), usos que, assim, se vêm a transformar num elemento decisivo de
deste direito pluralista.
Como o governar estava, nesta época, muito próximo do julgar, tudo o que se disse
sobre a teoria do juízo (iudicium) vale também para a teoria do governo (regímen),
explicando este estilo do governar - sincopado, contraditório, experimental, tantas
vezes pactício ou complacente com o abuso, que alterna as bravatas com a mais
miserável rendição - da coroa portuguesa no Brasil.
Informações bibliográficas:
HESPANHA, António Manuel. Direito comum e direito colonial. Panóptica, Vitória, ano 1, n. 3, nov.
2006, p. 95-116. Disponível em: <http:www.panoptica.org>. Acesso em:
24 Sobre a estratégia casuísta, v., Com especial referência às colónias espanholas da América, a
límpida exposição de Tau Anzoategui, Casuismo y sistema [...], cit..
Download