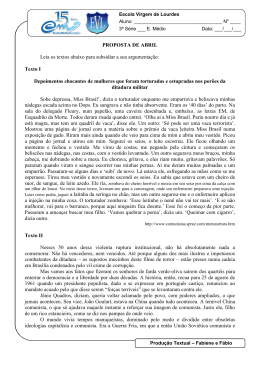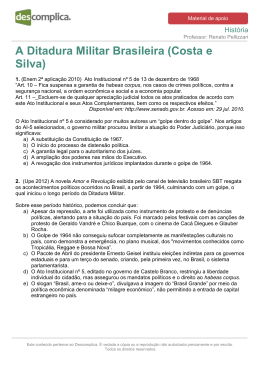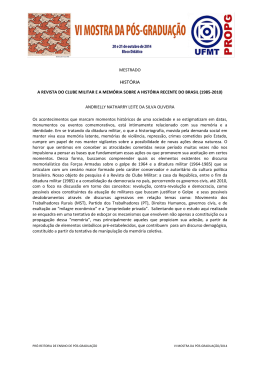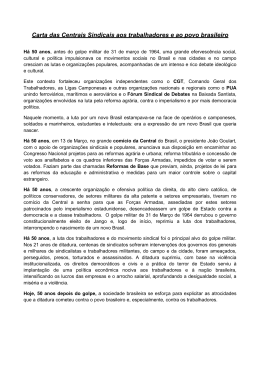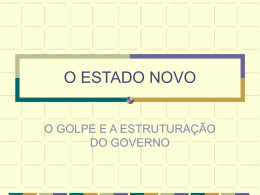Editora Zahar Tópico: Institucional Veículo: Sites Página: 00:00:00 Data: 06/03/2014 Editoria: Revista Cultura 1/ 1 ALUTAQUE JAMAIS PAROU Clique aqui para ver a notícia no site (Não Assinado) Só podia ser mentira. Afinal, era o dia da mentira. Mas o ano, ah..., o ano, infelizmente, era 1964. Então, algo estranho aconteceu: “O Exército dormiu janguista no dia 31 [de março] e acordou revolucionário no dia 1º [de abril]”. A frase é do general Osvaldo Cordeiro de Farias, ministro de Castelo Branco (1897-1967) entre 1964 e 1966, em entrevista aos sociólogos Aspásia Camargo e Walder de Góes para o livro Meio século de combate. Ele falava sobre as horas que desembocariam no golpe civil-militar. E nos sucessivos 21 anos de ditadura. Foi há 50 anos, mas parece que foi ontem. A culpa do rápido e atropelado desencadear de eventos, que culminou na vitória dos golpistas, foi da ala mineira, que compunha a conspiração cujo objetivo maior era a derrubada de João Goulart (1919-1976). A relação do presidente com as Forças Armadas jamais foi serena, mas os ânimos enfureceram-se e a tensão alcançou níveis perigosos quando ele adotou um discurso mais agressivo a favor das reformas de base. Especialmente agrária, eleitoral e tributária. Esse foi o ponto principal de um de seus mais enfáticos discursos, dois dias antes do golpe, em 30 de março, no Automóvel Clube, para uma plateia de suboficiais e sargentos. “A ideia que estava muito ancorada nas forças de esquerda, seja dos moderados seja dos radicais – o Celso Furtado, por exemplo, dizia isso –, era que existiam duas alternativas para o Brasil: ou o país se reformava, nos parâmetros do programa das reformas de base; ou nós entraríamos numa situação de impasse catastrófico, que exigiria um enfrentamento catastrófico, uma espécie de guerra de libertação”, explica Daniel Aarão Reis Filho, professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, autor do recente Ditadura e democracia no Brasil: do golpe de 1964 à Constituição de 1988. Mas colocar tais reformas em marcha não seria fácil. Até porque absolutamente nada havia sido fácil no governo de Jango. Como vice-presidente eleito – na época, se votava para presidente e vice separadamente –, Goulart deveria assumir tão logo se oficializasse a renúncia de Jânio Quadros, afligido por “forças terríveis”, como alegou. Apesar da letra da lei, formou-se um governo provisório, tendo Ranieri Mazzilli (1910-1975) como interino. Alas conservadoras só permitiram a posse – que se daria com o retorno de Jango de sua viagem à China – após um acordo para que o regime presidencialista fosse convertido em parlamentarista híbrido, reduzindo assim o poder do novo mandatário. Homens poderosos, como os ministros militares Sílvio Heck (1905-1988) e Odílio Denys (1892-1985), articuladores do golpe, temiam a ascensão de um líder esquerdista e formaram uma grave oposição à “Campanha da Legalidade”, liderada por Leonel Brizola (1922-2004), então governador do Rio Grande do Sul, e cunhado de Jango. O regime só voltou ao presidencialismo em janeiro de 1963, por meio de plebiscito. Na manhã do dia 31 de março de 1964, o chefe do Estado Maior do Exército, general Castelo Branco, telefona para o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto (1909-1996), em uma vã tentativa de impedir a precipitação do golpe. Ele temia um embate com o dispositivo militar do presidente, e não tinha certeza se seus correligionários eram maioria. Ainda assim, no começo da tarde, saía de Juiz de Fora o “Destacamento Tiradentes”, sob o comando do impaciente general Olympio Mourão Filho (1900-1972), para a “Operação Popeye”: movimentação de tropas que rumou para o Rio de Janeiro e alcançou as margens da capital fluminense quando o sol já havia se posto. Até esse momento, o presidente Jango estava seguro de que os golpistas não teriam apoio suficiente. Ao mesmo tempo, por algum motivo desconhecido, ele nada fez de efetivo e contundente para detê-los. “Eu já recolhi e ouvi muitos depoimentos de lideranças, e muitas se viram paralisadas diante do golpe. Não agiram e não conseguem explicar direito nem a si mesmas o porquê de não terem agido. Hoje, as pesquisas mostram que aquelas tropas que desceram de Minas eram muito limitadas e com armamento ridículo. Elas poderiam ter sido dispersadas muito rapidamente se houvesse uma decisão de enfrentá-las. Agora, por que não houve essa decisão?”, afirma Aarão Reis, ainda intrigado com a questão. Segundo ele, há na historiografia, e mesmo em outras ciências humanas que se debruçam a analisar a conjuntura da época, uma forte tendência a entender que a vitória dos golpistas era inevitável. “Toma-se isso como um dado. Mas, se é verdade que as forças de esquerda estavam muito divididas, não é menos verdade que as de direita também estavam. Havia muitas divergências e contradições, que, aliás, se aprofundariam durante o regime militar. Os golpistas não eram tão fortes assim no momento do golpe.” Só que eles ganharam fortes aliados. E rapidamente. Na tarde de 31 de março, a “Operação Brother Sam”, desenhada pela marinha dos Estados Unidos, destaca uma esquadra com seis destróieres (um tipo de navio de guerra), um porta-aviões, um porta-helicópteros e quatro petroleiros para rumar até as imediações de Santos (SP), em apoio aos golpistas. Às 13h de 1º de abril, Jango deixa o Rio em direção a Brasília. Uma hora antes, o quartel da Artilharia da Costa, no Rio de Janeiro, reduto de militares governistas, fora neutralizado. Ao perceber que a capital federal também aderira ao golpe, às 22h, Jango embarca para Porto Alegre, onde esperançava contar com a ajuda de aliados políticos e militares. Mas, destes aliados, apenas alguns poucos lhe restavam: do Recife, o general Justino Alves Bastos, comandante do IV Exército, anuncia seu apoio ao golpe. Horas depois, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes (1916-2005), é preso. A Faculdade Nacional de Filosofia, no Rio, é atacada com rajadas de metralhadora, e uma reunião de emergência do Comando Geral dos Trabalhadores, dissolvida, iniciando as prisões de líderes importantes. Apoiadores do golpe atearam fogo à sede da UNE, onde dormia o poeta Torquato Neto (1944-1972). Na madrugada que pouco depois raiaria o segundo dia de abril, cercado por militares, o Congresso Nacional institucionaliza o golpe. Auro de Moura Andrade (1915-1982), presidente do Senado, declara a vacância da cadeira de presidente, mesmo estando Jango ainda em território brasileiro. O chefe do Gabinete Civil, Darcy Ribeiro (1922-1997), envia um protesto a esse respeito, mas é sumariamente ignorado. No mesmo dia 2, ao desembarcar no aeroporto Salgado Filho, Jango fica sabendo que tropas marcham de Curitiba e que ele tem pouco mais de duas horas para deixar o país. À 1h45, ele e sua família rumam para São Borja, e 48 horas depois, entram no Uruguai. “O golpe foi sentido por nós, jovens de esquerda, como uma grande derrota, foi muito desmoralizante porque éramos muito combativos.” Na época, Aarão tinha 18 anos, morava em Brasília e era membro do Diretório Estudantil do Centro de Educação Média. Apesar do impacto, a juventude que militava na tangente do Partido Comunista Brasileiro (PCB) tentava ler o revés com olhos otimistas. “Não nos abalamos. Mas tendíamos a estabelecer bodes expiatórios para explicar aquilo, como a fuga do Jango, que achávamos lamentável, e a postura dos líderes do partidão [PCB]. Porém, nós mesmos não refletimos sobre os fundamentos históricos e sociais dessa derrota. Por conta dessa leitura rasa, concluímos que era uma questão de liderança: se novas lideranças aparecessem, as coisas tenderiam a mudar radicalmente.” Ou seja, havia aspectos positivos a extrair: forças tradicionais de esquerda foram removidas do quadro, e, ainda que todos concordassem que isso era muito, muito ruim, ao mesmo tempo, permitia que um pensamento novo nascesse. Ainda mais radical: “A luta de massa dará origem à luta de classe”. Segundo Aarão, essa concepção do sociólogo Octavio Ianni resume muito do espírito daqueles idos. “O populismo estava fora de combate, desmoralizado; então, se abria um horizonte para o pensamento radical de esquerda.” O primeiro problema era que a grande maioria de seus pensadores estava convencida de que a ditadura não encontraria alternativas de desenvolvimento para o país. A derrota de Jango, endossada pelas classes dominantes, levou consigo a possibilidade das reformas de base. A ditadura não teria nada a oferecer, a não ser a repressão. “À repressão nós responderemos com luta armada – esse era o pensamento radical de esquerda, que surgia.” A ideia da luta armada já vinha amadurecendo mesmo antes do golpe, eram tempos de Guerra Fria “e vivíamos sob o influxo da vitória da Revolução Cubana e da Revolução Argelina, do avanço de movimentos guerrilheiros, no Vietnã, na África Subsaariana, no mundo árabe. Tudo isso animava muito os partidários de um enfrentamento aberto e radical e, de certa forma, legitimava essa opção”. Para Aarão, este era o espírito encendido da juventude mais combativa no ano do golpe. “Essa era a sensação que eu compartilhava com muitos militantes e pensadores da época: tivemos uma derrota tremenda, mas então começaria a verdadeira luta.” Eles viviam em um tempo de levantes violentos vitoriosos, “e mesmo aqueles movimentos armados que não estavam vencendo, ao menos também não estavam perdendo posição. As pessoas têm dificuldade de entender os motivos para lançar mão da luta armada, mas havia um contexto, e era muito favorável”. Mas não se tratava apenas de uma questão contextual, Aarão sabe disso. Ele fez parte da Dissidência Comunista da Guanabara, grupo que rompeu com o PCB e, em 1969, mudou de nome para Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR8), quando levou a cabo o sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick (1908-1983). “Havia certa ideia religiosa sobre a luta armada. Ela tinha uma espécie de virtude purificadora, uma ideia que não compartilho mais.” Outra enorme diferença do pesquisador de 68 anos para o jovem engajado, presidente da União Metropolitana dos Estudantes, o rebelde que se exilou na Argélia, é, exatamente, sua concepção revolucionária, aquela que o tempo ajudou a julgar autoritária. “Ao meu ver, todas as esquerdas revolucionárias da época, no Brasil, compartilhavam um autoritarismo básico, próprio do socialismo do século 20. Mas não é casual que todas as revoluções socialistas do século 20 tenham desembocado em ditaduras revolucionárias, que se estenderam para muito além da tomada imediata do poder.” Da perspectiva de Aarão, grande parte dessa tendência autoritária tem origem em uma concepção sangrenta de tomada do poder, “na violência como algo são em si mesmo, como algo demarcador de campos”. Essas revoluções socialistas, que envolviam e ratificavam a luta armada no Brasil, foram fruto de “catástrofes revolucionárias”. Isso quer dizer que elas são resultado de conflitos, de dor, de guerras, “e a guerra nada mais é que a negação da política, e não a política por outros meios”. NOVAS ONDAS REBELDES? De avanços e tropeços se fazia o caminho da redemocratização. Sem dúvida, foi um tempo em que o vanguardismo dos anos 1960 perdia força frente à emergência de movimentos de massa. Não apenas pela dura organização dos sindicatos, mas principalmente pela criação do Partido dos Trabalhadores. O PT coligou grande parte dos movimentos sociais e comunais da época, além do movimento negro e de mulheres, os eclesiais de base, rádios livres, e foi, por tudo isso, construído de baixo para cima, de maneira participacionista. Os efeitos desta opção pela via institucional, feita por boa parte da esquerda, pôde ser sentido mais tarde, no começo dos 2000, com o protagonismo de grupos mais à esquerda, libertários, nas mobilizações de rua. Mas, no auge das “Diretas Já”, em 16 de abril de 1984, cerca de um 1,5 milhão de pessoas tomaram a Praça da Sé, em São Paulo, ao som do hino nacional cantado por Fafá de Belém. Seis dias antes, o Comício da Candelária, no Rio, já havia arregimentado 1 milhão de manifestantes. Mesmo com tamanha pressão popular, a “Emenda Dante de Oliveira” – que instituiria o voto direto para a escolha do sucessor de Figueiredo (1918-1999) – foi rejeitada pelos deputados federais. Os brasileiros só voltariam a votar para presidente em 1989, intermináveis 29 anos depois de eleger Jânio Quadros. O “Caçador de Marajás”, Fernando Collor de Mello, venceu outros 21 candidatos, entre eles seu principal adversário, Lula. Com governo turbulento, cercado por planos econômicos de medidas impopulares, como o confisco das poupanças, e coberto de denúncias de corrupção, o primeiro presidente eleito pelo povo após o regime militar não terminou o mandato. Ao longo de 1992, a juventude brasileira, com participação efetiva de estudantes secundaristas e universitários, protestou nas ruas pedindo sua saída. Este foi o ano dos Caras Pintadas. Em 25 de agosto, cerca de 400 mil jovens tomaram o Vale do Anhangabaú. No dia seguinte, o relatório da CPI contra Collor foi aprovado pela Câmara, dando início à elaboração do pedido de impeachment. Foi aprovado em 29 de setembro. Na transição entre os dois governos de FHC, no final da década de 1990 e começo dos 2000, uma nova onda rebelde se anunciou. Porém, dessa vez, o Brasil era só parte de uma história maior. Lutava-se contra um inimigo transnacional, transcontinental, o neoliberalismo, cujos dentes tinham nomes: Alca, G8, FMI, Banco Mundial, Nafta. “Pra nossa geração, o Levante Zapatista, que aconteceu em 1º de janeiro de 1994, exato dia em que foi assinado o acordo do Nafta, foi muito importante. Eles foram uma influência direta”, conta o pesquisador e escritor Felipe Corrêa, que fez parte tanto da AGP quanto do CMI. A influência zapatista conseguiu, inclusive, vencer a geografia e escalar as montanhas de Chiapas. Boa parte dos ativistas que estariam nas linhas de frente dos protestos ao redor do mundo, a partir de então, se conheceriam nos dois “Encuentros” – 1996 e 1997 –, chamados pelo Exército Zapatista de Liberación Nacional. Eles foram os embriões da Ação Global dos Povos. De fato, havia naqueles anos, conta Corrêa, algo capaz de fazer convergir as lutas sociais, e de resistência ao capitalismo, nas mais longínquas partes do globo: os Programas de Ajuste Estrutural, especialmente os do FMI. O Fundo condicionava seus empréstimos aos países endividados à adoção de programas de liberalização econômica. Os principais “ajustes” diziam respeito à diminuição da proteção ambiental e ao esvaziamento dos direitos trabalhistas. Além do mais, esses dois ajustes davam automaticamente uma enorme vantagem competitiva aos países que aceitassem de bom grado a cartilha do Fundo. Magicamente, o capital migrava para lá. Outros países, para não ficarem na poeira desse deslocamento, precisavam baixar os padrões de regulação. “É por isso que, nos anos 1990, a gente tinha um entendimento de que a luta precisava ser global, porque o capital simplesmente migrava, e o país afundava. Foi daí que surgiu a ideia de reunir os movimentos de base do mundo,” explica Pablo Ortellado, escritor, professor de Estudos Culturais da USP, e coautor de Estamos vencendo – Resistência global no Brasil. De todos os continentes, em fevereiro de 1998, eles convergiram para a I Conferência, em Genebra, onde costuraram a aliança mundial de luta social e apoio mútuo, chamada AGP – Ação Global dos Povos. A partir de então, foram incontáveis as manifestações ao redor do planeta. Durante anos. E anos. As mais lembradas são as de Seattle, em 1999, quando conseguiram barrar a reunião da OMC, e as violentas Jornadas de Gênova, em 2001. No Brasil, especialmente entre 2000 e 2004, a AGP organizou seguidas mobilizações, a maior delas talvez tenha agremiado 10 mil pessoas. Parece pouco, mas não é. “Nos anos 1980, era uma trivialidade levar esse número de pessoas às ruas em São Paulo; qualquer grande ato popular ou 1º de maio levava.” Mas a opção pela via institucional, desencadeada pela criação do PT, implicou sacar do campo social muitas das lideranças destes movimentos e incluí-las no jogo burocrático. Ainda de acordo com Pablo, se, por um lado, isso engrandeceu a força política, por outro, “gerou um grande processo de desmobilização. Durante dez, 20 anos, em São Paulo não havia uma força política capaz de mobilizar 10 mil pessoas de uma maneira regular. A AGP fez isso. É por isso, também, que o ‘Junho de 2013’ tem uma relação muito maior com o movimento antiglobalização do que com outros anteriores, como as vanguardas da ditadura”. E há, de fato, um laço direto de continuidade da AGP às jornadas de junho. Ambas têm em comum, inclusive, muitos protagonistas. “É como nos Estados Unidos, onde há o laço de continuidade entre a AGP e o Occupy Wall Street; e na Espanha com o Movimento 15M. Há pessoas que ocuparam posição de organização nessas manifestações, cuja aprendizagem se deu no movimento antiglobalização. No Brasil, a mesma coisa. Um dos movimentos que constituíram o Movimento Passe Livre (MPL) foi o Centro de Mídia Independente [CMI], que era o braço de comunicação da AGP”, explica Pablo, um dos articuladores da vinda do Indymedia para o Brasil e também um de seus três primeiros membros. O MPL foi criado em 2005, na cidade de Porto Alegre, durante uma plenária do Fórum Social Mundial, também oriundo da luta antiglobalização. Ambos são, ao mesmo tempo, ramificações e continuidades do movimento de resistência global. Foi o MPL que encabeçou o movimento contra os R$ 0,20, o estopim de junho último, e esteve no fronte durante todo o processo, não apenas em São Paulo. “Um dado muito importante para entender o que aconteceu no ano passado, e que é normalmente descartado, é o fato de haver revoltas de transporte no Brasil há dez anos, sempre com a mesma característica e sempre muito grandes. Aconteceu em Salvador primeiro, ‘A revolta do buzu’, em 2003, depois Vitória, Porto Alegre e Belém. Houve mais de uma dezena de revoltas, sempre com um mesmo roteiro: jovem, urbano, se levantando mais ou menos espontaneamente e bloqueando as ruas da cidade contra o aumento da tarifa de transporte. E, várias vezes, eles foram bem-sucedidos. Proporcionalmente, em relação à população de Florianópolis, as Revoltas da Catraca de 2004 e 2005 foram maiores do que junho.” Mas junho, ah, junho foi enorme. As três primeiras manifestações, chamadas pelo MPL em São Paulo, nos dias 6, 7 e 11, levaram às ruas um pequeno, porém combativo, número de pessoas que exigiam a redução da tarifa. Esses protestos foram marcados por dura violência policial, além da resposta contundente dos Black Blocs. Outras cidades começam a se levantar em números expressivos, como Fortaleza, Teresina, Porto Alegre e Rio. No dia 13, a Polícia Militar da capital paulista prende mais de 300 pessoas e fere inúmeras outras, inclusive repórteres. A partir de então, o movimento ganha corpo, respaldo midiático e político, atingindo seu ápice em uma quinta-feira, dia 20, quando levou, segundo contas muito modestas, mais de 1,5 milhão de pessoas às ruas em 388 cidades. O professor do Departamento de Sociologia da USP, Ruy Braga – que foi presidente da UNE em 1992, ano do Fora Collor –, pensa que aquele mês trouxe à superfície todas as soluções aos principais impasses percebidos pelas massas urbanas: “A demanda por investimentos no transporte público, por exemplo, responde ao problema da liberdade de ir e vir, isto é, a liberdade de gozar a cidade”. Para Braga, o que ocorreu foi uma forte e espontânea rejeição ao sistema político tradicional, que tem se mostrado incapaz de solucionar problemas básicos. “Trata-se de um impulso politicamente muito saudável, isto é, o impulso da indignação social. No entanto, esse impulso necessita ser elaborado. Acredito que estamos assistindo a um segundo momento das jornadas de junho, isto é, a busca de alternativas populares à hegemonia PT-PSDB que governa o país há 20 anos. Não é algo fácil, pois as massas urbanas estão completamente órfãs de lideranças e têm pouca experiência política,” explica Braga, um dos autores de Cidades rebeldes, livro que compila uma série de artigos sobre as jornadas de junho. Especialmente após o dia 17, houve uma variedade enorme de pautas, de reivindicações, a frase “Não são só os R$ 0,20” saía da boca de muitos, da maioria de novos manifestantes, gente pouco acostumada a mobilizações de rua e que, de repente, se viu protagonista da história. Apesar disso, o MPL seguia batendo o pé a respeito da redução da tarifa e levantou essa bandeira até o fim. “Essa insistência foi um fato-chave para o que aconteceu em junho ter resultado em vitória. Se a pauta tivesse sido aberta, de acordo com a demanda popular, que vinha com pautas à direita e à esquerda, a luta teria sido perdida. Tenho convicção disso. O MPL sabia que corria esse risco.” Felipe Corrêa acredita ainda que o Passe Livre mostrou-se bastante maduro e soube manter-se à frente, mesmo ao lado de tantas outras bandeiras, “o que deu, ao mesmo tempo, um caráter de massa e um tom mais à esquerda”. Ainda assim, de forma alguma ele teria condições de dar a linha a todo esse movimento quando tomou as proporções que tomou. “A lição que fica de todo esse processo é que a esquerda tem que fazer uma autocritica, tanto da luta contra a ditadura quanto da geração do PT, para propor uma alternativa que tenha a organicidade dos anos 1960 e a base popular dos anos 1980, mas que não incorra no vanguardismo da primeira geração, nem no burocratismo da segunda. E que não incorra também no espontaneísmo da terceira, de que eu fiz parte. Esse é o desafio que está posto.”
Baixar