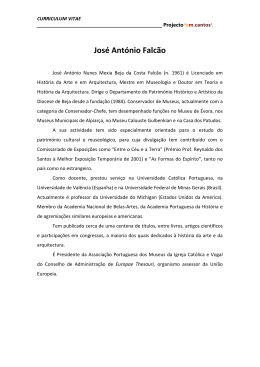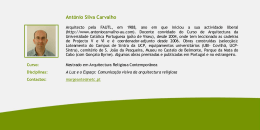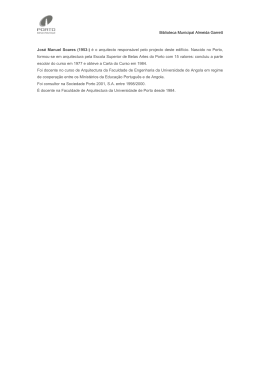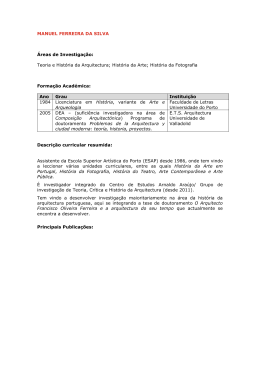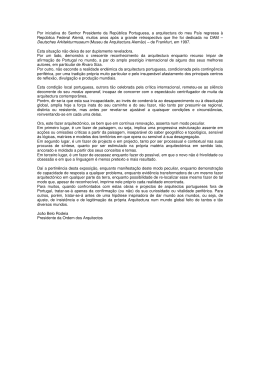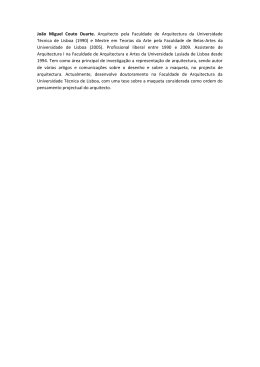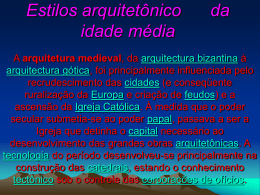A mãe das musas Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência Pedro Marques de Abreu Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa (FA UTL) Centro de Investigação em Arquitectura Urbanismo e Design (CIAUD) Abstract The main goal of this paper is to search for the essence of a museum’s architecture. Firstly we will show the need for this kind of research, using as a starting point Louis Kahn’s theory on institutions. Secondly we will explain how the concept of ‘tradition’ is the key aspect in understanding the social and cultural role of museums. Finally we will argue that there is a need for an intrinsic architectural quality in a museum’s architecture in order for the museum to perform its task effectively. We will base our arguments on Ruskin’s theory on the relationship between Memory and Architecture. We will present two examples to illustrate our way of thinking – the work of Carlo Scarpa in Castelvecchio, Verona, and our recent research on the Astronomic Observatory of Lisbon. Acho muito razoável a crença céltica de que as almas daqueles que perdemos estão cativas em algum ser inferior, num animal, num vegetal, numa coisa inanimada, efectivamente perdidas para nós até ao dia, que para muitos não chega nunca, em que acontece passarmos junto da árvore, ou entrarmos na posse do objecto que é a sua prisão. Então elas estremecem, chamam por nós e, mal as reconhecemos, quebra-se o encanto. Libertadas para nós, venceram a morte e tornam a viver connosco. MARCEL PROUST – Em busca do tempo perdido1 «[...] A Arquitectura deve ser por nós considerada da maneira mais grave. Podemos viver sem ela, podemos rezar sem ela, mas não podemos recordar sem ela. […] Não há senão dois fortes vencedores do esquecimento dos homens, a Poesia e a Arquitectura; e a última de algum modo inclui a primeira e é mais poderosa na sua realidade.» JOHN RUSKIN – The Lamp of Memory, § II2 Kahn e Barragan Uma vez, na cidade do México, Barragan perguntou a Louis Kahn o que era a Tradição. Para se explicar Kahn usou uma imagem que descreveu assim. Ele estava em Londres no Globe Theatre. A peça recém escrita de Shakespeare A MÃE DAS MUSAS: Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência Pedro Marques de Abreu Much Ado About Nothing ia ser posta em cena pela primeira vez e Kahn espreitava por um buraco na parede. Quando o primeiro actor entrou em cena, imediatamente se transformou num monte de pó e ossos. Assim aconteceu também com o segundo e terceiro actores e, depois, também com o público. Isso fê-lo perceber que aquela circunstância nunca poderia ser recriada, que ele nunca poderia ver aquilo que tinha acontecido então. Notou, contudo, que um antigo espelho etrusco, recuperado do mar, que recebera em tempos o reflexo de um belo rosto, possuía ainda a força, com todas as suas incrustações, de evocar a imagem dessa beleza passada. E comentou: «É o que o homem faz, o que escreve, a sua pintura, a sua música, que permanece indestrutível. As circunstâncias dessa produção não são senão o molde no qual é derramada a figura. Isto faz-me perceber o que pode ser a Tradição. Independentemente do que venha a acontecer no curso circunstancial da vida do homem, ele vai deixar, como a coisa mais preciosa, um pó dourado que é a essência da sua natureza. Este pó..., se se conhece este pó e se confia nele, e não na circunstância, então está-se de facto em contacto com o espírito da Tradição» Kahn acrescentou ainda: «Talvez então se possa dizer que a Tradição é o que nos concede o poder de antecipação a partir do qual se sabe o que vai ficar daquilo que se cria»3 Serve este pensamento de Louis Kahn e, mais genericamente, o seu modus operandi enquanto arquitecto, para nos introduzir a um aspecto da problemática dos museus que nos parece pertinente aqui tratar, a saber, a sua ontologia. O que é que o edifício quer ser? “O que é que o edifício quer ser?” era a pergunta que Louis Kahn preconizava ter de ser respondida antes encetar qualquer acção de projecto4. Com os seus alunos ele insistia para que se investigasse previamente, com a máxima profundidade, o tipo de experiência humana com que a expectativa do cliente, e as da sociedade e cultura suas contemporâneas, seriam efectivamente satisfeitas. Kahn dizia que no começo estava a “inspiração” – no sentido de modo arquetípico de viver5, – que era uma “vontade de existência”. Essa “vontade de existência” havia dado origem a uma “instituição humana”. O esforço inicial do projecto deveria então ser no sentido de averiguar que “instituição humana” deveria habitar a nova obra, o que é que os futuros habitantes deveriam experimentar para se sentirem devidamente acolhidos na nova obra. O valor de arte nasceria dessa realização da vontade de existência, plasmada na “instituição humana”6. Kahn distinguia “instituição” de ‘função’ (aquilo que o programa exprimia), na medida em que a segunda era puramente quantitativa7, puramente física, e correspondia a uma necessidade e não a um desejo do homem8. «As funções de um edifício não podem ser consideradas de modo puramente físico. Penso que é somente o equilíbrio entre o 2 A MÃE DAS MUSAS: Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência Pedro Marques de Abreu psicológico e o físico que irá produzir aquilo que pode ser chamada uma arquitectura eficiente, ou uma arquitectura que serve as actividades do homem. Penso também que um edifício tem que responder a uma instituição do homem. O que está instituído pelo homem é aquilo que tem a sua aprovação e essa aprovação, ou melhor, este sentido de institucionalização ou construção da instituição do homem, vem das inspirações interiores. A inspiração para aprender, a inspiração para viver, a inspiração para exprimir, a inspiração para perguntar, todas elas são a fonte, a motivação das nossas instituições.»9 «As inspirações do homem são o princípio do seu trabalho. […] As inspirações vêm dos percursos pela vida e pelo fazer do homem. A inspiração para viver dá vida a todas as instituições da medicina, do desporto, de todas as manifestações do homem que provêm da inspiração de viver para sempre.»10 Estas considerações permitem-nos perceber que – num museu como em qualquer obra de arquitectura –, mais importante do que a observância do programa ou do que o valor estético da forma, é o respeito por essa qualidade imprecisa que subjaz à pergunta “o que é que a obra quer ser?” – e que Louis Kahn faz coincidir com o termo “instituição humana”. Dificilmente a execução da obra, por mais perfeita que seja, pode corresponder e satisfazer as expectativas essenciais do espectador da obra de arte arquitectónica (cuja condição diante da arquitectura é, essencialmente, a de habitante) se esta não estiver dirigida à manifestação de uma correspondência a um certo número de expectativas a priori, que a simples presença daquela “instituição humana” desencadeia nos espectadores-habitantes: de uma igreja espera-se a experiência de uma igreja; de uma casa a experiência de uma casa; e de um museu a experiência de um museu. A não correspondência às exigências suscitadas por determinada “instituição humana” leva a que surja, com frequência, uma impressão de confusão na vivência da arquitectura, como resultado do desajuste entre o ambiente esperado e o ambiente que resulta da forma que foi dada a essa arquitectura. Dar a forma apropriada à “instituição humana”que a obra de arquitectura alberga faz o homem viver de uma vida que é sua e adequada à circunstância; traz o homem ao encontro de si mesmo, na acção que tem entre mãos, encoraja-o e acomoda-o – guia-o – na realização dessa acção; faz-nos sentir bem no que temos que fazer e fazer bem o que temos a fazer. Se esta perspectiva de Louis Kahn sobre a arquitectura e o processo de projecto tem razão de ser, então muita da polémica que afecta os museus – que se exprime por exemplo nas críticas de Richard Serra ao trabalho de Gehry no Gugenheim de Bilbao11 – decorre da desconsideração deste carácter prévio e constitutivo da obra de arquitectura, que lhe advém da “instituição humana” (que não se pode circunscrever, como vimos, ao programa). Importa então tentar determinar e caracterizar a “instituição humana” ‘museu’. A instituição humana ‘museu’ Tanto quanto sabemos – e apesar de ter projectado e construído vários museus e galerias de exposição (o Kimbell Art Museum, de Fort Worth, e o Yale Center for 3 A MÃE DAS MUSAS: Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência Pedro Marques de Abreu Britsh Art, de New Haven) – Louis Kahn nunca respondeu à pergunta “o que é que um museu quer ser?”. Contudo, na resposta que deu a Barragan (com que iniciámos o nosso texto) talvez se consiga descortinar o que ele poderia ter respondido se tivesse sido confrontado com essa pergunta. De facto, “o pó dourado” da Tradição, de que Kahn fala, determina, por excelência, o conteúdo e a razão de ser dos museus. O nome ‘museu’ começou por designar os templos das Musas (de que o mais conhecido é o existente no Helicon, em Atenas). Nestes locais os dois aspectos que actualmente caracterizam os museus estavam já presentes: por um lado, uma colecção de preciosidades (não apenas de um ponto de vista material) – que era constituído pelo tesouro do templo, fruto das doações à divindade, e que podia eventualmente ser exposto à contemplação dos visitantes; por outro lado existia também um claro acento cultural e/ou relativo à transmissão de conhecimento – uma vez que esses templos, ou outros espaços dedicados às Musas, eram local de encontro de artistas e sábios para discussões ou lições relacionados com os âmbitos de conhecimento, da arte ou da ciência, que cada uma das nove musas patrocinava12. Esta dualidade de carácter terá o ex-libris mais notável da Antiguidade em Alexandria, no século III a.C., sob Ptolomeu I, em que o Museu era um amplo complexo cultural, com salas de reunião, observatório, laboratório, jardins zoológicos e botânicos, diversas outras colecções, e a famosa biblioteca. A história dos museus continua depois por vários episódios de coleccionismo, mas perdendo o nome e, com ele, a explícita referência cultural: na Idade Média aparecem sobretudo colecções de alfaias sagradas; no Renascimento as colecções são muito variadas, desde curiosidades do mundo natural a obras de arte contemporâneas e antigas13. Esta apetência do homem para o coleccionismo – importa sublinhá-lo – é, aliás, muito antiga; tão antiga que poderá seguramente ser considerada como um traço distintivo da espécie humana (que contribuirá para a fundamentação antropológica dos museus): Leroi-Gourhan descreve achados arqueológicos pré-históricos de pequenas colecções de objectos formalmente notáveis (formas de mineral invulgares, fósseis, sementes, etc.) que os nossos antepassados primitivos transportavam com eles14. Este comportamento identificativo do ser humano – o coleccionismo – recebe a sua institucionalização moderna no Iluminismo, quando algumas colecções adquirem, primeiro, um carácter público e, depois, nacional: respectivamente em 1683, com o Ashmolean Museum of Oxford, e em 1793, com a criação do Museé de la Republique, no Louvre, (constituído com o espólio de arte nacionalizada ao rei, aristocracia e ordens religiosas)15. Ora, quando o coleccionismo recebe a sua institucionalização moderna, importa salientá-lo, ir-se-á recuperar o termo ‘museu’ – assim se repristinando aqueleoutro acento original da instituição, relativo às Musas da Arte e da Ciência e, portanto, ao conhecimento e à cultura. O entendimento moderno de Museu fundamenta-se então na possibilidade de transmissão de cultura suportada por conjuntos de objectos peculiares. E que objectos são esses? 4 A MÃE DAS MUSAS: Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência Pedro Marques de Abreu Artefactos da Memória A arte, como subentendia Kahn, constitui a quintessência da produção de uma cultura. Há nos seus produtos – sem utilidade explícita e que por definição escapam à normal actividade de consumo das sociedades – um carácter de durabilidade que aspira à imortalidade. Mas não, propriamente, por causa da resiliência dos seus materiais, outrossim enquanto o seu conteúdo constitui aquilo que de mais definitivo – e, por isso, presumivelmente eterno – foi produzido por essa cultura: é como se doravante a vida feliz do homem não pudesse ser concebida sem aquele contributo. Por outro lado, a transfiguração operada na matéria da obra de arte, de modo a veicular eficazmente o conteúdo, partilha com este, em partes iguais, a responsabilidade da eternidade da obra de arte. Porque, para garantir a perene acessibilidade a essa conquista decisiva da Humanidade, a matéria tem de adquirir uma forma tal que – não obstante imediatamente ecoar o seu produtor e a cultura que a viu nascer – tenha também uma durabilidade infinita. Essa síntese de conteúdo culturalmente definitivo e de forma perenemente apelativa condensa a identidade da obra de arte; e faz com que ela corresponda aquilo pelo qual uma determinada cultura vale a pena ser lembrada: símbolo dessa cultura. Outros objectos, no tempo, podem adquirir a mesma qualidade simbólica, assemelhando-se na sua acção cultural às obras de arte: as antiguidades. As antiguidades eram instrumentos, ferramentas de uso prático; mas para eles, paradoxalmente, o tempo foi favorável; ao contrário do que seria de esperar, e do que aconteceu com outros seus congéneres, o tempo não degradou, antes valorizou esses instrumentos, que se metamorfosearam em antiguidades. Que um instrumento cuja função desaparece ou que é substituído nessa função por outro mais eficiente – portanto sempre numa mesma situação de perda de funcionalidade – se torne uma antiguidade e outro simplesmente envelheça e se torne lixo, é difícil explicar – é antes de mais uma constatação. Talvez se possa dizer que não obstante as antiguidades terem sido artefactos da cultura material, no seu modo de produção de algum modo foi introduzida uma preocupação gratuita, que nada tinha a ver com a sua função prática, e que relevava de outras finalidades: às vezes estéticas, às vezes religiosas. Após a perda de eficácia na função para a qual tinham sido explicitamente criados, o seu valor, estranhamente, subsistiu, devido às qualidades, antes acessórias, que lhes tinham sido inoculadas à nascença; a esses objectos permanece ligado um eco pessoal, de quem os fez ou de quem os usou; e por isso, tal como à pessoa que de algum modo tornam presente, é-lhes reconhecida uma certa insubstituibilidade, semelhante à que se reconhece nos objectos de arte. Independentemente da sua função original, a sua razão de ser radica agora na capacidade de re-presentarem outrem ou algum valor intrinsecamente humano que mantenha a sua contemporaneidade – tal como as obras de arte. Se se fizer residir o seu valor principal na ilustração da função que antes executavam, a sua insubstituibilidade eclipsar-se-á: quer porque então esse instrumento poderá ser trocado por outro com a mesma função, quer porque na função didáctica de que o querem incumbir poderá também ser substituído com vantagem por um modelo, um filme, uma descrição escrita ou multimedial. Para demonstrar que a finalidade das antiguidades não é principalmente documental ou didáctica basta pensar na 5 A MÃE DAS MUSAS: Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência Pedro Marques de Abreu intranquilidade que forçosamente sentiríamos se víssemos esses objectos serem manipulados com a mesma desenvoltura e despreocupação com que o eram originalmente: outrora, naquilo para que serviam, esses objectos eram ferramentas facilmente substituíveis; hoje, na sua nova função (museal), não o são. Quando consideramos espólios museais de cariz científico, etnográfico ou arqueológico16 este aspecto deve ser especialmente meditado: teremos então que reconhecer que não é da reproposição de um qualquer acontecimento passado (em que se quer fazer consistir frequentemente a sua musealização) que emerge a insubstituibilidade desses objectos (e, portanto, a sua razão de existência num museu, que não num mercado). (Podemos exemplificar esta nossa observação com o caso do Observatório Astronómico de Lisboa. Trata-se de um edifício da segunda metade do século XIX completamente equipado com instrumentos dessa época e que permanece inalterado desde princípios do século XX. O seu valor monumental é incalculável; a atmosfera que ali se vive, rara. Estudos por nós realizados revelaram contudo que o seu valor em muito extravasa os contributos para a História da Ciência. Desde o princípio o OAL foi entendido como um templo da ciência: a sua própria arquitectura e estrutura de percursos demonstra-o, em muito o assemelhando a um templo clássico; e as visitas que recebeu no seu apogeu provinham de todos os âmbitos culturais, não apenas do científico, demonstrando a sua ampla repercussão social. A acção museológica não pode passar então por uma demonstração do funcionamento dos aparelhos – que além de ser complexa se revela desinteressante em comparação com a ciência actual – e muito menos pela experimentação do funcionamento dos instrumentos, que são frágeis; mas pela transmissão da significância17: do modo de vida que aquela arquitectura e aqueles instrumentos testemunharam e que deles irradia; trata-se outra vez de desvelar a densidade humana veiculada por aqueles artefactos. Neste sentido mantê-los intocáveis e não lhes retirar o mistério que comportam, não sendo particularmente funcional à didáctica científica, é-o, em muito, à experiência do museu.) Este exercício de salvaguarda e revitalização dos valores humanos do passado, realizada pelas antiguidades e que dá razão de ser aos museus não é, do nosso ponto de vista, substancialmente diferente da realizada pelas obras de arte. Não querendo negar o efeito estético da obra de arte – entendido como apelo aos sentidos – gostaríamos de notar que não é nesse que ela manifesta a sua insubstituabilidade e, portanto, a sua razão de ser (há actividades, por exemplo alguns desportos ditos “radicais”, ou substâncias – psicotrópicos– que podem causar impressões sensoriais semelhantes às causadas por uma obra de arte…). A concreção de forma e sentido, únicos e necessários, dá-lhe uma repercussão histórica, na medida em que é ela, efectivamente, que cria o memorável18. Destes objectos – arte ou antiguidades – emana uma aura por cujo efeito se presentificam as dimensões mais elevadas de uma sociedade: aquelas dimensões que continuam a ser operativas à cultura contemporânea. Este é o “pó dourado” que subsiste ao correr do tempo, aquilo que é de facto transmitido do passado, aquele conteúdo de valor perene e actual que, por isso, é digno de ser recordado, que constitui a nossa Memória social e individual: a Tradição. 6 A MÃE DAS MUSAS: Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência Pedro Marques de Abreu É o conjunto desses objectos que compõe primariamente – ou é digno de vir a compor – o património dos museus. Mas a função dos museus não é só albergar e preservar esses objectos. É sua função repor esses objectos em acção – naquela acção que lhes é específica, que é a de revitalizar, re-presentar, um determinado conteúdo imortal do passado. É preciso que os museus “acordem” para nós esses objectos, que nós nos possamos aperceber do cunho de eternidade que deles brota – e que constitui a sua razão de ser e a dos museus. E é aqui que muitas vezes os museus falham... Tradição A Tradição é por definição algo vivo. Passa-se – traditio – do passado para o presente aquilo cuja utilidade no presente é manifesta. A Tradição é um longo e incansável processo crítico, pelo qual os objectos e comportamentos de uma determinada cultura são filtrados em função da sua utilidade presente: só sobrevive o que mantém operatividade contemporânea. A Tradição não é do passado – ou é actual, ou não é Tradição – muito embora se refira a um conteúdo do passado. (É isso que permite dizer a Kahn que o conteúdo da Tradição não tem tempo – é indestrutível – e permite a antecipação do que será o futuro.) Os objectos da Tradição, aqueles objectos que constituem o espólio dos museus, só são eles próprios (só cumprem a sua função) se nos for permitido estabelecer com eles uma relação contemporânea; devemos poder verificar a utilidade actual – o para-mim – daquilo que esses objectos veiculam. Os museus – a arquitectura dos museus – tem por dever permitir, facilitar, induzir a realização desse trânsito de conteúdos entre a cultura passada e a presente. Os museus devem actuar como fábricas de Tradição: repor em efectividade o que existia em potência de utilidade contemporânea nos objectos seu património. Esses objectos não podem por isso ser tratados como documentos; eles são monumentos. Monumentum / Documentum A consideração sinonímica de documento e monumento é responsável por muitas manipulações indevidas, de pendor técnico e historicista. A ênfase do carácter documental do espólio, numa operação museológica (no projecto dos percursos da exposição, das informações a acrescentar, no modo de expor...), tende a desvitalizar os artefactos da sua capacidade presentificadora dos sujeitos e valores da Tradição. Documento provém de documentum, gerúndio de docere que significa “ensinar”19. Enquanto instrumento de ensino (não de aprendizagem), o “documento” possui portanto uma conotação de exterioridade relativamente ao sujeito. A significação contemporânea de “documento” aponta também nessa direcção, porquanto este se tornou sinónimo de prova, de papel justificativo, sofrendo de irrefutável e fria objectividade. Monumento, pelo contrário, é o sustentáculo desta qualidade humana central que é a Memória (que, por seu turno, justifica a Tradição). Monumento, do latim monumentum, é o gerúndio do verbo moneo, que significa lembrar, num sentido 7 A MÃE DAS MUSAS: Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência Pedro Marques de Abreu imperativo ou apelativo – pode ser traduzido por “fazer recordar”, “chamar a atenção”, “advertir”, “exortar”; às vezes mesmo “anunciar”20. Monumento será portanto aquilo que lembra ou aquilo que vai lembrando, o agente de um “lembra-te!” interpelativo – na linguagem comum poderia ser substituído por “lembrete”; – mas, “lembrete” de quê? O verbo moneo procede do radical indo-europeu men, de onde vem a palavra memini (memória)21, tal como aquelas de que derivam “mente” e “mental” e, em algumas línguas, o próprio termo com que se refere ‘homem’ (“man”, “men”, em inglês, por exemplo). Assim se pode dizer que a essência do monumento é a ‘memória’; mas é conveniente notar também que o termo ‘memória’, na sua génese, era entendido como algo de essencial no humano. Monumento é portanto “lembrete” de algo estruturante do Homem. Foi Santo Agostinho22 quem primeiro nos fez compreender que a identidade dos seres humanos é constituída pelas suas memórias, reside nelas (e não num qualquer corpúsculo radical de localização indeterminada) – eu sou feito pela memória das minhas experiências, são essas memórias que determinam a minha razão e a minha vontade. Variada é depois a literatura e a ciência que suportam e ilustram esta tese; desde as terapias psicanalíticas de Freud (principalmente dirigidas a esclarecer e cerzir memórias de acontecimentos de que se não tem consciência mas que tendem a emergir involuntariamente no quotidiano em comportamentos patológicos23) à doença de Alzheimer. Compreendendo o sindroma de Alzheimer como (principalmente) uma patologia da Memória; constatando como a degradação progressiva desta produz uma gradual infantilização e substantivas alterações da personalidade, com aumento dos comportamentos instintivos e perda da consciência de si, tendendo, o paciente, nos estágios finais da doença, a um estado de apatia vegetal, em que não se consegue relacionar com o exterior porque nada deste consegue identificar que contenha significado, ratifica-se este entendimento da Memória como algo definitivamente essencial – não acessório – à qualidade humana de ser humano. Algumas das mais famosas ficções do século XX asseveram-no também, porquanto assumem como consequente à perda de Memória a perda de humanidade (enquanto qualidade humana) – recordemos os romances Farenheit 451, Admirável Mundo Novo e 1984: a ruptura com o passado e com os instrumentos de transmissão da Memória do passado, como os livros e a família, implicam uma brutalização das relações sociais, uma des-humanização. E podemos recordar ainda, na cinematografia, o “Blade Runner” de Ridley Scott, onde a Memória é drasticamente afirmada como a qualidade de diferenciação entre o humanóide geneticamente fabricado e o ser humano. Todos estes elementos demonstram a existência de uma consciência difusa, nem sempre muito actuante, do valor da Memória. A Memória é o continente da humanidade (enquanto qualidade que define o humano); a Tradição o seu veículo no tempo e na sociedade; o monumento funciona relativamente à Memória como entidade física que a acolhe, preserva e presentifica. O monumento externaliza para o mundo físico o conteúdo mental da Memória, sem o que esta, apenas entregue à biologia cerebral, se perderia24. O monumento e o documento agem portanto de modos substancialmente diferentes: o primeiro repristina a Memória; o segundo substitui-se à Memória. Os seus modus operandi e os seus efeitos são estruturalmente divergentes. 8 A MÃE DAS MUSAS: Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência Pedro Marques de Abreu O monumento provoca a Memória a uma evocação daquilo a que se refere, mas esse referente é sempre uma experiência humana, algo pessoalmente adquirido, participante do Eu; ele permanece inane na ausência de uma qualquer assimilação de carácter pessoal a que acordar, a que reevocar. Apesar de fazer uso de um apêndice objectual, o monumento apela a um conteúdo subjectivado e visa uma repercussão primeiramente em esfera subjectiva (embora com consequências também no mundo externo). Daqui o seu valor existencial, a sua utilidade vivencial. Pelo contrário, o objectivo do documento é exactamente o de prescindir da subjectividade – ele pretende traduzir de forma objectiva a objectividade de um acontecimento, de modo a tornar desnecessárias e impertinentes quaisquer interpretações pessoais. O monumento possui uma certa capacidade insinuante (que o documento não tem em si), que desencadeia a presentificação de uma experiência passada – como se de uma “máquina do tempo” se tratasse. De uma forma misteriosa o monumento como que activa a consciência de discretos momentos passados, pela indução de movimentos e sentimentos que convergem no significado vital de uma experiência passada – agora reactualizada, consciencializada, aprofundada. A experiência que permite reconhecer a presença de um monumento é pois a da participação-no-eu: o acontecimento de uma repercussão pessoal que pervade o mais íntimo e essencial do sujeito humano. Essa experiência é fenomenologicamente auscultada como a noção – relativa ao objecto e que melhor o identifica empiricamente – da sua insubstituibilidade: no monumento a participação que realiza no eu – no meu sujeito – torna-o insubstituível: único e necessário (tal como as pessoas, cujo valor não decorre do que fazem mas do que são). Dos monumentos – as obras de arte e as antiguidades – seria possível dizer então que emitem um revérbero de pessoalidade, que a sua presença é quási-humana. A desvitalização do monumento em documento nas colecções dos museus é uma ocorrência relativamente frequente, sobretudo em colecções não estritamente artísticas (etnográficas, arqueológicas ou científicas). Convém notar contudo que um tratamento do espólio segundo esta modalidade reverte os objectos expostos em consumíveis dispensáveis: se o objecto vale pelo conhecimento que veicula, uma vez cumprida essa tarefa, cessa a sua função, e não haverá razão para se voltar a visitar a exposição; mais ainda, se o seu conteúdo é um simples conhecimento, esse conhecimento poderá ser alcançado por outra fonte (um livro, a internet), tornando a colecção do museu completamente dispensável. Este modo de encarar as colecções dos museus e a sua exposição favorece também o filisteísmo25. O filisteísmo é a mentalidade que julga tudo em termos do uso imediato e de “valores materiais”; despreza, por isso, objectos sem uso (como a arte e as antiguidades) e as actividades com eles relacionados. Nos momentos históricos de emergência primeiro da Burguesia e, depois, da Classe Média (e especialmente durante a Revolução Industrial e a Pós-modernidade) apareceu um segundo tipo de filisteísmo, em que certos indivíduos, destituídos de cultura e sem qualquer verdadeiro interesse por ela, se submetiam ao convívio com objectos culturais (pintura, literatura,...) para poderem penetrar em círculos sociais mais restritos (onde a frequência desses objectos era minimamente requerida). Neste 9 A MÃE DAS MUSAS: Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência Pedro Marques de Abreu caso a arte e a cultura é usada não em função da sua verdadeira natureza, mas com uma outra finalidade, imprópria: a da instrução tendo em vista a ascensão social. A focagem museológica na transmissão de informações veiculadas pelos objectos expostos (nomeadamente nos científicos, etnológicos e arqueológicos, mas por vezes também nos artísticos), que cria uma ilusão de apreensão e compreensão desse objecto mas distrai da sua experiência global, procura corresponder ao movimento social do segundo filisteísmo; mas, assim fazendo, acaba por desnaturar os próprios objectos que expõe e contribuir para o declínio da atractividade dos museus. Este fenómeno sente-se, por exemplo, na predilecção concedida por muitos museus às exposições temporárias, assim depondo na novidade e no espectáculo a sua subsistência, uma vez que se assume que, se já se viu uma vez a colecção principal e já se aprendeu o que ela tinha para ensinar, não merece a pena voltar a vê-la segunda vez. A ontologia do monumento – que concede razão de ser aos museus – o seu modus operandi peculiar, ligados à sua função perante a humanidade – ao laço inscindível que tem com a Memória e com a Tradição –, implicam necessariamente cuidados no seu tratamento, de modo a que se não desperda aquele potencial que o torna humanamente necessário. Ora essa salvaguarda do seu carácter – em que o seu ser-em-acção reacorda a presença humana, do objecto (tal como na crença céltica reportada por Proust) e do próprio sujeito – requer a arquitectura. A arquitectura O elogio da Arquitectura e do laço de predilecção da Memória para com ela, é feito de forma incomparável por Ruskin (veja-se a citação apresentada no início26). Ele afirma sumariamente o que antes tentámos demonstrar circunstanciadamente, a saber, o incontornável valor da Memória para a Humanidade (como identidade da pessoa e das sociedades); a necessidade de objectos físicos nos quais seja plasmada essa Memória e que portanto assumam a responsabilidade pela sua perenidade (monumentos); a necessidade de que esses objectos sejam de índole poética (isto é, artística27), de modo a fazerem acontecer a apropriada presentificação da Memória. Ruskin alude ainda à superlativa eficácia da arquitectura na preservação da Memória, eficácia em que supera todas as formas de arte, por causa da sua “realidade” e porque de algum modo as “inclui”. A primeira destas intrigantes afirmações não poderá ser aqui devidamente justificada – remetemos para outros textos nossos28. Mas a segunda destas afirmações (além de iluminar a primeira, como se verá) diz directamente respeito aos museus e não pode, por isso, ser elidida. Ruskin “inclui” o poético na Arquitectura, porque a arquitectura fornece o contexto necessário para a experiência estética. Ele havia notado29 que a experiência da Beleza desaparece se não estivermos situados num local que nos proteja e nos acolha, e que por isso nos permita ser integralmente humanos – não apenas animais acossados, remetidos a uma posição defensiva perante o mundo. Supunhamos que nos era oferecida a possibilidade de usufruir sozinhos da nossa obra de arte preferida – quer se tratasse da contemplação da Mona Lisa, da leitura da Comédia de Dante, ou da audição do Requiem de Mozart –, mas no 10 A MÃE DAS MUSAS: Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência Pedro Marques de Abreu meio da Selva Amazónica; ao primeiro ruído estranho que sentíssemos na proximidade, a fruição da obra de arte seria imediatamente inibida; e a obra de arte poderia inclusivamente ser assumida como uma ferramenta de defesa desse ataque iminente. Ainda que os objectos de arte (pintura, escultura, literatura, ...) possam existir por si no meio da Natureza e não obstante o seu elevado potencial de irradiação de humanidade, não nos será possível aceder ao seu conteúdo, relacionarmo-nos com eles em toda a sua integralidade, se a arquitectura não construir o ambiente em que nos seja permitido fazer essa experiência. É necessário suscitar, por meio do contexto, no sujeito que contempla a arte, um abandono de si, de modo a poder emergir algo como um enamoramento do sujeito pelo objecto, sem o que não se realizará a comunicação do conteúdo monumental. Se não se criar a atmosfera adequada, que permita a necessária sintonia do homem com a obra de arte, esta pode estar apresentada de uma forma tecnicamente perfeita sem que se consiga auferir o seu efeito de Memória. (É assim que operações museológicas tão fora de moda, pela sua aparente conspicuidade – como a intervenção de Scarpa no Castelvecchio de Verona – têm por vezes o condão de nos focar na identidade da obra, introduzindo-nos à sua experiência total. Perfurando a pretensa neutralidade do ambiente expositivo, Scarpa procura criar, de cada vez e para cada peça [portanto, não em função de um qualquer partido geral que aprioristicamente determine o “conceito” da arquitectura do Museu], o contexto para a interpretação adequada da obra exposta. Não obstante o risco de indução de uma interpretação individual e subjectivista – risco que, conforme tentámos demonstrar, precisa de ser corrido, sob pena do adormecimento da comunicabilidade dos artefactos –, a iniciativa de construir o fundo específico, relativamente ao qual a figura pode ser lida e percebida, favorece indubitavelmente a compreensão do valor monumental da peça exposta; e, criando assim laços estreitos com o conteúdo do Museu, a própria arquitectura, respeitando e revelando a instituição humana que a requer, adquire alguns dos valores monumentais que caracterizam o seu conteúdo – como pode ser notado pelo valor que hoje reconhecemos a esta e a outras acções museológicas de Carlo Scarpa.) O ser-homem – com consciência de si e iniciativa adequada perante as coisas e os outros – pressupõe, de algum modo, um estar-em-casa; experimentar um tipo de acolhimento que permite o recolhimento30, o encontro do Eu consigo mesmo, o acontecimento da Memória. É a partir desta situação de estar-em-casa que se abre a possibilidade da experiência da arte, das antiguidades, da diversa panóplia de objectos culturais, da sua aura... A arquitectura – a arquitecturalidade do espaço – por causa da sua função de guardiã da Memória é, assim, impreterível na realização do Museu; não é possível uma experiência de arte, não é possível o acesso à Memória, não é possível o processo da Tradição senão no interior de um território humanizado, criado pela Arquitectura. O Museu é a casa das Musas e como tal requer a Arquitectura. O que pretendemos iluminar com o presente escrito é que essa relação de necessidade da Arquitectura é mais funda do que esta ilação directa que tirámos parece indicar, e do que é comummente aceite. A profundidade da relação de necessidade que existe entre o Museu e a Arquitectura radica na Memória. Memória – Mnemosine – era, na mitologia antiga, a mãe das Musas. Por aqui os antigos pretendiam elucidar como a Arte e a Ciência germinavam desse núcleo 11 A MÃE DAS MUSAS: Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência Pedro Marques de Abreu interno de humanidade do ser humano, que lhe concede a identidade, que é a Memória. O Museu será a casa das Musas se também ele fundar a razão da sua existência e o objectivo da sua acção na Memória. E é por isso que a Arquitectura é necessária: porque sem arquitectura – sem aquele contexto protegido, feito à imagem e semelhança do homem, em que ele se sente a tal ponto livre que pode mergulhar em si, dispor-se ao contacto com o seu Eu – a Memória dificilmente subsistirá. O Museu é a casa das Musas, mas a casa é o lugar da Memória. Referências Bibliográficas AGOSTINHO, Santo – Confissões. Lisboa: INCM, 2000. ARENDT, Hannah – A Condição Humana. Lisboa: Relógio d’Água, 2001 ARENDT, Hannah – The Crisis in Culture, in Between Past and Future. New York: Penguin Books, 1993; pp. 197-226. CONNERTON, Paul – Como as sociedades recordam. Oeiras: Celta Editores, 1999 CRIPPA, Maria Antonietta – «Boito e l’architettura dell’Italia Unita» in Camillo Boito - Il nuovo e l’antico in Architettura. Milano, Jaca Book, 1989. GAFFIOT, Félix – Dictionaire illustré Latin-Français. Paris, Hachette, 1934.) GUIMARAENS, Cêça – «A eficiência dos Museus» in Actas do Seminário Internacional “Uma Utopia Sustentável” Lisboa: Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 2010; pp. 58-68. HAMILTON, Edith – A Mitologia. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1983. HEIDEGGER, Martin – A origem da obra de arte. Lisboa: Edições 70, 1991. HEIDEGGER, Martin – Construir, Habitar, Pensar [Bauen, Wohnen, Denken]. (em Martin Heidegger, Vorträge und Aufsätze, Günther Neske Pfullingen, 1954, pp. 145-162; tradução do original alemão por Carlos Botelho – edição policopiada FAUTL). HERNÁNDEZ, Francisca Hernández – Manual de Museologia. Madrid: Editorial Síntesis, 2001. KAHN, Louis – Conversations with Students. Houston, Texas: Princeton Architectural Press, 1998. LANGER, Susanne – Feeling and form. New York: Charles Scribner’s Sons, 1953. LE GOFF, Jacques – «Documento/Monumento» in Enciclopédia Einaudi vol. 1 (Memória-História) Lisboa: INCM, 1984; pp. 95-106. LEROI-GOURHAN, Andrè – Os caçadores da Pré-História. Lisboa: Edições 70, 1984. LEVINAS, Emmanuel – Totalidade e Infinito (A Morada). Lisboa: Edições 70, 1988; pp. 135-156. MINISSI, Franco – Conservazione, Vitalizzazione, Musealizzazione. Roma: Multigrafica Editrice, 1988. PROUST, Marcel – Em busca do tempo perdido, vol. I – Do lado de Swann (Tradução de Pedro Tamen). Lisboa: Relógio d’Água, 2003. 12 A MÃE DAS MUSAS: Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência Pedro Marques de Abreu RICOEUR, Paul– «Vulnérabilité de la mémoire» in Jacques LE GOFF, (sous la présidence de) – Patrimoine et Passions Identitaires (Actes des Entretiens du Patrimoine, Paris, 6-8 janvier 1997). Paris: Fayard, Editions du Patrimoine, 1998; pp.17-31. RIEGL, Alois – El culto moderno de los monumentos. (Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung. Viena - Leipzig, 1903). Madrid, Visor, 1987. ROCHA-TRINDADE, Maria Beatriz (coord.) – Iniciação à Museologia. Lisboa: Universidade Aberta, 1993. RUSKIN, John – The Seven Lamps of Architecture. New York: Dover Editions, 1989. SANTOS, Jorge – O lugar da Arte: Museu, Arquitectura, Arte e Sociedade. Tese de Mestrado (documento policopiado). Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 2002. TWOMBLY, Robert (ed.) – Louis Kahn Essential Texts. Nova Iorque e Londres: W. W. Norton & Company, 2003. TYNG, Alexandra – Beginnings: Louis I. Kahn’s Philosophy of Architecture. New York et alt.: John Wiley & Sons, 1984. Notas 1 vol. I – Do lado de Swann, primeira parte, capítulo I 2 in The Seven Lamps of Architecture. (New York: Dover Editions, 1989; p. 178) – tradução nossa 3 Louis Kahn –– Space and the inspirations (discurso proferido no New England Conservatory of Music, Boston, em 1969). In Robert Twombly (ed.) – Louis Kahn Essential Texts. Nova Iorque e Londres: W. W. Norton & Company, 2003; p. 227 (tradução nossa). 4 «[…] I really do believe design is a circumstantial thing. I believe that man must realize something before he as the stimulation within him self to design something. I believe that there are many in our profession who rely entirely upon the actual design and very little on the way of thought as to what a thing wants to be, before they try to develop the design – the solution of the problem.» […] «From it [order] you can get a sense of the existence-will of something, let us say, of a form, of a need, which one feels. The existence-will of this need can be sensed through realization. From realization you get much richness of design – design comes easily» […] «So, therefore, the existence-will of something, an auditorium, a street, a school, will be the thing which makes the form.» […] «An architect thinks of a school possibly as being a realm of spaces within which is well to learn. […] Every city is made of institutions. If you were to consider the making of a city you would have to consider the organization of institutions. But you have to review those institutions and really know what institutions are. The institution of learning must have in its mind – must have in its sense – the realm of spaces which you feel is sympathetic to learning. So, therefore, you may go into space, which may be a Pantheon like space. You would name it absolutely nothing – it would just be a good place to arrive in which you say “school” – from which may come other spaces: small or large, some with light above, some with light below, some big spaces made for many people, some small spaces for a few people, some small spaces for many people and some big spaces for only a few people, some seminal spaces, some to meet I other ways, never naming any more of them either “classroom” or “auditorium” or “seminal” or anything, just realizing that there is a sense to the realm of spaces where is good to learn. That is all you have to know. The program is nothing.» […] «Now, existence-will then, of trying to grasp the realm of spaces or defining the character of space which is good for a space, is, I tell you from the little that I have had the chance to develop it, the most delightful, most fulfilling experience of all. How to do it is infinitely less important than what to do, for it gives you the means to do it.» […] «Every space must have its own definition for what it does, and from that will grow the 13 A MÃE DAS MUSAS: Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência Pedro Marques de Abreu exterior, the interior, the feeling of spaces, the feeling of arrival.» […] «The realization of what is an auditorium is absolutely beyond the problem of whether it is in Sudan, or in Rio de Janeiro. Therefore, your getting the essence of what you are trying to do in creating what it wants to be, should be the first concern – should be the first act – of an architect […]». (Louis Kahn – «Talk at the conclusion of the Otterlo Congress (1959) in Robert Twombly (edited by) – Louis Kahn –Essential Texts. New York, London: W.W. Norton, 2003; pp. 3738, 39, 40, 41-42, 44, 48, 55 – sublinhados nossos). 5 Relativamente ao uso da noção de arquétipo em Louis Kahn, veja-se Alexandra Tyng – Beginnings: Louis I. Kahn’s Philosophy of Architecture. New York et alt.: John Wiley & Sons, 1984; pp. 18-19 e 30. 6 «I don’t like people who say cities are for people. There must always be a city. As soon as you say they are for people, then I wonder what part is for cockroaches. It can’t be stated this way; it must be stated so that people are always implied. Then the work always becomes great. People are not always sought out in too intimate detail. You must include all people. […] The belief in it is your best service, working towards it , expressing it. The more you can get this expression of inspiration out to express, the more art it is; the more you want to exist, the more you must adhere to the laws of nature – otherwise, expression will destroy itself. It must be strong in it self, not an affectation with momentary satisfaction.» (Louis Kahn – «Conversation with Karl Linn (1965)» in Robert Twombly (edited by) – Louis Kahn –Essential Texts. New York, London: W. W. Norton, 2003; p. 170.) 7 Alexandra Tyng – Beginnings: Louis I. Kahn’s Philosophy of Architecture. New York et alt.: John Wiley & Sons, 1984; p. 121. 8 Alexandra Tyng – Beginnings: Louis I. Kahn’s Philosophy of Architecture. New York et alt.: John Wiley & Sons, 1984; p. 79. A profundidade do esclarecimento mediante o discernimento entre ‘desejo’ e ‘necessidade’ é patente se considerarmos a etimologia da palavra – desejo, desiderium, em latim significa proveniente ou caído do céu: Desiderium, derivado mediatamente de sidus, por provável influência de considero, de tal modo que, enquanto este significa examinar, desidero significa deixar de ver, verificar a ausência de e, a partir daí, lamentar a ausência, procurar, desejar (A. Ernout e A. Meillet – Dictionaire étymologique de la Langue Latine (4ª edição). Paris: Klincksieck, 1985; sub voce sidus, eris; informação gentilmente prestada pelo professor Mário Jorge de Carvalho, FCSH/UNL). 9 Louis Kahn – «Lecture at a Conference on “Medicine in the Year 2000 (1964)» in Robert Twombly (edited by) – Louis Kahn - Essential Texts. New York, London: W.W. Norton, 2003; p. 191 (tradução nossa). 10 Louis Kahn – «Statements of Architecture», in Zodiac 17 (1967); pp.55-57. (Cit in Alexandra Tyng – Beginnings: Louis I. Kahn’s Philosophy of Architecture. New York et alt.: John Wiley & Sons, 1984; p. 121.) Veja-se também Louis Kahn – Conversations with Students. Houston, Texas: Princeton Architectural Press, 1998, pp. 15, 19, 28, 38, 41, 63 (tradução nossa). 11 Veja-se a entrevista concedida por Richard Serra a Charlie Rose, em 2007, que pode ser consultada em http://www.charlierose.com/view/interview/8534 e http://www.charlierose.com/view/interview/8536 12 Clio, a musa da História, Urânia, da Astronomia; Melpómene, da Tragédia; Tália da Comédia; Terpsícore, da Dança; Calíope, da Poesia Épica; Érato, da Poesia Amorosa; Polímnia, das canções dedicadas aos deuses; e Euterpe, da Poesia Lírica (in Edith Hamilton – A Mitologia. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1983; p. 47) 13 Francisca Hernández Hernández – Manual de Museologia. Madrid: Editorial Síntesis, 2001; p. 14. 14 Leroi-Gourhan – Os caçadores da Pré-História. Lisboa: Edições 70, 1984; p. 93. 15 Francisca Hernández Hernández – Manual de Museologia. Madrid: Editorial Síntesis, 2001; pp. 21- 22, 24-25 e 67. 16 Franco Minissi (Conservazione, Vitalizzazione, Musealizzazione. Roma: Multigrafica Editrice, 1988, passim) divide o espólio dos Museus em quatro categorias: artístico, arqueológico, etnográfico e científico. Esta classificação que se refere às colecções e não às arquitecturas parece-nos muito operativa, além de ser funcional ao nosso entendimento do espólio museológico como arte ou antiguidade. 14 A MÃE DAS MUSAS: Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência Pedro Marques de Abreu 17 Significância diverge de significado na medida em que supõe um valor existencial; veja-se Susanne Langer – Feeling and form. New York: Charles Scribner’s Sons, 1953; passim 18 Heidegger pronuncia-se explicitamente, em A origem da obra de arte, sobre a competência única da arte para gerar história (Martin Heidegger – A origem da obra de arte. Lisboa: Edições 70, 1991, pp. 61-63). 19 Le Goff – «Documento/Monumento» in Enciclopédia Einaudi vol. 1 (Memória-História) Lisboa: INCM, 1984, p. 95. 20 Seguiremos quanto à etimologia de monumento, e quanto ao significado de moneo o dicionário de Félix Gaffiot (Félix Gaffiot – Dictionaire illustré Latin-Français. Paris, Hachette, 1934.) 21 Confronte-se com Jacques Le Goff – «Documento/Monumento» in Enciclopédia Einaudi vol. 1 (Memória-História) Lisboa: INCM, 1984. Pp. 95-106. 22 Santo Agostinho – Confissões, passim, mas especialmente livro X 23 Veja-se o artigo de Paul Ricoeur La vulnérabilité de la mémoire (in Jacques LE GOFF, [sous la présidence de] – Patrimoine et Passions Identitaires [Actes des Entretiens du Patrimoine, Paris, 6-8 janvier 1997]. Paris: Fayard, Editions du Patrimoine, 1998; pp.17-31) e a referência que aí faz a dois artigos de Freud que apresentam a psicanálise exactamente como trabalho sobre a Memória, da Memória (S. Freud – Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten, G. W., t. 10, 1913-1917, pp. 126-136 [Remémoration, répétition, perlaboration] e S. Freud – Trauer und Melancholie, 1916-1917 [Deuil et Mélancolie]). 24 Assim o afirma Hannah Arendt: «[...] A Memória e o dom de lembrar, dos quais provém todo o desejo de imperecibilidade, necessitam de coisas que os façam recordar, para que eles próprios não venham a perecer.» (Hannah Arendt – A condição Humana. p. 210.) A este respeito é interessante conhecer também a análise realizada por Le Goff da paradoxal diferença de conhecimento que possuímos actualmente sobre a civilização etrusca e sobre a civilização romana. Ele aduz que tal se possa explicar mediante os diferentes tipos de instrumentos a que estas civilizações consignavam a preservação da memória. Sendo contemporâneos e habitando ambos a península itálica, em regiões contíguas, dos segundos conhecemos não apenas os grandes feitos mas até as minudências da vida quotidiana, enquanto dos primeiros – a única das grandes civilizações antigas cuja língua permanece indecifrada – só conhecemos aquilo que é referido pelos gregos e romanos. A hipótese explicativa, que aquele historiador aventa, nota como os romanos fossem possuídos por um verdadeiro furor mnemónico, que os lançava num consecutivo processo de produção de inscrições comemorativas, enquanto os segundos, embora não menosprezassem a memória, confiá-la-iam somente ao depósito mental da classe dirigente. «Quando esta deixou de existir enquanto nação autónoma, os etruscos perderam, ao que parece, a consciência do seu passado, ou seja, de si mesmos.» G. A. Mansuelli – Les civilizations de l’europe anciène. Paris: Arthaud, 1967. Cit in Le Goff – «Memória» op. cit., p. 46. 25 Hannah Arendt – The Crisis in Culture in between Past and Future. New York: Penguin Books, 1993; p. 201 e ss. 26 «[…] Architecture is to be regarded by us with the most serious thought. We may live without her, and worship without her, but we cannot remember without her. […] There are but two strong conquerors of the forgetfulness of men, Poetry and Architecture; and the latter in some sort includes the former, and is mightier in its reality.» (John Ruskin – The Lamp of Memory, § II in The Seven Lamps of Architecture. New York: Dover Editions, 1989; p. 178) 27 Autoriza-nos esta interpretação, não só a economia do texto de Ruskin, mas a sinonimia estabelecida por vários autores, em determinadas circunstâncias, entre estas duas palavras: ‘Poesia’ e ‘Arte’. Lembramos o clássico de Aristóteles, em que, sob o título de Poética, se trata a arte dramática; sobretudo Heidegger usa extensivamente o termo ‘poesia’ com o sentido de ‘arte’ ou de essência da arte (veja-se, por exemplo, Martin Heidegger – “…Poetically man dwell…” in Poetry Language and Thought. New York: Harper Collins, 2001, pp. 209-227, e Martin Heidegger – A origem da obra de arte. Lisboa: Edições 70, 1991, passim). Heidegger pronuncia-se explicitamente, em A origem da obra de arte, sobre a competência única da arte para gerar 15 A MÃE DAS MUSAS: Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência Pedro Marques de Abreu história. – o que, coincidindo com a função que Ruskin atribui à Poesia, confirma a significação idêntica que reconhecemos aos dois vocábulos (veja-se, neste texto, a nota 18). 28 Veja-se especialmente os nossos artigos «Arquitectura: monumento e morada» (Artitextos04, revista da FAUTL, Junho de 2007), «Vitruvian Crisis» (Artitextos07, Dezembro de 2008) e a nossa Tese de Doutoramento Palácios da Memória II (Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 2007) 29 30 John Ruskin – The Seven Lamps of Architecture. VI-Lamp of Memory, §1. Emmanuel Levinas – Totalidade e Infinito (A Morada). Lisboa: Edições 70, 1988; pp. 135-156; especialmente páginas 137-145 16
Download