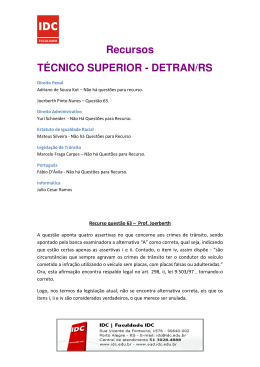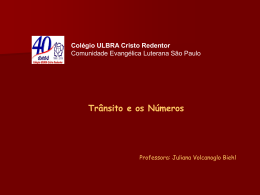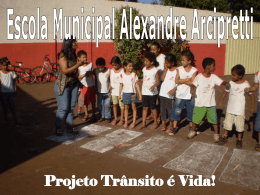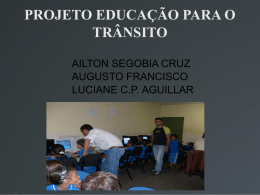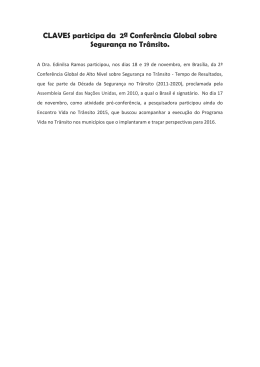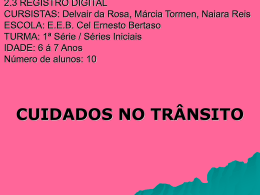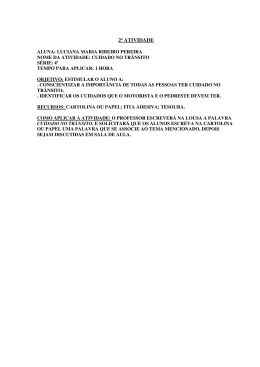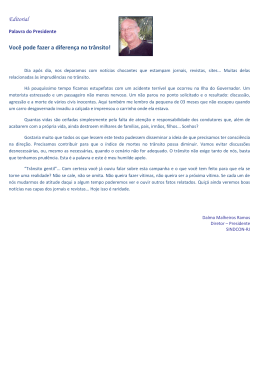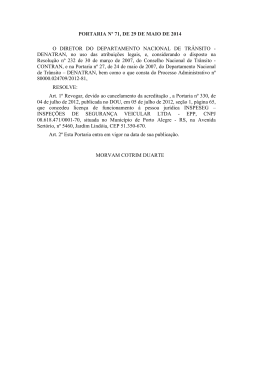UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – CES VII CURSO DE DIREITO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA ASPECTOS DESTACADOS DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE À LUZ DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em Direito na Universidade do Vale do Itajaí. ACADÊMICO: JOSUÉ REITZ São José (SC), maio de 2004 UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – CES VII CURSO DE DIREITO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA ASPECTOS DESTACADOS DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE À LUZ DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito, sob orientação do Prof. Hélio Callado. ACADÊMICO: JOSUÉ REITZ São José (SC), maio de 2004 UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – CES VII CURSO DE DIREITO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA ASPECTOS DESTACADOS DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE À LUZ DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO JOSUÉ REITZ A presente monografia foi aprovada como requisito para a obtenção do grau de bacharel em Direito no curso de Direito na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. São José, 06 de julho de 2004. Banca Examinadora: _______________________________________________________ Prof. Dr. Hélio Callado de Oliveira - Orientador _______________________________________________________ Prof. Dr. Eduardo Mendonça Lima - Membro _______________________________________________________ Prof. Dr. Giovani de Paula - Membro Dedico este texto: Aos meus pais, Benedito e Terezinha, pelo apoio e ajuda necessária, em todos os sentidos, principalmente por tornarem possível a realização deste meu sonho; A minha irmã Thais, por me confortar e incentivar quando tudo parecia tão complicado; Aos meus amigos, Luis Gustavo e Júlio, pessoas de caráter e honestidade irretocáveis e de coração gigantesco; E, em especial, à Joelma, único e eterno amor de minha vida, pessoa presente em todos os meus sonhos futuros. AGRADECIMENTOS Ao professor, Dr. Hélio Callado de Oliveira, pessoa de caráter irreparável e moral ilibada, de simplicidade cativante e de uma sabedoria incomparável, por todo o apoio na elaboração , confecção e finalização deste trabalho. A todos os professores e aos amigos que, de uma maneira direta ou indireta, contribuíram para a realização desta pesquisa. O álcool não faz as pessoas fazerem melhores as coisas; ele faz com que elas fiquem menos envergonhadas de fazê-las mal. (William Osler) SUMÁRIO RESUMO LISTA DE ABREVIATURAS INTRODUÇÃO 1 TRÂNSITO E EMBRIAGUEZ: ASPECTOS INICIAIS DE RELEVÂNCIA 1.1 LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO 1.2 DESTAQUES DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO 1.3 EMBRIAGUEZ: ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 1.3.1 Conceitos e espécies de embriaguez 1.3.1.1 Embriaguez completa 1.3.1.2 Embriaguez culposa 1.3.1.3 Embriaguez deliberada 1.3.1.4 Embriaguez fortuita 1.3.1.5 Embriaguez habitual 1.3.1.6 Embriaguez incipiente 1.3.1.7 Embriaguez incompleta 1.3.1.8 Embriaguez preordenada 1.3.1.9 Embriaguez voluntária 1.4 TRÂNSITO E EMBRIAGUEZ: ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS 2. SISTEMÁTICA DOS CRIMES DE TRÂNSITO 2.1 NATUREZA DOS CRIMES DE TRÂNSITO 2.1.1 Dos crimes de perigo 2.1.1.1 Da tentativa nos crimes de perigo 2.2 ALGUMAS CRÍTICAS AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 2.3 DO CONCEITO DE CRIME 2.3.1 Conceito formal de crime 2.3.2 Conceito material de crime 2.3.3 Conceito analítico de crime 2.4 QUALIFICAÇÃO TÍPICA DOS DELITOS DE TRÂNSITO 2.5 NATUREZA JURÍDICA DOS DELITOS DE TRÂNSITO: CRIMES DE LESÃO E DE MERA CONDUTA 2.6 O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM FACE DE OUTROS DIPLOMAS LEGAIS 2.6.1 O código de trânsito e a lei dos juizados especiais criminais 3 DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE 3.1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 3.2 CONCURSO DE NORMAS INCRIMINADORAS: O ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO EM RELAÇÃO AO ARTIGO 34 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS 3.3 OBJETIVIDADE JURÍDICA DO DELITO 3.4 TIPO OBJETIVO E SUBJETIVO DO DELITO 3.4.1 Da utilização do etilômetro 3.5 DA TENTATIVA, DA CONSUMAÇÃO, DO CONCURSO E DA AÇÃO PENAL NO CRIME DO ART. 306 DO CTB 3.6 MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE CONCLUSÃO REFERÊNCIAS 08 09 10 12 12 13 16 17 21 21 22 22 23 23 23 23 24 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 40 45 45 47 48 49 50 54 55 57 59 10 RESUMO A promulgação da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro uma série de previsões legais da mais destacada importância, já que relacionadas ao direito constitucional de um trânsito seguro e civilizado. Neste contexto, a embriaguez ao volante consiste num risco à segurança viária e, por conseguinte, à vida é à saúde de toda a coletividade, podendo ser configurada, à luz da referida lei, ora como uma infração administrativa, ora, por outro lado, como um crime, propriamente dito. Assim, levando em consideração que a infração de natureza administrativa se caracteriza, conforme dispõe o art. 165 da Lei em comento, simplesmente, pela condução do veículo em estado de embriaguez, a diferença entre os dois enquadramentos ocorre quando o condutor embriagado expõe a dano potencial a incolumidade de outrem, nos termos do que estabelece o tipo penal inserto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro que, prevê ainda, nestes casos, a aplicação de uma pena de detenção que pode variar de seis meses a três anos, além de multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 11 LISTA DE ABREVIATURAS CF Constituição Federal CP Código Penal CPP Código de Processo Penal CTB Código de Trânsito Brasileiro STF Supremo Tribunal Federal STJ Superior Tribunal de Justiça INTRODUÇÃO O tema a ser abordado neste trabalho científico de conclusão de curso refere-se ao crime de trânsito caracterizado pela condução em via pública de veículo automotor sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, como maconha, éter, cocaína, ópio, morfina, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem, nos termos do que estabelece o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. De fato, é de se ver que a preocupação do legislador com esta matéria tem crescido nos últimos anos quase que na mesma proporção com que ocorrem os crimes de trânsito relacionados à embriaguez e isto, do ponto de vista acadêmico, acaba suscitando grande interesse dos investigadores da seara jurídica, principalmente porque se trata de um assunto que, de uma forma ou de outra, causa grande apreensão na sociedade em geral. Neste contexto, percebe-se que a promulgação da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, destaca-se como uma das novidades legislativas de maior repercussão social da história recente do país, pois inibidora, em grande parte, de determinadas condutas que, de formas tão nefastas, colocam em risco a segurança e a saúde das pessoas, sem distinção. Assim, é finalidade desta pesquisa, no que concerne á comunidade científica, demonstrar que as atuações dos agentes que lidam com trato da questão relacionada à embriaguez ao volante devem estar estreitamente vinculadas aos princípios e valores que se colocam no direito positivo hoje vigente e, neste contexto, é pretensão deste trabalho servir, igualmente, como fonte de pesquisa nas situações em que se cuidar dos aspectos jurídicos relativos à questão sob foco. No desenvolvimento da investigação, adotou-se o método indutivo operacionalizado com as técnicas do referente, da categoria, dos conceitos 12 operacionais e da pesquisa de fontes documentais. Por outro lado, para relatar os resultados da pesquisa, empregou-se o método dedutivo. O trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro busca focalizar os aspectos históricos da legislação de trânsito no Brasil e, bem assim, procura destacar alguns dos pontos mais importantes do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente no que concerne ao direito de todos de ter a seu dispor condições seguras nas vias correspondentes. Neste capítulo se faz, também, algumas colocações de cunho introdutório a respeito da embriaguez, mencionado a realidade irrefutável de que a mesma constitui, nos dias atuais, um dos problemas sociais mais alarmantes, seja aqui no Brasil, seja em outros países, pertos ou distantes. Neste prisma, faz-se referência aos conceitos e às espécies de embriaguez, a saber: embriaguez completa, embriaguez culposa, embriaguez deliberada, embriaguez fortuita, embriaguez habitual, embriaguez incipiente, embriaguez incompleta, embriaguez preordenada e embriaguez voluntária. E, ao finalizar o primeiro capítulo, faz-se menção a alguns aspectos estatísticos da embriaguez no trânsito a fim de se correlacionar os pontos que conformam este trabalho. No segundo capítulo, os objetivos se dirigem no sentido de enfocar a sistemática dos crimes de trânsito e, para isto, busca-se assinalar, inicialmente, algumas das críticas que ganharam corpo no meio doutrinário em relação ao Código de Trânsito Brasileiro. Neste viés, há também destaque ao conceito formal, material e analítico de crime, bem como à natureza dos crimes de trânsito e à qualificação típica dos mesmos, mencionando, então, a natureza jurídica dos delitos de trânsito. Por fim, neste segundo capítulo, busca-se focalizar o Código de Trânsito em face de outros diplomas legais, especialmente no que concerne à Lei dos Juizados Especiais Criminais. O terceiro e último capítulo, por sua vez, focaliza o crime de embriaguez ao volante propriamente dito, correlacionando o artigo 306 do Código De Trânsito em relação ao artigo 34 da Lei das Contravenções Penais. Neste sentido, busca avaliar a objetividade jurídica do delito em questão, o seu tipo objetivo e subjetivo, a utilização do etilômetro, a tentativa, a consumação, o 13 concurso e a ação penal no que diz respeito ao crime sob foco e, finalmente, várias medidas de prevenção do crime de embriaguez ao volante. Na conclusão, discorre-se sobre os entendimentos gerais que foram alcançados com base nos argumentos consignados no corpo do trabalho. 1 TRÂNSITO E EMBRIAGUEZ: ASPECTOS INICIAIS DE RELEVÂNCIA 1.1 LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO A fim de tornar possível a necessária correlação entre os diversos tópicos que constituem este trabalho científico, cumpre mencionar, ainda que de forma sintética, os aspectos históricos das leis que regeram o trânsito no Brasil. De acordo com Pinheiro1, autor que traz a lume, apropriadamente, tais informações, a “[...] legislação brasileira de trânsito pode ser colhida esparsamente a partir de 1910, data do Decreto n. 8.324, de 27 de outubro, que cuidou do serviço subvencionado de transportes por automóveis”. Nesse decreto, diz Pinheiro2, “[...] os condutores eram ainda chamados de motorneiros, exigindo o art. 21 que se mantivessem constantemente senhores da velocidade do veículo [...]”, devendo reduzir a marcha ou, até mesmo, interromper o movimento nas circunstâncias em que se pudesse causar acidente. Anos após, promulgou-se o Decreto nº 4.460/22, que tratou do estabelecimento de normas a respeito da construção de estradas e da carga máxima de veículos nas rodovias, bem como, conforme ensina Pinheiro3, em 1927, o Decreto nº 5.141, que pela primeira vez mencionou os chamados “autocaminhões”. 1 PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos. RIBEIRO, Dorival. Código de trânsito brasileiro interpretado. 2. ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001, p. 1. 2 Op. cit., idem. 3 Idem, ibidem. 14 O Decreto nº 18.323, de 24 de julho de 1928, “[...] aprovou o regulamento para a circulação internacional de automóveis no território brasileiro e para a sinalização, segurança do trânsito e polícia nas estradas de rodagem”4. De acordo com o art. 25 deste Decreto, a competência para fiscalização era da União, Estados ou Municípios, conforme tivesse o domínio da estrada5: Art. 25. A fiscalização das estradas de rodagem, para execução das medidas de segurança, comodidade, e facilidade de trânsito, será feita pelas autoridades federais, estaduais ou municipais, conforme a estrada esteja sob o domínio da União, dos Estados ou dos municípios. É interessante observar, também, que o Decreto nº 18.323/28, ao tratar dos impostos e das placas, estabeleceu que: [...] nenhum veículo poderia trafegar nas estradas de rodagem sem o prévio pagamento da licença respectiva na municipalidade de origem (Art. 58) e curiosamente ao tratar das multas e sua aplicação, permitiu a qualquer pessoa de notória idoneidade autenticar as infrações ocorrentes e levá-las ao conhecimento de quem de direito (Art. 86) cabendo a mesma 6 ainda metade do valor da multa arrecadada (Art. 86, parágrafo único) . Vê-se, também, que além desse diploma legal de alcance nacional, os Estados e Municípios tiveram, igualmente, sua própria legislação, como, por exemplo, “[...] a Postura Municipal nº 858, de 15 de abril de 1902, do Rio de Janeiro, regulando a velocidade do automóvel na zona urbana”7. E em São Paulo, é bom destacar, vigorou a Lei Municipal nº 2.264, de 13 de fevereiro de 1920, que “[...] dispôs sobre a inspeção e fiscalização do trânsito de veículos no Município”8. Com efeito, o Decreto nº 18.323/28 vigorou até 1941, quando passou a viger o primeiro Código Nacional de Trânsito (Decreto-lei nº 2.994/41): O primeiro Código Nacional de Trânsito surgiu em 28 de janeiro de 1941, através do Decreto-Lei nº 2.994, entretanto, teve curta duração, pois oito meses depois foi revogado pelo Decreto-Lei 3.651, de 25 de setembro de 1941 que deferia expressamente aos Estados a atribuição de regulamentar o trânsito de veículos automotores, devendo contudo a legislação adaptarse a Lei Nacional. No capítulo VII, referindo-se aos impostos e taxas 9 obrigou o registro na repartição de trânsito com jurisdição no município . A 21 de setembro de 1966 surgiu, por intermédio da Lei nº 5.108, outro Código Nacional de Trânsito, que perdurou até o advento do agora denominado Código Brasileiro de Trânsito – Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. 4 PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos. RIBEIRO, Dorival. Op. cit., idem. LIMA, José Ricardo Cintra de. Sistema nacional de trânsito. Disponível em: <http://buscalegis.ccj.ufs c.br/arquivos/a11-SistemaNTEH.htm>. Acesso em: 09 de mar. 2004. 6 LIMA, José Ricardo Cintra de. Op. cit. 7 PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos. RIBEIRO, Dorival. Op. cit., p. 1. 8 PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos. RIBEIRO, Dorival. Op. cit., Idem. 5 15 1.2 DESTAQUES DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO De acordo com o § 2º, do art. 1º, da Lei nº 9.503/97, a segurança no trânsito constitui um direito de todas as pessoas, bem como um dever dos órgãos públicos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, litteris: Art. 1º: [...] § 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Por trânsito, considera-se o disposto no §1º do mesmo artigo, que diz: Art. 1º: [...] § 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Dispõe, ainda, o artigo 6º do Código Brasileiro de Trânsito, in verbis: Art. 6º - São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento; II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito; III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema. É interessante mencionar, no que concerne aos objetivos centrais do Código de Trânsito vigente, que se trata de uma codificação que tem se caracterizado por inovar em muitas das regras que orientam e normatizam o trânsito no Brasil e, neste contexto, as palavras de Andrade10, in verbis: É inegável a validade e importância de uma codificação, nem que seja pela sistematização e princípio de unidade que confere a uma legislação, com a conseqüente melhora do acesso público a ela. No caso, não é a primeira (vigorava no Brasil um casamento polígamo do Código Nacional de Trânsito com algo em torno de 800 resoluções ) e nem tudo nela é novidade em relação à legislação anterior, fato que o efeito simbólico da publicação e a publicidade em torno do "novo" Código acaba por obscurecer. 9 LIMA, José Ricardo Cintra de. Op. cit. ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Código de trânsito brasileiro: desafio vital para o terceiro milênio. Disponível em: <http://buscalegis.ccj.ufsc.br/arquivos/Novo_Codigo_de_Transito.htm>. Acesso em 12 de mar. 2004. 10 16 De acordo esta autora11, durante muitas décadas o trânsito foi abordado “[...] como uma questão quase exclusivamente de engenharia de tráfego e de policiamento coercitivo e punitivo do Estado”. Todavia, por ser visto, nos tempos atuais, “[...] como um problema complexo e multidimensional [...], tanto as teorias quanto às normas relativas ao trânsito, só podem “[...] ser levadas a termo através de esforços muldisciplinares, quanto às respectivas políticas somente podem ser políticas multiagenciais”12. Por outro lado, de acordo com o raciocínio de Andrade13, da mesma forma que o trânsito, aqui considerado em seu sentido amplo, apresenta-se como “[...] um problema multidimensional [...]”, a violência no trânsito, por sua vez, “[...] é um problema multifatorial, ou seja, condicionado por uma multiplicidade de fatores [...]”, dentre os quais se destacam, por exemplo, “[...] sem pretensões de exaustividade, fatores que evocam aspectos estruturais, conjunturais, institucionais, relacionais e comportamentais [...]”. Tais aspectos, de acordo com Andrade14, podem ser os seguintes: a)estruturas e mudanças sociais e tecnológicas (crescimento da frota e consumo de veículos em razão muito mais do que proporcional ao crescimento da malha viária, por sua vez em processo de deterioração, principalmente nos grandes centros urbanos e rodovias de grande circulação veicular; incremento da potência dos veículos convivendo com a deterioração da frota mais antiga; deterioração ou deficiência do sistema de sinalização; b)relações sociais e institucionais e interesses econômicos ou políticos localizados (relações de poder entre os usuários do trânsito e as autoridades policiais e administrativas, tráfico de influências, corporativismos, corrupções e outras ilegalidades permeando a burocracia do trânsito, interesses de mercado, profissionais, partidários, etc); c) condição física e mental e comportamento dos condutores e pedestres. Neste sentido, o Código Brasileiro de Trânsito em vigor supera, sem sombra de dúvidas, [...] a concepção clássica do trânsito como problema de engenharia de tráfego e veicular, por uma visão mais abrangente e mesmo humanista em que o homem é tornado sujeito e seus direitos e deveres ocupam o lugar prioritário que anteriormente era ocupado pelo automóvel. Razão pela qual , no discurso declarado, canaliza seus esforços para o exercício de 15 uma cidadania responsável no trânsito . 11 Op. cit. ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. 13 Op. cit. 14 Op. cit. 15 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. 12 17 Longe está este Código, todavia, como bem coloca Andrade16, de otimizar a visão aqui mencionada, “[...] até porque, ao invés de se libertar, radicalizou a herança policialesca e repressiva que acompanha àquela”. De qualquer forma, por ser o trânsito, obviamente, o objeto da Lei nº 9.503/97, pode-se divisar no mesmo, de acordo com Andrade17, duas dimensões, a saber: Em sentido lato, trata-se de uma regulamentação abrangente do trânsito brasileiro realizado por via terrestre, que, seguindo a orientação superadora já indicada, contempla desde o regramento e distribuição de competências do SNT (capítulo II), normas gerais de circulação e conduta (capítulo III), normas relativas aos pedestres e condutores de veículos não motorizados (capítulo IV), à sinalização de trânsito (capítulo VII), à engenharia de tráfego, da operação, da fiscalização e do policiamento ostensivo de trânsito (capítulo VIII), aos veículos (capítulo XIX), aos veículos em circulação internacional (capítulo X), aos registros de veículos (capítulo XI), ao licenciamento (capítulo XII), à condução de escolares (capítulo XIII) e à habilitação (capítulo XIV) até os aspectos da educação para o trânsito (capítulo VI) e da repressão às infrações e crimes de trânsito (capítulos XV a XX). Em sentido estrito, o objeto da codificação é a violência no trânsito e seu objetivo é combatê-la, reduzindo os acidentes e, por extensão, as mortes, mutilações e danos materiais no trânsito. A aliança declarada é, pois, com a vida (ver §5º do artigo 1º do CTB). Pertinaz, neste sentido, a revolta e o alerta de Szklarowsky18, litteris: Não é crível que o homem, tendo criado o automóvel, que o leva de um lugar para outro, tornando-o senhor do espaço e do tempo, teime desobedecer a regras indispensáveis. Estas foram feitas, para sua segurança e bem estar, e tão somente para propiciar-lhe o conforto de bem viver. Romper essas mesmas normas é por tudo a perder, matando e se matando, como doidos e irresponsáveis seres surgidos do inferno de Dante e não frutos de uma civilização prestes a avançar no tempo e no espaço, usufruindo das benesses das grandes invenções do século XX que se vai, sem deixar saudade, pelo que não fez no campo moral, mas também torna o homem mais rico de descobertas científicas e tecnológicas, que fazem inveja a qualquer civilização anterior em qualquer tempo e espaço. Esse mesmo automóvel que parecia ser a redenção do homem é seu maior algoz, mercê da irresponsabilidade e da impunidade que grassam em todo o País. O motorista faz o que quer. O pedestre não tem sequer noção dos mínimos deveres. Ai daqueles que ousam obedecer à lei do trânsito. São barbaramente fechados. São objeto de escárnio. São os vilões dessa trágica história de homicídios e vandalismo praticados por choferes que merecem estar atrás das grades, por se assemelharem aos mais perversos assassinos sanguinários. Faz-se necessário que as autoridades e a sociedade tomem imediatas e enérgicas providências, forçando a mudança desse trágico curso, antes que seja tarde demais, para a salvaguarda de inocentes vidas humanas. É preciso recomeçar a campanha da vida pela vida. 16 Op. cit. Idem. 18 Szklarowsky, Leon Frejda. Crimes de trânsito. Disponível em: < http://buscalegis.ccj.ufsc.br/arquivo s/Violencia_no_transito.html>. Acesso em 12 de mar. 2004. 17 18 Estes são, portanto, em linhas gerais, os mais importantes objetivos do Código Brasileiro de Trânsito, um caderno legislativo que, apesar das críticas, constitui sem dúvida alguma um inegável avanço na busca desesperada da sociedade nacional no sentido de conter a escalada dos acidentes e dos delitos de trânsito. 1.3 EMBRIAGUEZ: ASPECTOS INTRODUTÓRIOS É inegável que a embriaguez constitui um dos maiores problemas sociais da atualidade, caracterizando-se, neste sentido, como a razão original de uma série de crimes, acidentes e fracassos pessoais de um número realmente alto de indivíduos. E no que concerne ao trânsito, tal constatação adquire contornos ainda mais preocupantes, como bem coloca Pinheiro19, in verbis: O problema da embriaguez em acidentes de trânsito é realmente grave. As estatísticas não demonstram em que proporção real os acidentes são devidos em sua totalidade, ou em parte, aos efeitos do álcool sobre os motoristas e pedestres. Isso porque inúmeras circunstâncias ficam desconhecidas ou são escondidas, dadas as posições dos acidentados, dos indiciados, das partes enfim, denominando Roger Piret esse fato como a conspiração do silêncio. Vale destacar, contudo, alguns pontos básicos desse mal, começando, neste diapasão, pela conceituação do termo “embriaguez”, bem como de suas espécies em particular, cuja menção se faz a seguir. 1.3.1 Conceitos e espécies de embriaguez Não é difícil perceber e deduzir que a história do homem sempre este ligada, de uma forma ou de outra, ao consumo do álcool, razão pela qual, então, serão feitas, especificamente, algumas observações a respeito desta substância em particular. Registros arqueológicos revelam que “[...] os primeiros indícios sobre o consumo de álcool pelo ser humano datam de aproximadamente 6000 a.C. [...]”, constituindo-se, portanto, um costume que persiste por milhares de anos20. Neste sentido, a lição de Carneiro21, in verbis: 19 20 Op. cit., p. 285. Disponível em: <http://www.ministerioadonai.hpg.com.br/Alcool.htm>. Acesso em 20 de mar. 2004. 19 Os exércitos mediterrânicos, desde a antiguidade, sempre beberam vinho. O Código Justiniano prescrevia a posca, vinho azedo e água, como parte da ração dos soldados. A embriaguez de Alexandre, o Grande, e de seu pai, Filipe, tornou-se famosa e proverbial. Passados dois milênios, e os exércitos napoleônicos continuavam a receber vinho, mais de cem milhões de litros foram comprados para os soldados franceses. Na segunda guerra mundial a ração militar dos franceses chegava até um litro diário. Apenas no ano de 1917, o exército francês comprou 120 milhões de litros [...]. Os destilados, por sua vez, tornaram-se acessíveis apenas a partir da época moderna, precisamente após o século XVI, sendo antes dessa época um produto de grande valor, como assinala Carneiro22, litteris: Os destilados se tornam acessíveis apenas na época moderna, a partir do século XVI. Antes dessa época o álcool destilado, a aguardente, era vista como um raro e precioso remédio. Com o sistema colonial, a começar na ilha da Madeira e depois na América, a cana-de-açúcar fornece uma matéria prima ideal para um novo produto: a aguardente de cana. Adicionase uma ração de rum na Real Armada em 1655, após a ocupação da Jamaica, e desde a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) dava-se álcool para os soldados, especialmente antes das batalhas, o que tornou a indústria de destilados uma indústria de guerra. A produção e exportação de conhaque da região de Charente espelha essa curva ascendente no consumo de destilados: de uma exportação de sete mil barricas em 1700 passa-se para 87 mil em 1790. A indústria do álcool fermentado, a seu turno, constituía-se, desde a Idade Média, numa das mais importantes, sendo interessante ver que: Referindo-se ao final do século XVI, o estudioso da formação do sistema mundial, Immanuel Wallerstein, afirma que “a indústria mais próspera era indubitavelmente a que produzia o perpétuo refúgio do pobre que se fazia cada vez mais pobre: o álcool”. A instituição do monopólio senhorial na produção e venda de bebidas era um privilégio feudal odiado, na França, apenas depois da revolução de 1789 os camponeses puderam ter suas próprias prensas para fazer vinho. Praticava-se no início da época moderna uma exploração monopolística da produção de bebidas com base em privilégios medievais, que chegou no período entre 1650 e 1750 a constituir a principal fonte de renda da nobreza! Na Polônia, as rendas auferidas pela realeza com as bebidas alcoólicas passou de 0,4% em 1661 para 37,5% 23 em 1764 . Para se ter uma idéia de como o álcool foi ganhando importância no contexto social da humanidade, especialmente nos últimos séculos, basta ver o que segue, in verbis: As políticas mercantilistas buscaram dificultar os lucros auferidos pelos grandes mercadores de vinho e destilados, que no século XVII eram os holandeses. As leis da navegação de Cromwell foram feitas contra os holandeses e, da mesma forma, Colbert, ministro das finanças de Luis XIV, na França, impunha impostos altíssimos aos comerciantes estrangeiros, o 21 CARNEIRO, Henrique S. Bebidas alcoólicas e outra drogas na época moderna. Disponível em: <http://www.historiadoreletronico.com.br/secoes/faces/3/0.html#bio>. Acesso em: 20 de mar. 2004. 22 Idem. 23 CARNEIRO, Henrique S. Op. cit. 20 que leva os holandeses a buscarem o vinho espanhol para vendê-lo na Inglaterra. Em 1679, o parlamento inglês baniu inteiramente o vinho francês para impedir o rei Carlos II de continuar a receber os impostos sobre a bebida, o que levou os ingleses a voltarem-se para Portugal, de onde recebiam apenas 427 barris em 1678, passam a 14 mil em 1682 (equivalentes a 16 milhões de litros para uma população de quatro milhões e meio de habitantes). A proibição do vinho francês é revogada em 1685, mas retorna em 1688 até a assinatura de um tratado em 1697, que aceita o vinho francês com o dobro de imposto do que o espanhol e português. Em 1703, os ingleses contraem com Portugal o famosa tratado de Methuen que leva a Inglaterra a importar desse país dois terços do vinho que 24 consome (10 a 12 mil barris anuais) . Bem assim, é preciso ver que: O fenômeno do comércio e do consumo do álcool destilado e do tabaco imbrica-se desde os séculos XVI e XVII e não pode ser compreendido apenas no âmbito europeu, pois foi o fluxo de comércio internacional de tabaco e destilados que moldou as feições do mundo moderno, levando os destilados de cana, rum do Caribe e cachaça do Brasil, além do tabaco baiano, norte-americano e cubano, a tornarem-se as principais mercadorias de escambo por escravos na África. A maior parte das exportações americanas nas vésperas de 1776 era de rum produzido em destilarias da Nova Inglaterra por melaço comprado nas Antilhas e depois trocado por escravos, como escreve o historiador caribenho Eric Williams, em Capitalismo e Escravidão: “em 1770, as exportações de rum da Nova Inglaterra para a África representaram mais de quatro quintos do total das exportações coloniais daquele ano”. Para o caso brasileiro, Luis Felipe de Alencastro, no livro O Trato dos Viventes, mostra a importância do tráfico de aguardente brasileira para a África na formação do sistema sul25 atlântico . Com efeito, além de se constituir como “[...] gênero básico no estabelecimento do sistema moderno do comércio mundial, o álcool representou um papel decisivo na organização de um sistema tributário [...]”, propiciando aos Estados modernos, uma de suas mais elevadas rendas. E este processo de erguimento deste produto como um dos mais rentáveis para a economia em geral acabou por trazer para o seio da sociedade atual, então, um costume que dificilmente cederá espaço. E é por essas e outras razões que torna-se tão difícil conter a ocorrência da embriaguez ao volante. Contudo, não se pode dizer que o álcool apresenta-se como a única substância que provoca o estado de embriaguez. Por certo, há muitas outras como, por exemplo, a cocaína, as anfetaminas, os alucinógenos e psicodélicos, a maconha, o haxixe, entre outras. Só se dá ênfase ao álcool porque este é, sem sombra de dúvidas, a substância mais utilizada em todo o mundo. 24 25 CARNEIRO, Henrique S. Idem. CARNEIRO, Henrique S. Op. cit. 21 De acordo com Plácido e Silva26, o vocábulo “embriaguez” é derivado de embriagar-se, do latim inebriare (embebedar-se, embriagar-se) e, neste sentido, significa “[...] o estado em que se encontra a pessoa, que se embriagou ou está embriagada, pela absorção ou ingestão de bebidas alcoólicas ou de substâncias de efeitos análogos”. Interessante, por conseguinte, as considerações feitas por este autor: Tecnicamente, é a embriaguez dita de alcoolismo agudo, manifestado pela perda do raciocínio ou do discernimento, o que leva o embriagado, transitoriamente, a não se poder conduzir como em estado normal, de plena compreensão e direção de vontade, enquanto perdurem os efeitos da intoxicação ou do inebriamento provocado pelas bebidas absorvidas em excesso. Em relação à perda da consciência ou aniquilamento da razão, a 27 embriaguez apresenta-se como completa ou incompleta . De acordo com Vianna28, a embriaguez ou alcoolismo agudo é, [...] uma síndrome de intoxicação pelo álcool ou por substâncias de efeitos análogos. Substâncias inebriantes podem alterar o psiquismo e provocar o estado de embriaguez, contudo em face da alta incidência da embriaguez provocada pelo álcool etílico passaremos utilizar a palavra com sinônimo de Alcoolismo agudo. A Organização Mundial de Saúde definiu a embriaguez como toda forma de ingestão de álcool que excede ao consumo tradicional, aos hábitos sociais da comunidade considerada, quaisquer que sejam os fatores etiológicos responsáveis e qualquer que seja a origem desses fatores, como: a hereditariedade, a constituição física ou as influências fisiopatológicas e metabólicas adquiridas. A Associação Britânica de Medicina conceitua a embriaguez como a condição do indivíduo que está de tal forma influenciado pelo álcool, que perdeu o governo de suas faculdades, a ponto de tornar-se incapaz de executar com cautela e prudência o trabalho a que se dedica no momento. Em relação à provocação, a embriaguez, de acordo com a lição de Plácido e Silva29, “[...] pode ser dita voluntária ou fortuita e por força maior”. Assim, é bom destacar que a embriaguez [...] voluntária pode ser simples ou sem intenção predeterminada, como pode ser preordenada ou pretederminada, mostrando-se nestes dois aspectos como embriaguez culposa. Da natureza da embriaguez advém a imputabilidade do ato praticado, pelo embriagado, sob o domínio dela. A embriaguez voluntária ou culposa não isenta o agente da responsabilidade pelo crime praticado. A embriaguez fortuita ou por força maior pode atenuar 30 ou mesmo livrá-lo da sanção penal . Koerner Júnior31, neste mesmo viés, ensina o seguinte: 26 PLÁCIDO E SILVA, De. Vocabulário Jurídico. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 299. PLÁCIDO E SILVA, De. Op. cit. idem. 28 VIANNA, Guaraci de Campos. Imputabilidade penal juvenil – Propostas e soluções. Disponível em: < http://www.geocities.com/CollegePark/Lab/7698/med4.htm>. Acesso em: 22 de mar. 2004. 29 Op. cit., p. 299. 30 PLÁCIDO E SILVA, De. Idem, ibidem 31 KOERNER JÚNIOR, Rolf. A embriaguez: do código penal ao código de trânsito brasileiro. Disponível em: < http://www.dantaspimentel.adv.br/jcdp5221.htm. Acesso em 13 de mar. 2004. 27 22 Vários são os conceitos de embriaguez. No Aurélio significa “estado de indivíduo embriagado; bebedeira; ebriedade”. Em Medicina Legal, embriaguez é o “conjunto das perturbações psíquicas e somáticas, de caráter transitório, resultantes da intoxicação aguda pela ingestão de bebida alcoólica ou pelo uso de outro inebriante”. E de acordo com Costa Júnior32, considera-se embriaguez, no âmbito do Direito Penal, a “[...] intoxicação, aguda e transitória, causada pelo álcool ou substância análoga, que elimina ou diminui no agente sua capacidade de entendimento ou de auto-determinação”. Cumpre assinalar, entretanto, de maneira sistemática, os conceitos correspondentes às espécies de embriaguez mencionadas por Plácido e Silva, que, por sua vez, são as seguintes: embriaguez completa, embriaguez culposa, embriaguez deliberada, embriaguez fortuita, embriaguez habitual, embriaguez incipiente, embriaguez incompleta, embriaguez preordenada e embriaguez voluntária. De qualquer forma, é interessante ressaltar que a embriaguez não se confunde com a alcoolemia, que é o “[...] teor de álcool etílico no sangue”33. 1.3.1.1 Embriaguez completa De acordo com Plácido e Silva, no sentido médico-legal, assim se diz da embriaguez que “[...] aniquila por completo os sentidos do embriagado, suspendendo, assim, a consciência dele a respeito de tudo que se possa passar em torno”. Trata-se, assim, do “[...] estado de letargia a que chega, semelhante à coma, em virtude do que perde ou se priva dos sentidos e da inteligência”. Neste contexto, Plácido e Silva34 assevera o seguinte, in verbis: É esta a fase final da embriaguez, em que o embriagado se apresenta impossibilitado da prática de qualquer ato, desde que a intoxicação atingiu sua fase culminante. Em tal circunstância, diz-se embriaguez letárgica ou de coma alcoólica. Mas a embriaguez completa, na acepção que acima se tem, é a que se conceitua no sentido médico-legal. E nela, como é de se ver, não está o embriagado em condições de praticar qualquer ato ou de fazer mal a quem quer que seja, desde que o estado a que chegou o torna inofensivo. No sentido jurídico, contudo, a embriaguez completa, 32 COSTA JUNIOR, Paulo José da. Comentários ao Código Penal. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 220, apud KOERNER JÚNIOR, Rolf. Op. cit. 33 KOERNER JÚNIOR, Rolf. Op. cit. 34 Op. cit. p. 299. 23 [...] quando fortuita ou por força maior, isenta de pena, porque em tal estado é considerado como inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,a pessoa que se mostra em tal estado. Sendo assim, a embriaguez completa, pela técnica jurídica, como o estado de letargia ou de coma, segundo a consideram os psiquiatras, mas um estado de inconsciência intelectual, provocado pela bebida, que não retirou de todo a ação física do 35 embriagado, de modo que pudesse praticar a ação ou omissão criminosa . Dessa forma, o embriagado deve estar num estado de tamanha confusão mental “[...] que não possa entender ou discernir a gravidade do ato a praticar e a responsabilidade que lhe possa ser imputada por sua prática36. 1.3.1.2 Embriaguez culposa De acordo com Plácido e Silva37, trata-se da embriaguez “[...] que é procurada pela própria pessoa ou provocada por outrem para que possa o embriagado ser encorajado à prática do crime”. Assim, é culposa [...] porque é predeterminada pelo próprio agente ou preordenada por outrem, mas voluntariamente procurada por ele, a fim de que, neste estado, possa praticar o crime, cumprindo a intenção, partida de si ou 38 concertada com outrem . Contudo, “[...] mesmo preordenada, mas conseqüente de coação, já não seria culposa, porque não se apresentaria voluntária e sim forçada, o que retiraria a idéia de culpa”39. 1.3.1.3 Embriaguez deliberada Segundo o multicitado Plácido e Silva40, trata-se, neste caso, da “[...] mesma embriaguez procurada ou provocada, desde que num ou noutro caso, ela se promoveu por vontade própria da pessoa, que assim deliberou embriagar-se”. Logo, na embriaguez deliberada, “[...] equivalente à voluntária, tanto pode ser ela de intenção predeterminada ou preordenada, como pode ter sido provocada ou procurada sem qualquer intenção maldosa”41. 35 PLÁCIDO E SILVA, PLÁCIDO E SILVA, 37 Idem, ibidem. 38 PLÁCIDO E SILVA, 39 PLÁCIDO E SILVA, 36 De. Op. cit. p. 299. De. Idem, ibidem. De. Idem, ibidem. De. Idem, ibidem. 24 1.3.1.4 Embriaguez fortuita Esta é “[...] a que adveio ocasionalmente, sem qualquer deliberação por parte de pessoa, mas em conseqüência de absorção imprevidente de bebidas alcoólicas, em demasia ou sem se prever a conseqüência de sua ingestão”42. Plácido e Silva43 observa, no entanto, que esta espécie de embriaguez diferencia-se da que ocorre por força maior, uma vez que esta última, além de ser ocasional, pode vir a ser provocada “[...] por imposição ou coação de outrem, a qual em tal circunstância, poder-se-á mostrar uma embriaguez forçada ou provocada por outrem”. 1.3.1.5 Embriaguez habitual Também denominada “embriaguez inveterada”, é a espécie que se caracteriza pelo “[...] estado de embriaguez contumaz, ou seja, da pessoa que vive habitualmente embriagada ou se embriaga por vício”44. 1.3.1.6 Embriaguez incipiente De acordo com Plácido e Silva45, é a que se mostra, num primeiro momento, “[...] manifestada pelos atos de alegria ou pelas irreverências anormais praticadas pela pessoa, que não as faria em estado normal, mas sem perder de todo a sua consciência”. 1.3.1.7 Embriaguez incompleta No sentido jurídico, “[...] é a embriaguez que não promoveu ainda uma confusão mental tão acentuada, de modo que prive o embriagado de qualquer entendimento ou compreensão das coisas exteriores [...]”. 40 Op. cit. Idem. PLÁCIDO E SILVA, De. Idem, ibidem. 42 PLÁCIDO E SILVA, De. Op. cit. p. 299. 43 Op. cit. p. 299. 41 44 PLÁCIDO E SILVA, De. Op. cit. p. 299. 25 Todavia, trata-se de uma espécie de embriaguez “[...] que já o tornou perturbado por tal maneira que já não pode discernir ou entender amplamente a razão das próprias coisas que o cercam e os fatos que se desenrolam à sua frente”46. 1.3.1.8 Embriaguez preordenada Esta, por sua vez, é a que, “[...] seja por determinação própria ou por ordem ou consentimento de outrem, é promovida anteriormente ao crime, , para que provoque uma animação ou encorajamento à sua prática”47. 1.3.1.9 Embriaguez voluntária De acordo com Plácido e Silva48, trata-se da embriaguez que “[...] se promoveu ou foi deliberada pela própria pessoa, livre de qualquer imposição, além de sua própria vontade”. 1.4 TRÂNSITO E EMBRIAGUEZ: ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS A fim de correlacionar os tópicos até aqui expostos com a realidade das ruas, cumpre mencionar as interessantes observações feitas por Pinheiro, que buscou resultados em várias pesquisas estrangeiras. De acordo com este autor, o período entre 19 horas e 05 horas da madrugada é o que produz [...] a maioria dos acidentes por embriaguez, e investigações particulares permitiram comprovar que em Chicago a metade dos condutores que circulam às 3 h da madrugada, e 90% dos que causam um acidente grave, 49 entre as 4 h e 5 h da manhã, estão sob a influência do álcool . Pinheiro50 menciona, também, o seguinte: 45 Idem, ibidem. PLÁCIDO E SILVA, De. Op. cit. p. 299. 47 PLÁCIDO E SILVA, De. Idem, ibidem. 48 Op. cit. p. 299. 49 PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos. RIBEIRO, Dorival. Op. cit., p. 286. 50 Op. cit., p. 286. 46 26 Wilson Veloso, correspondente jornalístico da Folha de São Paulo, dando notícia sobre uma conferência a respeito de problemas do alcoolismo nos Estados Unidos da América em relação ao motorismo, informou que os cientistas afirmaram que maior severidade na imposição da lei não reduzirá os acidentes, ao contrário do que dizem os policiais, podendo até aumentar o seu número, pela irritação que provoca, em certos casos. Numa coisa, porém, cientistas, técnicos em segurança e policiais concordam: o maior perigo não é o bêbado contumaz, ou o motorista totalmente embriagado, pois este se identifica à distância, e os outros podem evitá-lo. A grande ameaça é o bebedor social, o que toma os seus tragos em festa, ou em visita. De acordo com Pinheiro51, os “[...] conferencistas chegaram à conclusão de que só diminuirão os acidentes quando mudarem os costumes norte-americanos, sendo alguns deles [...]”, os seguintes: - O dictum da hospitalidade, que impõe ao hospedeiro oferecer mais bebida aos seus convidados, manter-lhes os copos sempre cheios. - O costume de retribuição, que impõe à visita empanzinar-se a cara, para demonstrar que está se divertindo e gostando da festa. - A idéia de masculinidade, que não pode ser ofendida pela esposa, mesmo que esta (que geralmente bebe menos) esteja em melhores condições de dirigir. Uma ofensa desse gênero é causa para divórcio. - A educação, ou as boas maneiras, que impedem o dono da casa de sugerir que o amigo está “tocado” demais para dirigir o carro com segurança. Na seqüência, Pinheiro52 cita os resultados de um trabalho de autoria de dois médicos ingleses, cuja publicação deu-se no British Medical Journal, verbis: Durante um período de mais de doze meses estudou-se o sangue de 398 pessoas internadas como resultado de acidentes rodoviários, do ponto de vista da concentração alcoólica. As conclusões dos médicos, quanto ao grau de influência do álcool como fator, independeram das alegações dos feridos, de seus acompanhantes ou policiais. Basearam-se tão somente na estimativa da concentração alcoólica e na ocasião em que os acidentes ocorreram. Dividindo-se os acidentes dos doze meses segundo a sua incidência horária durante o dia, verificou-se que o ponto culminante ocorre às 11 h da noite, meia hora depois da hora de fechar dos bares. Cumpre mencionar, neste mesmo contexto, as conclusões alcançadas por uma comissão da British Medical Association. Concluiu esta que: [...] uma concentração de 50 mg de álcool por 10 ml de sangue, num motorista, era a máxima que se podia aceitar como consistente com a segurança dos que utilizam a estrada. Nas observações realizadas no Withington Hospital, as análises de sangue de motoristas revelaram pelo menos essa concentração em 10,5% dos internados entre meio-dia e 6 h da tarde; em 33,3% dos recebidos entre 6 h da tarde e meia-noite; e em 58,3% dos internados de meia-noite às 6 h da manhã. Cerca de 1/3 dos motoristas causadores de acidentes que foram examinados após meianoite mostravam teores alcoólicos indicativos de franca embriaguez (mais 53 de 100 mg por 100 ml). 51 Idem, pp. 286-287.. Op, cit., p. 287. 53 PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos. RIBEIRO, Dorival. Op. cit., p. 287. 52 27 Importante, neste viés, o seguinte quadro54: GRAMA DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE SINTOMAS Menos de 1 Não existe estado de embriaguez De 1,10 a 1,50 Há uma embriaguez, porém sujeita a ressalva De 1,60 a 3,0 É certo o estado de embriaguez De 3,10 a 4,0 A embriaguez é completa De 4,10 a 6,0 Trata-se de uma intoxicação De mais de 6,0 a 10 Trata-se de uma intoxicação profunda Trata-se, com efeito, de uma descrição essencial no contexto da caracterização dos teores alcoólicos. 2. SISTEMÁTICA DOS CRIMES DE TRÂNSITO 2.1 NATUREZA DOS CRIMES DE TRÂNSITO Como bem lembra Roesler55, a natureza dos crimes de trânsito, na visão da doutrina mais tradicional, é a de que se trata de crime de dano e de perigo, sendo que este entendimento tem suscitado, por outro lado, uma série de controvérsias, senão veja-se: A doutrina tradicional classifica os crimes de trânsito em crimes de dano (homicídio culposo e lesão corporal culposa) e de perigo (abstrato ou presumido e concreto). Entretanto, ZAFFARONI e PIERANGELI advertem que os tipos de perigo têm acarretado sérios problemas interpretativos [...]. É por isso que a moderna doutrina penal conclui pela inconstitucionalidade dos delitos de perigo abstrato em nossa legislação. Essa interpretação se deve à reforma penal de 1984 que baseou nosso direito penal na culpabilidade e também aos princípios estabelecidos pela Constituição de 1988. Em sentido inverso, Damásio56 assevera que os crimes de trânsito são de lesão e de mera conduta, sendo que “[...] a essência dos delitos automobilísticos 54 PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos. RIBEIRO, Dorival. Idem, ibidem. ROESLER, Átila Da Rold. Novas (e velhas) polêmicas sobre os crimes de trânsito. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4949>. Acesso em: 12 mai. 2004. 56 JESUS, Damásio Evangelista de. Crimes de trânsito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 18. 55 28 está na lesão ao interesse jurídico da coletividade, que se consubstancia na segurança do tráfego de veículos automotores”. Nesta linha, conforme leciona Roesler57, os crimes de trânsito mantém-se ainda classificados “[...] como crimes de mera conduta porque basta o comportamento perigoso ou imprudente do agente, sem necessidade de prova de que o risco atingiu determinada pessoa, uma vez que o sujeito passivo é a coletividade”. Diverge este autor do entendimento então mencionado porque, em tese, tal teoria não traz a devida diferenciação entre as infrações administrativas e os delitos, razão pela qual afirma que: “Preferimos a classificação tradicional e entendemos que os chamados crimes de perigo abstrato falecem ante o primeiro filtro de constitucionalidade” 58. Neste viés, restariam, por conseguinte, os crimes de dano e os crimes de perigo concreto. Fazendo uso das lições de Gomes, Roesler59 assinala: No acertado magistério de LUIZ FLÁVIO GOMES os crimes de trânsito devem ser classificados de acordo com a doutrina tradicional, mas são de perigo concreto. Para este autor, os crimes de trânsito dos artigos 304, 306, 308, 309, 310 e 311 "não são de perigo abstrato", isto é, "não basta ao acusador apenas comprovar que o sujeito dirigia embriagado (art. 306) ou sem habilitação (art. 309) ou que participava de ‘racha’ (art. 308), etc." [...] E prossegue: "Doravante exige-se algo mais para a caracterização do perigo pressuposto pelo legislador. Esse algo mais consiste na comprovação de que a conduta do agente (desvalor da ação), concretamente, revelou-se efetivamente perigosa para o bem jurídico protegido". Ao se presumir, prévia e abstratamente, o perigo, resulta que, em última análise, perigo não existe, de modo que acaba por se criminalizar simples atividades, ferindo de morte modernos princípios de direito penal. Por fim, LUIZ FLÁVIO GOMES arremata que "o conceito de perigo é sempre relacional, isto é, o perigo sempre se refere a algo ou a alguém (perigo para o quê? perigo para quem?)" [...]. É justamente por isso que o legislador diferenciou as infrações administrativas dos delitos. Para as primeiras basta o perigo abstrato, enquanto que nos crimes é imprescindível a demonstração de que a conduta seja potencialmente lesiva para a coletividade. Para uma melhor compreensão do assunto, analisar-se-á, então, as espécies de crimes ora referidas e a sua relação com os delitos de trânsito. 2.1.1 Dos crimes de perigo 57 ROESLER, Átila Da Rold. Op. cit. ROESLER, Átila Da Rold.. Idem. 59 ROESLER, Átila Da Rold.. Idem. 58 29 De acordo com os ensinamentos de Mirabete60, os crimes podem ser divididos, quanto ao resultado, em duas espécies, quais sejam, os crimes de dano e os crimes de perigo. Conforme o magistério de Fragoso61, dano “[...] é a alteração de um bem, sua diminuição ou destruição; a restrição ou sacrifício de um interesse jurídico”. Por perigo entende-se, conseqüentemente, “[...] a probabilidade de dano, não a simples possibilidade”. Portanto, sob o aspecto objetivo, [...] constitui o conjunto de circunstâncias que podem fazer surgir o dano; subjetivamente, é integrado pelo juízo do julgador sobre a probabilidade de dano, calcado na experiência daquilo que normalmente acontece em 62 determinadas situações e circunstâncias (id quod plerumque accidit) . Os crimes de perigo, no dizer de Mirabete63, que neste caso em particular faz referência a artigos do Código Penal, consumam-se com [...] o simples perigo criado para o bem jurídico. O perigo pode ser individual, quando expõe ao risco o interesse de uma só ou de um número determinado de pessoas (arts. 130, 132 etc), ou coletivo (comum), quando ficam expostos ao risco os interesses jurídicos de um número indeterminado de pessoas, tais como nos crimes de perigo comum (arts. 250, 251, 254 etc). Às vezes a lei exige o perigo concreto, que deve ser comprovado (arts. 130, 134 etc.); outras vezes refere-se ao perigo abstrato, presumido pela norma que se contenta com a prática do fato e pressupõe ser ele perigoso (arts. 135, 253 etc). Disso decorrem, por conseguinte, como bem destaca Nascimento64, as noções a respeito de crimes de dano e crimes de perigo, sendo que aqueles “[...] só se consumam com a efetiva lesão do bem jurídico”65, ao passo que estes últimos “[...] são os que se consumam tão-só com a probabilidade do dano”, servindo de exemplo o perigo de contágio venéreo (CP, art. 130, caput); rixa (art. 137); incêndio (art. 250), entre outros. 2.1.1.1 Da tentativa nos crimes de perigo 60 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Op. cit., p. 127. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Direção perigosa. Rio de Janeiro: Revista de Direito Penal, 1974, pp. 13-14, apud NASCIMENTO, Walter Vieira do. Op. cit., p. 1. 62 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Idem, ibidem, apud, NASCIMENTO, Walter Vieira do. Op. cit., p. 1. 63 Op. cit., p. 127. 64 NASCIMENTO, Walter Vieira do. A embriaguez e outras questões penais: doutrina, legislação e jurisprudência. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 1. 65 Como exemplos, o homicídio culposo no trânsito (CT, art. 302), lesões corporais culposas no trânsito (art. 303) etc. 61 30 Quanto à tentativa nos crimes de perigo, há duas posições, como bem destaca Nascimento66, ou seja, uma que a admite nos delitos de perigo e outra que, por óbvio, não admite. Discorrendo sobre este ponto, Nascimento67 faz as seguintes considerações: Cremos que a possibilidade de tentativa de crime que tem o perigo como elemento típico não decorre de sua qualificação, segundo a doutrina, como infração de perigo abstrato (indeterminado) ou concreto, já superada, mas da admissibilidade de fracionamento do iter [...]. Assim, o crime de perigo de contágio venéreo (art. 130 do CP), de qualificação abstrata de acordo com a doutrina, admite a tentativa; já o delito de fabrico etc. de explosivos etc. (art. 253), também qualificado como infração de perigo abstrato pelos doutos, não a permite. O delito de perigo de inundação (art. 255 do CP), de qualificação concreta, não admite a forma tentada; já o de desabamento ou desmoronamento (art. 256 do CP), também de perigo concreto, não a permite. De modo que nos crimes descritos no CT que portam o risco de dano como elementar, a admissibilidade da tentativa depende de poder o iter ser fracionado. Além disso, há delitos que, chamados de perigo, pela sua natureza não permitem a figura tentada. É o que ocorre com a omissão de socorro (CT, art. 304), por ser omissivo próprio ou puro. 2.2 ALGUMAS CRÍTICAS AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO Antes de se partir para a análise dos pontos fundamentais deste trabalho, cumpre destacar, por ser importante, que há no meio doutrinário um número expressivo de críticos em relação ao CT, e estes, em grande parte, dirigem sua atenção ao capítulo XIX, que trata dos crimes de trânsito. Neste sentido, cumpre mencionar algumas das observações feitas por Oliveira68, que sem a pretensão de comentar todo o capítulo XIX, faz a opção de, apenas, salientar determinadas incongruências que fundamentam sua crítica, litteris: [...] a) O legislador trata, indiscriminadamente, de medidas penais, processuais, administrativas e até civis, dentro do mesmo capítulo (v.g. arts. 291/294). B) Foi adotada a “multa reparatória” na esfera penal. Tal disposição é no mínimo absurda, pois além de desnaturar a função natural do processo penal, não oferece o mínimo de garantismo (violando inclusive os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa). [...] c) São utilizadas expressões como “dano potencial” ou “perigo de dano” cujo conteúdo é de difícil interpretação, já que não sabemos, com a segurança que a esfera criminal requer, se estamos diante de delitos de perigo abstrato ou concreto. É um adeus à estrita tipicidade (note-se os arts. 306, 309 e 311). d) O legislador não se deu ao trabalho de verificar qual a dimensão da tutela penal (leia-se política criminal) da proteção da 66 Op cit., p. 8. Idem, p. 9. 68 OLIVEIRA, William Terra de. Controvertido natimorto tumultuado, apud PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos de. Op. cit. pp. 509-511. 67 31 incolumidade física exercida pelo Código Penal. De tal sorte, uma lesão corporal dolosa (art. 129, caput do CP) remete o agente a uma pena de detenção de três meses a um ano. Porém, se o agente “praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor” (art. 303 do Código de Trânsito) a pena será de seis meses a dois anos, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Tais exemplos, na visão de Oliveira69, “[...] representam muito bem o perigo de uma reforma penal sem critérios sistemáticos”. Contudo, por não ser objetivo deste trabalho a análise e a crítica do Código de Trânsito em seu conjunto, cumpre que se dê ênfase, tão somente, a alguns de seus aspectos controversos. Assim, partindo-se do pressuposto de que uma abordagem mais aprofundada a respeito dos crimes de trânsito tem como conditio sine qua non a análise específica de alguns aspectos destacados do vocábulo “crime” no contexto do Código Penal, cumpre que sejam focalizados os tópicos a seguir, pois imprescindíveis para a construção do tema proposto. 2.3 DO CONCEITO DE CRIME Plácido e Silva70, investigador dos vocábulos jurídicos, lembra que o termo crime deriva do latim crimen (no sentido de acusação, queixa, agravo, injúria), significando, vulgarmente, “[...] toda ação cometida com dolo, ou infração contrária aos costumes, à moral e à lei, que é igualmente punida, ou que é reprovada pela consciência”. Noutras palavras, ato ou ação “[...] que não se mostra abstração jurídica, mas ação ou omissão pessoal, tecnicamente, diz-se o fato proibido por lei, sob ameaça de uma pena, instituída em benefício da coletividade e segurança social [...]” do próprio Estado71. Não é incomum perceber, inclusive no meio jurídico, uma certa confusão no que diz respeito a determinadas expressões, tais como, “delito”, “infração, “contravenção” e “crime”. 69 Op. cit. Idem. Op. cit., p. 232. 71 PLÁCIDO E SILVA, De. Idem, ibidem. 70 32 Neste sentido, o magistério de Iennaco72, litteris: Muitas são as expressões utilizadas para a designação do fato punível na esfera penal: "infração", "delito", "crime", "contravenção". O termo infração é o mais genérico, indicando a violação do comando legal, abrangendo o crime (ou delito) e a contravenção. Entre nós, não há razão para distinção entre delito e crime, tomados como expressões sinônimas, reservando-se o termo contravenção para infrações de menor gravidade, previstas em lei especial, de acordo com o critério legislativo de valoração, em dado momento histórico, como suficiente para a prevenção social. Com efeito, é de se ver que são variadíssimas as conceituações e classificações doutrinárias existentes quando o assunto é “crime”. Não há dúvidas de que inúmeras foram as teorias construídas pelos estudiosos do direito penal no decorrer dos tempos, não sendo a intenção deste trabalho, todavia, tratar de todas elas, por óbvio. Importa dizer, isto sim, que em “[...] conseqüência do caráter dogmático do Direito Penal, o conceito de crime é essencialmente jurídico. Entretanto, ao contrário das leis antigas, o Código Penal vigente não contém uma definição de crime [...]”, sendo tal mister deixado a cargo da doutrina73. Contudo, é interessante que certos aspectos sejam aqui observados, mesmo em apertada síntese, sendo que o primeiro deles, neste prisma, diz respeito ao conceito de crime. Neste contexto, para Mirabete74, de quem se tomará a sistematização, o crime pode ser elaborado com base no sistema formal, material e analítico, ao passo que, na visão de Damásio75, deve ser conceituado com base em quatro sistemas, quais sejam, o formal, o material, o formal e material e o formal, material e sintomático. 2.3.1 Conceito formal de crime Conforme leciona Damásio76, o conceito formal de crime leva em consideração o “[...] aspecto da técnica jurídica, do ponto de vista da lei”. Assim, 72 IENNACO, Rodrigo. Breve análise sobre o conceito analítico de crime. Revista de Direito Penal e ciências afins. nº 28. Disponível em: <http://www.direitopenal.adv.br/artigos.asp?pagina=28&id=848>. Acesso em 11 mai. 2004. 73 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 1991, p. 91. 74 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Op. cit., idem. 75 JESUS, Damásio Evangelista de. Comentários ao Código Penal. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 176. 76 JESUS, Damásio Evangelista de. Idem, ibidem. 33 será considerado crime a conduta enquadrada na lei como tal, ou seja, conduta humana caracterizada pela ação ou omissão voltada a contrariar a lei penal. Sobre tal conceito, Mirabete faz as seguintes considerações: Sob o aspecto formal, podem-se citar os seguintes conceitos de crime: “Crime é o fato humano contrário à lei (Carmignani). “Crime é qualquer ação legalmente punível”. “Crime é toda ação ou omissão proibida pela lei sob ameaça de pena”. “Crime é uma conduta (ação ou omissão) contrária ao Direito, a que a lei atribui uma pena”. Essas definições, entretanto, alcançam apenas um dos aspectos do fenômeno criminal, o mais aparente, que é a contradição do fato a uma norma de direito, ou seja, a sua ilegalidade como fato contrário à norma penal. Não penetram, contudo, em sua essência, em seu conteúdo, em sua “matéria”. Importante, neste viés, a contribuição de Lima77, ao lembrar que: Uma concepção formalista e objetiva conceitua crime como o conjunto de pressupostos que enseja a aplicação da lei penal (tem como referência a lei). Assim, delito seria toda conduta humana reprimida pelo Direito, acarretando a aplicação de uma penalidade. A definição formal não é suficiente, porque não esgota o assunto nem atinge a essência do delito. Destarte, é preciso ver que nem toda conduta típica acarreta uma aplicação sancionatória, pois, [...] é preciso que seja contrário ao direito, antijurídico. O legislador, tendo em vista o complexo das atividades do homem em sociedade e o entrechoque de interesses, às vezes permite determinadas condutas que, em regra, são proibidas. Assim, não obstante enquadradas em normas penais incriminadoras, tornando-se fatos típicos, não ensejam a aplicação 78 da sanção . Como exemplo clássico tem-se, neste sentido, a legítima defesa, hipótese configuradora de excludente da antijuridicidade. 2.3.2 Conceito material de crime Ao tratar dos conceitos materiais, Mirabete79 afirma que os mesmos enfocam, tão somente, os caracteres externos do crime, razão pela qual [...] é necessário indagar a razão que levou o legislador a prever a punição dos autores de certos fatos e não de outros, como também conhecer o critério utilizado para distinguir os ilícitos penais de outras condutas lesivas, obtendo-se assim um conceito material ou substancial do crime. 77 LIMA, Marília Almeida Rodrigues. A exclusão da tipicidade penal: princípios da adequação social e da insignificância. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=949>. Acesso em: 12 mai. 2004. 78 JESUS, Damásio Evangelista de. Op. cit. p. 178. 79 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Op. cit., p. 92. 34 Segundo Damásio80, o conceito material de crime apresenta uma indiscutível e destacada “[...] relevância jurídica, uma vez que coloca em destaque o seu conteúdo teleológico, a razão determinante de constituir uma conduta humana infração penal e sujeita a uma sanção”. Mirabete, neste viés, apresenta a seguinte solução: A melhor orientação para a obtenção de um conceito material de crime, como afirma Noronha, é aquela que tem em vista o bem protegido pela lei penal. Tem o Estado a finalidade de obter o bem coletivo, mantendo a ordem, a harmonia e o equilíbrio social, qualquer que seja a finalidade do Estado (bem comum, bem do proletariado etc) ou seu regime político (democracia, autoritarismo, socialismo etc). Tem o Estado que velar pela paz interna, pela segurança e estabilidade coletivas diante dos conflitos inevitáveis entre os interesses dos indivíduos e entre os destes e os do poder constituído. Para isso, prossegue Mirabete81, [...] é necessário valorar os bens ou interesses individuais ou coletivos, protegendo-se, através da lei penal, aqueles que mais são atingidos quando da transgressão do ordenamento jurídico. Essa proteção é efetuada através do estabelecimento e da aplicação da pena, passando esses bens a ser juridicamente protegidos pela lei penal. Chega-se, assim, a conceitos materiais ou substanciais de crime. Em que pese tais argumentos, há que se destacar que a doutrina jurídica não logrou êxito em construir, ainda, um conceito material de crime que se mostrasse inabalável, ou seja, tão bem delineado a ponto de não comportar quaisquer ataques82. 2.3.3 Conceito analítico de crime Viu-se, até aqui, que no contexto doutrinário o crime recebe tanto um conceito formal, onde o crime é toda ação ou omissão humana proibida por lei sob ameaça de pena, como material, em que crime é a ação ou omissão humana que, a juízo do Estado, ofende determinados bens jurídicos socialmente relevantes, sendo, portanto, merecedora de pena. No conceito analítico, o crime é toda ação típica, antijurídica e culpável, sendo de se observar que a “[...] punibilidade, mesmo considerada como a ‘possibilidade de aplicar-se a pena, não é, porém, elemento do crime”83. 80 JESUS, Damásio Evangelista de. Op. cit. p. 177. MIRABETE, Júlio Fabbrini. Op. cit., p. 92. 82 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Idem, ibidem. 83 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Op. cit., p. 93. 81 35 Afinal, conforme assevera Hungria84, “[...] um fato pode ser típico, antijurídico, culpado e ameaçado de pena, isto é, criminoso, e, no entanto, anormalmente deixar de acarretar a efetiva imposição de pena”. Neste sentido, a referida exclusão “[...] ocorre nos casos de não-aplicação da pena por causas pessoais de isenção (art. 181, I e II, art. 348, § 2º etc) ou pela extinção da punibilidade (art. 107). Nesses casos, o crime persiste, inexistindo apenas a punibilidade”85. Vale dizer, de qualquer forma, que os conceitos material e formal são insuficientes quanto ao objetivo de se realizar uma análise efetiva dos elementos que estruturam o conceito de crime, razão pela qual, então, se necessita de um conceito analítico, exatamente como preconiza Bitencourt86. Nesta esteira, o magistério do multicitado Mirabete87, litteris: Por essas razões, passou-se a conceituar o crime como a “ação típica, antijurídica e culpável”. Essa definição vem consignada tanto pelos autores que seguem a teoria causalista (naturalista, clássica, tradicional), como pelos adeptos da teoria finalista da ação (ou da ação finalista). Entretanto, a palavra culpabilidade, como se verá, para os primeiros consiste num vínculo subjetivo que liga a ação ao resultado, ou seja, no dolo (querer o resultado ou assumir o risco de produzi-lo) ou na culpa em sentido estrito (dar causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia). Verificando-se a existência de um fato típico (composto de ação, resultado, nexo causal e tipicidade) e antijurídico, examinar-se-á o elemento subjetivo (dolo ou culpa em sentido estrito) e, assim, a culpabilidade. Todavia, com a teoria finalista da ação, cuja enunciação coube a Hans Welzel, começou-se a conceber que a ação (também denominada “conduta”) consiste numa atividade que sempre traz consigo a idéia de finalidade, mesmo porque, ao se admitir que o delito é sempre uma conduta humana voluntária, resta evidente que tem ela, por conseguinte, uma finalidade que lhe é própria88. Assim, “[...] no conceito analítico de crime, a conduta abrange o dolo (querer ou assumir o risco de produzir o resultado) e a culpa em sentido estrito. Se a conduta é um dos componentes do fato típico, deve-se definir o crime como ‘fato típico e antijurídico’”89. 84 HUNGRIA, Nelson, FRAGOSO. Heleno Cláudio. Comentários ao código penal. 5. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1978, p. 26, apud MIRABETE, Júlio Fabbrini. Op. cit., p. 93. 85 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Op. cit., p. 93. 86 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 8. ed. São Paulo: Saraiva, pág. 144. 87 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Idem, ibidem. 88 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Op. cit., p. 93. 89 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1983, p. 410, apud MIRABETE, Júlio Fabbrini. Op. cit., p. 93. 36 Ainda, segundo Mirabete90: O crime existe em si mesmo, por ser um fato típico e antijurídico, e a culpabilidade não contém o dolo ou a culpa em sentido estrito, mas significa apenas a reprovabilidade ou censurabilidade da conduta. O agente só será responsabilizado por ele se for culpado, ou seja, se houver culpabilidade. Logo, é plenamente possível que exista crime sem culpabilidade,ou em outras palavras, “[...] censurabilidade ou reprovabilidade da conduta, não existindo a condição indispensável à imposição de pena. Injusto ou antijurídico é, pois, a desaprovação do ato; culpabilidade, a atribuição de tal ato ao seu autor”91. 2.4 QUALIFICAÇÃO TÍPICA DOS DELITOS DE TRÂNSITO De acordo com o magistério de Nascimento92, os crimes definidos nos arts. 302 a 312 do Código de Trânsito podem ser classificados da seguinte forma: a) crimes materiais, como o homicídio culposo e a lesão corporal culposa (arts. 302 e 303); b) crimes formais, como a fuga do local do acidente e fraude processual (arts. 305 e 312); e c) crimes de mera conduta e de lesão, como a direção sem habilitação, embriaguez ao volante , velocidade incompatível em determinados locais, “racha” (ou “pega”), omissão de socorro, entrega de direção de veículo a pessoa inabilitada, doente etc., e desobediência a decisão sobre suspensão ou proibição de habilitação (arts. 306, 304, 308, 310 e 307). Na mesma esteira, Nascimento93 assinala que, para efeitos didáticos, os delitos de trânsito podem ser classificados em: a) crimes de trânsito próprios e crimes de trânsito impróprios. Neste sentido, Nascimento 94 ensina que: Delitos próprios de trânsito são aqueles que só podem ser cometidos na circulação de veículos: “racha”, embriaguez ao volante, direção sem habilitação, velocidade incompatível em locais determinados e entrega da direção de veículo a certas pessoas. Os outros são impróprios delitos de 90 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Idem, ibidem. CONDE, Francisco Muñoz. Teoria geral do delito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, p. 3. 92 Idem, p. 17. 93 Op. Cit., p. 17. 94 Idem, ibidem. 91 37 trânsito, uma vez que também podem ser praticados fora da circulação de veículos. Ex.: homicídio culposo. Ainda com uma finalidade didática, Nascimento95 denomina o “racha” e a embriaguez ao volante, como “[...] crimes de alto poder ofensivo”. Assim, os crimes de trânsito caracterizados, pela direção sem habilitação, velocidade incompatível, embriaguez ao volante, “racha” (ou “pega”), omissão de socorro e entrega de direção de veículo a pessoa inabilitada, doente, entre outros, “[...] são classificados pela doutrina como ‘infrações de perigo’”96. 2.5 NATUREZA JURÍDICA DOS DELITOS DE TRÂNSITO: CRIMES DE LESÃO E DE MERA CONDUTA Ao analisar a natureza jurídica dos delitos de trânsito, Nascimento97 leva em consideração, especialmente, quatro de suas espécies, a saber, a embriaguez ao volante, o “racha” (como crimes de alto poder ofensivo), a direção sem habilitação e o emprego de velocidade incompatível. E o faz dessa forma porque, segundo afirma, trata-se de delitos que apresentam as definições típicas que causam as maiores dúvidas de interpretação, principalmente no sentido de se definir se são eles delitos de lesão, mera conduta, de perigo concreto ou abstrato. Ao tratar deste ponto, Nascimento98 assinala o seguinte: Parte da doutrina certamente inclinar-se-á pela consideração dos delitos próprios de trânsito, especialmente a embriaguez ao volante, o “racha”, a direção sem habilitação e a velocidade incompatível em determinados locais (arts. 306, 308, 309 e 311 do CT), como infrações de perigo abstrato ou concreto. Entendemos, entretanto, que não são delitos de perigo nem abstrato nem concreto. São crimes de lesão e de mera conduta (de simples atividade). Logo, tendo em vista o resultado jurídico, trata-se de delitos de lesão, ao passo que quando se tem em vista o resultado naturalístico, são crimes de simples atividade ou de mera conduta. Válidos, neste contexto, os dizeres deste multicitado autor, litteris: Como ficou consignado, nos delitos de perigo abstrato, este é presumido pelo legislador, não permitindo prova contrária. Isso não está de acordo com o moderno Direito Penal, que se fundamenta na culpabilidade. No Brasil, a reforma penal de 1984 consagrou a culpabilidade como base da 95 Idem, ibidem. NASCIMENTO, Walter Vieira do. Op. cit., p. 18. 97 Idem, ibidem. 98 Op. cit., p. 18. 96 38 responsabilidade penal, princípio incompatível com presunções legais. Além disso, a Constituição Federal de 1988 instituiu o princípio do estado de inocência, que também não se harmoniza com a presunção legal do perigo. A presunção do perigo também não se coaduna com as regras constitucionais da lesividade, da reserva legal, da tipicidade, da 99 responsabilidade pessoal, do contraditório, da amplitude da defesa etc. Sob outro prisma, não há necessidade de se conceituar os delitos de trânsito com infrações de perigo concreto, “[...] uma vez que em alguns deles a potencialidade do dano está ínsita na conduta, prescindindo da averiguação de um plus da mesma natureza”100. Com efeito, [...] os delitos de trânsito próprios, como, v.g., o “racha” e a embriaguez ao volante, são infrações de lesão (de dano ao objeto jurídico) e de simples atividade (de mera conduta). [...] Neles, o bem jurídico é lesado e não simplesmente posto em perigo. [...] A CF, no art. 5º, caput, tutela os direitos do cidadão à segurança, que se estende à do trânsito. O CT, após determinar, no art.1º, § 2º, que o trânsito, em condições seguras, é direito de todos, no art. 28 exige que o motorista dirija de modo a resguardar o nível de segurança dos usuários das vias de uso público: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. Portanto, “[...] há interesse coletivo de que as relações de trânsito se desenvolvam dentro de um nível de segurança”. E assim, sempre que o motorista “[...] dirige foro do círculo de risco tolerado, rebaixa esse nível, podendo responder por infração administrativa ou, apresentando a conduta potencialidade lesiva, por crime (sem prejuízo da sanção administrativa)” 101. Neste contexto, Nascimento102 ensina que há três planos legais superpostos, quais sejam, A, B e C: A – risco tolerado: o tráfego de veículos, ainda que de acordo com as regras regulamentares, contém um coeficiente de risco de dano à vida e à incolumidade física das pessoas. Esse risco é tolerado, lícito. [...] De modo que não há infração administrativa ou crime quando o motorista dirige conforme o direito, ainda que sua conduta apresente o risco normal do uso do veículo motorizado. Assim, há tolerância legal para com o comportamento que se situa, no plano vertical, acima do nível A. B – infração administrativa: quando a conduta do motorista situa-se entre os níveis A e B, ultrapassando o limite tolerável (A) pelo desrespeito a uma norma de trânsito e sem que o fato se enquadre em tipo penal incriminador, há somente infração administrativa. Ex.: dirigir veículo automotor sem habilitação legal e de maneira cuidadosa (art. 162, I, do CT). C – crime: quando o comportamento do motorista situa-se do limite B para baixo, há lesão ao interesse público “segurança do trânsito”, praticando delito (desde que o fato se enquadre em norma penal incriminadora). Ele 99 Idem, ibidem. NASCIMENTO, Walter Vieira do. Op. cit., p. 19. 101 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Op. cit., p. 19. 102 Idem, ibidem. 100 39 rebaixa o nível de segurança do tráfego de veículos automotores que é tutelado pela ordem jurídica, expondo, nos delitos próprios de trânsito, a incolumidade pública a perigo de dano. Logo, é de se ver que a segurança do trânsito não resulta da somatória de todas as “[...] garantias físicas individuais dos membros que compõem a coletividade. A locução se refere ao nível de segurança pública no que tange ao trânsito de veículos automotores”103. Assim, nos delitos de trânsito, ao situar a sua conduta abaixo do referido plano B, o condutor vem a lesionar a chamada objetividade jurídica, sendo que, com o mero comportamento, ao reduzir o patamar de segurança, “[...] já pratica o delito, pois lesiona o interesse público de que não seja rebaixado”104. Concluindo e sintetizando, pode-se afirmar que os delitos de trânsito não são de perigo abstrato (presumido) porque tais espécies [...] já não existem em nosso ordenamento jurídico, fulminados pela reforma penal de 1984 e pela CF de 1988. Se entendermos que são delitos de perigo presumido (abstrato), estaremos reconhecendo grave ofensa aos princípios constitucionais do estado de inocência, da lesividade, da isonomia entre acusados, da igualdade de armas etc., e, no campo penal, admitindo sério prejuízo aos dogmas da tipicidade e da culpabilidade, proibindo a invocação do erro de tipo e de proibição, da ausência de dolo, da irresponsabilidade criminal por resultado não provocado, da 105 inadequação entre o fato material e os elementos do tipo etc. Tais delitos também não constituem crimes de perigo concreto pois há a exigência de prova de que [...] o interesse jurídico de certa e determinada pessoa, seja outro condutor, seja passageiro, transeunte ou simples indivíduo presente no local do fato, esteve exposto a sério, efetivo e real risco de dano em conseqüência da conduta do motorista. A entender que são infrações de perigo concreto e que este constitui o resultado naturalístico do tipo, transformando-as em crimes materiais, ficará difícil explicar o dolo direto. Esta é a vontade de produzir o resultado (CP, art. 18, I, 1ª parte). Nos crimes de perigo o dolo é de perigo. Corresponderia, então, à vontade firme e decidida de expor o objeto a perigo de dano. [...] Ora, essa é uma doutrina surrealista. Nunca se viu no banco dos réus, a não ser que sofra das faculdades mentais ou seja terrorista, alguém que, na direção de veículo automotor, o estivesse 106 conduzindo com vontade de expor a coletividade a perigo de dano. De fato, o perigo, no contexto dos delitos de trânsito caracterizados pela lesão, por configurar elemento objetivo do tipo, “[...] corresponde ao risco de dano 103 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Op. cit., p. 20. NASCIMENTO, Walter Vieira do. Op. cit., p. 21. 105 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Idem, ibidem. 106 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Op. cit., p. 21. 104 40 que a conduta do motorista genérica e abstratamente causa aos membros da coletividade como um todo [...]”107. Trata-se de simples perigo (risco de dano), inexistindo a qualificação do aspecto abstrato ou concreto, mesmo porque, se não mais se admite a existência de delitos de perigo abstrato, “[...] perdeu sentido a adjetivação de ‘concreto’108. Portanto, não se exige “[...] que o fato ofenda bens jurídicos individuais, já que a objetividade jurídica pertence à coletividade”, razão pela qual se conclui que os delitos de trânsito, com raras exceções, como as que se referem ao homicídio culposo e à lesão corporal culposa, “[...] são crimes de mera conduta (ou de simples atividade)” 109. 2.6 O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM FACE DE OUTROS DIPLOMAS LEGAIS Muito se fala sobre a forte tendência do legislador nacional em inflacionar o conjunto de leis existentes no país, criando, inclusive, tipos penais que se avolumam numa proporção quase que idêntica à do aumento da criminalidade. Críticas à parte, é de se ver que em relação ao CTB, isso não foi, ou não tem sido, diferente. Neste sentido, o art. 291, da Lei nº 9.503/97, in verbis: Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos no CTB, aplicam-se as normas gerais do CP e do CPP, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei n° 9.099/95, no que couber. Este dispositivo, é bom que se diga, mostra-se um tanto quanto desnecessário pois, de acordo com o art. 12, do Código Penal, toda a legislação especial correlata deve ser aplicada, em face deste, de maneira subsidiária, não sendo outro o entendimento de Bastos110, que a este respeito assim se manifesta: Não era necessário dizer que o Código Penal se aplica subsidiariamente ao Código de Trânsito, porque o próprio Código Penal já se manda assim aplicar à toda a legislação especial, consoante seu art. 12. Desnecessária, também, a ressalva da não aplicação em caso de disposição diversa, a 107 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Op. cit., p. 27. NASCIMENTO, Walter Vieira do. Idem, ibidem. 109 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Op. cit., p. 21. 110 BASTOS, Marcelo Lessa. Código de trânsito brasileiro: aspectos penais e processuais penais. Disponível em: <http://www.fdc.br/artigos/ctb.htm#2.%20APLICAÇÃO%20SUBSIDIÁRIA%20DO%20 CÓDIGO%20PENAL,%20DO%20CÓDIGO%20DE%20PROCESSO%20PENAL%20E%20DA%20LEI %20DE%20JUIZADOS%20ESPECIAIS%20CRIMINAIS%20(art.%20291)>. Acesso em: 12 de mai. 2004. 108 41 uma porque o próprio Código Penal já o faz, a duas porque isto é decorrência lógica do processo interpretativo consoante o princípio da especialidade. O mesmo se diga em relação à aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, porquanto é assente que o mesmo se dá, sempre que as leis especiais não contiverem disposições de natureza processual diversas das contidas naquele Diploma. Do ponto de vista conceitual, uma norma penal incriminadora mostra-se especial em relação a outra, geral, quando reúne em sua definição legal todos os elementos típicos desta, e mais alguns, de natureza objetiva ou subjetiva, que por sua vez são denominados especializantes e neste sentido, apresentam, assim, um minus ou um plus de severidade111. Logo, é de se ter em conta que a Lei nº 9.503/97 é de natureza especial, sendo de se aplicar a ela o princípio da especialidade, sendo de se destacar, neste viés, a lição de Damásio112, verbis: Diz-se que uma norma penal incriminadora é especial em relação a outra, geral, quando possui em sua definição legal todos os elementos típicos desta, e mais alguns, de natureza objetiva ou subjetiva, denominados especializantes, apresentando, por isso, um minus ou um plus de severidade. A norma especial, ou seja, a que acresce elemento próprio à descrição legal do crime previsto na geral, prefere a esta: "lex specialis derogat generali; sem per specialia generalibus insunt; generi per speciem derogantur". Afasta-se, desta forma, o bis in idem, pois o comportamento do sujeito só é enquadrado na norma incriminadora especial, embora também descrito pela geral. Nestes casos, há um typus specialis, contendo um "crime específico", e um typus generalis, descrevendo um "crime genérico". Aquele prefere a este. As duas disposições (especial e geral) podem estar contidas na mesma lei ou em leis distintas; podem ter sido postas em vigor ao mesmo tempo ou em ocasiões diversas. E preciso, porém, na relação de generalidade e especialidade entre normas, que sejam contemporâneas, o que pode deixar de ocorrer na consunção. Além disso, o princípio da especialidade possui uma característica que o distingue dos demais: a prevalência da norma especial sobre a geral se estabelece in abstracto, pela comparação das definições abstratas contidas nas normas, enquanto os outros exigem um confronto em concreto das leis que descrevem o mesmo fato. Neste prisma, conclui-se, com base no princípio da especialidade, que o condutor/infrator do trânsito será enquadrado no Código de Trânsito, sob o aspecto criminal, mesmo se outra norma, de caráter genérico, como, por exemplo, o Código Penal e o Código de Processo Penal, estabelecerem de forma diversa. Cumpre assinalar, entretanto, “[...] que nem todos os delitos de trânsito são praticados na ‘direção’ de veículo automotor, como é o caso da omissão de socorro (art. 304, CT)”113. 111 JESUS, Damásio E., "Direito Penal", Vol. I, Saraiva, 14.ª ed., 1990, p. 94 Idem, ibidem. 113 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Op. cit., p. 36. 112 42 Tal entendimento é de fácil percepção, observando-se uma maior dificuldade, contudo, quando se está diante de um conflito entre duas leis de caráter especial, como seria o caso, então, do próprio Código de Trânsito em relação à Lei n1º 9.099/95, analisada a seguir. 2.6.1 O código de trânsito e a lei dos juizados especiais criminais De acordo com o que estabelece o art. 98, I, da Constituição da República, a competência ordinária para o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo é dos juizados especiais, que por sua vez foram instituídos e regulados com o advento da Lei nº 9.099/95. Neste sentido, o art.61 desta Lei : Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial. Já foi assinalado que o art. 291 do Código de Trânsito determina a aplicação subsidiária das normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, quando dos crimes cometidos na direção de veículo automotor, bem como da Lei nº 9.099/95. Entretanto, vale ressaltar que a parte final do referido artigo utiliza a expressão “no que couber”, o que significa uma ressalva que tem a finalidade de, justamente, “[...] excluir da aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/95 os crimes de trânsito com pena superior a um ano, pois, sem ela, a lei seria cabível para absolutamente todos os delitos previstos no Código de Trânsito”114. Neste contexto, [...] a Lei dos Juizados terá incidência somente sobre os crimes de menor potencial ofensivo, quais sejam, aqueles cuja pena máxima não exceder a um ano. É o caso dos crimes previstos nos arts. 304, 305, 307 e parágrafo, 115 309, 310, 311 e 312 da Lei nº 9.503/97 . Para esses delitos é cabível a aplicação de todos os dispositivos da Lei nº 9.099/95. 114 CAPEZ, Fernando. Aspectos criminais do Código de Trânsito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 2. 115 Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. 43 Importante assinalar, por conseguinte, que o parágrafo único do já mencionado art. 291 do Código de Trânsito determina que aos crimes de lesão culposa na direção de veículo automotor (art. 303), embriaguez ao volante (art. 306) e participação em competição não autorizada (art. 308), que possuem pena máxima superior a um ano, devem ser aplicados os institutos da composição de danos civis (art. 74), transação penal (art. 76) e representação como condição de procedibilidade (art. 88) da Lei dos Juizados Especiais. De acordo com Capez116, ao tomar essa atitude, [...] o legislador não transformou esses crimes em infrações de menor potencial ofensivo, pois se quisesse fazê-lo teria dito expressamente: “Aplicam-se os institutos da Lei nº 9.099/95 aos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor...”. Ora, ao possibilitar a aplicação de apenas três institutos da lei, o legislador foi de uma clareza impressionante, não deixando margem a interpretações em sentido contrário, ou seja, para tais crimes estão vedados, por exemplo, a adoção do rito sumaríssimo e o julgamento dos recursos por turmas recursais compostas por juízes de primeira instância. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. [...] Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código: Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1º do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação. [...] Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. Art. 312. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere. 116 CAPEZ, Fernando. Op. cit. p. 2. 44 Neste prisma, é possível a aplicação da prisão em flagrante, quando dos referidos crimes, excetuando-se a hipótese em que a vítima é socorrida imediatamente, sendo que “[...] a fase policial deve ser realizada por meio de inquérito e não de simples termo circunstanciado (medida salutar, visto que os termos circunstanciados sobre lesões culposas nada esclareciam)”117. A seguir, realiza-se audiência preliminar, no juízo comum, quando, então, “[...] será tentada inicialmente a composição de danos civis, que, caso efetivada e homologada, implicará a extinção da punibilidade do agente. Não obtido êxito nessa composição civil, a vítima poderá oferecer a representação”118. Nascimento119, por sua vez, lembra que há afirmações, no meio doutrinário, no sentido de que diante do parágrafo único do art. 291 do CT, os crimes de embriaguez ao volante e “racha” “[...] são de ação penal pública condicionada à representação, uma vez que esse dispositivo determina a aplicação a eles do art. 88 da Lei nº 9.099/95”. Todavia, como bem coloca este autor120, tal interpretação “[...] conduziria a uma situação de inconveniência, exigindo-se, no crime de ‘competição não autorizada’ (art. 308), representação do ofendido”. Por conseguinte, tratando-se de [...] crime contra a incolumidade pública, dificilmente haveria processo, tendo em vista a incrível necessidade de representação de um dos assistentes do “racha” ou transeunte, passageiro, etc., expostos a perigo de dano. E no crime de embriaguez ao volante (art. 306), também contra a incolumidade pública, tendo a coletividade como sujeito passivo, quem iria 121 exercer o direito de representação? Capez122, neste sentido, assinala que às duas primeiras fases da audiência preliminar, serão de se aplicar, tão somente, ao crime de lesões culposas. Assim, no que concerne à embriaguez ao volante e participação em competição não autorizada, [...] sendo delitos que atingem a incolumidade pública, “não podem ser aplicados os institutos, porque não existe dano real a ser reparado e porque inexiste vítima concreta ou, de qualquer modo, existindo, dela não se pode exigir qualquer manifestação de vontade no sentido de autorizar a ação penal, uma vez que o bem jurídico é público – segurança viária – e 117 CAPEZ, Fernando. Op. cit. p. 3. CAPEZ, Fernando. Idem, ibidem. 119 Op. Cit., p. 39. 120 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Op. cit., p. 40. 121 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Op. cit., p. 40. 122 CAPEZ, Fernando. Op. cit. p. 3. 118 45 não se apresenta disponível. Nesses crimes, portanto, a ação é 123 incondicionada . Na seqüência, para aqueles três crimes deve-se tentar a transação penal, com a finalidade de se aplicar, imediatamente, a pena de multa ou restritiva de direitos, sendo que, entretanto, [...] tal dispositivo fere o art. 98, I, da Constituição Federal, que somente permite o rito sumaríssimo, a transação e o julgamento por turmas recursais para as infrações de menor potencial ofensivo, mas, definitivamente, esses delitos não o são. Há, entretanto, quem sustente que a Constituição, ao permitir a transação para os crimes de menor potencial, não vedou sua aplicação a outros delitos mais graves. Veja-se, apenas, que tal entendimento abre grave precedente, de forma a tornar difícil de se sustentar que a transação não seria cabível também em crimes com pena no mesmo patamar (porte de entorpecentes, desacato, 124 resistência, etc.) . Com efeito, para Nascimento125 não parece razoável o entendimento [...] de que em face da lei nova, nos casos de embriaguez ao volante (art. 306) e ‘racha’ (art. 308 do CT) é aplicável o instituto da transação penal (art. 76 da Lei dos Juizados Especiais Criminais), sob o fundamento de que o art. 291, parágrafo único, faz referência a esses dispositivos, estendendo o rol dos crimes de menor potencial ofensivo (posição ampliativa ou extensiva). [...] Entendemos que a Lei dos Juizados Especiais Criminais realmente é aplicável aos delitos de trânsito, mas ‘no que couber’ (posição restritiva). E o art. 61 da lei especial dos Juizados só admite aquelas medidas quando a pena máxima não é superior a um ano. Não é o caso daqueles crimes. De qualquer forma, cumpre lembrar que, no contexto da Lei nº 9.099/95, terminada a audiência preliminar, remeter-se-á os autos ao Ministério Público para análise, sendo vedada a denúncia oral, e, após oferecida a denúncia escrita, que no caso poderá ser acompanhada de proposta de suspensão condicional do processo, observar-se-á o procedimento sumário, nos termos do que estabelece os arts. 538 e ss, do Código de Processo Penal, sendo os eventuais recursos julgados pelo Tribunal de Alçada Criminal126. E, por fim, há que se destacar que nas hipóteses do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, por se tratar da aplicação de uma pena de detenção que varia de dois a quatro anos, “[...] deve também ser seguido o rito 123 CAPEZ, Fernando. Idem, ibidem. CAPEZ, Fernando. Idem, ibidem. 125 Op. cit., p. 41. 124 126 CAPEZ, Fernando. Op. cit. p. 4. 46 sumário, vedadas, entretanto, a realização de audiência preliminar e a proposta de suspensão condicional do processo”127. Feitas tais observações, cumpre que se passe, a seguir, para o foco central deste trabalho, qual seja, sobre o crime de embriaguez ao volante. 3 DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE 3.1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS Uma vez destacadas algumas das principais características do Código de Trânsito Brasileiro, cumpre que sejam enfocadas as peculiaridades essenciais do tema central deste trabalho, qual seja, à que se refere ao crime de embriaguez ao volante, cuja tipificação está contida no art. 306 do referido diploma legal. Antes contudo, é indispensável destacar a lição trazida à lume por Pinheiro128, que de maneira apropriada lembra o que segue: 127 CAPEZ, Fernando. Idem, ibidem. 128 PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos. RIBEIRO, Dorival. Op. cit., p. 320. 47 Ao tratar das penalidades, no Capítulo XVI, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece, no art. 256, § 1º, que “A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei”. Vale dizer, a infração administrativa é independente da penal, mas as penas podem coexistir. Assim, no que concerne à infração administrativa contida no art. 165 do CT, qual seja, a de dirigir “[...] sob a influência de álcool, em nível superior a seis decigramas por litro de sangue, ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica [...]”, há que se destacar que há clara diferença em relação à infração penal de trânsito, cujo art. 306 assim dispõe: Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Neste sentido, Pinheiro129 ressalta que [...] no art. 165 o legislador se referiu a “dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a seis decigramas por litro de sangue (...)”, sem esclarecer qual o mecanismo que seria dirigido. Devemos entender que a direção é de veículo, por força da menção em outros artigos do Código. Como não há referência a veículo automotor, é de se admitir que a infração será praticada com a direção de qualquer veículo, daqueles classificados no art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro. Já no art. 306 o legislador tipificou como crime aquele cuja prática ocorra na direção de veículo automotor, excluindo, portanto, os demais veículos. Por esta razão, Pinheiro130 entende que “[...] podem ser aplicados o art. 62 ou o art. 34, da Lei das Contravenções Penais para os casos de embriaguez na direção de veículo que não seja automotor”131. Com efeito, a “[...] construção tipológica do crime de trânsito está baseada em dois critérios, ou seja, quando o condutor está sob a influência de álcool ou de substâncias de efeitos análogos [...]”132, bem como expondo a dano potencial a incolumidade de outrem, nos termos do que prevê o art. 306 do CT. Para Damásio133, a expressão outrem [...] está empregada no sentido de pessoa indeterminada, como ocorre em quase todos os crimes contra a incolumidade pública (arts. 250 e ss. do CP). (...) A conduta típica consiste em conduzir veículo sob a influência de 129 PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos; RIBEIRO, Dorival. Op. cit., idem. PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos; RIBEIRO, Dorival. Op. cit., p. 320. 131 Vide, neste sentido, as considerações feitas à página 19, sobre o conceito de veículo automotor. 132 PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos; RIBEIRO, Dorival. Op. cit., p. 321. 133 JESUS, Damásio Evangelista de. Crimes de trânsito. São Paulo: Saraiva: 1998, p. 147, apud PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos. Código de trânsito brasileiro interpretado. p. 321. 130 48 substância inebriante, de forma anormal, expondo assim a segurança alheia a indeterminado perigo de dano (perigo coletivo). Para o referido doutrinador, “[...] não há limite legal, de modo que existe delito na hipótese, p. ex., de o sujeito dirigir, irregularmente, sob a influência de 4 decigramas de substância etílica por litro de sangue”134. Diante disso, Pinheiro135 assinala que: O texto do art. 306 realmente possibilita a controvérsia, pois referindo-se à influência de álcool permite o entendimento de que o fato típico exige apenas a demonstração de que o condutor está sob os efeitos da bebida alcoólica [...]. A leitura da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito, de n. 81/98, nos arts. 3º e 4º pode induzir a interpretação de que o CONTRAN desejou equiparar o tipo do art. 306 ao tipo do art. 165, ou seja, só ocorrerá a infração quando o nível alcoólico for superior a seis gramas por litro de sangue ou se houver prova de atuação de qualquer substância entorpecente. Utilizando-se, tão somente, o processo sistemático de interpretação, chegase à conclusão “[...] de que a aplicação do art. 306 só é válida quando presente o tipo administrativo do art. 165”136. Todavia, de acordo com Pinheiro137, [...] não há como aceitar que os arts. 165 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro são tipos iguais. No primeiro caso, de força administrativa, ficou estabelecido que a influência de álcool deve ser em nível superior a seis decigramas por litro de sangue. Já para o crime de trânsito basta que a condução seja sob a influência de álcool, mas expondo a dano potencial a incolumidade de outrem. Vale destacar, de qualquer forma, neste ponto, que a conduta caracterizada pela condução de veículo sob o efeito de substâncias alcoólicas encerra, segundo dizer de Calón138, um “[...] grave perigo para a segurança coletiva, tanto que, em alguns países, os tribunais costumam negar o benefício da suspensão condicional da pena, ainda que se trate de delinqüente primário”. Por esta razão, cumpre assinalar os pontos a seguir. 3.2 CONCURSO DE NORMAS INCRIMINADORAS: O ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO EM RELAÇÃO AO ARTIGO 34 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS 134 Op. cit., p. 152, apud PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos; RIBEIRO, Dorival. Op. cit., p. 322. Idem, ibidem. 136 PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos; RIBEIRO, Dorival. Idem, ibidem. 137 Idem, ibidem. 135 49 Com o advento da Lei nº 9.503/97, o legislador pátrio erigiu à categoria de crimes determinadas condutas que, anteriormente, eram enquadradas na contravenção penal prevista no art. 34139 da lei correspondente, qual seja, de direção perigosa de veículo na via pública, servindo como exemplo principal, no caso presente, o art. 306 do CT, já mencionado. A este respeito, Nascimento140 tece os seguintes comentários: Os arts. 306, 308, 309 e 311 do Código de Trânsito criaram modalidades de crimes que, antes de sua vigência, enquadravam-se na contravenção de direção perigosa de veículo na via pública (art. 34 da LCP). É o que ocorre com a embriaguez ao volante: enquadrava-se no art. 34 da LCP. Hoje, amolda-se ao art. 306 do CT. Vale destacar, neste sentido, que o art. 34 foi derrogado, sendo que, por outro lado, certas condutas “[...] ainda se encontram descritas nele, como a direção perigosa de embarcação e todos os comportamentos de direção perigosa de veículo automotor, com exceção da embriaguez ao volante e dos arts. 308 e 311 do CT”141. Com efeito, como bem lembra Capez142, é de se ver que o legislador assim o fez porque se deparou com “[...] as notícias de que mais de 70% dos acidentes de trânsito se davam em razão da ingestão de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias inebriantes”. Dito isso, cumpre que sejam feitas, então, as análises doutrinárias correspondentes ao tipo elencado no art. 306 do CT. 3.3 OBJETIVIDADE JURÍDICA DO DELITO De acordo com o que estabelece o art. 5º, caput, da Constituição Federal, todos os cidadãos têm pleno direito à segurança, sendo que, conforme dispõem os arts. 1º, § 2º, e 28, respectivamente, do Código de Trânsito Brasileiro, “[...] o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos [...]” devendo o motorista conduzir o veículo “[...] com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”143. 138 CALÓN, Cuello. La ley Del automóvil, 1940, p. 11, apud ROESLER, Átila Da Rold. Op. cit. Art. 34 - Dirigir veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia: Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa. 140 Op. Cit., p. 145. 141 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Op. cit., p. 145. 142 CAPEZ, Fernando. Op. cit. pp. 41-42. 143 CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 42. 139 50 Nesta esteira conclui-se, então, que a segurança viária é o objeto jurídico principal do delito de embriaguez ao volante, ao passo que o “[...] direito à vida e à saúde constituem, em verdade, a objetividade jurídica secundária”144. De acordo com a definição de Holanda145, o vocábulo incolumidade deriva da palavra latina incolumitas, significando, assim, a qualidade daquilo que está são e salvo, livre de perigo. Portanto, diz respeito à segurança das pessoas em correspondência com o interesse coletivo. Sendo assim, vale reassinalar que é possível verificar-se que [...] o crime de embriaguez ao volante não pode ser considerado crime de perigo abstrato ou concreto. Nos crimes de perigo abstrato o risco é presumido pelo legislador, não permitindo prova em sentido contrário (basta à acusação provar a realização da conduta). Já os crimes de perigo concreto exigem, caso a caso, a demonstração da real ocorrência da probabilidade de dano a pessoa certa e determinada. A acusação, portanto, deve provar que uma pessoa, seja outro condutor, passageiro, transeunte ou qualquer presente ao local, esteve exposta a sério e real 146 risco de dano em conseqüência da conduta do motorista . Por conseguinte, ao se considerar que no delito em análise o bem jurídico tutelado é a própria segurança viária, pode-se concluir pela sua ocorrência “[...] sempre que o condutor atentar contra a segurança dos usuários das vias públicas, em virtude de seu modo de dirigir, por estar sob a influência do álcool ou substância de efeitos análogos”147. Nesta linha de raciocínio, Capez148 afirma o seguinte: Em suma, se fosse crime de perigo abstrato, bastaria à acusação a prova da conduta (dirigir em estado de embriaguez), hipótese em que a situação de risco seria presumida; se fosse crime de perigo concreto, seria necessário que se provasse que pessoa certa e determinada fora exposta a situação de risco. Acontece que, sendo crime de efetiva lesão ao bem jurídico (segurança do trânsito), pode-se concluir que cabe à acusação demonstrar que o agente,por estar sob a influência do álcool, dirigiu de forma anormal, ainda que sem expor a risco determinada pessoa. Damásio149, neste mesmo sentido afirma: Toda vez que o motorista dirige fora do círculo de risco tolerado, rebaixa esse nível (de segurança),podendo responder por infração administrativa ou, apresentando a conduta potencialidade lesiva, por crime... Não se exige que o fato ofenda bens jurídicos individuais, uma vez que a objetividade jurídica pertence à coletividade. 144 CAPEZ, Fernando. Idem, ibidem. HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de. Dicionário Aurélio Eletrônico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 146 CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 42. 147 CAPEZ, Fernando. Idem, ibidem. 148 Op. cit., p. 43. 149 JESUS, Damásio Evangelista de. Natureza jurídica dos crimes de trânsito. São Paulo: Paloma, p. 22, apud CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 43. 145 51 A título de informação é de se destacar que, obviamente, essas mesmas conclusões acabam sendo aplicadas aos crimes de participação em competição não autorizada (art. 308), direção sem habilitação (art. 309) e excesso de velocidade em determinados locais (art. 311). 3.4 TIPO OBJETIVO E SUBJETIVO DO DELITO De acordo com o magistério de Capez150, “[...] o primeiro requisito do crime é conduzir veículo automotor, ou seja, dirigir, ter sob seu controle direto os aparelhamentos de velocidade e direção”. Assim, conforme assevera este autor151, considera-se que houve condução “[...] ainda que o veículo esteja desligado (mas em movimento) ou quando o agente se limita a efetuar uma pequena manobra”, não estando abrangidas as condutas consistentes em empurrar ou apenas ligar o automóvel, sem chegar a colocá-lo em movimento. O segundo requisito, prossegue Capez152, “[...] é que o agente esteja sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, como a maconha, éter, cocaína, clorofórmio, barbitúricos etc”. O terceiro requisito, segundo Capez153, diz respeito ao fato de que o veículo deve ser “[...] conduzido na via pública, ou seja, em local aberto a qualquer pessoa, cujo acesso seja permitido e por onde seja possível a passagem de veículo automotor (ruas, avenidas, alamedas, praças etc.)”. Neste sentido, As ruas dos condomínios particulares, nos termos da Lei nº 6.766/79, pertencem ao Poder Público; portanto, dirigir embriagado nesses locais pode caracterizar a infração. Por outro lado, não se considera via pública o interior da fazenda particular, o interior de garagem da própria residência, o pátio de um posto de gasolina, o interior de estacionamentos particulares 154 de veículos, os estacionamentos de shopping centers, etc . 150 Op. cit., p. 44. CAPEZ, Fernando. Idem, ibidem. 152 Idem, ibidem. 153 Op. cit., p. 44. 154 CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 46. 151 52 E o último requisito para o aperfeiçoamento do delito sob foco, qual seja, a embriaguez ao volante, “[...] é que o agente, na condução do veículo, exponha a dano potencial a incolumidade de outrem” 155. Por fim, há que se registrar que o elemento subjetivo consiste na “[...] intenção de conduzir o veículo estando sob a influência do álcool”156. Assim, com a finalidade de se fazer a devida contextualização entre tais aspectos e a questão prática, passa-se a enfocar a questão do etilômetro. 3.4.1 Da utilização do etilômetro É interessante observar que o tipo penal sob foco “[...] não exige que o agente esteja efetivamente embriagado, bastando que esteja sob a influência do álcool”157. Neste ponto, Capez158 levanta um importantíssimo questionamento, a saber: “que quantidade é necessária que o agente tenha ingerido para estar sob a influência do álcool?” Segundo ele, há, para esta questão, duas orientações: A primeira baseia-se no art. 276 do Código de Trânsito, que estabelece que a concentração de seis decigramas de álcool por litro de sangue comprova que o condutor está impedido de dirigir o veículo. A segunda entende que, por não haver delimitação no tipo penal, deve a análise ser feita caso a caso, cabendo à acusação demonstrar que a quantia ingerida pelo agente provocou alteração no seu sistema nervoso central, com redução da capacidade da sua função motora, da sua percepção e do seu 159 comportamento. Aqui o referido autor160 faz menção ao procedimento a ser adotado quando da ocorrência de casos desta espécie, in verbis: Em princípio a embriaguez deve ser demonstrada por exame químico, no qual se coleta o sangue da pessoa pretensamente embriagada, levando-o a laboratório para exame. O laudo, então, aponta a quantia de álcool existente por litro de sangue no indivíduo. Observe-se, porém, que a coleta do sangue só pode ser feita se houver permissão deste, pois não existe lei que o obrigue a tanto. Assim, caso não concorde, não pode ser obrigado. 155 CAPEZ, Fernando. Idem, ibidem. CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 47. 157 Op. cit., p. 46. 158 Op. cit., p. 46. 159 CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 47. 160 CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 45. 156 53 Surge, também, nestes casos, a possibilidade de realização do exame por intermédio do instrumento denominado “etilômetro”, que tem a finalidade de indicar “[...] o nível de concentração de álcool, ou através de exame clínico feito por médico, que atesta ou não o estado de embriaguez, verificando o comportamento do sujeito através de sua fala, seu equilíbrio, seus reflexos etc”161. Do ponto de vista da científico, o etilômetro consiste no seguinte: O bafômetro é um aparelho que permite determinar a concentração de bebida alcoólica em uma pessoa, analisando o ar exalado dos pulmões. O princípio de detecção do grau alcoólico está fundamentado na avaliação das mudanças das características elétricas de um sensor sob os efeitos provocados pelos resíduos do álcool etílico no hálito do indivíduo. O sensor é um elemento formado por um material cuja condutividade elétrica é influenciada pelas substâncias químicas do ambiente que se aderem à sua superfície. Sua condutividade elétrica diminui quando a substância é o oxigênio e aumenta quando se trata de álcool. Entre as composições preferidas para formar o sensor destacam-se aquelas que utilizam polímeros condutores ou filmes de óxidos cerâmicos, como óxido de estanho (SnO2), depositados sobre um substrato isolante. A correspondência entre a concentração de álcool no ambiente, medida em partes por milhão (ppm), e uma determinada condutividade elétrica é obtida mediante uma calibração prévia onde outros fatores, como o efeito da temperatura ambiente, o efeito da umidade relativa, regime de escoamento de ar etc., são rigorosamente avaliados. A concentração de álcool no hálito das pessoas está relacionada com a quantidade de álcool presente no seu 162 sangue dado o processo de troca que ocorre nos pulmões . Com efeito, como bem coloca Damásio163, esta questão em específico tem suscitado sérias ressalvas, principalmente porque as autoridades policiais e administrativas têm encontrado dificuldades quando da produção das provas relativas “[...] à influência do álcool e das substâncias a ele análogas, proporcionadas pela não-colaboração dos condutores submetidos à fiscalização ou quando envolvidos em acidente de trânsito”. Menciona-se, por oportuno, o entendimento de Pinheiro164, sobre a questão: Entendemos, acompanhando a maioria dos autores, que os condutores podem recusar-se a tais exames, por força do princípio constitucional da não incriminação, em especial, pelo disposto na Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) – Pacto de São José da Costa Rica, e Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948). A recusa, ao contrário do que asseguram algumas autoridades de trânsito, não configura crime de desobediência (art. 330 do CP) e nem está contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro. 161 CAPEZ, Fernando. Idem, ibidem. SILVA, Sandro Santos da. Bafômetro. Disponível em: http://www.virtual.epm.br/material/tis/currbio/trab99/alcool/bafometro.htm. Acesso em 24 de mai. 2004. 163 JESUS, Damásio Evangelista de. Limites à prova da embriaguez ao volante: a questão da obrigatoriedade do teste do “Bafômetro”. Disponível em: http://www.direitopenal.adv.br/artigos.asp?id =1061. Acesso em 23 de mai. 2004. 164 Op. cit., p. 321. 162 54 Neste sentido Damásio165 observa que: Sob o ponto de vista penal, considero intransponível, no atual estágio de desenvolvimento das garantias constitucionais, a superação do direito ao silêncio, reconhecido no art. 5.º, LXIII, da Constituição Federal, com o intuito de obrigar o condutor a colaborar na produção de prova contra si mesmo. De fato, é prova reconhecidamente inadmissível a coleta de sangue do condutor contra a sua vontade ou a submissão forçada ao conhecido teste do “bafômetro” (etilômetro). Cumpre afirmar, por conseguinte, que tal espécie de limitação está intimamente ligada à tutela dos direitos fundamentais, não sendo outra o entendimento de Gomes Filho166, litteris: No Brasil, o direito ao silêncio do acusado, que já era mencionado pelo art. 186 do Código de Processo Penal, embora com a sugestiva admoestação de que poderia ser interpretado em prejuízo da própria defesa, foi elevado à condição de garantia constitucional pelo art. 5.º, LXIII, da Carta de 1988, que determina: ‘o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado (...)’; e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos também assegura ‘a toda pessoa acusada de delito (...) o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada (...)’ (art. 8.º, g). (...) De qualquer modo – e isso é o que interessa ao presente estudo – o direito à não auto-incriminação constitui uma barreira intransponível ao direito à prova de acusação; sua denegação, sob qualquer disfarce, representará um indesejável retorno às formas mais abomináveis da repressão, comprometendo o caráter ético-político do processo e a própria correção no exercício da função jurisdicional. Impende ressaltar, por outro lado, que na ausência desses exames, a jurisprudência tem admitido outros elementos probatórios. Neste viés, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verbis: Havendo outros elementos probatórios, de regra, lícitos, legítimos e adequados para demonstrar a verdade judicialmente válida dos fatos, não há razão para desconsiderá-los sob o pretexto de que o art. 158 do CPP admite, para fins de comprovação da conduta delitiva, apenas e tão167 somente, o respectivo exame pericial . Destaca-se, por conseqüência, a aversão demonstrada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à utilização de instrumentos probatórios que violam a garantia então referida, in verbis: Ementa: Comissão Parlamentar de Inquérito – privilégio contra a autoincriminação – direito que assiste a qualquer indiciado ou testemunha – impossibilidade de o poder público impor medidas restritivas a quem exerce, regularmente, essa prerrogativa – pedido de habeas corpus 165 JESUS, Damásio Evangelista de. Limites à prova da embriaguez ao volante: a questão da obrigatoriedade do teste do “Bafômetro”. Idem. 166 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. O direito à prova no Processo Penal. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo: 1995, pP. 113-115, apud, JESUS, Damásio Evangelista de. Idem, ibidem. 167 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. 5.ª T., RHC n. 13.215/SC, rel. Min. Felix Fischer, j. em 15.4.2003, DJU de 26.5.2003, p. 368, apud, JESUS, Damásio Evangelista de. Idem, ibidem. 55 deferido. O privilégio contra a auto-incriminação – que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito – traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio – enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) – impede, quando concretamente exercido, que quem o invocou venha, por essa específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado. Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por 168 sentença do Poder Judiciário. Precedentes . Diante desse obstáculo, Damásio169 oferece como contribuição o seguinte entendimento, litteris: Assim, se é certo que o condutor de veículo automotor pode validamente opor-se aos exames de dosagem alcoólica ou de utilização de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas, vislumbro diante dessa realidade brasileira uma única saída: a otimização dos meios para a realização do exame clínico, cuja elaboração independe, em regra, da colaboração do motorista. Com efeito, dispõe o art. 277 do CTB: “Todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de haver excedido os limites do artigo anterior, será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia, ou outro exame que por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado”. Em seguida, o referido doutrinador170 afirma: Pois bem. Ainda que o condutor exerça o direito à não-auto-incriminação, é possível, diante dos indícios configuradores de crime de trânsito (art. 306 do CTB), encaminhá-lo à autoridade de polícia judiciária a qual, de imediato, expedirá a requisição para o exame clínico. Em razão da pesquisa do médico oficial, será possível aferir se o condutor dirigia, de forma anormal, sob o efeito de álcool ou substância análoga, o que se mostrará suficiente para a configuração do art. 306 do CTB, haja vista ser desnecessário estabelecer, para efeitos penais, a dosagem de concentração do álcool no organismo do condutor. Como ensina a doutrina, basta a prova da ingestão dessas substâncias e a influência por elas exercidas na forma de condução do veículo automotor em via pública. Constatando-se o comportamento anormal à direção – ziguezagues, velocidade incompatível com a segurança etc. – já será possível a imposição de sanções penais (art. 306). Ressalto que, no exame clínico, 168 BRASIL, Supremo Tribunal Federal . HC n. 79.812/SP, rel. Min. Celso de Mello, j. em 8.11.2000, DJU de 16.2.2001, p. 21, apud, JESUS, Damásio Evangelista de. Op. cit. 169 JESUS, Damásio Evangelista de. Limites à prova da embriaguez ao volante: a questão da obrigatoriedade do teste do “Bafômetro”. 170 JESUS, Damásio Evangelista de. Idem, ibidem. 56 serão observados: hálito, motricidade (marcha, escrita, elocução), psiquismo e funções vitais, entre outras pesquisas médicas, cuja realização, em vários casos, independerá da colaboração do condutor do veículo automotor. Em arremate, Damásio171 reconhece que “[...] dificuldades práticas envolvem o exame clínico, sendo elas as responsáveis pelo baixo estímulo demonstrado pelas autoridades policiais e seus agentes na sua realização”. Neste contexto, conforme já foi constatado [...] no Curso de Aperfeiçoamento aos Policiais Rodoviários Federais, realizado no Complexo Jurídico Damásio de Jesus (São Paulo, 2002), o deslocamento da guarnição policial até as Delegacias de Polícia e ao Instituto Médico Legal enseja um longo tempo para o encerramento da ocorrência e, especialmente nas rodovias federais, na ausência de vigilância por período prolongado. Esses fatos, porém, não podem servir de desculpa e, principalmente, de inércia para o Poder Público. Bastaria o deslocamento de médicos legistas aos locais de fiscalização para a realização imediata dos exames, conduzindo-se os condutores aos Distritos Policiais para a lavratura do auto de flagrante no caso de resultados positivos no exame clínico. Nas cidades, a solução também pode ser a mesma ou, em virtude de menores distâncias e do maior contingente de policiais militares, a imediata requisição de exame nos 172 Distritos Policiais. Assim, como assevera Damásio173, bastaria “[...] qualificar os agentes da autoridade policial e estimulá-los a realizar os procedimentos necessários, sempre à luz das garantias e de direitos fundamentais”. 3.5 DA TENTATIVA, DA CONSUMAÇÃO, DO CONCURSO E DA AÇÃO PENAL NO CRIME DO ART. 306 DO CTB Neste tópico, cumpre assinalar-se, apenas, que a tentativa, in casu, não é admissível. Assim, se o agente, “[...] em razão da embriaguez, dirige de forma irregular, o crime está consumado, e, se não o faz, infringe apenas norma administrativa (art. 165)”174. Já em relação ao concurso, Capez175 assinala o seguinte: a) se o agente provoca homicídio ou lesão culposa, responde apenas por esses crimes, ficando absorvido o crime de embriaguez ao volante; b) se o autor do crime de embriaguez ao volante (art. 306) também não é habilitado para dirigir veículo (art. 309), responde apenas pelo primeiro, 171 JESUS, Damásio Evangelista de. Limites à prova da embriaguez ao volante: a questão da obrigatoriedade do teste do “Bafômetro”. 172 JESUS, Damásio Evangelista de. Idem. 173 JESUS, Damásio Evangelista de. Idem. 174 CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 46. 175 CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 47. 57 aplicando-se, entretanto, a agravante genérica do art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, que se refere justamente a dirigir sem habilitação. Bem assim, não há que se cogitar a aplicação de concurso material ou formal, “[...] porque a situação de risco produzida é uma só”176. Quanto à ação penal cabível, o entender pacífico da jurisprudência177: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. EXAME PERICIAL. NULIDADE. I - O crime de embriaguez ao volante, definido no art. 306 do CTB, é de ação penal pública incondicionada, dado o caráter coletivo do bem jurídico tutelado (segurança viária), bem como a inexistência de vítima determinada. II - A verificação da validade de laudo pericial que se mostra perfeito, em princípio, sob o ponto de vista formal, pois subscrito por dois peritos oficiais, não é admissível em sede de habeas corpus se, para tanto, faz-se necessário aprofundado exame do material cognitivo. Ordem denegada. Portanto, a ação penal cabível é pública incondicionada, “[...] sendo inaplicável a regra do art. 291, parágrafo único, que exige a representação”178. 3.6 MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE Neste tópico cumpre que seja destacada a contribuição trazida por Damásio179, para o problema dos crimes automobilísticos relacionados com a ingestão de álcool. De acordo com este autor e professor, na maioria dos países se recomenda, atualmente, as seguintes medidas: [...] aumento de idade para o consumo de bebidas alcoólicas; aumento na incidência de impostos para comercialização (com elevação do preço final); restrição para funcionamento, locais e horários para estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas; emprego aleatório do “bafômetro” ou de instrumentos de medição do consumo, observadas as determinações legais; inspeção veicular (adotada em vários Países, como a Suécia, desde 1965). Já em relação ao Brasil, o referido doutrinador180 indica as seguintes medidas, litteris: Inspeção veicular obrigatória anual (que tem por objetivo a verificação das condições do veículo para trafegar). Inspeção veicular obrigatória aleatória (a qual tem por objetivo a verificação das condições do veículo, do condutor e dos passageiros). Essa inspeção poderia, a exemplo do que 176 CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 47. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Hábeas Corpus 19465/CE. Relator Des. Felix Fischer. Disponível em: < http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=RSDPPP.font.+ou+RSDPP P.suce.&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=8. Acesso em 11 de jun. 2004. 178 CAPEZ, Fernando. Idem, ibidem. 179 JESUS, Damásio Evangelista de. Op. cit. 180 JESUS, Damásio Evangelista de. Idem. 177 58 ocorre na Suécia, ser normatizada em lei federal, mas executada por órgãos estaduais, incluindo representantes da Secretaria Estadual da Saúde, representantes da Secretaria Estadual da Segurança Pública, representantes de Municípios, representantes da Polícia Civil, representantes da Polícia Militar, representantes do Corpo de Bombeiros, representantes das empresas de seguros, representantes de associações de motoristas profissionais (liberais), representantes de associações de empresas de transporte, representantes de empresas concessionárias de rodovias estaduais e federais. A composição cumpriria ser de 60% dos membros ligados a órgãos públicos; 40% dos membros ligados à iniciativa privada, deferindo-se a execução à Polícia Militar Rodoviária (Estadual ou Federal). Aos Municípios deveria ser delegada a fiscalização dos limites urbanos (art. 23, III, do CTB, que atribui às Polícias a tarefa fiscalizadora). O “Colégio” seria o órgão competente para: processar eventuais recursos; sugerir alterações na legislação nacional de trânsito; desenvolver campanhas de prevenção; celebrar convênios (com os Municípios) para a delegação de atividades de fiscalização; fixar programa de atividades fiscalizatórias: locais, horários, freqüências. A fiscalização (inspeção aleatória) poderia ser realizada em praças de pedágio e trevos de acesso aos Municípios, envolvendo a utilização de “bafômetros” ou de outros instrumentos de aferição. Quanto à publicidade de produtos alcoólicos, Damásio181 indica o que segue: [...] vedação à utilização de menores; vedação à associação a esportes; vedação à associação a entretenimentos. A publicidade deve orientar-se pela difusão do produto, suas características, mas de maneira responsável, sem que contenha ou empregue qualquer apelo de consumo, sobretudo para adolescentes. Atualmente, o Conar estabelece vedação à participação de pessoas de até 25 anos, a utilização de símbolos, imagens, recursos gráficos do universo infantil e o uso de imagens associadas à prática de esportes, dentre outras regras. Ao final das mensagens publicitárias, exigese a inserção de “cláusula de advertência” (exemplo: “Evite o consumo excessivo”). Dentre as inserções obrigatórias, apenas uma é relacionada à prevenção de acidentes automobilísticos (“Se beber, não dirija”). Por fim, há que se dizer que tais medidas parecem essenciais para o alcance dos objetivos do Código de Trânsito, sem prejuízo, é claro, da efetiva e inafastável imposição da lei quando da ocorrência desta modalidade de crime, pois, afinal, não haverá qualquer sucesso em tais iniciativas se a impunidade continuar imperando nas estradas do Brasil. CONCLUSÃO Com lastro nas observações assinaladas, cumpre assentar que o Código de Trânsito Brasileiro exibe o mérito de enfocar com extrema seriedade o problema relacionado às infrações administrativas e aos crimes de trânsito, não sendo diferente, neste sentido, em relação à conduta caracterizada pela condução de 181 JESUS, Damásio Evangelista de. Op. cit. 59 veículo automotor, em via pública, sob a influência de álcool ou de substâncias provocadoras de efeitos análogos, expondo a dano potencial, por conseguinte, a incolumidade de outrem. Trata-se, com efeito, de conduta que não guarda estrita semelhança com o delito de natureza administrativa na medida em que este evidencia-se, tão somente, pela condução do veículo em estado de embriaguez. Assim, com fulcro nas reflexões até então trazidas a lume, é de se ver que o legislador que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro transformou antigas espécies de contravenções penais em modalidades próprias de crimes, servindo como exemplo principal, até aqui. o art. 306 do CT, que faz referência à condução de veículo sob a influência embriagante. Neste contexto, a utilização do chamado bafômetro levanta uma séria polêmica entre os que militam e estudam esta questão, mas, independentemente, de qualquer controvérsia, tem se concluído que os condutores podem recusar-se a tais exames, baseados na força do princípio constitucional da não incriminação e, em especial, pelo disposto na Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) – Pacto de São José da Costa Rica, e Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948). Por conseguinte, é de se ver que a recusa, ao contrário do que asseguram certos agentes que exercem suas funções na área de trânsito, não configura o crime de desobediência cuja previsão está no art. 330 do Código Penal, e nem está contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, que também faz referência à desobediência aos agentes competentes da área. Ainda assim, há que se notar que a tentativa não é, in casu, possível, e que no que se refere ao concurso, algumas regras precisam ser observadas, tais como as que determinam que se o agente provoca homicídio ou lesão culposa, responderá apenas por esses crimes, restando absorvido, por conseguinte, o crime de embriaguez ao volante, e que a estabelece que se o autor do crime de embriaguez ao volante (art. 306) também não é habilitado para dirigir veículo automotor (art. 309), responderá apenas pelo primeiro, aplicando-se, entretanto, a agravante genérica do art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, que se refere, no caso, a dirigir sem habilitação. Além disso, não é possível cogitar a respeito da aplicação de concurso material ou formal, em virtude do fato de que no caso concreto só se produz uma 60 situação de risco, não restando dúvidas, portanto, e por fim, que não obstante o rigor da lei no sentido de coibir tais condutas, só mesmo por intermédio de medidas preventivas firmes e resolutas, que se poderá diminuir sensivelmente as estatísticas e as ocorrências relacionadas às infrações administrativas e, principalmente, aos crimes de trânsito caracterizados pela embriaguez. Pretende-se, portanto, contribuir para que as comunidades científica e acadêmica possam, por intermédio deste trabalho, solidificar suas posições em relação ao tema proposto, vez que se trata, indubitavelmente, de uma problemática revestida de extrema importância no contexto social como um todo. Afinal, as estatísticas comprovam que os delitos e acidentes de trânsito constituem, nos dias atuais, um dos mais graves desafios a se enfrentar por todos os segmentos que constituem o Estado Brasileiro, não sendo diferente, por certo, no que diz respeito ao terrível mal da embriaguez ao volante. Esta causa de crimes e acidentes relacionados ao trânsito merece, desde há muito, um enfrentamento irresoluto das autoridades e cidadãos comuns deste país, uma vez que, certamente, ao se adotar medidas de contenção efetiva da ocorrência em discussão, todos terão a ganhar. O presente trabalho não tem por objetivo limitar a discussão acerca do tema abordado, mas sim dar sua parcela de contribuição àqueles que vierem pesquisar, estudar e debater esse assunto tão corriqueiro atualmente. REFERÊNCIAS ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Código de trânsito brasileiro: desafio vital para o terceiro milênio. Disponível em: <http://buscalegis.ccj.ufsc.br/arquivos/Novo _Codigo_de_Transito.htm>. Acesso em 12 de mar. 2004. BASTOS, Marcelo Lessa. Código de trânsito brasileiro: aspectos penais e processuais penais. Disponível em: <http://www.fdc.br/artigos/ctb.htm#2.%20APLI 61 CAÇÃO%20SUBSIDIÁRIA%20DO%20CÓDIGO%20PENAL,%20DO%20CÓDIGO% 20DE%20PROCESSO%20PENAL%20E%20DA%20LEI%20DE%20JUIZADOS%20 ESPECIAIS%20CRIMINAIS%20(art.%20291)>. Acesso em: 12 de mai. 2004. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. ______. Código Penal. Organização dos textos, notas remissivas e índices por obra coletiva da Editora Saraiva. 39ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. ______. Código de processo penal. Obra coletiva de autoria da editora Saraiva com colaboração de PINTO, Antônio Luiz de Toledo, WINDT, Márcia Cristina Vaz dos Santos e SIQUEIRA, Luiz Eduardo Alves de. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. ______. Superior Tribunal de Justiça. Hábeas Corpus 19465/CE. Relator Des. Felix Fischer. Disponível em: < http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=RSDPPP.font.+ou+RSDPP P.suce.&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=8. Acesso em 11 de jun. 2004. ______. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Disponível em: <http://www.dji.com.br/codigos/1997_lei_009503_ctb/ctb.htm#Código%20de%20Trâ nsito%20Brasileiro>. Acesso em 12 de set. 2003. ______. Superior Tribunal de Justiça. Hábeas Corpus 19465/CE. Relator Des. Felix Fischer. Disponível em: < http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?liv re=RSDPPP.font.+ou+RSDPPP.suce.&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=8. Acesso em 11 de jun. 2004. CARNEIRO, Henrique S. Bebidas alcoólicas e outra drogas na época moderna. Disponível em: <http://www.historiadoreletronico.com.br/secoes/faces/3/0. html#bio>. Acesso em: 20 de mar. 2004. CONDE, Francisco Muñoz. Teoria geral do delito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988. COSTA JUNIOR, Paulo José da. Comentários ao Código Penal. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 1986. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Direção perigosa. Rio de Janeiro: Revista de Direito Penal, 1974. GOMES FILHO, Antonio Magalhães. O direito à prova no Processo Penal. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo: 1995. HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de. Dicionário Aurélio Eletrônico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 62 HUNGRIA, Nelson, FRAGOSO. Heleno Cláudio. Comentários ao código penal. 5. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1978. IENNACO, Rodrigo. Breve análise sobre o conceito analítico de crime. Revista de Direito Penal e ciências afins. nº 28. Disponível em: <http://www.direitopenal.adv.br/artigos.asp?pagina=28&id=848>. Acesso em 11 mai. 2004. JESUS, Damásio Evangelista de. Comentários ao Código Penal. São Paulo: Saraiva, 1985. ______. Crimes de trânsito. São Paulo: Saraiva, 2002. ______. Natureza jurídica dos crimes de trânsito. São Paulo: Paloma. ______. Limites à prova da embriaguez ao volante: a questão da obrigatoriedade do teste do “Bafômetro”. Disponível em: http://www.direitopenal. adv.br/artigos.asp?id=1061>. Acesso em 23 de mai. 2004. KOERNER JÚNIOR, Rolf. A embriaguez: do código penal ao código de trânsito brasileiro. Disponível em: <http://www.dantaspimentel.adv.br/jcdp5221.htm>. Acesso em 13 de mar. 2004. LIMA, José Ricardo Cintra de. Sistema nacional de trânsito. Disponível em: <http://buscalegis.ccj.ufsc.br/arquivos/a11-SistemaNTEH.htm>. Acesso em: 09 de mar. 2004. MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 1991 NASCIMENTO, Walter Vieira do. A embriaguez e outras questões penais: doutrina, legislação e jurisprudência. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000 PLÁCIDO E SILVA, De. Vocabulário Jurídico. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999 PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos. RIBEIRO, Dorival. Código de trânsito brasileiro interpretado. 2. ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001 RODRIGUES LIMA, Marília Almeida. A exclusão da tipicidade penal: princípios da adequação social e da insignificância. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=949>. Acesso em: 12 mai. 2004. SILVA, Sandro Santos da. Disponível em: Bafômetro. http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-bio/trab99/alcool/bafometro.htm. Acesso em 24 de mai. 2004. SZKLAROWSKY, Leon Frejda. Crimes de trânsito. Disponível em: < http://buscalegis.ccj.ufsc.br/arquivos/Violencia_no_transito.html>. Acesso em 12 de mar. 2004. 63 VIANNA, Guaraci de Campos. Imputabilidade penal juvenil – Propostas e soluções. Disponível em:< http://www.geocities.com/CollegePark/Lab/7698/med4.ht m>. Acesso em: 22 de mar. 2004.
Download