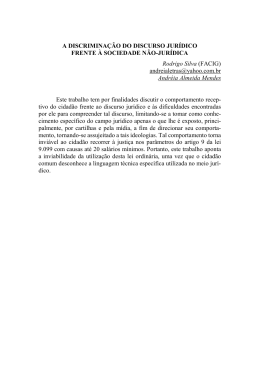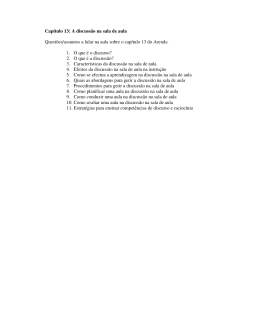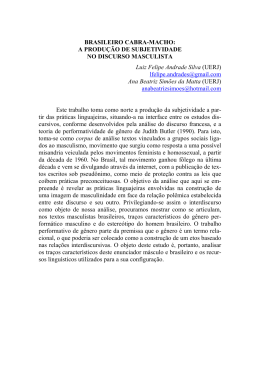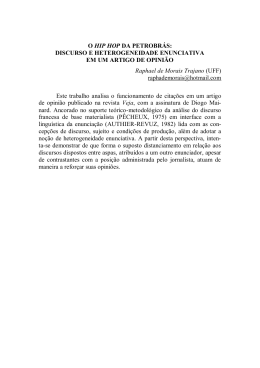A Produção do Discurso do Consumidor Responsável na Mídia de Negócios: Crítica e Assimilação da Crítica no Movimento Anti-Marcas Autoria: Isleide Arruda Fontenelle Resumo Sustenta-se que o discurso do consumidor responsável é, em parte, resultado dos movimentos de protesto contra as marcas globais que ganharam destaque a partir da “Batalha de Seatle”, em 1999, em especial na maneira como foram assimilados pela mídia de negócios. O objetivo é questionar o alcance possível dos movimentos anti-marcas e, por extensão, dos movimentos de crítica ao capitalismo, via consumo, a partir dos impasses da crítica diante das novas formatações do capitalismo. Remete-se a reflexões sobre o lugar atual da resistência (Murphy, 2009; Magala, 2006; Kingsnorth, 2005); a análises focadas na crítica ao consumo (Heath & Potter, 2005; Frank, 1997; Thompson & Coskuner-Balli, 2007; Varman & Belk, 2009); às teorias da resistência do movimento anti-marcas (Holt, 2002), ao surgimento do discurso corporativo sobre o consumo responsável (Caruana & Crane, 2008) e aos questionamentos sobre as dúvidas e inseguranças dos consumidores em um contexto “de crescente individualização, no qual os indivíduos se sentem ao mesmo tempo empoderados e responsáveis por lidar com os riscos globais ao planeta e a si mesmos” (Connolly & Prothero, 2009). Toma-se como objeto de análise o livro “No Logo”, considerado a voz do movimento anti-marcas, tanto pelos ativistas quanto pela autora, a jornalista canadense Naomi Klein. Uma década após o surgimento do livro, bem como do movimento anti-marcas, é possível afirmar a assimilação dessa crítica pelo mercado, em especial, a partir do surgimento do discurso do “consumo responsável”. Para comprovar tal hipótese, o artigo está apoiado em uma pesquisa qualitativa sobre a produção do discurso do consumidor responsável na mídia de negócios – com base nas revistas The Economist e Exame, de 1996-2007 -, cuja metodologia apoiou-se em Chiapello e Fairclough (2002); Parker (1992) e Caruana e Crane (2009. A relação entre os achados empíricos com os artigos teóricos sobre empoderamento e responsabilização do consumidor na contemporaneidade, demonstram como ocorreu a assimilação da crítica através da produção do discurso do consumo responsável, bem como apontam para os seus limites. Conclui-se que a responsabilidade individual pelo consumo seria o ponto de chegada de uma batalha que teria se iniciado no movimento contracultural dos anos 60, invertendo a sua lógica. A crítica radical que, embora partindo de orientações filosóficas diferentes, tinha em comum a vontade de “dar fim ao sujeito responsável a quem a alternativa entre autenticidade e inautenticidade se apresentaria como uma escolha existencial, denunciada como pura ilusão ou expressão do éthos burguês” (Boltanki & Chiapello, 1999, p.457), tornou-se o seu contrário, tornando-se parte do repertório mercadológico. A título de finalização, o artigo indica alguns estudos que apontam para os riscos que a exaustão do consumidor, diante do impasse de fazer escolhas e de se responsabilizar por algo que está além da sua capacidade de compreensão e atuação, pode provocar, desafiando a idéia de que o consumo responsável possa se apresentar sob a forma de uma “política de escolha”. 1 1. Introdução Este artigo sustenta que o discurso do “consumidor responsável” é, em parte, resultado dos movimentos de protesto contra as marcas globais que ganharam destaque a partir da “Batalha de Seatle”, em 1999, em especial na maneira como foram assimilados pela mídia e grandes corporações. Reflete-se sobre resistência e assimilação da resistência no interior da cultura de consumo, apontando para os limites de uma resistência baseada na responsabilização do consumidor. Para discorrer sobre o movimento anti-marcas, toma-se o livro “No Logo”, da jornalista canadense Naomi Klein, como “objeto de análise. Se, de um lado, ele foi lido uma cópia fiel do movimento; de outro, a autora se assumiu como “voz do movimento”. Em suas palavras, “It was good timing for an author-activist: I had the rare privilege of watching my book become useful to a movement I believed could change the world”(Klein, 2009b), conforme escreveu em um artigo que comemora os 10 anos da Batalha de Seatle e também do seu livro e que se propõe a ser um balanço desse período. As evidências de que esses movimentos tenham sido um dos grandes promotores do discurso do “consumo responsável” vieram de textos acadêmicos, bem como, de uma pesquisa realizada sobre a produção do discurso do “consumo responsável” em duas revistas de negócios: a britânica The Economist e a brasileira Exame, no periodo de 1996 a 2007. O objetivo inicial da pesquisa era verificar a produção e desdobramentos desse discurso em relação à crise climática, entendendo como a crise era re-significada pela mídia de negócios, dada a sua forte vinculação com as corporações. Optou-se pelo ano de 1996 porque foi o momento em que começaram as negociações relacionadas ao Protoclo de Kyoto; e 2007 porque foi o ano de conclusão da pesquisa. Viu-se que tópicos relacionados ao tema da responsabilidade do consumidor estavam praticamente ausentes nas revistas antes da eclosão dos conflitos iniciados em Seatle e começou-se a perceber como o tema do consumo responsável vinha articulado aos movimentos de protesto. Viu-se, também, o quanto essas revistas incorporaram um duplo discurso: de um lado, a referência aos movimentos era sempre de critica, com termos como “living with the enemy” (The Economist, 2003), ao mesmo tempo em que suas reivindicações iam sendo incorporadas a um discurso em torno do consumidor individual. No Brasil, a análise da Revista Exame deixou isso tudo ainda mais evidente, tendo em vista o nascimento de uma Organização não Governamental de empresários chamada “Akatu para consumo consciente”, que concentrou o debate em torno desse tema (quase 100% das citações na revista relacionadas ao tema da responsabilização do consumidor vinham atreladas ao nome dessa ONG). Isso mostrou um outro dado importante na compreensão do processo de incorporação dos protestos: o papel das empresas socialmente responsáveis. Segundo consta em seu site, o embrião da Akatu nasceu em 2000, no interior do Instituto Ethos de Responsabilidade Social, uma ONG de empresários voltados a promover a responsabilidade social corporativa. A “coincidência” dessas relações e datas requer um olhar mais cuidadoso: segundo Klein o movimento anti-marcas – taxado erroneamente de movimentos anti-globalização -, se configuravam como movimentos anti-corporação, tomando suas marcas como alvos de uma crítica que visava atingir o seu valor. Isso poderia ser atacado alvejando a marca institucionalmente e forçando as corporações a práticas mais responsáveis, como melhores salários e condições de trabalho; ou buscando conquistar corações e mentes ao desmascarar as práticas obscenas das marcas, o que poderia atrair o consumidor e seu “ativismo” para essa batalha ou, ao menos, para um posicionamento individual de negação dessas marcas. A aposta de Klein era a de que “as more people discover the brand-name secrets of the global logo 2 web, their outrage will fuel the next big political movements, a vast wave of opposition squarely targeting transnational corporations, particularly those with very high name-brand recognition” (Klein, 2009a, p.xxxviii) De uma perspectiva reformista, Klein deixa claro que a intenção do movimento não era destruir as marcas mas exigir das corporações mais responsabilidade social: In short, the triumph of economic globalization has inspired a wave of techno-savvy investigative activists who are as globally minded as the corporations they track… Its members are young and old; they come from elementary schools and college campuses suffering from branding fatigue and from church groups with large investment portfolios worried that corporations are behaving ‘sinfully’. They are parents worried about their children’s slavish devotion to ‘logo tribes’, and they are also the political intelligentsia and social marketers who are more concerned with the quality of community life than with increased sales. (Klein, 2009a, p.327 – grifos meus) Assim, todo esse patrulhamento acabou forçando as corporações a buscarem o discurso em torno de uma responsabilização compartilhada com os seus consumidores, levando ao boom dos “negócios éticos” (Lipovetsky, 2004), dentre os quais as práticas de responsabilidade social corporativa – e seu correlato, o “consumo responsável” - são as mais evidentes. Mas se estamos diante de organizações capitalistas mais éticas e de um discurso corporativo que evoca um consumidor responsável, não poderíamos afirmar a vitória desse movimento? A fim de questionar o alcance “fácil” dessa vitória, este artigo coloca duas questões centrais: a primeira questiona a qualidade da resposta corporativa a essa reivindicação, pois, analisado detidamente, o discurso do consumidor responsável assimilou a crítica para aspectos de escolha, culpa e responsabilização individual. Por outro lado, no nível da crítica radical, questiona-se o alcance possível da resistência no plano do consumo, ou, em outras palavras, da crítica às marcas globais, conforme também proposto por Klein: “What the corporate media insisted on calling the anti-globalization movement was nothing of the sort. At the reformist end it was anti-corporate; at the radical end it was anti-capitalist…” (Klein, 2009a , p. xviii) O ano de 1999, quando foi lançada a primeira edição de “No Logo”, também viu surgir um outro livro que, se lido em conjunto com o de Klein, já poderia em muito arrefecer os ânimos exaltados pelo grito de guerra da jornalista. Trata-se de “O novo espírito do capitalismo” dos sociólogos franceses Boltanski e Chiapello (1999) que, a partir de uma rigorosa análise empírica e teórica sobre as transformações ideológicas que acompanharam as mudanças no capitalismo desde o final dos anos 60, discorre sobre os limites da resistência ao capitalismo e demonstra como ocorreu o processo de assimilação da crítica a partir desse período. Para esses autores, é importante fazer uma distinção importante entre a crítica social de feição marxista clássica e “reivindicações de um tipo muito diferente, com apelos à criatividade, ao prazer, ao poder da imaginação, à liberação referente a todas as dimensões da existência, à destruição da ‘sociedade de consumo’” (Boltanski & Chiapello, 1999, p.19), para às quais reservam o nome de “crítica estética”. Enquanto a dificuldade do trabalho crítico consistiria na impossibilidade de unificar os diferentes motivos de indignação que esses dois tipos de crítica abarcariam, seus efeitos sobre o capitalismo também seriam de ordens diferentes, levando-o, por vezes, à incorporação de certas reivindicações críticas e, por outras, à “escapar à exigência de reforço dos dispositivos de justiça social tornando-se mais dificilmente decifrável...” (Boltanski & Chiapello, 1999, p.63). A crítica ao capitalismo dos anos 60 teria sido estética, com reivindicações de maior autonomia, criatividade, autenticidade. E a resposta do capitalismo teria sido extraída 3 diretamente desse repertório. No campo do trabalho essas críticas teriam resultado em novos dispositivos de gestão empresarial visando tornar as condições de trabalho mais atraentes, porém, “esses temas, associados nos textos do movimento de maio a uma crítica radical do capitalismo (especialmente à crítica à exploração) e ao anúncio de seu fim iminente, encontram-se, na literatura da nova gestão empresarial, até certo ponto autonomizados, transformados em objetivos que valem por si mesmos e são postos a serviço das forças cuja destruição eles pretendiam apressar”. (Boltanski & Chiapello, 1999, p.130). É o que se percebe no que diz respeito à reivindicação por autonomia: se no campo do trabalho isso acabou sendo direcionado para questões de autocontrole e de responsabilidade perante as demandas do trabalho e aos riscos da carreira; no consumo, tal exigência vem integrada à idéia da soberania do consumidor e, consequentemente, da responsabilização perante suas escolhas. Na análise que também fez do movimento anti-marcas, desafiando teorias existentes sobre a capacidade de resistência do consumidor, Holt (2002) constatou, na “mercantilização da soberania do consumidor”, elementos importantes que se coadunam com a temática da reivindicação de autonomia, um dos alicerces centrais no discurso do consumo responsável. Também em 1999, no Brasil, era finalizada uma tese de doutorado em Sociologia, que viria a ser publicada em livro (Fontenelle, 2002), no qual , a partir de um estudo da construção e desenvolvimento da marca McDonald´s, a autora buscava compreender o fetiche da marca na sociedade que se tornara consumidora de imagens. Neste estudo, foram apontadas as resistências ao McDonald´s durante o processo de constituição da marca que pareciam profundamente radicais mas, a um olhar de hoje, mostram-se apenas lutas pela inserção na cultura de consumo. O estudo mostrou o quanto o McDonald´s incorporou esses movimentos para a própria melhoria da marca, levando a autora a desconfiar da efetividade do movimento contra as marcas. A marca McDonald´s foi uma das mais tratadas no livro “No Logo”. Em um levantamento do índice remissivo do livro foram contadas 78 referências à Nike e 45 ao McDonald´s. À época a Nike estava sob ataque por conta da sua política de terceirização mantida com trabalho precário em países da Ásia; e o McDonald´s tornou-se o símbolo de uma globalização negativa, assumindo o lugar imaginário de um capitalismo sem avesso após a queda do Muro de Berlim. Dado que o livro foi lançado no mesmo ano em que “No Logo” era traduzido para o Português e que também ocorria a segunda edição do Forum Social Mundial, na cidade brasileira de Porto Alegre, com a presença de Naomi Klein, a comparação entre os dois livros foi inevitável, com resenhas e debates acadêmicos cobrando de Fontenelle uma resposta crítica – ou uma possível saída - à altura de “No Logo”. Mas a autora partiu do dado nada natural do fascínio social pelas marcas para revelar uma sociedade cada vez mais esvaziada, que encontra nas marcas o seu fetiche, e que torna a tarefa de crítica às imagens algo complexo, incapaz de se dar no plano puro da “consciência”. Mas Klein rechaça, de maneira geral, “the critiques of advertising that have traditionally come out of academe” porque essas “have been equally unthreatening, though for different reasons. Most such criticism focuses not on the effects of marketing on public space, cultural freedom and democracy, but rather on ads’ persuasive powers over seemingly clueless people” (Klein, 2009a, p. 303). A produção teórica do filósofo Theodor Adorno ajudaria a esclarecer esse ponto ao ter mostrado o quanto os efeitos do marketing sobre a democracia – e portanto sobre a esfera pública - foram profundamente influenciados pela formatação de uma subjetividade 4 encapsulada por processos de socialização já amplamente conduzidos pela lógica do consumo. Embora este artigo não pretenda enveredar pela lógica subjetiva do conflito, é a teoria frankfurtiana, em especial as formulações de Adorno e Horkheimer (1976), sobre a lógica objetiva da indústria cultural, que forma a sua inspiração teórica. Ela também está presente nos dois livros aqui referenciados como centrais para se sustentar a teoria da assimilação da crítica pela sociedade de consumo (Boltanski & Chiapello, 1999; Fontenelle, 2002). Em “O Novo Espírito...”, os autores mostraram o quanto os escritos frankfurtianos foram inspiradores para o movimento de denúncia à sociedade de consumo; ao mesmo tempo em que Adorno assumiria o impasse da crítica diante da sua co-optação por um capitalismo cada vez mais sedutor em suas respostas. (Boltanski & Chiapello, 1999, p.444). Assume-se, portanto, a tese da profunda capacidade de reinvenção do capitalismo, na medida em que ele é capaz de transformar todos os limites externos a seu desenvolvimento num desafio para novos investimentos capitalistas (Zizek & Daly, 2004). Do ponto de vista de um debate contemporâneo e focado no objeto, o artigo se remeteu a reflexões sobre o lugar atual da resistência (Murphy, 2009; Magala, 2006; Kingsnorth, 2005), e em análises focadas na crítica ao consumo (Heath & Potter, 2005; Frank, 1997; Thompson & Coskuner-Balli, 2007; Varman & Belk, 2009); nas teorias da resistência do movimento anti-marcas (Holt, 2002), no surgimento do discurso corporativo sobre o consumo responsável (Caruana & Crane, 2008) e nas dúvidas e inseguranças dos consumidores em um contexto “de crescente individualização, no qual os indivíduos se sentem ao mesmo tempo empoderados e responsáveis por lidar com os riscos globais ao planeta e a si mesmos” (Connolly & Prothero, 2009). Acredita-se que este material teórico, junto à pesquisa qualitativa realizada, possam sustentar a proposição de que os movimentos anti-marcas teriam sido, em parte, responsáveis pelo nascimento do “consumidor responsável”. O artigo está dividido em duas partes: na primeira, discorre-se sobre o processo de assimilação dos protestos anti-marcas a partir de uma análise interna ao livro “No Logo” mostrando como os movimentos de crítica foram re-significadas com o surgimento de uma “publicidade cínica” e do discurso da “empresa-cidadã”. São partes importantes para mostrar o pano de fundo a partir do qual foi se formatando o discurso do “consumo responsável”, que será tratado na segunda e última parte, que também reflete sobre os limites de uma resistência que levou à responsabilização global através do consumo. 2. Da “publicidade cínica” à “empresa-cidadã”: respostas corporativas ao movimento “sem logo” Se é possível atribuir uma data símbolo para o movimento que passou a ser conhecido como “anti-marcas”, seria aquela em que se deram os protestos em Seatle, em 1999, quando ocorreram manifestações contra a OMC (Organização Mundial do Comércio), que reuniu representantes de diversas categorias de protestos: sindicalistas, ambientalistas, anarquistas, humanistas, estudantes que se insurgiram contra as políticas neoliberais, o ataque aos direitos humanos, o capitalismo global, a ameaça ambiental, dentre outros. Para Klein, esse teria sido apenas o estopim de um movimento de resistência mais amplo que vinha se consolidando em diferentes países do mundo: tratar-se-ia dos “movimentos anticorporação”, termo que indicaria a convergência de muitos movimentos que visariam desvincular suas lutas de algo étnico ou local, a fim de apontar uma questão universal e um inimigo global: o neoliberalismo, caracterizado pelo poder mundial do mercado. Tais movimentos estariam substituindo as instituições tradicionais agora em declínio: sindicatos, religiões, partidos 5 políticos. Tratar-se-ia, portanto, de uma nova forma de conflito caracterizada pela não mediação estatal, que interpela diretamente o mercado e usa, como arma de protesto, os riscos à imagem publicitária das corporações. A intenção de “No Logo” foi buscar os primeiros estágios dessa resistência e entender “what are the forces pushing more and more people to become suspicious of or even downright enraged at multinational corporations, the very engines of our global growth?” (Klein, 2009a, p.xli). Com esse propósito, Klein fez um extenso apanhado de todos os movimentos antimarcas e as razões pelas quais eles se insurgiram ao longo da década de 90, sob a hipótese de que teria sido o ataque aos três pilares sociais, o emprego, as liberdades civis e o espaço cívico, que estariam provocando a militância anticorporativa, que estaria lançando as sementes de uma alternativa genuína à regra corporativa. Depois de narrar como nos tornamos um “mundo marcado” e de como esse mundo alterou o nosso espaço, as nossas escolhas e o nosso mercado de trabalho, Klein dedica a última parte do seu livro a entender as diferentes formas de manifestação contra as marcas, começando pela “Culture Jamming” – termo cunhado pela banda de audiocolagem Negativland, em 1984, indicando uma reescrita da publicidade original, que altera o seu sentido e propõe um significado que o movimento considera ser representativo daquilo que, realmente, a publicidade passaria. “A good jam, in other words, is an X-ray of the subconscious of a campaign, uncovering not an opposite meaning, but the deeper truth hiding beneath the layers of advertising euphemism” (Klein, 2009a, p.282). Exemplar desse movimento é a revista canadense Adbusters, fundada em 1989. Buscando situar as inspirações desse movimento em Guy Debord (1997) e no movimento situacionista francês da década de 1960, Klein ressalta que, assim como aqueles criticavam todo o ethos conformista da sociedade burguesa, já tomada pelo capitalismo dominante, os culture jammers preferem focar na publicidade, que se tornou a força dominante de nossa época. É também no espaço publicitário que parece se dar a primeira resposta corporativa a essa “estética da resistência”. Não por acaso, no mesmo período, o filósofo francês Gilles Lipovetsky já apontava para o início da publicidade “nonsense”: um anúncio comercial que não quer dizer nada, não quer fazer sentido e que está, cada vez mais, levando muito longe “a lógica do absurdo, o jogo do sentido e do não-sentido... ” (Lipovetsky, 1989, p.138). Mas, como admite o próprio autor “o spot publicitário não é nihilista, não cai na incoerência verbal e no irracional absoluto, sendo as suas declarações controladas pela vontade de pôr em evidência o valor positivo do produto”. (Lipovetsky 1989, p.138). Em sintonia com essa leitura está o crítico cultural americano Thomas Frank, autor do livro “The conquest of cool” (Frank, 1997), que analisa como os movimentos contraculturais dos anos 60 injetaram um novo alento para o mercado e para a renovação e perpetuação da sociedade de consumo. Ao buscar entender mais a produção cultural e o poder corporativo do que a recepção e a resistência do consumidor, a fim de esclarecer como a cultura dos negócios acabou se fundindo com a contracultura dos anos 1960 e gerado o consumismo “hip” ou “cool”, o autor captou um tipo de publicidade que se diz capaz de incitar a revolta, a transgressão e a revolução. Os anos 1990 viram a explosão de uma publicidade considerada “cínica” por muito dos seus críticos. Foram várias as marcas que lançaram mão desse artifício, dentre as quais a marca de jeans Diesel, que incorporou até mesmo o conteúdo crítico do movimento anti-marcas presente na culture jamming, evidente em sua famosa campanha “Brand O”, ao mostrar, dentre outros, um outdoor com um ônibus lotado de trabalhadores exauridos ao lado de uma loura magra, bela e glamourosa. Ao mesmo tempo em que propagavam essa e outras 6 campanhas do mesmo gênero, as vendas da marca Diesel dispararam de U$2 milhões para U$23 milhões em apenas quatro anos (Time, 1997, p.327). Klein estava ciente disso quando escreveu No Logo. A autora chegou até mesmo a narrar um fato incontestável dessa capacidade de cooptação: em 1997, a banda que criou o termo culture jamming, a Negativland, foi convidada a fazer a trilha sonora de um novo anúncio comercial da marca de cerveja Miller. Ao rejeitar o convite, o componente da banda, Mark Hosler, desabafou: They utterly failed to grasp that our entire work is essentially in opposition to everything that they are connected to, and it made me really depressed because I had thought that our esthetic couldn’t be absorbed into marketing... It’s not just the fringe that’s getting absorbed now – that’s always happened. What’s getting absorbed now is the idea that there’s no opposition left, that any resistance is futile (Klein, 2009a, p.299). Mas Klein diz não ter certeza disso, apostando que essa resposta corporativa não desarmou o rancor antimarketing e que, na verdade, pode ter tido o efeito oposto. Será? A acreditarmos nos professores canadenses Joseph Heath e Andrew Potter (2005), o que teria ocorrido foi o contrário: a revista Adbusters, bandeira do movimento culture jamming, teria desenvolvido seus próprios tênis de corrida, o Block Spot Sneaker, sob a assinatura da sua subversiva marca e disponibilizado os mesmos para a venda. Para os autores, esse foi um ponto de virada na cultura da revolta, pois depois daí, fato ocorrido em 2003, “nenhuma pessoa racional poderia acreditar que haveria uma tensão entre o mainstream e a cultura alternativa...Depois desse dia se tornou claro para todos que a rebelião cultural – do tipo simbolizado pela Adbusters – não desafia o sistema, mas é o sistema” (Heath & Pother 2005, p.3). O editor da Adbusters, Kalle Lans, argumenta que sua idéia era “to uncool Nike”, ao propor tênis bacanas e não manufaturados em fábricas terceirizadas e exploradoras. Mas para Heath e Pother, comércio justo e marketing ético dificilmente seriam idéias revolucionárias e certamente não representariam ameaças ao sistema, pois se os consumidores estão dispostos a pagar mais por tênis feitos por trabalhadores bem tratados ou ovos colocados por galinhas felizes, é porque haveria dinheiro em jogo para essas coisas circularem no mercado. Tratar-seia de um modelo de negócios que já tinha sido explorado com sucesso por marcas como The Body Shop e Starbucks, sinalizando uma nova tendência para o capitalismo das marcas. De fato, os movimentos de protesto contra as grandes marcas não se resumiram a uma batalha de imagens, mas também de valores. Esses movimentos podem assumir muitas formas, “from the socially respectable to the near-terrorist” (Klein, 2009a, p.325). Mas Klein abordou as campanhas baseadas em marcas que “have succeeded in rattling their corporate targets, in several cases pushing them to substantially alter their policies” e com isso, “having reached well beyond activist circles and deep into public consciousness” (Klein, 2009a, p.365) Por isso, dedicou todo um capítulo a três grandes logos – Nike, Shell e McDonald´s -, a fim de demonstrar a força da campanha de direitos humanos na crítica à exploração de mão-deobra em fábricas da Nike na Ásia, em especial nos EUA; a militância ambientalista contra a Shell na Grã-Bretanha, Alemanha e Holanda; e o ativismo pelos direitos condensado na luta de dois militantes do London Greenpeace contra o McDonald´s naquele que ficou conhecido como o mais longo julgamento da história da Grã-Bretanha e um dos maiores do mundo. Tal acontecimento gerou um livro, no qual o jornalista John Vidal (1997) narra a história do processo judicial aberto, pelo McDonald’s, contra dois ativistas londrinos que divulgaram, no início da década de 90, informações consideradas infundadas pelo McDonald’s e prejudiciais à sua imagem. 7 Ao negarem ao McDonald´s uma “desculpa pública”, quando em 1990 a corporação emitiu uma intimação de calúnia, os militantes compraram uma briga que durou sete anos. Ao final, em 1997, a justiça considerou que algumas das afirmações do panfleto que originou toda a contenda - o hoje mundialmente conhecido “o que há de errado com o McDonald´s?” – eram exageradas demais em alguns pontos e deu uma sentença positiva ao McDonald´s, condenando os ativistas a pagarem por uma quantia alta em dinheiro que nunca teria sido reivindicada pelo McDonald´s. Para Vidal, o fio condutor do caso esteve voltado para questões de imagem e direitos - moral, legal e humano - e simbolizou uma luta travada entre dois mundos que procuram ser a alternativa ideal de sociedade. Pois se o McDonald’s se defendia em favor de sua imagem, a questão de fundo era a do poder do McMundo - termo criado por Benjamin Barber (1992) para se referir à economia de livre mercado, sinônimo de homogeneização, padronização e globalização. Vidal considerou essa a perspectiva mais ampla a ser discutida pois, ao seu ver, o McMundo é um dos fatores mais dramáticos das mudanças de relações de poder desde que o colonialismo começou ou que o comunismo terminou. Para Klein, “the trial, which had been designed to stem the flow of negative publicity... had been an epic public-relations disaster for McDonald’s”. (Klein, 2009a, p. 387), tendo em vista que os tribunais seriam o único lugar no qual as corporações ficariam expostas ao escrutínio público e a lição a tirar da história desses três logos é de que a via institucional, legalista, seria um caminho possível para lutar contra as grandes corporações. Daí porque, para Klein, juntos, esses movimentos se insurgiram contra três assaltos à esfera pública: o assalto aos empregos (Nike), ao espaço (Shell) e ao direito de criticar (McDonald´s). Essas corporações teriam perdido a lealdade e o respeito do cidadão “by abandoning their traditional role as direct, secure employers to pursue their branding dreams... And by pounding the message of selfsufficiency into a generation of workers” (Klein, 2009a, pp.441-442). Mas se no nível da imagem publicitária a resposta corporativa se deu através de uma absorção direta e cínica da estética da resistência, mediante uma forma de anúncio comercial irônico, no nível institucional as corporações também passaram a absorver o discurso de uma maior responsabilidade social e fazer disso a sua nova bandeira de marketing. Os anos 1990 assistiram a um boom das corporações éticas. Para Lipovetsky (2004) o novo discurso corporativo espelha uma nova forma de gestão global que foi pautada por uma necessidade ética do mundo organizacional, no sentido de recolocar a dimensão humana nas empresas. Embora a perspectiva de Lipovetsky não deixe espaço para se pensar que o movimento pela “ética nos negócios” seria decorrente de uma pressão social - e, não apenas, de uma escolha das empresas-, ela nos ajuda a demonstrar como as organizações começaram a reagir ao movimento anti-marcas. Um conceito que permitiria pensar essa questão seria o de “risco”: risco corporativo relacionado especialmente aos prejuízos causados, por uma “crise de imagem”, sobre a reputação da empresa, com repercussões negativas diretamente na escolha dos seus consumidores. E esse parece ser, de fato, o grande movimento da vez. Para o professor de políticas públicas da Universidade da Califórnia, Robert Reich a responsabilidade social das empresas se transformou em expectativa de resposta para o paradoxo do capitalismo democrático. Trata-se, agora, de assunto quente nas escolas de negócios; em 2006, mais da metade de todos os currículos de mestrado em gestão de negócios exigia que os alunos cursassem pelo menos uma disciplina sobre o assunto... (Reich 2008, p.171). 8 Reich lembra que até mesmo o “Pacto Global das Nações Unidas”, lançado em Davos em 1999, passou a enfatizar a importância da responsabilidade social corporativa. Assim, até mesmo Davos, sede do Fórum Econômico Mundial e palco de tantas manifestações antimarcas, acabou assumindo um discurso que parecia pertencer ao seu contraponto, o Fórum Social Mundial. Entretanto, se de um lado seria possível apontar para os desvirtuamentos corporativos em torno da busca da imagem de “empresa-cidadã”; por outro, a idéia de uma pressão direta sobre as corporações acabou levando à formatação da lógica da responsabilização individual, pois, à medida em que incorporava as críticas do movimento, a mídia de negócios, e as corporações que lhe servem de espelho, passaram a “chamar” o consumidor, individualmente, a ser parte desse processo, re-significando a crítica às imagens e ações corporativas, absorvendo um outro discurso, mais neutro: o do consumidor responsável. 3. Terceiro ato do efeito bumerangue da militância baseada na marca: a ascensão do consumidor responsável O termo “consumo ou consumidor responsável” – e seus similares “consciente”, “sustentável”, “ético”, “racional”, “ativista”, “cidadão”, “verde” - ganhou destaque na aurora do século XXI e tem se tornado cada vez mais recorrente no discurso midiático, corporativo e também acadêmico. Uma análise dos principais artigos publicados sobre o tema deixa claro como os termos utilizados se alternam, com cada autor assumindo um recorte teórico e definindo o termo a partir desse recorte. Pode-se inferir que o uso “ético, ativista ou cidadão”, geralmente remete a um coletivo de consumidores, a movimentos que questionam os valores e os excessos da sociedade de consumo, ganhando, por vezes, a conotação de movimentos de consumidores e, por outras, de movimentos anticonsumo (Soper, 2007; Jubas, 2007; Clarke,2007; Schild, 2007; Trentmann, 2007; Thompson & Coskuner-Balli, 2007; Varman & Belk, 2009; Kozinets & Handelman, 2004). Quando os termos referidos são “consciente, responsável, sustentável ou verde”, o enfoque quase sempre remete a uma discussão sobre o papel do indivíduo nas suas decisões de consumo (Holt, 2002; Caruana & Crane, 2008; Connolly & Prothero, 2008; Carducci, 2008; Szmigin, Carrigan & McEachern, 2009). É o enfoque na ação individual que ganha predominância no discurso midiático e organizacional, conforme constatou a pesquisa de Caruana e Crane (2008), cujo objetivo foi entender o papel das corporações em construir a natureza, o significado e as implicações da “responsabilidade do consumidor”. Baseados em amplo levantamento bibliográfico e documental, os autores demonstraram como esse discurso tem se apoiado na idéia de “soberania do consumidor”. Fundamentados em uma concepção foucaultiana e em uma análise empírica sobre companhias de turismo voltadas a viagens “éticas”, os autores demonstraram como as empresas, através de sua comunicação corporativa, com o apoio da mídia e de órgãos governamentais, têm produzido um discurso sobre responsabilidade que remete a uma categoria de consumidor “sem conflito”, limitando a possibilidade de uma discussão sobre as tensões inerentes à questão da escolha e da responsabilização. Neste artigo, optou-se pelo termo “consumo responsável”, embora alguns trabalhos aqui utilizados, e que foram fundamentais para a compreensão do fenômeno, se refiram a esse processo com outros termos, como é o caso do artigo de Connolly e Prothero (2008) que, apesar de optarem pelo termo “consumo verde”, abordam de forma clara e contundente a questão da responsabilidade que tem sido endereçada aos consumidores por conta dos problemas ambientais, no interior de um contexto social de crescente individualização. Baseados em uma pesquisa empírica com consumidores irlandeses, e assentados na tradição 9 teórica da sociedade de risco (Beck,1992; Giddens, 1991), Connolly e Prothero apontaram para os dilemas, dúvidas e inseguranças dos consumidores diante dos riscos de fazerem escolhas sobre as quais eles não dispõem de suficiente conhecimento. Mas é exatamente a questão da responsabilização individual que tem ganhado destaque nos discursos sobre o consumo. Embora pareça cada vez mais atrelado à crise climática, o discurso do consumo responsável remete a uma idéia de sustentabilidade corporativa mais ampla, que articula a defesa do meio ambiente a relações de trabalho e comércio mais justas. Assim, do ponto de vista da realidade concreta, uma possível resposta para seu nascimento estaria no fato de que, diante da pressão de movimentos de crítica corporativa as empresas estariam sendo impelidas a desenvolverem um modelo de produção sustentável como uma nova estratégia de negócio e de imagem. Assim, as empresas buscariam disseminar a sua imagem “socialmente responsável” através de estratégias de comunicação que veiculassem e valorizassem suas ações, visando atingir um consumidor disposto a realizar uma escolha “politicamente correta”, que reconheça e atribua valor a tais estratégias empresariais. Definindo tal consumidor como “consciente”, o Instituto Akatu defende que este passa a ter um papel fundamental, especialmente “pela escolha das empresas das quais vai comprar em função de sua responsabilidade social, ajudando a construir uma sociedade mais sustentável e justa”. O “Instituto Akatu” é uma organização não governamental brasileira, que teria surgido, quando os seus dirigentes perceberam que as empresas só aprofundariam suas práticas de Responsabilidade Social (RSE) na medida em que os consumidores passassem a valorizar essas iniciativas em suas decisões de compra. (www.akatu.org.br) Taxando tal forma de consumo como “ética”, os autores e organizadores do livro “The Ethical Consumer” (Harrison; Newholm & Shaw; 2005), definem que essa forma de consumo se refere a um ato de compra (ou não compra) no qual estão implícitas as preocupações do processo de consumir com os impactos que isso possa causar ao ambiente econômico, social ou cultural. Ele está circunscrito ao fato de que o consumidor pensa e se preocupa com os efeitos que uma escolha de compra gera aos outros e ao mundo externo como, por exemplo, com o tratamento despendido aos trabalhadores envolvidos na produção de um determinado produto, ou com os impactos ambientais que certos produtos causam. Tal atitude, que pode ser individual, só se tornaria política ao se condensar em um movimento de consumidores ou “consumer activism”, nas proposições de Lang e Gabriel (2005). Essa diferenciação é importante para os propósitos deste artigo, tendo em vista ser necessário distinguir os “tradicionais” movimentos de consumidores dos movimentos anti-marcas. Empreendendo uma breve história sobre o ativismo dos consumidores, Lang e Gabriel (2005) demonstram como eles remontam ao século XIX, através de histórias de boicotes e de formação de cooperativas de compras, como as cooperativas inglesas emergentes no final do século XIX, formadas em reação aos preços excessivos e à má qualidade dos produtos. Há uma história própria desses movimentos que persistem até hoje, através de diversas instituições nacionais e internacionais. Sabe-se que o debate em torno do alcance possível dos movimentos de consumidores tem sido forte no meio acadêmico, seja pela perspectiva da cidadania (Trentmann, 2007; Soper, 2007; Jubas, 2007;Clarke, 2007; Schild, 2007) ou dos Novos Movimentos Sociais (Bueechler, 1995; Kozinets & Handelman, 2004); mas não se pretende enveredar por esse debate, dado que assume-se que os movimentos anti-marcas não se caracterizariam como movimentos de consumidores nesse sentido aqui atribuído. Partiu-se da hipótese de que os movimentos anti-marcas tiveram uma forte contribuição para a emergência do discurso da responsabilização individual do consumidor. Parte desta hipótese foi apoiada por uma pesquisa qualitativa realizada sobre a produção do discurso do consumo responsável na mídia de negócios, cuja metodologia apoiou-se em Chiapello e Fairclough 10 (2002); Parker (1992) e, fundamentalmente, Caruana e Crane (2009), devido à proximidade metodológica e temática deste artigo com o objeto de estudo aqui relatado. A partir de uma ampla revisão bibliográfica sobre o tema, e de algumas definições encontradas na mídia, construiu-se um conjunto de conceitos com os quais se buscaria o discurso nas revistas pesquisadas: • Consumo consciente – preocupado com os impactos individuais do consumo; • Consumo verde – busca preservar a natureza; • Consumo sustentável – procura garantir que os recursos não vão acabar; • Consumo ético/ativista – o consumo é visto como espaço de conflito (só existe como movimento coletivo); • Consumo eficiente/racional – consome-se o mínimo necessário; • Consumo saudável – preserva a saúde; e • Consumo responsável - procura não causar danos; engloba todas as categorias anteriores. Para cada um desses conceitos foi emitido um relatório a partir do qual foi feita uma análise detalhada sobre os textos, para deles tirar conclusões prévias (mudança do discurso ao longo do tempo, posicionamento sobre determinados agentes, comparação entre as duas revistas) e orientar a continuidade das análises. Como já foi dito, esta pesquisa ainda é inédita, e será bem mais amplamente explorada do que está sendo neste artigo, dado que seu objetivo é analisar o discurso da responsabilização em torno da crise climática, da produção da culpa e da redenção como mercadoria. Entretanto, durante a análise dos dados, saltou aos olhos a maneira como a mídia tecia críticas contundentes e depreciativas aos movimentos anti-marcas, ao mesmo tempo em que absorvia suas críticas de forma re-significada ao relacionar o consumo responsável a uma atitude individual. Assim, dados da pesquisa têm sido, aqui utilizados, com esse objetivo de apoiar a hipótese de que o consumo responsável nasceu, em grande parte, de uma resposta midiática e corporativa aos movimentos anti-marcas. Viu-se, por exemplo, que no período 2001-2002, os anos “pósSeatlle” - como ficaram conhecidos os movimentos anti-marcas – são várias as reportagens que retratam os participantes dos movimentos antimarcas de forma depreciativa, e que essa leitura persistiu ao longo da década: With security high, the few anti-globalisation protesters who were allowed into Qatar had no chance of repeating Seattle. But they were still creative. Small groups used surprise tactics, springing up outside meeting rooms to chant “Zoellick go home”, or plastering the conference walls with enigmatic messages, such as “Do you know what the green man is up to?” But most non-governmental organisations were too busy lobbying to protest. Greenpeace, the environmental titan, persuaded Pascal Lamy, Europe's top trade man, to visit its boat, Rainbow Warrior, for a photo opportunity. And José Bové, the French farmer famous for driving his tractor into McDonald's, spent much of his time hanging around the press room, pipe in hand. (The Economist, 2001) Segundo a nova ideologia, o mundo de hoje seria dominado por gigantescas corporações interessadas em ganhar muito dinheiro à custa da saúde das pessoas e do planeta. Caberia às ONGs o heróico papel de combatê-las. Nessa luta, é preciso abalar os pilares do sistema capitalista -- as empresas, os organismos multinacionais, os governos -- com todas as armas 11 que tiverem à mão. Pode ser vestindo-se de frango. Pode ser sitiando os encontros do Fundo Monetário Internacional. Pode ser divulgando informações, muitas vezes duvidosas ou simplesmente equivocadas, sobre o desmatamento da Amazônia... (Exame, 2006) Ao mesmo tempo, ia sendo construído um discurso em torno do consumidor individual e de sua responsabilização que absorvia as críticas dos movimentos, dessa vez encampadas a partir de uma outra vertente: a das empresas também socialmente responsáveis que começavam a aparecer com mais força no discurso: People don't buy hybrids for fuel economy,” says Mr Lutz. “They buy one to make an environmental statement. (The Economist, 2004) Quando o consumidor exige práticas ambientais saudáveis - comprando, por exemplo, apenas madeira certificada -, é natural que as empresas que seguem essas práticas sejam as mais lucrativas. (Exame, 2005) À medida em que os anos pós-Seatlle iam se distanciando, o discurso da mídia cada vez mais construía uma “política do indivíduo”, enfatizando a soberania do consumidor e a não intervenção intervenção estatal. Sendo impossível descrever todas as frases encontradas, segue uma das mais representativas: If you think you can make the planet better by clever shopping, think again. You might make it worse “You don't have to wait for government to move... the really fantastic thing about Fairtrade is that you can go shopping!” So said a representative of the Fairtrade movement in a British newspaper this year. Similarly Marion Nestle, a nutritionist at New York University, argues that “when you choose organics, you are voting for a planet with fewer pesticides, richer soil and cleaner water supplies.” The idea that shopping is the new politics is certainly seductive. Never mind the ballot box: vote with your supermarket trolley instead. Elections occur relatively rarely, but you probably go shopping several times a month, providing yourself with lots of opportunities to express your opinions. If you are worried about the environment, you might buy organic food; if you want to help poor farmers, you can do your bit by buying Fairtrade products; or you can express a dislike of evil multinational companies and rampant globalisation by buying only local produce. And the best bit is that shopping, unlike voting, is fun; so you can do good and enjoy yourself at the same time. (The Economist, 2006) Tem-se, assim, uma pequena amostra do quanto essa chamada para uma responsabilização individual é uma constante nas matérias analisadas pelas duas publicações ao longo dos anos 1996-2007, ao mesmo tempo em que as críticas mais radicais dos movimentos anti-marcas iam sendo assimiladas e re-significadas por uma linguagem corporativa e midiática. Mesmo reforçando a importância do coletivo, Klein acaba levando água para os moinhos de tal discurso ao enfatizar que acumular o conhecimento acerca de como o mundo funciona é “crucial to the survival not just of democracy but of the planet”. Embora reconheça que isso é bastante complicado, a autora afirma que “we embraced that complexity because we were finally looking at systems, not just symbols”. (Klein, 2009a, p.xxix). Tem sido justamente essa tarefa complexa que tem sido atribuída aos indivíduos, através do discurso do consumo responsável. Na pesquisa desenvolvida por Connolly e Prothero (2009), os participantes felt that they had an obligation to and could act to adress global (and local/national) environmental issues. At the same time, they also felt uneasiness about how to act. The feeling of empowerment described are not in opposition to or detached from the 12 accompanying feelings of confusion, ambivalence or uncertainty, but are in fact a result of feeling of being individually responsible. Embora não deduza o discurso corporativo sobre o consumidor responsável diretamente dos movimentos anti-marcas, os autores também apontam que essa teria sido uma das razões principais da ascensão de tal discurso. É o caso do estudo de Caruana e Crane (2008), que se refere ao artigo de Herz (2001) para propor que a responsabilidade do consumidor seria uma forma efetiva de alcançar objetivos políticos, tendo em vista que as corporações responderiam a essa demanda. Os dilemas produzidos, nos indivíduos, diante do desafio de assumirem responsabilidades cada vez mais globais também tem sido apontados pelo filósofo esloveno Slavoj Zizek, considerado um dos principais representantes da esquerda radical na contemporaneidade. Segundo ele a teoria da sociedade de risco e sua reflexividade global está correta ao enfatizar que estamos hoje no extremo oposto da clássica ideologia universalista iluminista que pressupunha que, no logo prazo, as questões fundamentais poderiam ser resolvidas por referência ao ‘conhecimento objetivo’ dos especialistas... O ponto em que a teoria da sociedade de risco fica aquém é ao enfatizar a desagradável situação irracional que é colocada a nós, pessoas comuns: somos cada vez mais forçados a decidir, apesar de estarmos cientes de que não estamos em posição de decidir... (Zizek, 2009, 157). O problema não seria sequer o de alegar uma pretensa corrupção da ciência pelas grandes corporações, por conta da dependência financeira, mas é que nem mesmo a ciência têm sido capaz de oferecer respostas, confrontando os sujeitos o tempo inteiro com opiniões conflitantes, de especialistas, sobre as consequências ambientais de um dado produto, seja no meio ambiente, seja no próprio corpo humano, como o debate em torno do aquecimento global ou dos alimentos geneticamente modificados tem demonstrado. Dessa forma, o sujeito é chamado “a decidir, mas ao mesmo tempo recebe a mensagem de que não está em posição efetiva de decidir” (Zizek, 2009, 158). A responsabilidade individual pelo consumo seria, portanto, o ponto de chegada de uma batalha que teria se iniciado no movimento contracultural dos anos 60, invertendo a sua lógica. A crítica radical que, embora partindo de orientações filosóficas diferentes, tinha em comum a vontade de “dar fim ao sujeito responsável a quem a alternativa entre autenticidade e inautenticidade se apresentaria como uma escolha existencial, denunciada como pura ilusão ou expressão do éthos burguês” (Boltanki & Chiapello, 1999, p.457), tornou-se o seu contrário, apresentando-se, agora, como parte do repertório mercadológico. Se de um lado, tal discurso aponta para uma assimilação da crítica; por outro, é preciso indicar, a título de finalização, alguns estudos que apontam para os riscos que tal exaustão do consumidor, diante do impasse de fazer escolhas e de se responsabilizar por algo que está além da sua capacidade de compreensão e atuação, pode provocar (Salecl, 2005; Melman, 2003; Davis, 2005). Dentre eles, as análises psicanalíticas de Chalers Melman - que apontam para o risco de um “fascismo voluntário”, no sentido de um desejo social extremo por um “Outro” que escolha por nós (Melman, 2003) -, parecem corroborar com as pesquisas realizadas por Connolly e Prothero (2009) sobre as dúvidas e inseguranças do consumidor acerca das escolhas a serem feitas. Segundo os autores, esses dilemas fundamentais que as pessoas enfrentam, desafiam a idéia de que o consumo responsável possa se apresentar sob a forma de uma “política de escolha”. 13 4. Referências Bibliográficas Adorno; T & Horkeheimer, M. (1976). Dialectic of enlightenment. New York: Continuum. Barber, Benjamin. (2000). “Jihad Vs. McWorld”. In: The Atlantic Monthly. no.3, v.269, March of 1992, pp-53-65. Online: http://www3.theatlantic.com/politics/ foreign/barberf.htm . [26 Jan]. Beck, U. (1992). Risk Society: towards a new modernity. Newbury Park, CA: Sage. Boltanski , L. & Chiapello, E. (2009). Le nouvel esprit du capitalisme. Paris: Gallimard. Buechler, Steven M. (1995). New Social Movement Theories. In: The Sociological Quarterly, v. 36, nº. 3, pp. 441-464. Mankato State Univeristy. Carducci, V. (2008). Book Review: Jo Littler, radical consumption. Maidenhead: Open University Press. Journal of Consumer Culture, 9(3), pp. 422-424. Caruana, R. & Crane, A. (2008). Constructing consumer responsibility: exploring the role of corporate communications. Organization Studies, 29(12), pp. 1495-1519. Chiapello, E. & Fairclough, N. Understanding the new management ideology: a transdisciplinary contribution from critical discourse analysis and new sociology of capitalism. Discourse and Society, 13(2), pp. 185-208. Clarke, J. (2007). Unsettled connections: citizens, consumers and the reform of public services. Journal of Consumer Culture, 7(2), pp. 159-178. Connolly, J. & Prothero, A. (2008). Green consumption: life politics, risk and contradictions. Journal of Consumer Culture, 8 (1), pp. 117-145. Davis, Melinda (2005). A nova cultura do desejo. Rio de Janeiro: Record. Debord, Guy (1994). The society of spectacle. New York: Zone Books. Fontenelle, Isleide (2002). O nome da marca: mcdonald´s, fetichismo e cultura descartável. São Paulo: Boitempo. Frank, T. (1997). The conquest of cool: business culture, counterculture and the rise of hip consumerism. Chicago: University of Chicago Press. Gabriel, Y. & Lang, T. (2005). A Brief History of Consumer Activism. In: Harrison, R. et. all.,(ed.) The Ethical Consumer. London: Sage, pp. 39-53. Giddens, Anthony (1991). Modernity and self-identity. Cambridge: Polity Press. Harrison, R.; Newholm, T. & Shaw, D. (2005). The ethical consumer. London: Sage. Heath & Pother. (2005). The rebel sell: how the counterculture became consumer culture. Sussex: Capstone Publishing Limited. Herz, Noreena. (2001). Better to shop than to vote? Business Ethics: A European review. 10/3, pp.190-193. Holt, D. (2002). Why do brands cause trouble? A dialectical theory of consumer culture and branding. Journal of Consumer Research, 29(June), pp. 3-37. Jubas, K. (2007). Conceptual con/fusion in democratic societies: understandings and limitations of consumer-citizenship. Journal of Consumer Culture, 7(2), pp. 231-254. Kingsnorth, Paul. (2005). Whatever happened to the revolution? Critical perspectives on international business. Vol.1, no.4, pp. 273-276. 14 Klein, Naomi. (2009a). No Logo. Taking aim at the brand bullies. New York: Picador. Klein, Naomi. (2009b). Revisiting No Logo ten years later. The Huffington Post, November, 16. Kozinets, R. & Handelman, J. (2004). Adversaries of consumption: consumer movements, activism, and ideology. Journal of Consumer Research, 31 (December), pp. 691-704. Lipovetsky, G.(1993). Lére du Vide. Paris: Editions Gallimard. Lipovetsky, G. (2004). Métamorphoses de la culture libérale. Quebec: Líber. Magala, Slawomir. (2006) Critical theory: 15 years later. Critical perspectives on international business. Vol.2, no.3, pp. 183-194. Melman, C. Charles (2003). L’homme sans gravité jouir à tout prix. França: Denoel. Murphy, Jonathan (2009). Beyond criticism: towards alternatives. Critical perspectives on international business. Vol.5, no.4, pp. 304-317. Parker, Ian. (1992) Discourse dynamics. London: Routledge. Reich, Robert. (2008). Supercapitalism. The Battle for Democracy in the Age of Big Business. Cambrige: Icon Books. Salecl, Renata (2005). Sobre a felicidade: ansiedade e consumo na era do hipercapitalismo. São Paulo: Alameda. Schild, V. (2007). Empowering ‘consumer-citizens’ or governing poor female subjects? The institutionalization of ‘self-development’ in the Chilean social policy field. Journal of Consumer Culture, 7(2), pp. 179-203. Soper, K. (2007). Re-thinking the ‘Good-Life’: the citizenship dimension of consumer disaffection with consumerism. Journal of Consumer Culture, 7(2), pp. 205-229. Szmigin, I.; Carrigan, M. & McEachern, M. (2009). The conscious consumer: taking a flexible approach to ethical behavior. International Journal of Consumer Studies. 33, pp. 224231. Thompson, C. & Coskuner-Balli, G.(2007). Countervailing market responses to corporate cooptation and the ideological recruitment of consumption communities. Journal of Consumer Research. 34 (December), pp. 135-152. Time, 17/11/1997, p.327. Trentmann, F. (2007). Citizenship and consumption. Journal of Consumer Culture, 7(2), pp. 147-158. Varman, R. & Belk, R. (2009). Nationalism and ideology in an anti-consumption movement. Journal of Consumer Research. 36 (December), pp. 686-700. Vidal, J. McLibel. (1997). Burger Culture on Trial. New York: The New Press. Zizek, S. (2009). Lacrimae Rerum: ensaios sobre cinema moderno. São Paulo: Boitempo. Zizek, S. & Daly Glyn. (2004). Conversations with Zizek. Cambridge: Polity Press Ltd. 15
Download