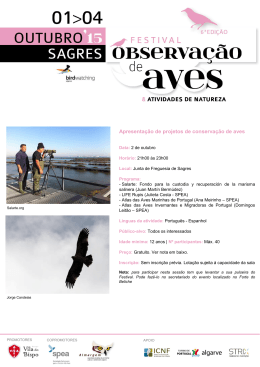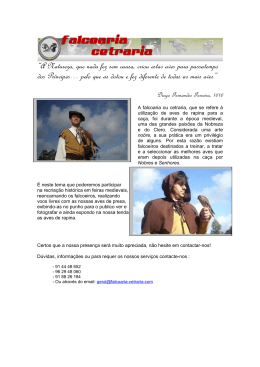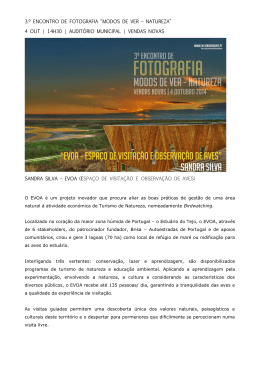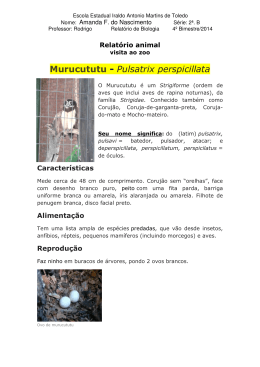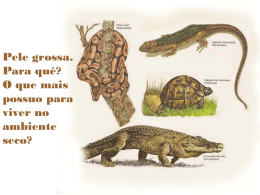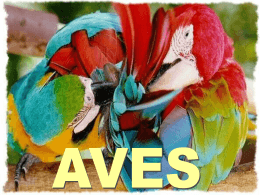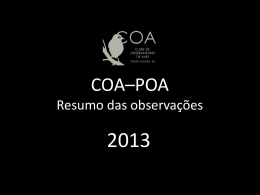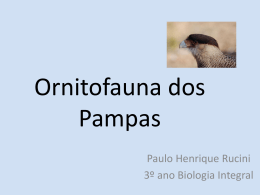UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO PRÓ- REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM HIGIENE E INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL INSPEÇÃO DE AVES Adilon Alves de Amorim Neto Camilla Castro Machado Miranda Goiânia, julho 2009 Adilon Alves de Amorim Neto Aluno do curso de Especialização “Lato Sensu” em Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal Matrícula 3838 Camilla Castro Machado Miranda Aluna do curso de Especialização “Lato Sensu” em Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal Matrícula 3819 INSPEÇÃO DE AVES Trabalho monográfico de conclusão do curso de PósGraduação “Lato Sensu” em Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal, apresentado à UCB, como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal, sob orientação da Profª. Msc. Adriana de Oliveira Santos. Goiânia, julho 2009 INSPEÇÃO DE AVES Elaborado por Adilon Alves de Amorim Neto e Camilla Castro Machado Miranda. Alunos do Curso de Especialização “Lato Sensu” em Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal Foi analisado e aprovado com grau:......................................................... Goiânia, ____de _______________de _________. _____________________________________________ Membro ______________________________________________ Membro _____________________________________________ Profª. Msc. Adriana de Oliveira Santos Professora Orientadora Presidente Goiânia, julho 2009 Agradecimentos A Deus e todos os professores que ministraram o curso de Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal da UCB, que não pouparam esforços em nos transmitir seus conhecimentos. A nossa orientadora Profª. Msc. Adriana de Oliveira Santos, nosso sincero obrigado pela abnegação que tão prontamente nos atendeu. RESUMO Os objetivos deste trabalho foram aprofundar os conhecimentos a respeito da inspeção sanitária da carne de aves e produtos derivados, bem como a rotina de abate e de processamento de alimentos além de obter conhecimento sobre as ferramentas e programas utilizados na busca pela melhor qualidade e segurança alimentar. O controle sanitário dos produtos de origem animal tem influenciado, sobretudo, a dinâmica do comércio mundial de carne de aves, estabelecendo novos parâmetros de competitividade associados aos sistemas de qualidade dos alimentos. É de suma importância a presença do médico veterinário em estabelecimentos que processam produtos de origem animal, pois possuímos conhecimentos na área de microbiologia dos alimentos e somos habilitados a conduzir e garantir o controle de qualidade e a inocuidade dos produtos destinados à alimentação humana. ABSTRACT The objectives of this work went to deepen the knowledge regarding the Sanitary Inspection of the Meat of Ave and derived products, as well as the discount routine and of processing in process industry of foods (slaughterhouse) and to obtain knowledge on the tools and programs used in the search by the best quality and alimentary safety. It is increased that the sanitary control of the products of animal origin has been influencing, above all, the dynamics of the world trade of meat of birds, establishing new parameters of competitiveness associated to the systems of quality of the foods. It is of addition importance the veterinary doctor's presence in establishments that process products of animal origin, since we are the only ones with knowledge in the area microbiológica of the processing of the foods and qualified to drive and to guarantee the quality control and the inocuidade of the foods destined to the human feeding. I. INTRODUÇÃO Segundo a Associação Brasileira dos Exportadores de Frango (ABEF, 2006), o Brasil exportou nos últimos três anos o equivalente a seis milhões de toneladas de carne de frango, adquirindo em 2004 o título de primeiro lugar absoluto nas exportações do produto, tanto em receita cambial quanto em volume exportado. A receita referente às exportações do produto chegou, no último ano, a US$ 6,9 bilhões o que representa um aumento de 40% se comparado a mesma época do ano de 2007, demonstrando a grande importância do setor. Além de representar um novo recorde histórico do setor, o desempenho em 2008 consolidou a posição do Brasil – obtida pela primeira vez em 2004 – de maior exportador mundial. Além da sanidade do rebanho nacional, livre da Doença de Newcastle e da Influenza Aviária, outros fatores contribuem para a competitividade da indústria avícola, como o baixo custo para produção de frangos. Somente o Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia, respondem por 50% da produção mundial de soja e 10% de milho, para uma população de 3,5% do globo e ainda, o Brasil, possui 80 milhões de hectares inexplorados, que podem ampliar a produção de grãos (LIMA, 2004). Estes dados demonstram a influência da produção de grãos no aumento da competitividade da atividade avícola, já que o aumento da oferta de grãos devido a nossa grande extensão territorial e grande oferta de mão de obra barata, representa diminuição dos gastos com ração para alimentação das aves durante a produção. Acrescenta-se que o controle sanitário dos produtos de origem animal tem influenciado, sobretudo, a dinâmica do comércio mundial de carne de aves, estabelecendo novos parâmetros de competitividade associados aos sistemas de qualidade dos alimentos (MARTINELLI & SOUZA, 2005). Quando se refere à qualidade na industrialização e manipulação dos alimentos, podem-se citar sistemas como: Boas Práticas de Fabricação (BPF), Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), Rastreabilidade, Cinco Sensos(5S),International Organization for Standartization (ISO), Qualidade Total (SILVA, 2006). Sistemas estes exigidos por órgãos internacionais para a exportação dos produtos de origem animal, que hoje representa grande parte da receita proveniente do comércio de carnes de aves no Brasil. O conceito de qualidade de alimentos, na visão do consumidor, reflete a satisfação de características como sabor, aroma, aparência, embalagem, preço e disponibilidade. Muitas vezes, não é conhecida a condição intrínseca de segurança alimentar nos aspectos relacionados à influência do alimento sobre a saúde humana. O termo alimento seguro significa a garantia de consumo alimentar seguro no âmbito da saúde coletiva, de produtos livres de contaminantes de natureza química, física, biológica ou outras substâncias que possam colocar em risco a saúde (SILVA, 2006). O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Agrodefesa são os responsáveis, no estado de Goiás, por fiscalizar, dirigir, planejar e conduzir o controle da qualidade dos alimentos de origem animal no Brasil, através do Serviço de Inspeção Federal (SIF) e o Serviço de Inspeção Estadual (SIE) respectivamente, garantindo-os como alimentos seguros à população e saúde pública. Os objetivos deste trabalho foram aprofundar os conhecimentos a respeito da Inspeção Sanitária da Carne de Aves e produtos derivados, bem como a rotina de abate e de processamento em indústria de transformação de alimentos além de obter conhecimentos sobre as ferramentas e os programas utilizados em busca a qualidade e a segurança alimentar. II. METODOLOGIA 1. Abatedouro de Aves O abate e processamento de carcaças de aves abrangem dentre outras atividades ocontrole dentro do abatedouro sendo estes realizados desde o momento que as aves chegavam à plataforma de recepção, até a obtenção do produto final. As normas técnicas que regem o funcionamento dos Frigoríficos de Aves encontram-se detalhadamente descritas no Regulamento Técnico da Inspeção Tecnológica e Higiênico – Sanitária de Carne de Aves (BRASIL, 1998a). O presente trabalho se limita a uma abordagem geral do assunto. 1.1. Cuidados observados no período ante-mortem O período ante-mortem é iniciado quando os técnicos de produção fazem o aviso de apanha nos aviários, deixando as aves em jejum alimentar e apenas sob dieta hídrica. O jejum alimentar deve ser feito no galpão de criação, totalizando em média oito horas desde o momento que levantam os comedouros até o momento da insensibilização. Este período vem constando no boletim sanitário, que é assinado pelo médico veterinário responsável técnico das integrações, e analisado pelo médico veterinário inspetor fiscal do abatedouro. De acordo com ABREU & ÁVILA (2003), a prática do jejum é necessária para reduzir o conteúdo gastrintestinal das aves, diminuindo a possibilidade de contaminação da carcaça na evisceração, decorrente do rompimento do inglúvio e/ou intestino. Se a prática de jejum for maior que oito horas poderá ocasionar, devido o estresse alimentar, alterações na qualidade da carcaça ou morte súbita. BRESSAN & BERAQUET (2002) atribuíram à liberação de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) provenientes do estresse provocado pelo intervalo de jejum, dieta hídrica, transporte e temperaturas ambientais, como responsáveis por alterações na qualidade da carne. Conforme OLIVO & SHIMOKOMAKI (2001), essas alterações são decorrentes da ocorrência de carne PSE (Pale, Soft e Exudative – Pálida, Flácida e Exsudativa) em frangos. Sabe-se que as carnes PSE são originadas de frangos que sofreram estresse no manejo pré abate, em decorrência da rápida glicólise pós mortem, sendo que a correta manipulação das aves nas horas que precedem o abate é indispensável para obtenção de produtos de qualidade. 1.2. Manejo da apanha e transporte das aves ao abatedouro Normalmente as aves são pegas duas a duas, seguradas cuidadosamente pelo dorso com as mãos sobre as asas e colocadas em caixas plásticas destinadas exclusivamente ao transporte (Figura 1). Em cada caixa, são colocadas de oito a 10 aves, de acordo com o tamanho e consequentemente peso das mesmas. Em lotes de fêmeas, coloca-se até 10 aves por caixa e em lotes de machos, são colocadas no máximo nove aves por caixa. ABREU & ÁVILA (2003) citaram que o sexo, peso das aves, clima e distância do aviário ao abatedouro, devem ser considerados para definir o número de aves colocadas em cada caixa. Quando a caixa está mais vazia, reduz-se o número de fraturas, as aves têm mais espaço para movimentar-se, além de melhorar a circulação de oxigênio, reduzindo os efeitos provocados pela asfixia, como a coloração inadequada da carne das aves devendo tender para o azul devido a pouca quantidade de oxigênio e aumento de gás carbônico no tecido muscular. Em relação ao conforto das aves no transporte, MENDES (2004) recomendou que a quantidade de aves, em caixas tradicionais, seja de 22 kg de frango/caixa ou 0,020 m2/kg de frango no verão e 0,024m2/kg no inverno. Para facilitar a retirada das caixas do galpão até o caminhão de transporte, são colocados tubos de PVC no piso (sistema de trilhos), e as caixas são empurradas sobre eles até a rampa de acesso à carroceria do caminhão, onde então, as caixas são empilhadas, amarradas e transportadas (Figura 2). De acordo com ABREU e ÀVILA (2003), o ideal é que o número de caixas em cada pilha esteja entre sete e oito, pois as duas últimas fileiras são responsáveis por 40% das hemorragias de peito. O sistema de amarração das caixas nos caminhões podem ser o de canos laterais e cobertura de tela. FIGURA 1: APANHA DAS AVES NOS GALPÕES DE CRIAÇÃO FIGURA 2: TRANSPORTE DAS CAIXAS NO GALPÃO 1.3. Inspeção ante-mortem No dia anterior ao abate, os médicos veterinários inspetores fiscais dos abatedouros verificam a programação de abate para o dia posterior e também o boletim sanitário referente aos lotes que serão abatidos, juntamente com a Guia de Trânsito Animal (GTA). Os dados constantes no boletim sanitário, de acordo com BRASIL (1998a), são os seguintes: Procedência das aves, constando o nome, endereço da granja produtora e o número do lote ou galpão; Número de aves inicial e final; Doenças detectadas no lote; Tipo de tratamento a que o lote foi submetido, especificando o agente terapêutico usado e duração do tratamento; Data de suspensão de ração com antibiótico e/ou coccidiostáticos; Data e hora da retirada de alimentação; Outros dados julgados necessários; Assinatura do médico veterinário responsável pelo plantel. O boletim sanitário traz as informações necessárias para que possa ser feito abate seguro dentro de padrões que protejam e resguardem a saúde pública. Nos lotes com histórico ou registro de doenças ocorridas anteriormente, as aves são abatidas ao final do turno. De acordo com a Instrução Normativa n° 17, de 07 de abril de 2006 do MAPA o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) deverá informar imediatamente ao Departamento de Saúde Animal (DSA), a identificação de ocorrência de mortalidade acima de 10% (dez por cento) em lotes de aves de corte, ocorrida num período inferior a 72 (setenta e duas) horas e também a identificação de sinais característicos de Influenza Aviária ou Doença de Newcastle, durante a inspeção ante-mortem do lote. Na avaliação do boletim sanitário, observa-se também os tratamentos aos quais as aves foram submetidas, o período de suspensão dos medicamentos e não se pode permitir o abate se os prazos de carência não estão dentro do estabelecido pela recomendação. Na inspeção ante-mortem, também são observadas as condições de transporte e a lotação ideal das caixas de transporte. As aves mortas, tanto no transporte quanto na plataforma de recepção, são colocadas em caixas identificadas com a cor vermelha, condenadas e encaminhadas à fábrica de subprodutos. Essas aves são contadas e pesadas, e anotadas nas planilhas de controle de condenações diárias do SIF. De acordo com a Instrução Normativa n° 17, de 07 de abril de 2006 do MAPA,quando da análise do Boletim Sanitário, se constatada taxa de mortalidade igual ou superior a 10% (dez por cento), durante o alojamento das aves no estabelecimento de origem, o médico veterinário Fiscal Federal Agropecuário do SIF deverá realizar coleta de soro, swabe cloacal e traqueal, em até 1% (um por cento) das aves do lote, para posterior envio ao Laboratório Oficial, e enviar comunicação ao SIPAG, que cientificará ao SEDESA. Quando da análise do Boletim Sanitário, caso seja identificada taxa de mortalidade superior a 10% (dez por cento) num período inferior a 72 (setenta e duas) horas, desde o alojamento das aves no estabelecimento de origem até a emissão do boletim sanitário, ou quando identificada mortalidade igual ou superior a 1% (um por cento) durante o transporte das aves, do galpão ao abatedouro, ou ainda quando identificados sinais clínicos sugestivos de Influenza Aviária ou Doença de Newcastle no lote de aves, deverá ser realizada comunicação imediata ao Serviço de Inspeção de Produtos Agropecuários (SIPAG) e ao Serviço de Defesa Agropecuária (SEDESA) sobre o ocorrido Na plataforma de recepção de aves, são observados cuidados na desmontagem do caminhão, evitando-se bater com as caixas de aves ou derrubá-las e ainda, depositá-las com cuidado na esteira de recepção para evitar estresse nas aves. Esses procedimentos também fazem parte da inspeção ante-mortem, acompanhados pelo médico veterinário oficial encarregado do SIF local. 1.4. Áreas de recepção de aves As áreas destinadas à recepção de aves podem ser construídas em alvenaria, cobertas, devidamente protegidas dos ventos predominantes, da incidência de raios solares e ainda dispor de espaço suficiente, levando-se em conta a velocidade horária do abate, de acordo com as normas estabelecidas pela Portaria n°210 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 1998ª) As áreas de espera ou descanso das aves são construídas em local específico, possuindo cobertura, ventiladores e aspersores de acionamento automático, distribuídos por toda a área, de modo a molhar e ventilar todo o caminhão que permanecer lá estacionado. As aves destinadas ao abate podem ser provenientes de granjas de integrações próximas aos abatedouros, onde são transportadas em caminhões contendo de 356 a 458 caixas aproximadamente, dependendo do tamanho do caminhão. A área de recepção não pode ser destinada a um período de permanência muito extenso, entretanto, os caminhões contendo aves, eventualmente ficam estacionados nessa área durante algumas horas, devido às flutuações que podem ocorrer no sistema de entrega e abate (BERAQUET, 1994). 1.5. Fluxograma de abate de aves 1.6. Plataforma de recepção As plataformas de recepção de aves destinadas ao abate são construídas de acordo com as normas estabelecidas pela Portaria nº 210 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 1998a), onde descreve que o piso, paredes e teto devem ser feitos de material liso, resistente e impermeável, visando à eficiência dos procedimentos de limpeza e sanificação, antes, durante e após as atividades. Em alguns estabelecimentos, encontram-se as esteiras de recepção das caixas, com acionamento automático, de acordo com a altura da carga, visando facilitar o descarregamento do caminhão e ainda diminuindo o estresse da manipulação das aves. Essa construção permite que as aves possam ser retiradas das caixas e penduradas manualmente uma a uma pelos pés nos ganchos da nória, iniciando-se aí o procedimento de abate. Após a retirada das aves, as caixas de transporte são lavadas e um sistema de higienização dos caminhões é utilizado visto que as caixas e o caminhão sujos são fontes de contaminação para os lotes que serão carregados posteriormente, sendo imprescindível a adequada higienização e desinfecção dos mesmos. A velocidade das nórias de recepção é regulada de acordo com o número aproximado de aves abatidas por hora e esta variação ocorre de acordo com a produção e capacidade de abate do estabelecimento. 1.7. Insensibilização As aves são insensibilizadas com equipamento de eletronarcose sob imersão em líquido (água pura), conforme preconizado pela Portaria nº 210 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 1998a). A insensibilização é realizada em uma área anexa à recepção, separada desta por parede impermeável e lavável, onde as aves entram penduradas pelos pés na nória, através de um óculo. Normalmente os equipamentos utilizados para promover a insensibilização são regulados para aplicar descarga elétrica de 60 volts, 1 ampére e 1.000Hz em cada ave, sendo que a amperagem varia de acordo com o tamanho das aves. O processo de insensibilização deve ser descrito em planilhas de abate humanitário, que é o conjunto de diretrizes técnicas e científicas que garantam o bem-estar das aves desde a recepção até a operação de sangria, e monitorado conforme preconizado pela Instrução Normativa 03 (BRASIL, 2000). Ressalta-se que a insensibilização não promove a morte das aves e essa é seguida da sangria no prazo máximo de 12 segundos, atendendo o disposto pela Portaria nº 210 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 1998a). 1.8. Sangria A sangria deve ser feita logo após a insensibilização, em instalação própria e exclusiva, denominada “sala de sangria”, voltada para a plataforma de recepção de aves, deve ser de material impermeabilizado. A operação de sangria pode ser efetuada com as aves contidas pelos pés, através de equipamento de disco giratório. As aves que por ventura não tenham as veias e artérias do pescoço seccionadas após a passagem pelo equipamento, podem sofrer corte manual com facas esterilizadas. O sangue proveniente da sangria é coletado em calha, feita de chapa de material inoxidável, e transportado até tanques coletores de sangue, de onde deve ser constantemente puxado por bomba de pressão a vácuo, até a fábrica de subprodutos, conforme a Portaria nº 210 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 1998a). O comprimento do túnel de sangria é correspondente ao espaço percorrido pela ave, no tempo mínimo exigido para uma sangria total, ou seja, três minutos, antes do qual não seja realizada qualquer outra operação. A sala de sangria é separada fisicamente da recepção de aves e possui acesso independente de funcionários, com barreira sanitária na entrada, ou seja, lavador de botas e lavatório para mãos, com porta equipada com cortina de ar (BRASIL, 1998a). Em todas as instalações referentes ao ante-mortem, devem ser disponibilizados lavatórios com acionamento a botão posicionado na altura do joelho do operador, de modo que não ocorra contato manual. Na sangria, deve ser disponibilizado também esterilizador para as facas e chairas, com a temperatura da água atingindo 85ºC, todos feitos com aço inoxidável e de fácil acesso pelo operador (BRASIL, 1998a). 1.9. Escaldagem A escaldagem é executada logo após o término da sangria, em instalações próprias, podendo ser completamente separadas através de paredes, das demais áreas operacionais. A escaldagem é feita sob condições definidas de temperatura e tempo, não sendo introduzidas aves ainda vivas no sistema, conforme a Portaria nº 210 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 1998a). O procedimento de escaldagem é realizado pela imersão das aves em água aquecida por vapor com temperatura variando entre 55 e 65ºC por um período de cinco minutos, dentro de tanques feitos com aço inoxidável. A escaldagem da carcaça e dos pés são feitos em tanques separados, cada um em tanque próprio, possuindo, em todos, sistema de controle de temperatura e renovação contínua de água, de maneira que em cada turno de trabalho (oito horas) é renovado o correspondente ao volume total. Pela alta temperatura e acúmulo de vapor na sala a ventilação das sessões de escaldagem é feita com a ajuda de exaustores. 1.10. Depenagem A depenagem pode ser mecanizada, feita em depenadeiras compostas com dedos de borracha giratórios. O processo de depenagem é feito com as aves suspensas pelos pés, e processadas logo após a escaldagem, sendo proibido o seu retardamento. Nesta etapa é importante observar a regulagem da força dos dedos giratórios na retirada das penas para evitar contusões na carcaça. As penas retiradas podem ser coletadas através de canaletas, que as conduzam diretamente à fábrica de subprodutos. Ainda na sessão de depenagem, os pés também podem ter as cutículas retiradas através do depilador de pés. Caso fiquem restos de penas ou cutículas, estas podem ser retiradas manualmente. 1.11. Evisceração Conforme BRASIL (1998a), os trabalhos de evisceração devem ser executados em instalação própria, isolada por paredes da área de escaldagem e depenagem. Após saírem da depenagem, e antes de entrarem na sala de evisceração, que é considerada área limpa, as aves devem passar por um chuveiro de lavagem e passam para sala de evisceração por um óculo. Na sala de evisceração, o primeiro procedimento feito nas aves é o corte manual da pele do pescoço e da traquéia, para facilitar a retirada das vísceras. Em seguida, é feita a extração da cloaca, com equipamento apropriado e logo após o corte da região abdominal, utilizando-se uma faca curva, passando-a por baixo do peito entre as duas coxas. Após o corte abdominal é feita a eventração com a introdução da mão na cavidade abdominal, sendo as vísceras então expostas, para que seja feita a inspeção das carcaças. Após a inspeção, as vísceras não comestíveis, são lançadas diretamente na calha de evisceração, e conduzidas à fábrica de subprodutos. As vísceras comestíveis são depositadas em recipientes de aço inoxidável, preparadas e lavadas e então conduzidas aos pré-resfriadores. Os pés e pescoços, com ou sem cabeça, quando retirados da linha de evisceração para fins comestíveis, devem ser imediatamente pré-resfriados, em resfriadores contínuos por imersão, obedecendo ao princípio da renovação de água contracorrente e à temperatura máxima da água de 4ºC, conforme preconizado por BRASIL (1998a). As moelas passam pela máquina beneficiadora de moelas, onde são separadas das vísceras não comestíveis, cortadas, lavadas, e tem a membrana colínea retirada. É retirado o saco pericárdico do coração, assim como a vesícula biliar do fígado. Os miúdos (moela, coração e fígado) são pré-resfriados, imediatamente após a coleta e preparação, também seguindo as normas propostas por BRASIL (1998a). Os pulmões são retirados através de um equipamento sugador com pressão negativa e encaminhados para a fábrica de subprodutos. De acordo com BRASIL (1998a), as gorduras cavitárias e de cobertura da moela, podem ser utilizadas para fins comestíveis, como no preparo de produtos embutidos A lavagem final por aspersão das carcaças após a evisceração é realizada através de uma ducha de água sob pressão, que dispõe de hidrômetro para controle do volume de água consumida. 1.12. Inspeção post-mortem Conforme BRASIL (1998a), a inspeção post-mortem, executada na seção de evisceração deverá dispor de: Área de “inspeção de linha”, localizada ao longo da calha de evisceração, logo após a eventração, deverá dispor de todo equipamento capaz de proporcionar eficiência, facilidade e comodidade das operações de inspeção sanitária, com adequada iluminação (mínima de 500 LUX), bem como, o espaço mínimo de um metro por inspetor, lavatórios e esterilizadores; Área para “inspeção final”, contígua à calha de evisceração, dotada de focos luminosos em número suficiente, dispostos de forma a garantir perfeita iluminação. Preconiza-se, igualmente, iluminação entre 500 e 600 LUX; Sistema de ganchos de material inoxidável, em trilhagem aérea ou não, instalada de modo a permitir fácil desvio das carcaças suspeitas e eficiente trabalho de inspeção sanitária; Carrinhos, chutes, ou recipientes de aço inoxidável, dotados de fechamento, destinados à colocação das carcaças e vísceras condenadas, identificados total ou parcialmente pela cor vermelha e, ainda, com a inscrição “condenada”; Resfriadores contínuos com água gelada ou água mais gelo, destinados ao recebimento de carcaças ou partes de carcaças liberadas pela inspeção. Além desses equipamentos descritos anteriormente, estão à disposição da inspeção, balança destinada ao controle de absorção de água pelas carcaças e termômetro para controle de temperatura das carcaças e miúdos na saída do pré-resfriamento. A inspeção das carcaças é feita ao longo da calha de evisceração, assim como citado anteriormente e seguindo normas preconizadas por BRASIL (1998a). As carcaças passam por três linhas de inspeção, na primeira, a linha A, é feita a inspeção interna da carcaça. Nesta linha, são retiradas as carcaças com problemas sanitários passíveis de condenação e são encaminhadas para o DIF (Departamento de Inspeção Final), para que sejam feitos os cortes e as condenações totais ou parciais. As vísceras das carcaças que são encaminhadas ao DIF, são retiradas e condenadas. As carcaças que não apresentam problemas para serem encaminhadas ao DIF continuam seguindo pela nória, e passam pela linha B, onde é feita a inspeção das vísceras (fígado e coração) e, quando apresentam problema, são condenadas e colocadas em chutes, que as encaminham até a fábrica de subprodutos. A última linha de inspeção é a linha C, onde é feito o exame externo das carcaças e retiradas fraturas, contusões, e demais lesões que eventualmente tenham passado pelas linhas A e B sem serem retiradas. Todo o trabalho nas linhas de inspeção também é feito por auxiliares de inspeção, disponibilizados pela empresa e devidamente treinados pelos médicos veterinários oficiais do SIF, sendo que esses auxiliares devem utilizar uniforme diferenciado dos demais colaboradores da indústria. Esses auxiliares de inspeção são fiscalizados constantemente pelos médicos veterinários oficiais fiscais encarregados pelo estabelecimento e pelos agentes de inspeção, também do SIF. As carcaças podem ser reinspecionadas pelo controle de qualidade após passarem por toda a calha de evisceração, depois do chuveiro de lavagem final (toilette final) antes de caírem no sistema de pré-resfriamento (Chiller). O objetivo dessa reinspeção, é a retirada de contaminação que viesse a ocorrer após passar pela inspeção do SIF e observar o bom funcionamento dos extratores de pulmões. 1.13. Sistema de Pré-resfriamento (Chiller) O processo de pré-resfriamento pode ser realizado utilizando imersão em água por resfriadores contínuos, constituído por tanques de aço inoxidável com espessura, comprimento e diâmetro variando de acordo com a capacidade de abate dos frigoríficos e utilizar para a impulsão contínua das carcaças um sistema de roscas sem-fim. Para a homogeneização da temperatura dentro dos tanques e conseqüentemente em toda a carcaça é feita a agitação por borbulhamento com ar comprimido. A água utilizada nestes tanques deve ser potável, hiperclorada e refrigerada através da adição de gelo em escamas. Um resfriamento rápido da carcaça é essencial para retardar/minimizar o crescimento de bactérias deterioradoras psicrotróficas e prevenir qualquer aumento de microrganismos de importância para a saúde humana (DELAZARI, 2001). BALDINI (1994) citou que o pré-resfriamento da carcaça é recomendado a fim de facilitar a desossa, além de garantir uma melhor conservação dos cortes obtidos e maior rapidez nos processos subseqüentes, como o resfriamento ou congelamento. O pré-resfriamento das carcaças consiste numa operação de dois estágios. O primeiro estágio é utilizado para reduzir lentamente a temperatura da carcaça. Este procedimento, de acordo com BERAQUET (1994), é importante para evitar a rápida contração das fibras musculares, o que pode ocasionar endurecimento da carne. Também este primeiro estágio, serve para remover qualquer material estranho remanescente após o “toilette” final. A água deste primeiro estágio, ou “pré-chiller”, deve estar com a temperatura aferida até 16ºC e com 5ppm (partes por milhão) de cloro livre, sendo que a renovação da água ocorre durante todo o processo, no sentido contrário à movimentação das carcaças, e a troca total pode ser feita nos intervalos das trocas de turno (a cada oito horas). O segundo estágio, ou chiller propriamente dito, é feito em equipamento similar ao “pré-chiller”, que mantêm a temperatura da água entre 0 e 4ºC, com 5ppm de cloro residual e renovação da água durante todo o processo, no sentido contrário à movimentação das carcaças, e troca total nos intervalos de troca de turno. A passagem das carcaças por todo o sistema de pré-resfriamento pode levar aproximadamente 50 minutos. A temperatura das carcaças ao sair do sistema de préresfriamento é em torno de 7ºC, sendo permitido até 10ºC, mas não podendo ultrapassar este último valor. Carcaças que não atingirem este valor na saída do chiller final podem ser aproveitadas em produtos que passem por um processo de alta temperatura como na fabricação de salsichas e presuntos. Os pré-resfriadores de miúdos (pés, pescoço, moela, coração e fígado) são responsáveis pelo resfriamento dos mesmos, e este resfriamento é feito utilizando água gelada a 4ºC, hiperclorada a 5 ppm e com renovação durante todo o processo e troca total da água no intervalo de almoço, jantar e troca de turno. Os pré-resfriadores devem ter hidrômetros instalados para controlar o volume de água consumida que varia de um litro e meio por carcaça no primeiro estágio, e um litro por carcaça no segundo estágio. A água consumida nos pré-resfriadores de miúdos deve ser de um litro por kilograma de miúdos, conforme citou BRASIL (1998a). 1.14. Gotejamento Após o pré-resfriamento, as carcaças são suspensas pelo pescoço ou asa para escorrimento da água não absorvida antes de ser embalada. O gotejamento é importante para que essa água não absorvida não viesse a interferir no peso da carcaça e o controle da absorção possa ser feito corretamente. A água do gotejamento é recolhida em calha coletora e o comprimento da linha de gotejamento deve ser suficiente para que o tempo de drenagem seja de três a quatro minutos, dependendo da velocidade da nória, não podendo ser em menor tempo. 1.15. Seção de cortes de carcaça, desossa e produção de CMS (Carne Mecanicamente Separada) A seção de corte e desossa deve possuir dependência própria, exclusiva e climatizada, com temperatura ambiente não superior a 12ºC. Deve haver termômetros distribuídos pela sala, permitindo a mensuração para controle e registro da temperatura ambiente. A desossa de carcaças de frango normalmente é realizado de forma manual, diretamente na nória, ou em cones de desossa fixos, ou ainda sobre as bancadas, com auxílio de facas e tábuas plásticas. Podem existir na seção, linhas de desossa separadas para a produção de cortes com osso e cortes desossados. Em todas as linhas, devem existir esterilizadores para facas e chairas. As operações de acondicionamento em embalagens secundárias dos cortes e carcaças são realizadas em local específico e independente de outras seções. A temperatura dos produtos manipulados nesta seção não pode exceder 7ºC. Em alguns abatedouros também é produzido frango temperado, possuindo, dependência exclusiva para o armazenamento dos condimentos e preparo do tempero, de modo que o tempero chegue à máquina injetora somente no momento de sua utilização. Deve haver dependência exclusiva para produção de CMS (Carne Mecanicamente Separada) a partir do dorso das carcaças. Após a produção de CMS, essa deve seguir imediatamente para o congelamento, onde futuramente poderá ser utilizada em subprodutos como a salsicha de frango. 1.16. Classificação e Embalagem Atendendo à legislação, BRASIL (1998a), as mesas para embalagem de carcaças devem ser de superfície lisa, feita em aço inoxidável, laváveis, com bordas elevadas e dotadas de sistema de drenagem. Há transportadoras do tipo esteira, de material do tipo “borracha sanitária” e plástico de cor clara. As carcaças podem passar da seção de embalagem para a antecâmara, por óculo, provido de tampa móvel, evitando-se, não somente a perda de frio, mas também a circulação desnecessária de carrinhos e recipientes outros entre essas seções. As carcaças após terem sido colocadas na embalagem primária seguem em esteiras até chegarem às clipadeiras, onde então são lacradas. Os resíduos de embalagens devem ser colocados no lixo. Tendo sido embaladas primariamente, o acondicionamento das carcaças em embalagens secundárias é feito em caixas novas e de primeiro uso, feitos com papelão, e tal operação pode ser feita em dependências à parte da seção de embalagem primária. Eventualmente, as carcaças já em embalagens primárias, podem ser acondicionadas em caixas plásticas limpas e esterilizadas, quando destinadas ao mercado interno e comercializadas a granel. conforme a Portaria nº 210 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 1998a). 1.17. Instalações Frigoríficas Este conjunto é composto por antecâmaras, câmaras de resfriamento, túnel contínuo de congelamento e câmaras de estocagem. Durante a estocagem do produto resfriado, é de suma importância a manutenção de uma temperatura adequada, com a qual se obtém um período maior para a distribuição e consumo. Entretanto, o frio não é um agente de esterilização, pois quando, por qualquer motivo, o produto já resfriado ou congelado tem sua temperatura elevada, os microrganismos aí existentes, e que estavam em estado de latência, passam a se desenvolver mais rapidamente, à medida que se aproximam da temperatura ótima de crescimento (NEVES FILHO, 1994). As caixas que contenham as carcaças ou cortes para serem congelados são pesadas e encaminhadas por esteira ao túnel contínuo de congelamento, onde passam por tratamento térmico e completam o processo de congelamento de no mínimo -18ºC em aproximadamente 18 horas com a temperatura do túnel em torno de -35ºC. Já as carcaças e cortes resfriados permanecem por um tempo menor no túnel contínuo de congelamento, em torno de quatro horas, e a temperatura ideal final do produto é de -1º a +1ºC, não sendo obrigatória esta passagem pelo túnel de congelamento, bastando serem estocadas nas câmaras frigoríficas apropriadamente. A estocagem de produtos congelados e resfriados são feitas em câmaras com temperatura nunca superior a -18ºC. São realizadas medições para verificação das temperaturas e controle destas, mantendo-as dentro dos padrões exigidos por BRASIL (1998a). 1.18. Seção de Expedição (Plataforma de Embarque) As caixas com os produtos são retiradas das câmaras de estocagem após serem verificadas as temperaturas padronizadas para produtos congelados e resfriados. Essas caixas são pesadas e liberadas para o transporte. Todas as normas estabelecidas por BRASIL (1998a) devem ser seguidas para a construção e dimensionamento da seção de expedição, bem como as condições de higiene, manutenção de instalações e equipamentos e desenvolvimento das atividades. 1.19. Transporte Os veículos para transporte dos produtos devem possuir carrocerias construídas de material adequado, com isolamento térmico apropriado do meio externo e revestimento interno com material não oxidável, impermeável e de fácil higienização, dotados de unidade de refrigeração. Os caminhões que transportam os produtos são carregados após inspeção das condições de higiene e manutenção, além de realizada a aferição da temperatura interna. Essa inspeção é feita pelos agentes de inspeção do SIF. O carregamento dos produtos também é acompanhado pelos agentes de inspeção, onde são conferidas as temperaturas dos produtos durante o carregamento, e o caminhão só deve deixar o abatedouro após ter sido lacrado com lacre numerado pelo SIF. 2. Programas de controle de qualidade realizados nos abatedouros BRASIL (2005) cita que a premissa dos programas de autocontrole fundamenta-se na responsabilidade dos estabelecimentos de garantir a qualidade higiênico-sanitária e tecnológica de seus produtos, pelo Sistema de Controle de Qualidade capaz de se antecipar à materialização dos perigos à saúde pública e de outros atributos de qualidade, gerando registros e informações, de forma que o Sistema possa sofrer, continuamente, a verificação do Serviço Oficial de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Os procedimentos adotados pela Inspeção Oficial para verificar a implantação e manutenção dos programas de autocontrole dos estabelecimentos são chamados de elementos de inspeção, conforme estabelecido por BRASIL (2005). Fundamentam-se na inspeção do processo e na revisão dos registros de monitoramento dos programas de autocontrole das indústrias. 2.1. Programas de Autocontrole Os programas de autocontrole estão contidos nos programas de APPCC, BPF e PPHO, são registrados em planilhas, monitorados e revisados diariamente pelo controle de qualidade das empresas e também pelo SIF. 2.2. Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle Segundo BRASIL (1998b), o sistema APPCC é um sistema de análise que identifica perigos específicos e medidas preventivas para seu controle, objetivando a segurança do alimento e contempla para a aplicação, nas indústrias sob SIF, também os aspectos de garantia da qualidade e integridade econômica. Baseia-se na prevenção, eliminação ou redução dos perigos em todas as etapas da cadeia produtiva. Constitui-se de sete princípios básicos, a saber: 1. Identificação do perigo; 2. Identificação do ponto crítico; 3. Estabelecimento do limite crítico; 4. Monitorização; 5. Ações corretivas; 6. Procedimentos de verificação; 7. Registros de resultados. As empresas dispõem de manual próprio de APPCC. Este manual de procedimentos é elaborado segundo exigências de habilitação impostas pelo MAPA, tanto em legislação, como em supervisões e auditorias oficiais, e é constituído de: Identificação da empresa; Apresentação da equipe responsável pelo programa; Organograma da empresa; Descrição dos produtos e métodos de distribuição adotados; Descrição do processo, sendo parte geral do abatedouro (comum a todos os produtos), e parte específica de cada produto; Guia para a determinação dos PCCs; Planilhas para monitoramento dos PCCs. O manual descreve os processos e auxilia na tomada de decisão a respeito da determinação dos PCCs (Pontos Críticos de Controle) pelas planilhas de controle. Esses pontos são classificados em Biológico – PCC(B), Físico – PCC(F) e Químico – PCC(Q), cada qual segundo a natureza do risco envolvido. Os PCCs avaliados são os seguintes: PCC 1B: Retirada de contaminação no final da linha de evisceração antes de entrar no sistema de pré-resfriamento; PCC 2B: Chiller de miúdos e carcaças, temperatura da água, quantidade de cloro e vazão; PCC 3B: Câmaras de estocagem, temperatura das câmaras e dos produtos; PCC 1F: Máquina de injeção de tempero, higienização das agulhas e acondicionamento dos ingredientes. Cada PCC é monitorado durante as operações pelos funcionários integrantes do Controle de Qualidade das empresas, cada uma seguindo parâmetros descritos em seu próprio manual. Os parâmetros observados são colocados nas planilhas anteriormente citadas, que depois são revisadas pelo médico veterinário oficial encarregado pelo SIF. As planilhas são consideradas instrumentos muito importantes para a avaliação do programa e para a tomada de decisões pertinentes à solução de desvios e problemas apresentados durante os processos de produção, garantindo assim, que se obtivesse um maior controle sobre os produtos, proporcionando a possibilidade de transmitir segurança ao consumidor em relação ao produto final. 2.3. Boas Práticas de Fabricação (BPF) As Boas Práticas de Fabricação abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos, a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com os regulamentos técnicos (BRASIL, 1997b). Ainda, segundo o mesmo autor, o programa de BPF estabelece os requisitos gerais essenciais de higiene e de boas práticas de elaboração para alimentos elaborados/industrializados para o consumo humano. As boas práticas de fabricação nas empresas podem conter os seguintes itens: Programa de controle da saúde ocupacional; Relação dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) usados nas empresas; Saúde, comportamento e treinamento dos colaboradores. Este tópico descreve vários parâmetros pertinentes aos assuntos nele relacionados (condições de saúde, higiene pessoal, uniformes, etc.); Programa de treinamento do pessoal em BPF; Instalações, equipamentos, e utensílios; Programa de controle de formulação; Controle integrado de pragas e enfermidades; Descrição do processo de BPF na linha de produção; Material para treinamento; Planilhas; POP’ s (Procedimento Operacional Padrão); Procedência de matérias-prima; Armazenamento e transporte de matérias-prima e produtos acabados. Também podem ser realizadas, pelos programas de BPF, avaliações diárias, registrando em planilhas chamadas de “check-list”, das condições de limpeza e higiene, nos setores das indústrias, tais como: plataforma de recepção, escaldagem, evisceração, pré-resfriadores, embalagem, cortes, CMS e câmaras frias. Cada setor pode possuir seus próprios parâmetros a serem observados, com avaliação de acordo com a planilha de “check-list”. Da mesma forma que no APPCC, o controle exercido pelo programa de BPF pode ser feito pela observação dos parâmetros e registro nas planilhas de monitoramento, que são revisadas pelo supervisor do controle de qualidade e pelo encarregado do SIF. 2.4. Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO) O Programa Padrão de Higiene Operacional (PPHO) descreve todos os procedimentos de limpeza e sanitização executados diariamente pelos estabelecimentos para prevenir a contaminação dos produtos. É composto pelas atividades pré-operacionais e operacionais. O pré-operacional abrange os procedimentos descritos de limpeza e sanitização executados antes do início das atividades dos estabelecimentos. O operacional inclui a limpeza e sanitização dos equipamentos e utensílios durante a produção e intervalos entre turnos, inclusive nas paradas para descanso do almoço e jantar. O controle é exercido por planilhas, onde são anotadas as observações feitas. As planilhas contêm os parâmetros característicos de cada setor das indústrias. Depois de preenchidas, as planilhas são revisadas pelo supervisor do controle de qualidade e pelo encarregado do SIF. O manual de PPHO contém instruções técnicas com relação aos procedimentos de higienização de ambientes e utensílios nas indústrias e ainda, recomendações dos fabricantes dos produtos utilizados em tais procedimentos, bem como suas AUPs (Autorização de Uso de Produto), e respectivos rótulos. Só podem ser utilizados em estabelecimentos sob Inspeção Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento produtos que disponham de Autorização de Uso emitida pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal – DIPOA, da Secretaria de Defesa Agropecuária, independentemente de que tenham sido previamente protocolados, registrados ou dispensados de registro no órgão competente, de acordo com a legislação em vigor (BRASIL, 2002). 3. Programas obrigatórios exigidos pelo MAPA 3.1. Programa de Redução de Patógenos (PRP) O PRP, é um programa obrigatório, de realização diária, preconizado pelo MAPA, pela Instrução Normativa nº 70 de 6 de outubro de 2003 (BRASIL, 2003). De acordo com BRASIL (2003) os objetivos deste programa são: Verificação da prevalência da Salmonella sp. nos produtos avícolas; Formação de um banco de dados para análise dos índices de contaminação nos produtos avícolas; Estabelecimento de padrões quantitativos de aceitabilidade da contaminação dos produtos avícolas; Monitoramento constante do nível de contaminação por esse patógeno em estabelecimentos de abate de aves; Aumento das garantias de inocuidade de produtos avícolas no mercado interno e externo. Diariamente é feita amostragem, constituída de carcaça inteira coletada imediatamente após o gotejamento e antes da embalagem primária. Essas coletas também ficam registradas nos estabelecimentos, em cadernos oficiais, sendo que cada ciclo de análise é composto por 51 amostras. Essa amostragem é feita nos dois turnos de abate e enviada para laboratório oficial ou credenciado pelo MAPA, obedecendo a um prazo máximo de 24horas após a coleta. A amostra não deve ser congelada, sendo remetida ao laboratório em caixas de isopor com gelo, devidamente identificadas, constando o horário da coleta, data e as demais informações requeridas no COA (Certificado Oficial de Análise). 3.2. Programa de Prevenção e Controle da Adição de Água aos Produtos (PPCAAP) O controle do índice de absorção de água pelas carcaças de aves submetidas ao préresfriamento por imersão em água deve obrigatoriamente ser realizado e estar dentro do limite permitido por BRASIL (1998a). Ainda, conforme BRASIL (1998a) entende-se por índice de absorção o percentual de água adquirido pelas carcaças de aves durante o processo de matança e demais operações tecnológicas, principalmente no sistema de pré-resfriamento por imersão, uma vez que um pequeno percentual de água absorvida ocorre durante a escaldagem, depenagem e diversas lavagens na linha de evisceração (em média até 3%). Os métodos oficiais para o referido controle realizado pelas empresas é o método de controle interno, realizado ao nível de processamento industrial pela Inspeção Federal local, e o método do gotejamento, ou “Drip Test”, para controle de absorção de água em carcaças congeladas de aves submetidas ao pré-resfriamento por imersão. Estão especificamente detalhadas as formas como são feitos os dois controles em BRASIL (1998a). O método do controle interno é feito com 10 carcaças de aves, a cada duas horas de trabalho, perfazendo um total de quatro vezes por turno. O “Drip Test”, só é feito quando produzido frango congelado, separando seis carcaças embaladas de cada lote. As carcaças são identificadas e colocadas em sacos plásticos lacrados com lacre oficial do SIF, e por sorteio dos números destes lacres é feito o “Drip test” em laboratórios oficiais ou credenciados pelo MAPA. 3.3. Programa de Controle de Resíduos em Carne (PCRC) A garantia da inocuidade de grande parcela dos alimentos ofertada ao consumo, quanto à presença de resíduos decorrentes do emprego de drogas veterinárias, agroquímicos e contaminantes ambientais é possibilitada pelo controle de resíduos (BRASIL, 1999). Os detalhes da amostragem, análise e ações regulatórias, estão descritas em BRASIL (1999). Para a realização de tal programa nos abatedouros são colhidas amostras de aves pelo Serviço de Inspeção Federal local – SIF e, de acordo com a programação anual de análises, são remetidas aos laboratórios da rede oficial ou credenciadas. A aleatoriedade da colheita é observada por sorteio mensal, obedecendo ao cronograma pré-estabelecido pelo MAPA. As amostras podem ser de músculo, fígado, rins e gordura cavitária. 3.4. Atividades dos Plantonistas Os Plantonistas são agentes de inspeção, concursados do MAPA, que auxiliam nas atividades da Inspeção Federal (IF) local. As atividades a eles pertinentes são as seguintes: Preenchimento dos quadros diários e mensais de condenação de aves; Controle da procedência das aves; Monitoramento da renovação de água dos pré-resfriadores; Verificação e controle da voltagem, amperagem e freqüência do equipamento de insensibilização das aves; Controle de quantidade do cloro da água de consumo e dos pré-resfriadores; Controle e aferição da temperatura da sala de cortes, CMS, câmaras de estocagem, dos produtos nas câmaras de estocagem, dos pré-resfriadores, das carcaças, dos miúdos, dos esterilizadores; Controle da velocidade das nórias de gotejamento, da sala de cortes, da sangria; Controle da hidratação em carcaças de frango e frango temperado; Controle das temperaturas de entrada e saída dos pré-resfriadores e tempo de permanência das carcaças nestes; Monitoramento do carregamento (temperatura dos produtos, condições higiênicosanitárias dos caminhões, destino e hora de saída, lacre dos caminhões). 4. Condenações que podem ser observadas nos abatedouros de aves Com a evolução da genética, da nutrição, dos sistemas de criação e com o aprimoramento de medidas de biossegurança, algumas enfermidades foram controladas, entretanto, devido à intensificação de produção, o sistema de criação atual tem favorecido o surgimento de outras patologias. As condenações são feitas seguindo os critérios estabelecidos por BRASIL (1997a) e BRASIL (1998a). Segue um exemplo de um Frigorífico de Frangos onde foram abatidas aproximadamente 6.123.548 aves num período de dois meses. A Tabela 1 mostra o número de condenações observadas durante este período. TABELA 1: FREQÜÊNCIA DE AVES MORTAS E CONDENAÇÕES PARCIAIS E TOTAIS POST MORTEM OBSERVADAS DURANTE UM MÊS EM ABATEDOURO DE AVES QUE ABATE EM MÉDIA 100.000 AVES POR DIA Quantidade Percentual sobre o Percentual sobre o (n) total de condenações total de aves (%) abatidas (%) Condenação Parcial 291.674 89,4 4,75 Condenação Total 24.206 7,4 0,40 Aves recolhidas mortas 10.410 3,2 0,17 Total de Condenações 326.290 100 5,32 As aves recolhidas mortas são previamente identificadas mortas dentro das caixas de transporte, e também as que morriam durante a pendura. De acordo com MENDES (2004), a origem das condenações está relacionada com o manejo das aves durante a criação, apanha transporte e abate. As perdas e condenações aumentam com a idade e o peso ao abate. O mesmo autor citou ainda que a perda de peso e a mortalidade durante o transporte estão relacionadas com a duração do período de jejum, manejo durante a apanha, quantidade de aves por caixa, peso e sanidade das aves, distância do abatedouro, tempo de espera antes do abate, estado das caixas de transporte, temperatura e umidade relativa do ar. O número total de condenações representou 5,32% do número total de aves abatidas durante este período. A Tabela 2 apresenta as freqüências das principais causas de condenações parciais e totais observadas neste Frigorífico. TABELA 2: FREQÜÊNCIA DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE CONDENAÇÃO PARCIAL E TOTAL DURANTE UM MÊS EM ABATEDOURO DE AVES QUE ABATE EM MÉDIA 100.000 AVES POR DIA Condenação Condenação Parcial Total Lesões Quantidade Percentual Quantidade Percentual (n) (%) (n) (%) Abscesso 2 0 Aerossaculite 1.356 0,47 108 0,44 Aspecto repugnante 11.176 46,20 Artrite 10.364 3,55 Ascite 5.020 20,74 Síndrome Ascítica 12.164 4,18 Caquexia 3.038 12,55 Lesões cutâneas a) Celulite b) Dermatose Sub-total 69.676 21.610 91.286 23,9 7,4 31,3 Coligranulomatose 362 0,12 Colibacilose 26 0,01 Contaminação 17.098 5,86 Contusão/fraturas 141.894 48,64 Escaldagem 2 0 Excessiva Neoplasia 48 0,02 Sangria Inadequada 3.102 1,07 Hepatite 13.246 4,54 * Outras 724 0,24 291.674 100 TOTAL * Salpingite, Ooforite, MPP (Miopatia Peitoral Profunda) 70 36 106 0,30 0,14 0,44 540 2.488 814 2,23 10,27 3,36 38 826 52 24.206 0,15 3,41 0,21 100 A condenação de carnes e vísceras impróprias para o consumo visa cuidar pela saúde pública, uma vez que a carne de frango e seus subprodutos, assim como todos os produtos de origem animal, são uma das mais importantes fontes de enfermidades transmitidas por alimentos. MENDES (2004) citou que as condenações das carcaças inteiras estão relacionadas diretamente com a época do ano. A incidência de septicemia, tumores e aerossaculites é mais alta no outono e inverno, enquanto que a celulite ocorre mais durante a primavera e verão. A caquexia e o baixo crescimento estão associados à doença de Gumboro e com a falta de uniformidade do lote causada pelo aquecimento deficiente durante o período inicial da criação e outros fatores. Hematomas, contusões e fraturas, ocorrem principalmente no peito, nas coxas e asas. Como resultados destas lesões ocorrem perdas já que as carcaças afetadas são cortadas, fazendo-se apenas o aproveitamento parcial. MENDES (2004) citou que as fraturas ocorrem mais comumente nas asas e nas patas, durante os processos de apanha e pendura das aves. Estes defeitos têm como conseqüência o corte parcial ou total das partes afetadas, com perdas na rentabilidade dos abatedouros, já que algumas partes das asas e das patas são comercializadas ou exportadas a preços bastante elevados. As lesões cutâneas podem ocorrer devido à densidade de criação nos galpões e à qualidade da cama, entre outras causas. O Serviço de Inspeção Federal (SIF) dos abatedouros pode agrupar nas planilhas de condenação de carcaças, diferentes enfermidades cutânea em uma só categoria, denominada dermatose, somente a celulite é marcada separadamente. As condenações por aspecto repugnante, corresponde às carcaças que apresentavam mau aspecto, coloração anormal e que exalam odores não característicos, considerados anormais. A ascite representa a segunda condenação total mais freqüente observada, sendo esta uma condição patológica em que se observa acúmulo de líquido na cavidade abdominal. A síndrome ascítica, na qual é incluída a ascite, é mais observada em lotes de aves macho, estando esta relacionada à alta velocidade de crescimento do frango entre sete e 21 dias e aos meses de inverno. Como observado na Tabela 2, à caquexia também representa importante causa de condenação de carcaças. Caquexia e magreza são alterações patológicas relacionadas principalmente com as doenças de caráter crônico, nas quais as aves perdem peso progressivamente. Conforme MENDES (2004), a caquexia está relacionada com a qualidade dos frangos, manejo inicial inadequado, temperatura, sanidade das aves, consumo de ração e água, número de aves por metro quadrado, descartes durante a primeira semana e nutrição. Finalizando, as maiores freqüências observadas de condenações totais são com as contaminações de carcaças. Observa-se que esta ocorre devido à presença de conteúdo intestinal ou sais biliares tanto dentro como fora da carcaça. A contaminação ocorre quando o trato intestinal ou a vesícula biliar se rompe durante o processo de evisceração (Figura 3). FIGURA 3: CONTAMINAÇÃO DE CARCAÇA POR SAIS BILIARES 5. Lesões mais freqüentes e destinos das carcaças Algumas perdas de carcaças são em razão de condenações provenientes de lesões, algumas vezes de origem patológicas, outras vezes mecânica e tecnológica, durante o processamento. CONY (2000) citou que para se obter qualidade total no abate e processamento, incluindo a redução de perdas, o produtor de frango de corte precisa atingir os melhores índices zootécnicos (peso, conversão alimentar e mortalidade), assim como manter a boa integridade física da ave. Isso inclui aves sem problemas sanitários, bem empenadas, sem contusões, arranhões e fraturas. Entretanto, alguns fatores como a densidade das criações, qualidade da cama, nutrição, empenamento, época do ano, ocorrência de doenças e manejo inicial dos pintos contribuem para que nem sempre se atinja a qualidade total na produção. 5.1. Lesões Cutâneas Em função do tipo de criação em escala industrial de frango de corte, as lesões cutâneas tornaram-se cada vez mais freqüentes, com crescentes prejuízos à avicultura, incluindo-se condenação parcial ou total das carcaças, redução no valor do produto final, aumento no custo da mão de obra, diminuição na velocidade de processamento no abatedouro e gastos com limpeza e desinfecção das instalações. O empenamento das aves tem grande influência na ocorrência de lesões cutâneas, pois as penas funcionam como uma proteção da pele contra o aparecimento de lesões, principalmente na região do dorso e das pernas e, em lotes de frangos de corte, observou-se maior ocorrência de lesões. FURLAN & MACARI (2002), citaram que o mau empenamento é causado pela genética da ave e, geralmente é mais acentuado nos machos, como conseqüência do gen do empenamento lento, o qual foi introduzido, para permitir a realização da autosexagem. A qualidade do empenamento também depende da idade, época do ano, nutrição, temperatura e densidade da criação. O diagnóstico pela avaliação macroscópica das enfermidades cutâneas em frangos de corte, freqüentemente resulta em erros. Lesões provocadas por diferentes doenças podem ser muito semelhantes entre si, visto que a maioria apresenta espessamento e alterações de coloração e aspecto da pele. Dependendo do grau de severidade, a dermatite e a celulite podem apresentar alterações muito similares (FALLAVENA, 2001). a) Celulite: A celulite (Figura 4) é o processo patológico caracterizado pela inflamação purulenta aguda e difusa do tecido subcutâneo, dissecando planos teciduais e podendo envolver camadas musculares. A doença apresenta etiologia multifatorial, havendo uma interação complexa de fatores ligados ao manejo, às aves e à genética bacteriana (FALLAVENA, 2000). A doença é uma conseqüência das infecções subcutâneas que resultam de contaminações bacterianas nos arranhões da pele. A região mais afetada é aquela situada entre a coxa e a linha média do corpo. Como esta região é pouco vascularizada, o esforço do organismo para ver-se livre dos microrganismos, causa um engrossamento da pele e alterações na cor que varia de amarelo brilhante ao amarelo escuro e marrom café (MENDES, 2004). Diversas bactérias têm sido associadas com a celulite, entre elas Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactyae, Proteus spp., Aeromonas spp. e Citrobacter freundii, além de anaeróbicas como Clostridium colinum, Clostridium septicum e Clostridium perfringens. Entretanto, a Escherichia coli é a mais freqüentemente isolada (FALLAVENA, 2000). De acordo com BRASIL (1997a) qualquer órgão ou partes da carcaça que estiverem afetados por um processo inflamatório, como a celulite, deverá ser retirado, e se existir evidência de caráter sistêmico da patologia, a carcaça e as vísceras deverão ser condenadas na sua totalidade. FIGURA 4: CELULITE b) Dermatite: Há vários tipos de dermatites. Entre as principais estão as dermatites gangrenosas, traumáticas, micóticas e também lesões do coxim plantar denominadas de pododermatites de contato. A dermatite gangrenosa ocorre quando a pele está lesionada e há comprometimento da imunidade das aves, principalmente pelas enfermidades de Gumboro, anemia infecciosa, reticuloendoteliose e adenoviroses (FALLAVENA, 2001). As dermatites traumáticas se localizam na região das coxas e articulação coxofemural. Resultam de pequenas feridas da pele, causadas pelas unhas das aves, podendo resultar em infecções secundárias, que agravam o problema. Os músculos da perna são freqüentemente afetados, resultando na condenação das aves. Macroscopicamente, as lesões se apresentam cobertas por crostas secas, podendo ser lineares ou circulares e localizadas na base ou entre os folículos das penas. A pele apresenta-se muitas vezes grossa e com coloração amarelo acastanhada. A criação em altas densidades aumenta a incidência deste problema (FALLAVENA, 2000). Quando ocorrem dermatites traumáticas nos abatedouros, estas são vulgarmente denominadas de “frango riscado” (Figura 5). FIGURA 5: FRANGO RISCADO A dermatite micótica não é muito comum e está sempre associada a condições higiênicas deficientes (FALLAVENA, 2000). Nas Figuras 6 e 7, são apresentadas, respectivamente, dermatites traumática e por contato com a cama, na inspeção post-mortem. Estas dermatites levaram à condenação da pele e aproveitamento da carcaça. No quadro de condenações do SIF, foram marcadas como dermatose. FIGURA 6: DERMATITE TRAUMÁTICA FIGURA 7: DERMATITE DE CONTATO As lesões no coxim plantar desclassificam as patas, impedindo que as mesmas sejam exportadas, ou mesmo comercializadas no mercado interno. Estas alterações estão relacionadas com o material utilizado como cama e com o teor de umidade da mesma. A maravalha de madeira causa mais lesões que a casca de arroz (MENDES, 2004). Macroscopicamente, as alterações geralmente presentes na pele da superfície plantar das patas, são predominantemente ulcerativas e caracterizam-se pela presença de erosões acastanhadas ou negras (FALLAVENA, 2000). As pododermatites (Figura 8) eram vulgarmente denominadas de “calos de pés”, e quando ocorriam, os pés eram condenados. FIGURA 8: PODODERMATITES DE CONTATO 5.2. Ascite e Síndrome Ascítica (SA) Como já dito anteriormente, a ascite é uma condição patológica de origem metabólica que se caracteriza por acúmulo de líquido na cavidade abdominal (Figura 9). O Serviço de Inspeção Federal brasileiro condena toda ave portadora de SA, independentemente do aspecto da carcaça. Países como os Estados Unidos, Canadá e os da Comunidade Econômica Européia não fazem restrições ao consumo dessas aves, desde que não apresentem outras complicações, tais como toxemia, caquexia, cianose e/ou aerossaculite (GONZALES & MACARI, 2000). No abate e processamento da carcaça, a qualidade microbiológica é um fator decisivo na determinação da vida útil do alimento produzido. A ocorrência de problemas metabólicos como a ascite, determina elevadas taxas de descarte no abate, pois se observa que o sangue é mais viscoso que o normal, não permitindo um sangramento correto, ocasionando perda da qualidade da carne (ABREU & ABREU, 2002). GONZALES & MACARI (2000) afirmaram que o percentual de perdas (mortes e descartes na linha de abate) é elevado nos lotes submetidos a condições que favorecem o desencadeamento do problema: hipóxia, ventilação deficiente, frio, estresse e crescimento rápido com bom desempenho inicial. Segundo JAENISCH (sd), o controle da ascite baseia-se em reduzir todas as condições que predisponham as aves a um quadro de deficiente oxigenação, seja pelo aumento da demanda ou pela redução do suprimento de oxigênio nos tecidos, salientandose os cuidados com: o crescimento corporal dos frangos nas duas primeiras semanas de vida; a poeira no aviário, ventilação; temperatura interna do aviário uniforme e adequada, principalmente durante as três primeiras semanas de vida; reduzir as causas de comprometimento pulmonar tais como doenças respiratórias, aspergilose, alta concentração de amônia e de monóxido de carbono e densidade energética da ração. Quanto ao destino de carcaças apresentando ascite e síndrome ascítica, BRASIL (1991) citou que carcaças apresentando à inspeção post mortem, hidropericárdio e pequena quantidade de líquido abdominal de cor clara ou âmbar, sem aderência e sem nenhum outro comprometimento ou alteração das vísceras, fígado e coração, podem ser liberadas. Citou ainda, que se houver presença de líquido ascítico aderente na cavidade abdominal e/ou vísceras, também sem nenhum comprometimento da carcaça, permite-se o aproveitamento parcial dos membros, pescoço e peito sem osso, devendo a operação de corte e desossa de peito ser efetuada em local próprio, após a inspeção final. Condenam-se, nesse caso, as vísceras fígado e coração, bem como o restante da carcaça. Permite-se, opcionalmente, o aproveitamento integral das carcaças para industrialização através de separação mecânica da carne, após a remoção do líquido e das partes afetadas pelas aderências. As carcaças deverão ser totalmente condenadas, quando apresentarem distensão abdominal decorrente da presença de grande quantidade de líquido ascítico no abdome e/ou hidropericárdio, e ainda, se houver intercorrência com outras alterações, como congestão, cianose, anasarca e caquexia. FIGURA 9: ASCITE 5.3. Hematomas, Contusões e Fraturas A presença de hematomas e contusões é o resultado da má qualidade da cama, mau empenamento, criação em alta densidade, nível de amônia no galpão, micotoxinas, intensidade da iluminação, assim como o manejo inadequado durante a apanha, transporte e pendura das aves. MENDES (2004) citou que a época do ano também afeta a incidência de hematomas, pois durante o verão aumenta a circulação periférica para facilitar a perda de calor, tornando as veias e artérias mais expostas, o que facilita o rompimento de pequenos vasos presentes na pele, causando hematomas e contusões. Conforme BRASIL (1997a) as lesões traumáticas, quando limitadas, implicam apenas na rejeição da parte atingida. Quando as lesões hemorrágicas ou congestivas decorrerem de contusões, traumatismo ou fratura, a rejeição deve ser limitada às regiões atingidas. 5.4. Sangria Inadequada, Escaldagem Excessiva e Contaminação A sangria inadequada e a escaldagem excessiva, podem ocorrer em razão de falhas no funcionamento dos equipamentos responsáveis por essas tarefas. Essas falhas estão relacionadas à desuniformidade dos lotes destinados ao abate, visto que é inviável fazer regulagens nos equipamentos a cada lote abatido, tampouco, entre uma ave e outra. Essas são consideradas lesões mecânicas durante o processamento. Quanto a esse aspecto, MENDES (2004) citou que a boa uniformidade das aves é fundamental para permitir enganchamento e sangria regulares. Também facilita a regulagem dos equipamentos do abatedouro, diminuindo a contaminação das carcaças e facilitando o fluxo dos produtos. As causas da falta de uniformidade estão relacionadas com o processo de incubação, a mistura de pintinhos provenientes de reprodutoras de diferentes idades, o transporte dos pintinhos para a granja, o aquecimento e o mau manejo inicial. BRASIL (1997a) preconizou que carcaças submetidas à má sangria, com lesões mecânicas extensas, incluindo as devidas a escaldagem excessiva, sejam condenadas totalmente, juntamente com as suas vísceras. A contaminação é mais freqüente quando as alças intestinais ou a vesícula biliar se rompem durante o corte na evisceração. Mas também ocorre quando a carcaça ou partes dela caía no piso ou encosta nos equipamentos. BRASIL (1997a), recomendou que carcaças ou partes de carcaças que se contaminarem por fezes durante a evisceração ou em qualquer outra fase dos trabalhos, devem ser condenadas. Devem ser condenadas também as carcaças ou partes de carcaças, órgãos ou qualquer outro produto comestível que se contamine por contato com os pisos ou de qualquer outra forma, desde que não seja possível uma limpeza completa. O material contaminado também pode ser destinado à esterilização pelo calor, a juízo da inspeção federal, tendo-se em vista, a limpeza praticada. 5.5. Lesões menos freqüentes Também podem ser observadas outras lesões com baixa ocorrência, mas não menos importantes. A maioria dessas lesões esta relacionada a processos inflamatórios, que conforme BRASIL (1997a), qualquer órgão ou parte da carcaça que estiver afetado por um processo inflamatório deverá ser condenado e, se existir evidência de caráter sistêmico do problema, a carcaça e as vísceras na sua totalidade deverão ser condenadas. Como processos inflamatórios estão incluídas as seguintes patologias: artrite, colibacilose, salpingite, entre outras. Também podem ser observadas outras lesões que não são provenientes de processos inflamatórios, como as Neoplasias e a Miopatia Peitoral Profunda (MPP), cujas carcaças de aves portadoras são destinadas à fábrica de subprodutos (condenação), por provocarem um mau aspecto na carcaça e por serem de etiologia desconhecida. 5.5.1. Artrite De acordo com BORDIN (1978), entende-se por artrite (Figura 10), o aumento de volume na região da cápsula articular e de uma ou mais articulações, sendo que as articulações do tarso e do metatarso são as mais atingidas. Nesta infecção, diversos patógenos podem ser responsabilizados, tais como Reovírus, Mycoplasma, Staphylococcus, Salmonella e E. coli. As lesões detectadas podem ser principalmente unilaterais e segundo BORDIN (1978) geralmente ocorrem em resposta à penetração de agentes infecciosos como E. coli, ou bactérias do grupo cocos a partir de alguma lesão. BRASIL (1997a) recomendou a condenação do membro afetado e se existir evidência de septicemia, condenação total da carcaça. FIGURA 10: ASA COM ARTRITE 5.5.2. Colibacilose Colibacilose é o termo comumente empregado para designar as infecções causadas por Escherichia coli nos animais (Figura 11). Nas aves, a infecção por E. coli é considerada secundária a outros agentes e a manifestação da doença é extraintestinal. A colibacilose é uma das principais doenças da avicultura industrial moderna, em função dos grandes prejuízos econômicos causados no mundo inteiro, por quadros como: colisepticemia, peritonite, pneumonia, pleuropneumonia, aerossaculite, pericardite, celulite, coligranuloma, doença respiratória crônica complicada (DRCC), onfalite, salpingite, síndrome da cabeça inchada (SCI), panoftalmia, osteomielite, ooforite e sinovite (FERREIRA & KNÖBL, 2000). A presença de elevados níveis de amônia e o uso de formaldeído em ambientes avícolas podem causar uma irritação severa no epitélio traqueal, aumentando a produção de muco e a perda de cílios, favorecendo a ocorrência de doença respiratória em frangos de corte, no período de cinco a 12 dias após o início da exposição. A porta de entrada mais freqüente da bactéria é o trato respiratório superior, ocorrendo a colonização e a multiplicação do agente na traquéia, com posterior disseminação para os sacos aéreos e tecidos adjacentes. As principais lesões encontradas são aerossaculite, pericardite e perihepatite. Estas lesões, freqüentemente encontradas nos abatedouros, são denominadas “tríade de condenação de carcaça”, e pode estar associada à infecção por Mycoplasma gallisepticum (FERREIRA & KNÖBL, 2000). As carcaças com lesões indicativas de colibacilose podem ser condenadas totalmente quando da infecção sistêmica. Alguns casos, como mostrados na Tabela 2, podem ter apenas as vísceras condenadas (condenação parcial). Sempre que ocorrem casos de colibacilose, é anotado em um relatório, e enviado mensalmente para o Serviço de Defesa Sanitária Animal (SEDESA) do MAPA, por ser esta uma patologia infectocontagiosa. FIGURA 11: COLIBACILOSE 5.5.3. Salpingite e Ooforite A salpingite caracteriza-se pela formação de massa caseosa composta por heterófilos e bactérias no oviduto. A bactéria pode atingir o oviduto de duas formas: pela proximidade do oviduto com as membranas do saco aéreo abdominal esquerdo ou por infecções ascendentes a partir da cloaca (FERREIRA & KNÖBL, 2000). BORDIN (1978) citou que as aves só desenvolvem os órgãos genitais esquerdos, sofrendo o ovário e o oviduto direito uma involução. Antes da fase reprodutiva da ave, comumente não se observam maiores alterações patológicas ao nível de órgão. Essas ocorrências, de acordo com BARNES et al. (2003), acontecem devido à posição anatômica dos órgãos reprodutores muito próximos aos sacos aéreos abdominal esquerdo, que estando infectados e apresentando aerossaculite, infectam também o oviduto, causando a salpingite, embora não muito freqüente em aves jovens. Carcaças apresentando salpingite (Figura 12) e ooforite têm as partes afetadas retiradas e condenadas, e a carcaça aproveitada parcialmente. FIGURA 12: SALPINGINTE 5.5.4. Neoplasias As enfermidades de caráter neoplásico compreendem as doenças linfoproliferativas, imunossupressoras, nas quais os vírus podem estar envolvidos na sua etiologia. A Doença de Marek, assim como a Leucose Mielóide e a Reticuloendoteliose são neoplasias detectadas à inspeção post-mortem, contribuindo para condenações de carcaças (FADLY, 2003). BRASIL (1997a) citou que qualquer órgão ou outra parte da carcaça que estiver afetada pelo tumor, deverá ser condenado e se existir evidência de metástase ou se a condição geral estiver comprometida pelo tamanho, posição e natureza desta, a carcaça e as vísceras deverão ser condenadas totalmente. Em tumores supostamente malignos, são condenadas as carcaças, partes de carcaças ou órgão que apresente os tumores, com ou sem metástase. 5.5.5. Miopatia Peitoral Profunda (MPP) A lesão provocada pela MPP, considerada como doença especial, é de baixa freqüência, sendo registrada nos quadros de condenações do SIF como outras. Quanto ao critério de condenação para doenças especiais, BRASIL (1997a), citou que as carcaças de aves que mostram evidências de qualquer doença caracterizada pela presença, na carne ou outras partes comestíveis da carcaça, de organismos ou toxinas, perigosos ao consumo humano, devem ser condenadas totalmente. Entretanto, na “Doença do Músculo Verde”, ou Miopatia Peitoral Profunda (Figura 13), é condenada apenas a parte afetada (condenação parcial). A Miopatia Peitoral Profunda (MPP) ocorre no músculo peitoral profundo causando degeneração, necrose e fibrose dos tecidos e aparência esverdeada, razão pela qual esta miopatia também é conhecida por “Doença do Músculo Verde”. As lesões são geralmente encontradas na inspeção, sendo comumente confundidas com um simples hematoma, causado pelo manejo e transporte das aves aos abatedouros (PEREIRA et al., 2005). Segundo CRESPO & SHIVAPRASAD (2003), as lesões podem ser uni ou bilaterais. Nas lesões agudas, todo o músculo peitoral profundo está amolecido, pálido e edematoso, com extensas áreas de necrose. Nas lesões crônicas, o músculo está atrofiado e uniformemente verde, seco, friável e envolvido por uma cápsula fibrosa, podendo tornar-se uma cicatriz. A MPP pode ser um resultado de isquemia secundária ao intenso exercício muscular, como movimentos voluntários das asas. Para COS (2006), as alterações de manejo podem reduzir a incidência e não pode ser descartada uma predisposição genética. Por outro lado, PEREIRA et al. (2005), consideraram a enfermidade resultante da seleção genética e das condições de manejo, agravada pelo movimento não natural e repetitivo da asa sobre os músculos, não deve ser confundida com lesões obtidas durante a apanha e o transporte das aves. FIGURA 13: MIOPATIA PEITORAL PROFUNDA 5.5.6. Aerossaculites, Hepatites e Pericardites Outras lesões que conferem apenas a condenação das vísceras, também ocorrem, como aerossaculite, pericardite, hepatite e aspecto repugnante de vísceras. Geralmente, essas lesões estão relacionadas com processos infecciosos e ocorrem isoladamente ou sitematicamente no organismo da ave. Quando ocorrem isoladamente, a condenação é apenas parcial, e sistematicamente, a condenação é total. Aerossaculite é a inflamação dos sacos aéreos e órgãos do trato respiratório. Nessa afecção, diferentes agentes podem estar envolvidos, como agentes físicos, no caso de inalação de pó e aerossóis; agentes químicos, como gases tóxicos e biológicos, como o Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, E. coli, Coronavírus, Paramixovírus e Herpesvírus, sendo ainda freqüente a associação destes agentes (FERREIRA & KNÖBL, 2000). A pericardite, inflamação do pericárdio, geralmente é causada por bactérias, principalmente pela E. coli (MEIRELES, 2000). As hepatites podem ter diferentes etiologias e serem de origem bacteriana, viral ou por intoxicações (ITO et al., 2000). 6. Tratamento da Água e Efluentes A água utilizada nos trabalhos de abate e para consumo do frigorífico, pode ser captada em rios próximos aos abatedouros e tratada em suas Estações de Tratamento de Água (ETAs). O tratamento pode ser feito em equipamento especializado na floculação e decantação das sujidades e posterior filtração da água, submetendo-a finalmente à cloração. Todos os produtos químicos utilizados no tratamento da água devem ter Autorização de Uso de Produto (AUP) revisados e aprovados pelo MAPA e todo o processo deve ser controlado pelo Serviço de Inspeção oficial local. As águas residuais, ou os efluentes produzidos pela indústria durante o abate, podem ser constantemente encaminhados, por canaletas e sob diferença de declividade, para a fábrica de subprodutos, onde é iniciado o tratamento. Na fábrica de subprodutos, é feita a filtração dos efluentes, em peneiras estáticas, onde o conteúdo sólido é encaminhado a um digestor, para a fabricação de farinha, e o conteúdo líquido, é encaminhado aos flotadores. Nos flotadores, é feita a separação da gordura, que pode ser destinada à fabricação de farinha, e o líquido, encaminhado para as lagoas de tratamento. Nas lagoas de tratamento é adicionado produto promotor do crescimento bacteriano, sendo essas bactérias responsáveis pela decomposição dos produtos poluentes ainda presentes nos efluentes. Inicialmente passa pela lagoa de decomposição anaeróbia e então para a aeróbia. Após ficar por aproximadamente 20 dias em tratamento, os efluentes já tratados são lançados novamente nos rios de onde é captada a água, em altura superior à captação, de modo que fosse captada novamente, fechando o ciclo do processo. Todo o processo de tratamento, tanto da água como dos efluentes, deve ser constantemente acompanhado e avaliado a eficiência pelo SIF local. 7. Exportação de Produtos Os abatedouros devem estar aptos para a exportação de produtos cárneos aos países constantes da Lista Geral de exportações do MAPA. Para tanto, as empresas passam inicialmente por vistorias feitas por missões dos serviços oficiais de inspeção de produtos agropecuários dos países importadores, acompanhados de inspetores oficiais do MAPA, que consideram as indústrias aptas para a exportação. Ressalta-se que periodicamente essas missões voltam a realizar auditorias para certificar que o desenvolvimento das atividades continua de acordo com o estabelecido para a exportação. Com a habilitação para o comércio exterior fornecida pelo MAPA, são incrementadas as vendas internacionais das indústrias. Para todos os países constantes da Lista Geral, existem acordos sanitários com o Brasil, sendo que sempre devem acompanhar os produtos, certificados sanitários, relatando sobre a inexistência da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade no país e também a ausência de surtos recentes da Doença de Newcastle. É também norma do MAPA que os produtos destinados à exportação sejam embarcados nos containeres com temperatura não superior a – 18ºC. III. CONCLUSÃO A carne é um alimento imprescindível na composição de uma dieta que atenda as necessidades dos seres humanos, e a qualidade desta carne é o principal requisito para que ela possa ser comercializada e consumida. Para garantir que a carne de frango e seus derivados cheguem ao consumidor sem apresentar perigos para a saúde pública exige-se um controle rigoroso em toda a cadeia de produção até o consumidor. Este controle no Brasil é exercido pelo MAPA em parceria com as empresas industrializadoras da carne. Após a revisão adquirida com o trabalho, é possível afirmar que tanto as condenações parciais como as condenações totais trazem grandes prejuízos para a indústria avícola brasileira. Condenações parciais post-mortem em frangos por contaminação e contusões/fraturas, são bastante representativas, podendo ser diminuídas com medidas de manejo mais adequadas nas criações. Com as condenações totais também se deve buscar as causas, pois vários fatores podem estar associados, como por exemplo, a qualidade sanitária do lote. É de suma importância a presença do médico veterinário em estabelecimentos que processam produtos de origem animal, já que possuímos conhecimentos na área de microbiologia e do processamento dos alimentos nos tornando habilitados a conduzir e garantir o controle de qualidade dos alimentos destinados à alimentação humana. IV. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. ABEF. Relatórios Anuais. Disponível em: <http://www.abef.com.br/relatorios/rel2005.zip>. Acesso em 25/09/2006. 2. ABREU, V.M.N.; ABREU, P.G. Qualidade de carcaça e o manejo na produção. Disponível em: <http://www.cnpsa.embrapa.br/?/artigos/2002/artigo-2002 n020.html;ano=2002>. Acesso em 27/07/2006. 3. ABREU, V.M.N.; ÁVILA, V.S. de. Manejo da produção - jejum pré-abate. Disponível em: <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Ave/Produção de frango de corte/Jejum.html> . Versão Eletrônica Jan/2003. Acesso em 27/07/2006. 4. BALDINI, F. Setor de Corte e Desossa. In: APINCO. Abate e Processamento de Frangos. Campinas: Fundação APINCO de Ciência e Tecnologia Avícolas, 1994. p. 25-30. 5. BARNES, H.J.; VAILLANCOURT, J.P.; GROSS, W. B. Colibacillosis. In: SAIF, Y. M. Diseases of Poultry. 11ed. Iowa State Press, 2003. p. 631-645. 6. BERAQUET, N.J. Abate e Evisceração. In: APINCO. Abate e Processamento de Frangos. Campinas: Fundação APINCO de Ciência e Tecnologia Avícolas, 1994.p. 19-24. 7. BORDIN, E. L. Diagnóstico post-mortem em avicultura. São Paulo: NOBEL, 1978. 165p 8. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal – DIPOA. Divisão de Normas Técnicas – DNT. Circular nº 160, de 07 de outubro de 1991. Estabelece Critérios de julgamento na inspeção post- mortem de frangos de corte acometidos de ascite metabólica. Brasília: 1991. 9. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal – DIPOA. Divisão de Normas Técnicas – DNT. Decreto Lei nº 30.691, de 29 de março de 1952. Alterado pelo decreto nº 1.255 de 25 de junho de 1997. Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). Brasília: 1997a. Publicado no Diário Oficial da União de 07/07/1952, Seção 1, p.10785. 10. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal – DIPOA. Portaria nº 368 de 04 de setembro de 1997. Regulamento técnico sobre as condições higiênico - sanitárias e de boas práticas de elaboração para estabelecimentos elaboradores/industrializadores de alimentos. Brasília: 1997b. Publicado no Diário Oficial da União de 08/09/1997, Seção 1, p.19697. Disponível em: <http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis>. Acesso em 27/07/2006. 11. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. Portaria n.º 210, de 10 de novembro de 1998. Regulamento técnico da inspeção tecnológica e higiênico - sanitária de carne de aves. Brasília: 1998a. Publicado no Diário Oficial da União de 26/11/1998, Seção 1, p. 226. Disponível em: <http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis>. Acesso em 27/07/2006. 12. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Portaria nº 46, de 10 de fevereiro de 1998. Manual genérico de procedimentos para APPCC em indústrias de produtos de origem animal. Brasília: 1998b. Publicado no diário oficial da união de 16/03/1998, Seção 1, p. 24. Disponível em: <http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis>. Acesso em 27/07/2006. 13. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Instrução Normativa nº 42, de 20 de dezembro de 1999. Plano Nacional de Controle de Resíduos em Produtos de Origem Animal (PNCR). Brasília: 1999. Publicado no Diário Oficial da União de 22/12/1999, Seção 1, p. 213. Disponível em: <http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis>. Acesso em 27/07/2006. 14. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Instrução Normativa nº 03, de 17 de janeiro de 2000. Regulamento técnico de métodos de insensibilização para o abate humanitário de animais de açougue. Brasília: 2000. Publicado no Diário Oficial da União de 24/01/2000, Seção 1, p. 14. Disponível em: <http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis>. Acesso em 27/07/2006. 15. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Instrução Normativa nº 08, de 16 de janeiro de 2002. Instruções para Autorização de Uso de Produtos (AUP). Brasília: 2002. Publicado no Diário Oficial da União de 17/01/2002, Seção 1, p. 0. Disponível em: <http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis>. Acesso em 27/07/2006. 16. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Instrução Normativa nº 70, de 06 de outubro de 2003. Programa de Redução de Patógenos (PRP)monitoramento microbiológico controle de salmonella sp em carcaças de frangos e perus. Brasília: 2003. Online. Disponível em: <http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis>. Acesso em 27/07/2006. 17. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Circular nº 176, de 16 de maio de 2005. Instruções para verificação dos elementos de inspeção previstos na circular nº 175/2005/CGPE/DIPOA, com ênfase para o Programa de Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO). Brasília: 2005. 18. BRESSAN, M.C.; BERAQUET, N. J. Efeito de fatores pré-abate sobre a qualidade da carne de peito de frango. Ciênc. Agrotec., v.26, n.5, p.1049-1059, set./out., 2002. 19. CONY, A. V. Manejo do carregamento, abate e processamento. Como evitar perdas? In: CONFERÊNCIA APINCO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AVÍCOLAS, 2000. Campinas. Anais... Campinas: FACTA, 2000, p. 203-212. 20. COS, J.I.B. La enfermedad del músculo verde em pollos: um proceso cada vez más frecuente. Disponível na em: <http://www.cuencarural.com/nota>. Acesso em 01/08/2006. 21. CRESPO, R.; SHIVAPRASAD, H. L. Developmental Metabolic, and Other Noninfectious Disorders. In: SAIF, Y. M. Diseases of Poultry. 11ed. Iowa State Press, 2003. p. 1070-1071. 22. DELAZARI, I. Abate e processamento de carne de aves para garantia da qualidade. In: CONFERÊNCIA APINCO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AVÍCOLAS. Anais...v. 1. Campinas: FACTA, 2001, p. 191-201. 23. ENGLERT, S. I. Avicultura: tudo sobre raças, manejo e nutrição. 7. ed. atual. Guaíba: Agropecuária, 1998. p. 139. 24. FADLY, A. M. Neoplastic diseases. In: SAIF, Y. M. Diseases of Poultry. 11ed. Iowa State Press, 2003. p. 405-407. 25. FALLAVENA, L.C.B. Enfermidades da pele e das penas. In: MACARI, M.; BERCHIERI JÚNIOR, A. Doenças das aves. Campinas: FACTA, 2000. p. 37-46. 26. FALLAVENA, L.C.B. Lesões cutâneas em frangos de corte: causas, diagnóstico e controle. In: CONFERÊNCIA APINCO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AVÍCOLAS. Anais... v. 1. Campinas: FACTA,2001,p.205-215. 27. FERREIRA, A. J. P.; KNÖBL, T. Colibacilose Aviária. In: MACARI, M.; BERCHIERI JÚNIOR, A. Doenças das aves. Campinas: FACTA, 2000.p. 197-208. 28. FURLAN, R. L. ; MACARI, M. Aspectos fisiológicos do empenamento das aves. In: MACARI, M.; FURLAN, R.L.;GONZALES, E. Fisiologia aviária aplicada a frangos de corte. Jaboticabal: FUNEP/UNESP, 2002. p. 313-325 29. GONZALES, E.; MACARI, M. Enfermidades metabólicas em frangos de corte. In: MACARI, M.; BERCHIERI JÚNIOR, A. Doenças das aves. Campinas: FACTA, 2000. p. 449-464. 30. ITO, N. M. K.; MIYAJI, C.I.; LIMA, E.A.; OKABAYASHI, S. Enfermidades do sistema digestório e anexos. In: MACARI, M.; BERCHIERI JÚNIOR, A. Doenças das aves. Campinas: FACTA, 2000. p. 47-60. 31. JAENISCH, F. R.F. Biosseguridade e cuidados para frangos. Sem data. Disponível em: <http://www.zoonews.com.br>. Acesso em 20/09/2006. 32. LIMA, D. de. A programação matemática no planejamento de produção, na relação avícola/aviário. Alojamento e desalojamento de aves. Dissertação de mestrado. UFPR Curitiba, 2004. Disponível em: <http://www.cpgmne.ufpr.br/dissertacoes/D102_Daniel_de_Lima12112004.pdf>. Acesso em 27/07/2006. 33. MARTINELLI, O. ; SOUZA, J. M. Relatório setorial – final. In: Financiadora de estudos e projetos, 2005. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/PortalDPP/relatorio_setorial_final/relatorio_setorial_final>. Acesso em 20/07/2006. 34. MEIRELES, M.V. Enfermidades do sistema circulatório. In: MACARI, M.; BERCHIERI JÚNIOR, A. Doenças das aves. Campinas: FACTA, 2000 Doenças das aves. p. 129-132. 35. MENDES, A. A. Controle de perdas e condenações no abatedouro. Rev. Aveworld. Ano1, nº 6 Dezembro/Janeiro de 2004. p. 16-25. 36. NEVES FILHO, L. de C. Refrigeração. In: APINCO. Abate e Processamento de Frangos. Campinas: Fundação APINCO de Ciência e Tecnologia Avícolas. 1994. p. 3162. 37. OLIVO, R.; SHIMOKOMAKI, M. Carnes: no caminho da pesquisa. Cocal do Sul: Imprint, 2001. 155p. 38. PEREIRA, R. A.; RODRIGUES, L.B.; ALLGAYER, M.C.; DICKEL, E.L.; SANTOS, L.R.; GABRIELLI, E.; CARÍSSIMI, A.S. Miopatia Peitoral profunda em frangos de corte. In: Veterinária em Foco v.3, n.1, maio/dez. 2005. p. 11-16. 39. SILVA, P. L. Segurança alimentar e legislação na produção. In: VII Simpósio Brasil Sul de Avicultura, Chapecó, SC p.34 – 40, 2006.
Download