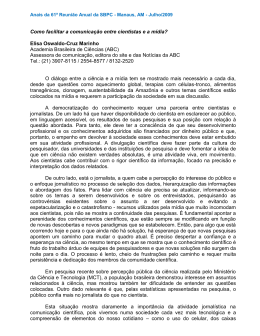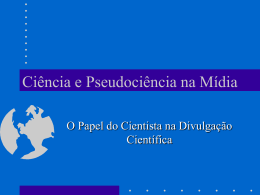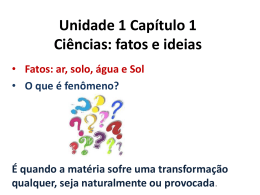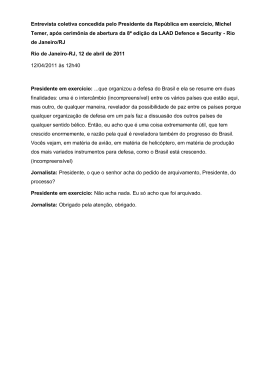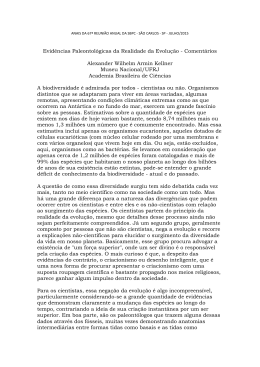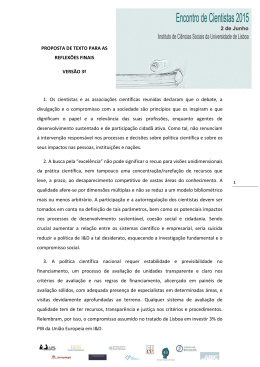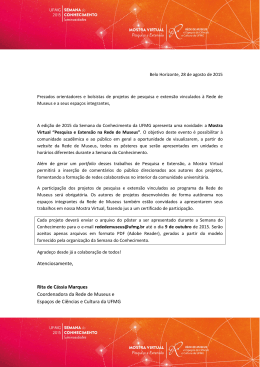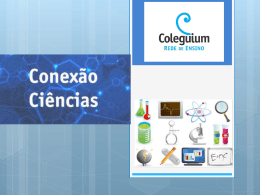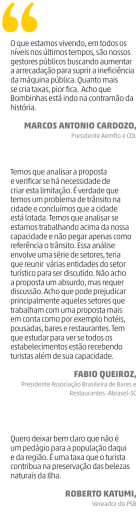Sem limites para divulgar O divulgador de ciência deve ter uma formação que o permita atuar da forma mais flexível possível dentro desse campo. Esta é a visão do físico e jornalista italiano Matteo Merzagora. Para ele, o divulgador que souber um pouco sobre diversas formas de comunicar ciência terá muito mais a acrescentar do que aquele que dominar apenas uma dessas ferramentas. Merzagora fala por experiência própria. Formado em física pela Universidade de Milão, na Itália, ele se apaixonou pelo rádio aos 20 anos, quando teve a oportunidade de participar da realização de um programa de ciência da rádio comunitária italiana Radio Popolare. Esse foi o ponto de partida para uma trajetória ativa e múltipla no campo da divulgação científica. Merzagora abandonou a física e se inscreveu no mestrado em divulgação científica na Escola Internacional Superior de Estudos Avançados (SISSA), em Triste, na Itália. Desde então, não parou de expandir sua atuação. Até o momento, seu currículo inclui 15 anos de experiência em programas de rádio, aulas de divulgação científica em museus na SISSA, a publicação de um guia sobre centros de ciência 1 e de um livro sobre ciência no cinema2, organização de festival de vídeos de ciência, idealização de exposições científicas, contribuições para revistas e jornais italianos, composição do corpo editorial do Journal of Science Communication (JCOM)3, entre outras atividades. Na SISSA, é também responsável pela área de pesquisa em rádio e pela coordenação do projeto Difusão de Ciência no Rádio (Scirab, na sigla em inglês) e do projeto europeu de formação de monitores em museus de ciência (Dotik). “O que você pode acrescentar a uma exposição usando a experiência que teve em televisão ou acrescentar a um livro usando a experiência que teve falando com pessoas no rádio ou trabalhando como “explicador”, é de um valor enorme”, defende. Nessa entrevista, concedida à Carla Almeida e à Luisa Massarani do Centro de Estudos do Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, em junho de 2006, no Rio de Janeiro, o divulgador italiano fala como se envolveu em cada uma dessas atividades e reflete sobre as diversas possibilidades e potencialidades de cada uma delas, fazendo o que mais gosta de fazer: unir a prática sobre a reflexão sobre a prática. Sylvie Coyaud, Matteo Merzagora, Guida ai musei della sceinza e della tecnica in Europa, CLUP Guide, UTET, 2000. 2 Matteo Merzagora, Scienza da Vedere – l’immaginario scientifico sul grande e sul piccolo schermo, Sironi, Milano, 2006 3 http://jcom.sissa.it 1 Como iniciou seu envolvimento com ciência no rádio? Comecei a trabalhar no rádio nos anos 1990, quando tinha 20 anos. Minha primeira experiência foi em uma rádio comunitária chamada Radio Popolare, sediada no norte da Itália. Essa rádio veiculava um programa semanal de uma hora sobre ciência. A jornalista Sylvie Coyaud era responsável pelo programa. A colaboração começou de forma bastante informal. Na época, eu cursava a faculdade de física e algumas vezes eu ia à rádio ajudar Sylvie. Outras vezes acontecia de eu estar em uma conferência e ela me pedir para fazer uma entrevista para o programa. De maneira muito espontânea, acabei me envolvendo com a produção do programa toda a semana. Foi uma experiência incrível para mim trabalhar e aprender com uma jornalista experiente e extremamente inteligente como a Sylvie. De uma atividade secundária praticada com colegas de faculdade, acabei trabalhando no programa de forma regular por um total de dez anos. Como era esse primeiro programa em que você trabalhou? O programa consistia em entrevistas com cientistas e, na maioria das vezes, em telefonemas ao vivo feitos pelos ouvintes. Eu não estava lá quando Sylvie começou a fazer o programa, mas tenho certeza de que não foi fácil. Há sempre a impressão de que um programa sobre ciência pode ser pesado e de difícil compreensão, especialmente em uma rádio como a Radio Popolare, onde os temas deviam fluir com naturalidade de um programa para outro. Era justamente essa fluidez que tornava o programa peculiar. Ter um espaço para ciência era difícil, mas o estilo e o tom da Sylvie ajudaram muito. Que estratégias eram utilizadas para evitar um programa pesado e complicado? A idéia original do programa tinha como base um conceito muito importante que foi mantido durante muitos anos. Procurávamos, por exemplo, não tratar os cientistas “com luvas”, como dizemos em italiano. Ou seja, não deixávamos nos intimidar pelos especialistas. Procurávamos não ouvi-los de forma muito passiva. Sylvie é muito boa em conversar com um cientista como se estivesse conversando com qualquer outra pessoa que encontra na rua. Ela consegue manter uma conversa informal, sem ser respeitosa demais só porque está falando com um cientista. A idéia era manter uma conversa no ar que pudesse ser a continuação de um papo iniciado em um bar, misturando vida privada e experiências pessoais com ciência. Algumas vezes, o programa saía como esperávamos, outras não. Dez anos depois que comecei a trabalhar nesse programa, a RAI, a rádio nacional de notícias, nos chamou para fazer um programa similar, diário, no canal 3, que é o canal de cultura. Aceitamos e o programa “Le oche di Lorenz” continuou por mais uns dois anos e meio. Depois, o mesmo programa, só que com outro nome, “Il volo delle Oche”, passou a ser veiculado em outra radio nacional, Radio 24, que é privada, e onde o programa é veiculado até hoje e para o qual eu colaboro como correspondente. Como era vista essa informalidade entre entrevistador e cientista? Acho que o programa teve um grande impacto na RAI. Ríamos muito no ar quando o assunto ou o entrevistado eram engraçados. Acontecia de imediatamente recebermos uma ligação do diretor da rádio nos perguntando se tínhamos certeza de que ciência era algo de que se podia rir e se os convidados não ficavam ofendidos. Ele era muito inteligente e estava apenas com medo da reação dos ouvintes, ou que isso pudesse causar algum dano à imagem da rádio. De fato, alguns ouvintes nos mandaram cartas em que expressavam estar bastante aborrecidos, mas a maioria deles gostava do nosso programa. Acredito que os cientistas também gostavam bastante do clima do programa, já que finalmente podiam falar de uma forma mais natural. Que estratégia vocês usavam para fazer os cientistas falarem com naturalidade durante a gravação do programa? Acho que a principal responsabilidade de um jornalista que faz programa de ciência no rádio é treinar os cientistas para trazê-los a essa espontaneidade. Claro que ele ou ela tem que fazer também tudo aquilo que qualquer jornalista faz normalmente, que é: saber quem está entrevistando, qual sua formação, saber o básico sobre o assunto, preparar e identificar as perguntas a serem feitas... Mas quando trabalha com ciência no rádio, acredito que também seja fundamental para o jornalista fazer o cientista atingir o estado emocional ideal e fazê-lo se acostumar com o fato de que ele estará envolvido em uma conversa por um tempo determinado, já que isso não é uma coisa que acontece naturalmente. Isso só pode ser alcançado através de muita conversa antes da gravação do programa. O ideal é encontrar o convidado pessoalmente, mas, se não for possível, é preciso pelo menos meia hora de conversa no telefone, e se puder ser mais de uma vez, melhor ainda. Durante essa preparação, há alguns truques que podem ajudar o jornalista a chegar ao clima desejado e fazer o cientista se sentir mais confortável. Um deles é tentar entender o humor do entrevistado, se ele ou ela é alguém com quem você pode fazer piada, alguém que vai gostar das risadas. Isso é fácil de descobrir, basta você rir de uma palavra que ele/ela use para explicar um conceito complexo. Aí você avalia sua reação. Todas as informações recolhidas vão influenciar fortemente o tom e o estilo da conversa que vai ao ar e vai ajudar a definir onde encaixar o cientista dentro da estrutura do programa, se ele ou ela vai ser um especialista fazendo um comentário objetivo sobre um determinado assunto, quase em tom de conferência, ou se ele ou ela vai ser um personagem central do programa. Então não é uma questão de treinar apenas o cientista mas também de treinar o jornalista para ele saber com quem está falando? É, no final das contas, são as duas coisas. Acho que é difícil dar uma definição formal a esse conceito. O segredo está escondido na conversa, tentar conhecer o máximo possível a pessoa com quem você vai contracenar. Basicamente você deve fazer o mesmo que faz quando conhece uma pessoa em um contexto bastante informal. E o que acontece se você perceber que aquela pessoa com quem está conversando não vai funcionar no ar, se você sentir que a entrevista não vai sair do jeito que você gostaria? Isso é um problema para o jornalista. A partir do momento em que você entra em contato com um convidado, é muito difícil mudar de idéia; isso normalmente não acontece. Uma solução é tentar reduzir drasticamente a importância daquela entrevista dentro do programa. Mas, de qualquer forma, não acredito na idéia de que cientistas não são bons comunicadores. Não são todos os cientistas que são calorosos e carismáticos, alguns são frios e distantes, mas isso não significa que sejam maus comunicadores. Eles podem ser frios, precisos e autoritários, é apenas seu estilo. Por que eles não podem ser o que são? Pode acontecer de você precisar no seu programa de uma explicação exata sobre um assunto. Todo o cientista pode, a sua maneira, ser um bom comunicador, e você pode ajudá-lo a descobrir isso. Você só vai falhar se tentar fazer o entrevistado ser o que ele não é. Mas você diria que no rádio é preciso fazer escolhas mais cuidadosas em relação às pessoas que vai entrevistar do que no jornalismo impresso, já que os riscos de uma entrevista não sair da maneira desejada são maiores? Na imprensa, você pode decidir exatamente o que quer falar e qual o foco principal da sua entrevista. Isso vai levá-lo a escolher os trechos da entrevista que lhe ajudem a construir sua mensagem. No rádio, a mensagem é definida pelo entrevistado. Claro que você tem em mente uma idéia geral do que você quer falar, mas tudo depende do rumo que a conversa com o entrevistado vai tomar. Durante a conversa, você pode descobrir que os temas melhor discutidos por ele não são os mesmos que você havia planejado. Nesse momento, a habilidade do jornalista de seguir o entrevistado é muito importante. Por isso não acho que no rádio você deveria “escolher melhor”. De certa forma, “escolher melhor” pode acabar significando “escolher melhor alguém que encaixe melhor nos seus planos”, em vez de acompanhar a pessoa que você está entrevistando. Acredito que em um programa de rádio o mais importante não é a idéia, a notícia ou o assunto sobre o qual se está falando, e sim as pessoas, as vozes que estão no ar. O que os cientistas pensam sobre o rádio? Acho que os cientistas amam rádio... assim como todo mundo! E eles também amam estar no rádio. Em um dos encontros do Scirab [Science in Radio Broadcasting, um projeto coordenado por Merzagora sobre ciência nas rádios européias], algo que ficou muito claro foi que os cientistas se sentem muito mais em controle da situação no rádio do que na televisão. Na TV, eles têm a impressão de estarem atuando como personagens de um roteiro pré-estabelecido, ou como marionetes. O tempo é curto e os jornalistas querem que eles digam exatamente o que foi planejado, dentro do limite do tempo. Além disso, na TV, há mais aparatos técnicos, o que impede que as pessoas se sintam à vontade. “Il Ciclotrone”, “Le oche di Lorenz”, “Il volo delle oche”... Como você escolhe o nome dos programas? Em geral, o nome é muito importante, principalmente no início: ele identifica fortemente os personagens do programa. O nome “Le oche di Lorenz”, na Radio RAI 3, veio do cientista austríaco Konrad Lorenz, fundador da etologia, que morreu em 1989. Ele foi o primeiro a definir a importância do “imprinting” ["estampagem", em português, mas normalmente é um termo não traduzido]. Estudando o comportamento dos patos, ele observou que quando era o primeiro ser vivo que os patinhos viam depois do nascimento, eles o identificavam como pai. No nosso caso, usamos essa metáfora para dizer que éramos como patos, no sentido de bobos, patetas, que seguiam os cientistas e tentávamos aprender com eles. O nome do programa acabou nos ajudando muito: quando explicávamos para os cientistas o significado do nome do programa ficava mais fácil de fazê-los rir e entender o espírito do programa. “Il volo delle Oche”, o nome do programa da Radio 24, era uma forma de identificar a continuidade do programa da RAI sem manter o mesmo nome. Um nome que eu gostava muito era o do programa que sucedeu o “Il Ciclotrone” na Radio Popolare: “42 - Ciência em busca de perguntas”. A referência era O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, onde há resposta para tudo – 42 – mas ninguém lembra qual era a pergunta. A idéia era ajudar os cientistas a acharem as perguntas certas mais do que nos dar respostas. Você acredita que haja um formato ideal para um programa de ciência no rádio? Pelo que descobrimos no Scirab, há formas diversas de falar sobre ciência no rádio. Por isso acho que qualquer tamanho, horário ou formato podem ser bons. Na minha opinião, num programa de rádio sobre ciência, o conteúdo deve dominar a forma e não se deve impor um formato fechado para um programa focado em conteúdo. O formato do nosso programa, por exemplo, sempre foi flexível. O apresentador, claro, tem uma idéia básica na cabeça sobre a estrutura do programa, por exemplo, ter uma entrevista principal e algumas notícias curtas ou alguns destaques da mídia. Mas se acontecer de uma entrevista superar as expectativas, você deve mudar o formato do programa na mesma hora, no ar, e dar mais tempo para a conversa com o entrevistado. Acho que o estilo também deve alternar: às vezes pode ser sério, por exemplo, introduzir elementos da ciência básica no início do programa; às vezes pode ser brincalhão e engraçado, talvez abrir o programa com sons de animais ou piadas. A ciência é tão diversa que é preciso seguir essa diversidade quando se faz um programa de rádio. A idéia é fixar a atenção dos ouvintes no conteúdo inovando na forma, mudando de tom, estilo e formato todos os dias. Nem sempre é fácil convencer os diretores das rádios dessa idéia. Tem algum limite para essa flexibilidade? Claro que sim. Por exemplo, é muito importante que a voz do apresentador seja sempre a mesma. Sylvie Coyaud, por exemplo, tem um tom muito peculiar que identifica fortemente sua personalidade. Além disso, acho que é uma questão de escolhas pessoais. Na minha opinião, o formato é menos importante do que o conteúdo. Como você sabe se os ouvintes gostam desse formato mais flexível de programa? Na maioria das vezes a gente não sabe. O que sabemos sobre os ouvintes se restringe ao retorno que temos deles. Por exemplo, o retorno era muito grande na Radio Popolare, acho que principalmente porque era uma rádio comunitária. As pessoas ligavam durante o programa e, na maior parte das vezes, tínhamos uma interação bem direta com eles. Uma vez tivemos um ótimo programa com Antonio Damásio [neurologista e neurocientista português, pesquisador na Universidade da Carolina do Sul, Estados Unidos], sobre sentimentos e o cérebro, o tipo de assunto no qual todo mundo tem sua própria expertise. Tudo o que ele estava falando estava tendo um impacto emocional enorme sobre os ouvintes, então tivemos uma quantidade muito grande de telefones e de perguntas. Como você lidou com a questão da língua? O programa foi traduzido para o italiano? Foi. A nossa dificuldade de traduzir o que ele estava dizendo fez com que os ouvintes se envolvessem ainda mais no esforço de entender e serem entendidos, o que, na minha opinião, terminou sendo uma grande experiência. É comum ter convidados estrangeiros em seus programas? Na RAI, procurávamos ter pelo menos 30% de cientistas estrangeiros entre os entrevistados. Acredito que o autor de um estudo é a pessoa certa para falar sobre ele, mesmo que fale em outra língua. A tradução pode ser feita de diferentes maneiras, dependendo do assunto, estilo e, é claro, de algumas questões técnicas. Uma coisa muito importante é que nunca se deve usar uma tradução profissional. Isso mata o processo de comunicação. Em nossos programas, nós mesmos fazíamos as traduções. Enquanto traduzíamos, tentávamos reproduzir da melhor maneira possível a forma que o entrevistado estava falando. Em uma tradução profissional, ao contrário, costuma-se perder o tom, a entonação e as pausas que são feitas pela voz original. Você disse que na maior parte do tempo você não sabe o que os ouvintes acham do programa. Por que isso ocorre? Não há pesquisas sobre as audiências dos programas de rádio? Este é um grande problema para as rádios, não só para as italianas mas para todas as rádios européias, com poucas exceções. A principal razão pela qual não sabemos muito sobre a audiência é porque o valor do tempo comercial no rádio é muito baixo. Ou seja, a publicidade no rádio é barata. É por isso que não há muito interesse em saber quem e quantas pessoas estão ouvindo determinado programa. Já no caso da televisão, o conhecimento da audiência é muito valioso, há muito investimento nisso, pois o tempo na televisão é muito caro. Quando uma empresa decide que vai gastar alguns milhões de dólares em publicidade, ela quer saber exatamente com quem e com quantas pessoas está falando. No rádio, eles gastariam alguns milhares de dólares e não se importariam com a audiência, estatísticas toscas seriam suficientes. Por um lado, isso é muito ruim, porque você não sabe com quem está falando. Por outro, isso é muito bom, porque dá ao rádio muito mais liberdade do que há na TV. Você faz qualquer coisa que acha interessante e espera que a audiência goste. No programa que eu trabalhava, tínhamos entre 200 e 400 mil ouvintes por dia, mas eu não sabia absolutamente nada sobre essas pessoas, com exceção daqueles que escreviam para nós. Isso está mudando, mesmo porque a tecnologia para esse tipo de pesquisa tem avançado. Por exemplo, uma nova tecnologia foi lançada na Suíça e mais recentemente no Reino Unido. Trata-se de um relógio de pulso que registra o som ambiente por mais ou menos um segundo. O registro de um segundo é curto o suficiente para não invadir a privacidade das pessoas. Quando os segundos registrados são analisados é possível saber se a pessoa estava ouvindo rádio e, caso positivo, que estação. Essa é uma boa maneira de reconhecer a audiência, não apenas diz quantas pessoas estão ouvindo rádio, mas também quem são essas pessoas, que é o mais importante. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o Scirab. Como surgiu a idéia para o projeto? A idéia surgiu quando me mudei para a França em 2001 e me dei conta de que eu nunca tinha ouvido programas de rádio franceses sobre ciência, mesmo entendendo francês. Nessa mesma época, uma aluna minha no mestrado em divulgação científica na SISSA, Elisabetta Tola, jornalista da Radio Città del Capo, em Bolonha, e apresentadora do programa “Scienza” da Radio 3, na RAI, decidiu escrever sua tese sobre rádio e a nova mídia digital. Entramos em contato com Gareth Mitchell, apresentador da BBC em Londres e professor do mestrado de divulgação científica do Imperial College London. Conversando, nos demos conta de que o tema ciência no rádio era raramente debatido nos encontros de divulgação científica. Decidimos então tomar uma iniciativa para promover o rádio como ferramenta de divulgação científica. O primeiro passo foi procurar o que já tinha sido escrito sobre ciência no rádio e descobrimos que havia pouquíssimos estudos sobre o assunto. Pedimos então dinheiro à Comissão Européia para desenvolver um projeto na área. Um dos objetivos principais era criar uma rede entre as pessoas que estavam trabalhando com ciência no rádio na Europa. Queríamos também fazer um levantamento de programas de ciência veiculados em rádios européias e analisar as características desses programas. O projeto era bem pequeno em termos financeiros: 80 mil Euros. Conseguimos o dinheiro e começamos o trabalho. Em 2005, Marzia Mazzonetto, outra estudante do mestrado de divulgação científica da SISSA na época, se juntou a nós. Além de fazermos um mapeamento do que descobríamos nas rádios européias, organizamos também encontros para nos conhecermos, jornalistas e cientistas trabalhando em rádio. Tudo isso está resumido no livro Science in Radio Broadcasting, que publicamos ao final do projeto. Onde foram realizados esses encontros e quantas pessoas estiveram envolvidas? Os encontros foram muito interessantes, já que, pela primeira vez, aquelas pessoas estavam se encontrando. A reação da maioria delas era: “Uau, tem outras pessoas por ai fazendo a mesma coisa que eu faço, e fazem até muito bem”. Um encontro foi realizado no leste europeu, em Bucareste, na Romênia. Foi importante para descobrirmos que existia uma perspectiva bem diferente entre o que era divulgação científica no rádio no leste europeu e o que era nos países do oeste. No encontro principal, realizado em Triste, tinham 16 países representados e cerca de 40 programas de rádio envolvidos. Os convidados passaram dois dias em Triste e cada um mostrou sua maneira de fazer programa de ciência no rádio. O último encontro foi realizado em Londres e tinha como foco principal o papel dos cientistas na divulgação científica no rádio. Diversos cientistas participaram, alguns bem famosos, como Steve Jones. Algo de que tenho muito orgulho é de ter conseguido colocar em contato muitas pessoas valiosas que não se conheciam e esse contato está sendo mantido independente do projeto. Além do que você já mencionou, o que mais descobriu sobre ciência no rádio com o Scirab? Descobrimos um ambiente muito diverso, o que é muito positivo. Em segundo lugar, descobrimos que há um predomínio de ciência nas rádios culturais – rádios que se autodefinem como o lugar onde questões da alta cultura são discutidas. Cada país europeu tem pelo menos quatro ou cinco programas de ciência, sempre nessas rádios culturais. Radio 3 na Itália, France Culture na França, BBC 4 na Inglaterra, NDR na Alemanha... Nas rádios comerciais, por outro lado, é difícil de se identificar programas de ciência e a ciência de forma geral é bem menos representada. Outra coisa muito interessante foi ver que os jornalistas de ciência europeus procuram se manter o mais distante possível da palavra “educação”. Quando discutimos esse tema durante o encontro em Trieste, um convidado da Índia, Bhaumik Thakar, nos contou sua experiência na Índia, onde o rádio é uma ferramenta educacional por definição. Na Europa, a idéia de que educação é responsabilidade da escola é amplamente difundida. A maioria dos jornalistas afirma que educação não faz parte de seus objetivos; seu papel é o de informar, entreter ou participar do debate cultural. Acho isso um assunto interessante para se debruçar com mais profundidade. Qual é sua opinião sobre isso? Os jornalistas têm ou não têm a responsabilidade de educar? Acho que isso é também uma questão de papéis. Nós, jornalistas de ciência, não sabemos nada sobre pedagogia ou educação. Esse é um dos motivos para nos sentirmos despreparados para educar. Por outro lado, as pessoas que trabalham na área de educação sentem de alguma forma que isso é uma responsabilidade apenas delas. No fundo, esses dois mundos são mantidos distantes. Como surgiu o mestrado em divulgação científica na SISSA e como você se envolveu com o curso? O mestrado de divulgação científica da SISSA, estabelecido em 1993, foi o primeiro dessa linha na Itália e talvez na Europa. A idéia original foi de Franco Prattico, um ótimo jornalista de ciência. Ele criou um curso para treinar pessoas em jornalismo científico, e encontrou na SISSA, particularmente em Stefano Fantoni, um professor de física, a contrapartida científica. No início do curso, havia apenas seminários com apresentações de cientistas e jornalistas explicando como era trabalhar na imprensa. Após três anos de seminários, o curso se transformou em um mestrado, organizado pelo Laboratório Interdisciplinar da SISSA, que era originalmente um grupo de intelectuais com diferentes formações compartilhando experiências. Meu envolvimento pessoal com a SISSA se iniciou como estudante. Fui um dos primeiros alunos do mestrado. Qual a estrutura atual do mestrado em divulgação científica da SISSA? O mestrado tem dois anos de duração. No primeiro ano, os estudantes têm aulas dez dias por mês durante oito meses. Eles vêm de todas as partes da Itália para Triste e, durante dez dias, passam 24 horas por dia juntos estudando e trabalhando. As aulas cobrem tópicos científicos nas áreas de física, biologia e genética, meio ambiente e neurociência. Elas são ministradas por cientistas, que descrevem seus trabalhos, assistidos por jornalistas que mostram, por exemplo, como aquele assunto específico foi coberto pela mídia. Os alunos estudam também teoria da divulgação científica e treinam habilidade escrita. A cada dois dias eles praticam uma área da comunicação diferente, com convidados especialistas no assunto e no trabalho prático. As áreas são: press releases, imprensa diária ou semanal, rádio, televisão e museus de ciência. No final do curso, os alunos têm que escrever e discutir uma tese. São 15 estudantes por ano, às vezes um pouco mais. Entre eles há comunicadores e cientistas. Todos têm um diploma de graduação, alguns têm doutorado em ciência ou em filosofia e alguns já vêm com uma boa experiência prática em divulgação científica por já ter trabalhado na área. A seleção é baseada em critérios como curiosidade, capacidade de interpretar as coisas e a habilidade escrita. Todo ano acontece de termos um grupo extraordinário de alunos. Eles se dedicam muito ao curso. O aprendizado horizontal que ocorre entre eles é tão importante quanto o que aprendem com os professores. A faixa etária varia de 23 anos até pessoas mais velhas que os professores. Os alunos ganham bolsas de estudos ou pagam para fazer o mestrado? Os estudantes pagam em média dois mil euros por ano. Não é muito para um mestrado desse porte. E, embora não garanta emprego para os estudantes, o mestrado tem um impacto profissional importante: uma pesquisa recente mostra que quase 90% dos estudantes trabalham em divulgação científica ou em áreas afins, pelo menos meio expediente. O mercado de trabalho na Itália nessa área é muito restrito. A maior parte dos trabalhos é precária e instável. Mesmo assim, os estudantes do mestrado têm um percentual alto de acesso a esse mundo feito de empregos instáveis. Se você analisar o cenário atual das pessoas que trabalham na Itália em divulgação científica, você vê uma presença grande de estudantes que fizeram o curso em Trieste. Acho que não tem sequer um museu relevante, uma revista ou um periódico científico em que um ex-estudante do mestrado não trabalhe. O mestrado é mais voltado para trabalho prático ou para pesquisa acadêmica? É sobretudo voltado para atividades práticas. No entanto, dos últimos anos para cá tem havido uma tendência de desenvolver mais o lado da pesquisa. Na Itália, mercado para pesquisa em divulgação científica simplesmente não existe. Ninguém é pago para fazer pesquisa nessa área. Há apenas algumas exceções, como o grupo do Massimiano Bucchi [Departamento de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Trento, Itália] ou Federico Neresini [Departamento de Sociologia da Universidade Padova, Itália], mas eles são sociólogos, eles fazem pesquisa do ponto de vista da sociologia e não do ponto de vista da divulgação científica. Tem ainda Agnes Allansdottir [Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade de Siena, Itália], que está envolvida com as pesquisas do Eurobarômetro na área de ciência e tecnologia. Como você vê o fato de o mestrado em divulgação científica estar dentro de uma instituição de pesquisa científica? Acho que isso é muito positivo. Vinte anos atrás, os jornalistas científicos eram muito ruins porque não sabiam nada sobre ciência e não consideravam importante saber alguma coisa sobre ciência. Hoje em dia, a maioria das pessoas que escreve sobre ciência é qualificada. O problema agora, na minha impressão, é que quase não há contato com a ciência. Jornalistas não vão a conferências científicas, se baseiam muito em press release, usam principalmente notícias da Nature e da Science, e não estão em contato direto com a comunidade científica. Na minha opinião, treinar jornalistas para estarem em contato direto com cientistas e se sentirem confortáveis quando falam com eles é um elemento-chave para a formação na área. Um dos motivos pelo qual penso que Sylvie e eu - e todos que trabalharam conosco nos programas - fizemos um bom trabalho é que falávamos a mesma língua que os cientistas. Por que você acha que os jornalistas têm dificuldades de lidar diretamente com a ciência e com cientistas? Acho o seguinte: nós, divulgadores de ciência, lutamos para tornar a divulgação científica um corpo intelectual independente. Para isso, houve provavelmente a necessidade de se afastar um pouco da ciência. Essa foi uma conquista muito importante, mas agora estamos chegando no extremo oposto. A independência está nos mostrando problemas. Às vezes parece até que é possível fazer divulgação científica sem cientistas. Acho que estamos maduros o suficiente para dizer “vamos nos aproximar da ciência” sem o risco de perdermos a liberdade de pensamento e a independência para desenvolver conhecimento próprio. Como a idéia do Journal of Science Communication surgiu dentro do mestrado? Houve um momento no mestrado em que paramos de pensar no lado puramente prático da divulgação científica e começamos a refletir sobre o seu lado teórico. Em 2001, Pietro Greco, jornalista e um dos fundadores do mestrado, decidiu que era um bom momento para nos estabelecermos também como pesquisadores. Uma das idéias era desenvolver um periódico de divulgação científica. Quando discutimos a idéia pela primeira vez, fui totalmente contra. Nunca tínhamos publicado um artigo científico num periódico, por isso, na minha cabeça, não fazia sentido a gente publicar nosso próprio periódico. Apostei que ele não passaria dos dois primeiros números. Mas eu estava errado. Recebemos alguns artigos bons, inclusive do Brasil. Uma coisa que eu gostava, que nem sempre foi seguida, era de se concentrar apenas nas pessoas que tinham experiência prática em divulgação científica. Não era para ser pura pesquisa acadêmica, pois não era o que estávamos fazendo. Nenhum de nós tinha formação em sociologia, em estudos de mídia nem estudos em comunicação. Uma coisa em que éramos bons era em fazer divulgação científica. Para mim, prática e reflexões deveriam estar sempre juntas. Mas, ao longo dos anos, acho que o periódico tem tentado mais e mais ser um periódico acadêmico. Acho que seria muito melhor se ele se fixasse apenas no ponto de vista da prática. Isso tudo é o meu ponto de vista pessoal. E como você se engajou com museus de ciência? Me envolvi com museus de ciência novamente através de Sylvie Coyaud, que é de certa forma minha guru. Escrevemos juntos um guia sobre centros de ciência na Europa. Naquela época, não havia na Itália muita expertise na área e não havia centros de ciência. Com exceção do Immaginario Scientifico, um centro de ciência muito pequeno de Trieste, só havia museus de ciência tradicionais. Em 1999, participei de um encontro do Ecsite [Rede européia de centros e museus de ciência] que me ajudou muito a identificar pessoas, países e museus de ciência da Europa. Comprei um desses bilhetes de trem que os jovens compram quando viajam pela Europa e passei um mês do verão de 1999 viajando pela Europa, visitando centros e museus de ciência. Foi um investimento profissional, não muito compensador em termos de dinheiro. Mesmo sem termos ainda muita experiência no assunto, escrevemos o guia. Mais do que um simples guia, ele tenta falar também sobre o que os museus e centros de ciência fazem e em que contexto. Tentamos colocar a experiência de cada museu como um exemplo de formas diferentes de mostrar a ciência. O guia, que era voltado para o público geral, não vendeu muito, mas circulou bastante entre os praticantes da área. Acho que a editora conseguiu alcançar a meta mínima para pagar o custo do livro, vendendo perto de 2.000 cópias. E agora você é responsável pela área de museus de ciência no mestrado... Como foi esse salto? Depois de escrever o guia, comecei a ter um contato maior com museus de ciência. Descobri que o fato de ter visitado vários museus de ciência, de ter falado com diversos diretores, me deu um nível alto de conhecimento sobre o assunto. Depois que terminei o mestrado, voltava para Triste todos os anos para dar aulas sobre ciência no rádio ou para apresentar o guia de museus de ciência para os novos alunos. Depois de um tempo, me chamaram para ministrar aulas de jornalismo nas áreas de física e de matemática, já que meu trabalho naquela época era basicamente no rádio e escrevendo artigos para a imprensa. Escrevia, por exemplo, para o La Repubblica, um dos principais jornais diários da Itália. Depois, a estrutura do mestrado mudou um pouco; foi aberto um campo de estudos na área de museus de ciência, que se transformou em um campo de especialização para os estudantes do segundo ano do mestrado, junto com jornalismo, televisão e publicação de livros de ciência. Fui convidado para dar aulas nesse novo campo de estudos e comecei a lecionar com Paola Rodari, que é co-responsável pelo curso e uma pessoa fantástica de se trabalhar. E como foi a idealização do Dotik (Treinamento europeu para jovens cientistas e mediadores de museus)? A idéia surgiu junto com a criação desse novo campo de estudos? Quando começamos o curso de museus de ciência no mestrado, Paola e eu tínhamos apenas experiência prática. Começamos então a estudar, a ir a conferências e a olhar mais atentamente os museus e centros de ciência. Notamos que havia um grande vácuo em relação ao papel dos “explicadores”4. A maioria era mal remunerada e nunca era valorizada o bastante. Por outro lado, eles tinham um conhecimento profundo e um diálogo direto com o público, que conduziam de uma forma muito pessoal e que raramente fazia parte da estratégia comunicativa do museu. Decidimos então dar mais atenção ao papel dos “explicadores”. Primeiro formamos um grupo pequeno de pessoas, montamos uma escola experimental e analisamos o retorno. Em agosto vamos montar um curso de uma semana exclusivamente para a formação de “explicadores”5. Na prática, vamos focar em como se valorizar ao máximo o diálogo entre o público e o “explicador” e a expressão do público como elemento de aproximação entre ciência e sociedade. Vamos procurar também estimular a auto-estima dos “explicadores”, o que deverá ajudá-los a lutar por um papel mais importante dentro dos museus. Eles são “a última roda do trem”, como dizemos em italiano. Ou seja, são as pessoas menos valorizadas entre todas aquelas trabalhando nos museus, mas são as primeiras em termos de impacto sobre o público. Você diria que um dos desafios dos museus de ciência na Europa seria o de definir e aproveitar melhor o trabalho dos mediadores? Há diversas maneiras de se referir às pessoas que atendem os visitantes em museus. Em português eles costumam ser chamados de monitores ou mediadores. Em inglês, eles podem ser chamados de mediator, animator ou explainer. Merzagora prefere chama-los de explainers, que nesta entrevista será traduzido como “explicadores”. 5 Na época em que a entrevista foi realizada a primeira atividade do projeto Dotik ainda não havia ocorrido. 4 Sim, eu diria que é um dos principais desafios. Mas tem outro. Os museus não são feitos apenas de exposições, eles são espaços de atividades escolares, laboratórios, conferências, filmes, debates e eventos. Todos os museus estão seguindo essa direção. O desafio é incluir o público e os cientistas nessa plataforma, o que não é óbvio. Acho que esses são os dois grandes desafios. Particularmente, o papel dos “explicadores” está contribuindo muito na parte do desafio de incluir o público. Neste contexto é que seu papel é cada vez mais importante. A parte de incluir o cientista é o grande problema. Como os museus de ciência podem ser mais efetivos em atrair cientistas? O problema é que o cientista ainda não reconhece o museu como um local adequado para fazer pressão, lobby, para defender e promover seu papel na sociedade. Ele só usa o museu para promover sua área. A maioria das atividades organizada por universidades em museus de ciência visa atrair estudantes ou explicar ao público suas áreas de atuação. Quando um cientista quer falar do seu papel na sociedade e fazer lobby, ele procura a mídia. Como jornalista de rádio, posso dizer que recebemos muita pressão de cientistas (no bom sentido, mas ainda assim é pressão). Eles vêem na mídia o espaço público ideal para este tipo de debate acontecer. E o museu não é esse espaço, o que é uma pena porque os museus têm um grande potencial e várias possibilidades que a mídia não tem. Se considerarmos os museus como um meio de comunicação, é o único onde o público é parte do meio, ele está presente fisicamente. Há muitas tentativas de transformar os museus nesse espaço e acho que este é realmente o rumo a ser seguido. Você escreveu um livro sobre ciência no cinema. Como se envolveu com esse tema? Em 1997, através da Evariste Galois, uma associação cultural de Milão da qual eu era membro, comecei a contribuir na organização de uma festival de filmes científicos chamado “Vedere la Scienza”, o que fiz por cinco anos em parceira com a Universidade de Milão. Era um festival de uma semana em que exibíamos filmes e documentários sobre ciência. Com isso, passei a me interessar muito por filmes, particularmente por ciência na cultura popular. Acabei me envolvendo com um projeto de pesquisa chamado “Associando ciência e sociedade no novo drama europeu”, sobre seriados de ficção na TV. O projeto se baseava no fato de autores e produtores de divulgação científica nãointencional serem intérpretes incríveis da percepção pública da ciência, até mesmo por razões de sobrevivência profissional. Eles têm que conhecer muito bem o público, caso contrário, se não satisfizerem ou se não souberem interpretar o que o público pensa, eles falham. Acho que existe uma possibilidade muito maior de entendermos mais profundamente a percepção pública da ciência olhando o que esses profissionais fazem do que muitas vezes indo diretamente ao público. Todas as enquetes de percepção pública da ciência têm problemas e limitações... Acredito que esse seja um campo muito interessante de estudo. Qual é o conteúdo do livro? O livro é dividido em duas partes. A primeira é constituída de ensaios sobre temas diversos, por exemplo, as imagens do cientista, ciência e guerra, ciência e catástrofe, ciência e corpos e mentes artificiais, a origem do cinema... A segundo parte é uma lista comentada de cerca de 220 filmes, com uma pequena descrição de umas 20 linhas e com informações e explicações sobre o conteúdo científico existente em cada filme. Programas de radio, livro de cinema, aulas sobre museus de ciência, projeto voltado para mediadores... Você tem trabalhado em diversas atividades ao mesmo tempo. Quais os aspectos positivos e negativos de se fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Em todos esses campos de que estamos falando eu nunca fiz nada muito profundo porque é difícil ser um idealizador incrível de exposições, um ótimo jornalista de ciência, um ótimo apresentador de rádio... Acho que sempre fiz um trabalho razoavelmente bom em todos esses campos, mas não em um nível muito elevado. Mas acho interessante ter uma exploração horizontal de campos bem diferentes. Valorizo muito o fato de unir a prática à reflexão sobre a prática. Por exemplo, ser capaz de transferir para uma exposição o conhecimento que eu absorvi fazendo rádio. Acho que isso ajuda muito. Voltando um pouco à questão da formação de jornalistas de ciência. Lembro uma vez em Montreal, no congresso mundial [Congresso Mundial de Jornalistas de Ciência, em 2004, no Canadá], houve uma sessão dedicada a este tópico. A discussão era sobre se os jornalistas deveriam treinar mais para fazer um trabalho prático ou ter uma formação mais geral sobre divulgação científica. Defendi totalmente a segunda opção porque acho que o que você pode acrescentar a uma exposição usando a experiência que teve em televisão ou acrescentar a um livro usando a experiência que teve falando com pessoas no rádio ou trabalhando como “explicador”, é de um valor enorme. Nosso papel, como divulgadores científicos, deve ser o mais flexível possível, pois podemos acrescentar muito mais a uma forma de comunicação sabendo um pouco das outras. Quem você considera melhor para divulgar ciência: cientistas ou jornalistas? Acho que precisamos dos dois. Mas cada um precisa de uma formação profissional diferente. Acredito que os cientistas têm um papel a desempenhar como protagonistas diretos da divulgação científica. Ao mesmo tempo, seria muito perigoso um cenário em que os cientistas fossem os únicos a fazerem divulgação científica. A divulgação científica não pode ser uma simples esteira rolante que transporta informação de um lugar para outro, do cientista para o público. Ela precisa mudar o conteúdo do objeto transferido e é muito importante que essa modificação seja feita com consciência. Esse é o papel do divulgador de ciência, pegar o conteúdo da ciência e combina-lo, torna-lo interativo, fazelo reagir com diversos outros elementos culturais. Comunicação só pode ser o resultado dessa reação e o papel da divulgação científica, no meio, é muito importante. Outra coisa muito importante: o cientista só pode falar sobre o que sabe, sobre a sua especialidade. Acho muito perigoso quando o cientista resolve falar sobre o assunto do qual não é especialista. Ele não é melhor do que ninguém naquilo que não sabe. Você acha que é um melhor divulgador de ciência porque você tem um diploma de física? Sei coisas que alguém que nunca tenha trabalhado com ciência não sabe, isso é certo. Mas essas pessoas sabem outras coisas que eu não sei. Claro que tenho uns elementos que ajudam. Se você tem formação na área científica, você entende melhor sobre política científica. Ou seja, você sabe que um cientista passa 80% do tempo escrevendo propostas para levantar recursos. Se você nunca fez ciência, você não sabe isso. Mas, para o resto, não é verdade que você saiba mais do que qualquer pessoa sobre conteúdos científicos. Eu sempre tenho que lidar com temas diversos e não só relacionados à física.
Baixar