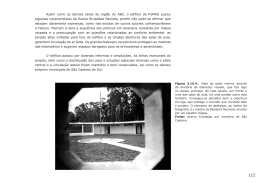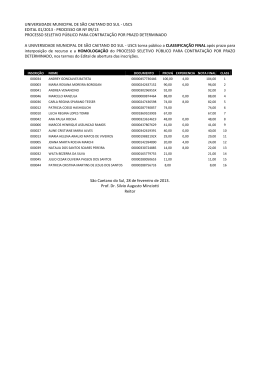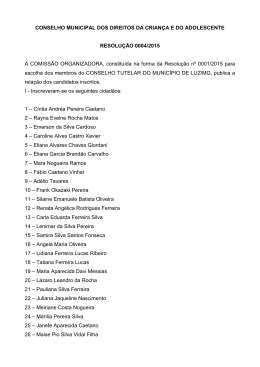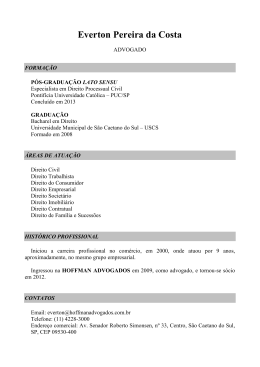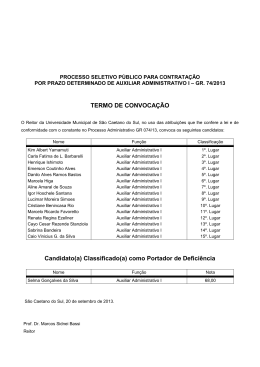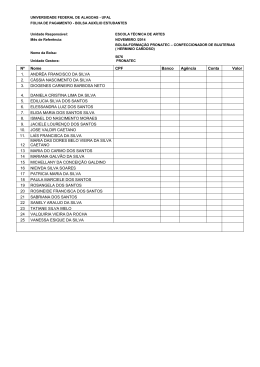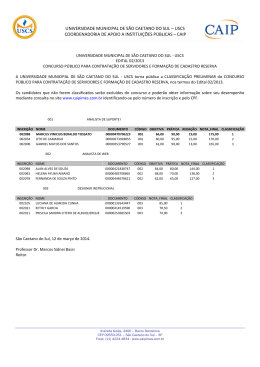Sérgio Ricardo da Mata, Helena Miranda Mollo & Flávia Florentino Varella (org.). Caderno de resumos & Anais do 2º. Seminário Nacional de História da Historiografia. A dinâmica do historicismo: tradições historiográficas modernas. Ouro Preto: EdUFOP, 2008. (ISBN: 978-85-288-0057-9) A escrita de uma história para a mocidade brasileira no oitocentos: o Epítome de História do Brasil de Caetano Lopes de Moura Isadora Tavares Maleval1 O século XIX pode ser visto como um momento em que a preocupação com o nacional tornou-se marcante. Esse ideal fica perceptível no que diz respeito à própria construção da história como disciplina e profissão. Nesse sentido, apoiando-se em François Furet2, podemos dizer que o século XIX foi o momento em que a história seria responsável por ensinar a “evolução da humanidade” e a “civilização”, sem esquecer que essa “marcha para o progresso” teria como artífice o Estado Nacional. A história, portanto, passou a ser a pedagogia do cidadão e a biografia da nação. No Brasil, houve um momento crucial para a formação desses debates. A fundação do IHGB, a consolidação do colégio Pedro II – e a entrada, em 1858, no currículo de História e Corografia do Brasil – e os escritos de Varnhagen são exemplos da importância que essas questões ganharam no Brasil. Além da dupla tarefa – escrever a história e ensiná-la à mocidade, representadas aqui, respectivamente, pela inauguração do IHGB e do Colégio Pedro II – tornava-se importante escrever uma história que pudesse ser transmitida àqueles que deveriam ser os futuros cidadãos ativos do Brasil. Nesse sentido, analisaremos o caso de Caetano Lopes de Moura, autor de um compêndio escolar de história do Brasil, o Epítome Chronólogico de História do Brasil para uso da mocidade brasileira. Caetano nasceu no dia 7 de agosto de 1780, na Bahia. Provinha de origem humilde, como conta, em sua Autobiografia: Sou pardo, como foram meu pai e minha mãe; meu avô e avó foram também dessa cor entremeia, que alguns brancos desestimam por isso, que lhes traz à memória a de alguns antepassados.3 Aprendeu as primeiras letras em Salvador e depois cursou uma das cadeiras régias de gramática latina na Bahia, e, desde logo que começou a aprender, passou a dar aulas. E 1 Mestranda em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected]. François Furet, “O nascimento da história”, In A oficina da História. Lisboa, Gradiva, 1980. 3 Ver Biografia do Dr. Caetano Lopes de Moura escrita por ele mesmo. Revista da Academia Brasileira de Letras. Rio de Janeiro, v. 4, 1912, 1ª parte, p. 277. 2 1 através dos ganhos recebidos das mesmas, partiu para Portugal, em 1802, e acabou indo para a França, com a intenção de estudar medicina. Além disso, viajou para a Inglaterra, nesse meio tempo, onde acabou também estudando a língua inglesa. Viveu a maior parte de sua vida fora do Brasil e morreu na França. Atuou como ajudante de cirurgião na Legião Portuguesa, formada por oficiais portugueses que se incorporaram ao exército francês. Tinha, por esse motivo, forte ligação com Napoleão Bonaparte, a quem via com grande admiração, chegando a escrever uma História de Napoleão Bonaparte desde o seu nascimento até à sua morte, obra de caráter biográfico. Foi tradutor de uma série de obras da literatura inglesa e francesa. E chegou a exercer também o ofício de agrônomo, mas, quando já não conseguia sobreviver com o pagamento desse trabalho, passou a receber mercês do Imperador Pedro II, cuja relação foi tão próxima que chegou mesmo a escrever uma autobiografia a pedido do mesmo. Essas mercês financiaram sua carreira de pesquisador em muitos arquivos europeus, coletando dados relacionados ao Brasil. Tornou-se sócio-correspondente do IHGB, para onde enviava suas pesquisas. Estas contribuíram, também, para outra atividade que exerceu: a de autor de vasta obra de cunho didático para uso da mocidade brasileira. O Epítome foi lançado em 1860, ano da morte de Caetano. Desde o prólogo, ficava clara a relação entre a obra e a política imperial de Pedro II. O livro era dedicado ao Imperador pelos editores: Um Resumo da Historia do Brasil, escrito por um Brasileiro, para uso da mocidade brasileira parece que de justiça, Imperial Senhor, devia ser posto debaixo da Proteção e Amparo de Vossa Majestade Imperial, do Monarca Ilustrado, que põe toda a sua gloria em editar, como é patente, a nação, cujo governo, para felicidade dela, foi Deus servido confiar-lhe... Dessa maneira, o livro devia ser visto como uma obra à altura da instrução pública dos futuros cidadãos ativos do Brasil. A mocidade teria, através do ensino da história do Brasil trazido por ele, condições de torna-se, futuramente, a elite política do Brasil imperial. E, por isso, o Imperador estaria ao lado dessa empreitada. O Epítome, nome que deriva do latim e significa resumo de um livro, continha, assim, os mais importantes acontecimentos da história do Brasil. Sua forma é pautada em uma cronologia: os eventos são narrados de acordo com os anos, ou, se for o caso, através das 2 datas mais importantes. No caso do nosso objeto, a narrativa inicia-se no descobrimento do Brasil – um “feliz acaso”4 para Caetano – e termina na década de 1830 – com abdicação de D. Pedro, e início do período de regência. Não é, portanto, um livro que busca analisar os acontecimentos, ou julgar a história, apesar de algumas vezes fazê-lo5. Caetano dá maior importância a algumas questões, como a das invasões estrangeiras (francesa e holandesa) e a expulsão dos jesuítas – e o que fazer com as aldeias indígenas antes sob jurisdição dos mesmos 6 . Entretanto, devido ao tempo curto da presente comunicação, restringiremos nossa análise aos eventos tratados no Epítome mais “contemporâneos” da vida de Caetano. A vinda da família Real para o Rio de Janeiro é um dos acontecimentos tratados com maior importância por Caetano. Isso porque, em 1807, “somos chegados à época marcada pela providência para a emancipação do Brasil; em breve deixaremos de ser colônia”7. E, desde então, mostra que essa decisão foi pertinente e fundamental, pois, caso não tivesse acontecido, a dinastia de Bragança teria perdido seu trono, como aconteceu ao rei Fernando VII da Espanha. Além disso, a vinda da Corte para o Brasil assegurou também a conservação de sua rica colônia. O advento da independência mereceu, também, destaque nessa narrativa. Em primeiro lugar, o “dia do fico”, pois evitou a partida de D. Pedro e, conseqüentemente, a repartição do Brasil “em outras tantas repúblicas, quantas eram as suas províncias”8. Os brasileiros que estavam em Portugal, nas Cortes, acabaram por desistir de representar o Brasil devido à vontade que havia entre os portugueses de fazê-lo retornar à condição de colônia. Para Caetano, ficava claro que, até aquele momento, nunca houve, por parte dos brasileiros, uma vontade real de separação com Portugal. Muito pelo contrário: 4 Ver Epítome Chronologico da Historia do Brasil, Paris, Aillaud, Monton e Cª, 1860, p. 2. Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, “A história para uso da mocidade brasileira”, in José Murilo de Carvalho (org.). Nação e cidadania no Império: novos horizontes, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007, p.45. 6 No ano de 1755, foi instituído o diretório para “a civilização e conversão dos Brasís em 95 artigos”, os quais foram, em sua grande parte, transcritos por Caetano no Epítome. O autor utiliza, para abordar essa temática, aproximadamente, 50 páginas. 7 Idem, ibidem, p. 230. 8 Idem, ibidem, p. 259. 5 3 não aspiravam os brasileiros senão a ficarem unidos com os Portugueses (...), porém as Cortes portuguesas com uma série de decretos absurdos, inexeqüíveis e soberanamente iníquos os impeliram a se separarem de Portugal, e a se declararem independentes.9 Seguindo os acontecimentos da história do Brasil, Caetano fala sobre o governo de Pedro I, como Imperador. E, apesar de mostrar algumas atitudes um tanto autoritárias de D. Pedro, demonstra o amor que esse soberano tinha pelo Brasil, até mesmo, no momento da morte de D. João VI. D. Pedro abdicou aos direitos que tinha à Coroa de Portugal em nome de sua filha, Maria da Glória, e devemos confessar que nessa ocasião falava o Imperador com o coração nos beiços, e dizia o que sentia, que não era ele insensível à glória, nem tão pouca era a que antevia lhe havia de caber no porvir de ter sido o fundador de dois governos constitucionais, o de Portugal e do Brasil.10 Desde 1830, entretanto, o Imperador estaria passando por momentos difíceis, em um movimento semelhante àquele que ocorria na Europa. Pouco tempo depois, ocorreu a abdicação de D. Pedro, em favor de seu filho, iniciando-se o período de regência. Exatamente, nesse ponto, Caetano termina o seu Epítome. Justifica tal decisão porque os eventos, que se seguiram a esse fato, eram muito próximos, e, conforme se acreditava na própria história produzida pelo IHGB, não eram passíveis de serem trabalhados pelos escritores da história. Essa seria uma tarefa das próximas gerações. Como podemos perceber, o livro de Caetano, que se pretendia uma narrativa objetiva – segundo os próprios ideais da época de uma escrita da história “científica” – foi feito de acordo com uma escolha que mostrava a construção de um Brasil segundo o projeto de colonização portuguesa. Mesmo que, por vezes, o autor mostrasse certos “erros” ou incertezas nesse intento, é perceptível que, ao mesmo tempo, ele deseja mostrar quão importante foi a obra lusa em sua colônia. Dessa maneira, Pedro I, mesmo que tivesse cometido enganos, era um “imprudente fundador”11, o que fazia com que não deixasse de ser o fundador dessa nação. E o mesmo sentimento demonstrava para seu pai e para seu avô: o Brasil só conseguiu chegar a tal patamar de civilidade através da força desses grandes homens, que fizeram da colonização 9 Idem, ibidem, p. 266. Idem, ibidem, p. 290. 11 Idem, ibidem, p. 319. 10 4 desse território uma grande preocupação. Todo esse processo teve sua “coroação” – em duplo sentido – com a vinda da família real em 1808 e com a independência de 1822. Assim, mesmo vivendo na segunda metade do século XIX, Caetano ainda relacionava a história da nação brasileira a uma herança portuguesa, não como forma de vergonha ou atraso, mas, pelo contrário, como aquilo que fizera, efetivamente, a nação brasileira12. Ora, a própria vivência de Caetano poderia explicar sua forma de entender a gênese da nação brasileira, pois morou a maior parte da vida na Europa e, portanto, não vivenciou aquele ambiente intelectual ativamente, conforme ocorria no Brasil13. Apresentava, no entanto, forte relação com a política imperial, já que recebia mercês de Pedro II. Nesse sentido, duas características devem ser levadas em consideração na escrita do Epítome: em primeiro lugar, o fato de que, para Caetano, o Brasil iniciou-se em 1822 sob o regime monárquico de um herdeiro da casa dos Bragança, em contraste, com a fragmentação da América Espanhola14. Em segundo lugar, a defesa da manutenção da unidade territorial do Brasil, para evitar o perigo da anarquia e do desmembramento das províncias, o que seria essencial para poder reconstituir o “Estado Brasileiro”. Essa unidade, que deveria ser transmitida nos livros de história do Brasil, alimentando, assim, a construção de um sentimento nacional, ainda estava ligada à figura do monarca. Por tal motivo, autores como Caetano buscavam na tradição e na herança portuguesa, assim como Varnhagen, o passado comum que podia oferecer o alicerce para uma identidade “unificada” no Brasil. 12 Nesse ponto, diferia de Joaquim Manuel de Macedo, por exemplo, uma vez que este buscava encontrar um “mito fundador”, autenticamente brasileiro e, mesmo, em quase oposição à antiga metrópole. Por isso valorizava tanto o índio, diferente de Caetano que, apesar de dedicar boa parte de sua obra à questão indígena, o faz em detrimento sempre de uma obra colonizadora. O índio, nesse sentido, só existe enquanto algo que devia ser civilizado. 13 Enquanto Macedo esteve presente de forma efetiva nos debates do IHGB e tinha o magistério como vocação, Caetano serviu ao lado dos franceses durante as guerras napoleônicas, não mais regressando ao Brasil – “desterrado da Pátria por amor das letras, quando solteiro, e por amor dos filhos, depois de casado”. 14 Lúcia M. B. P. das Neves, 2007, p . 6 3 . 5
Download