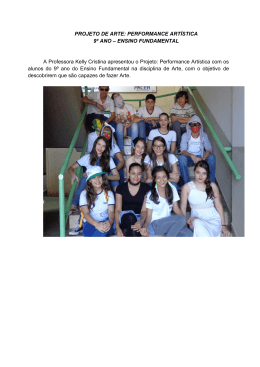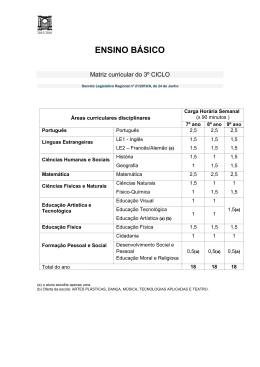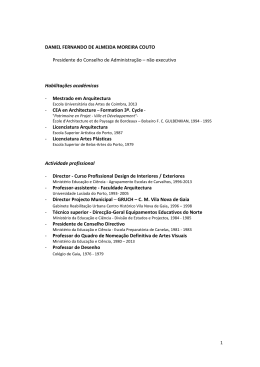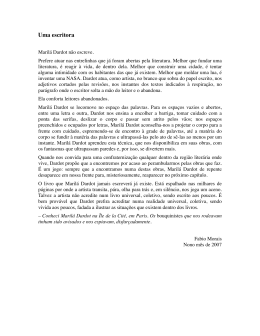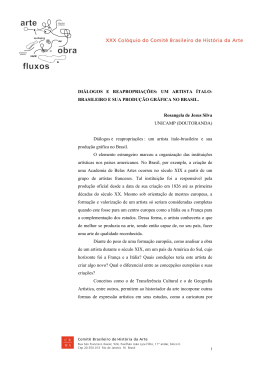Instalação Artística: Contexto e Interacção A Experiência da “Casa dos Segredos”, de Ana Vidigal José Rui Pardal Pina Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Arquitectura Júri Presidente: Professor Doutor João Rosa Vieira Caldas Orientador: Professora Doutora Teresa Frederica Tojal de Valsassina Heitor Co‐Orientador: Professora Doutora Bárbara dos Santos Coutinho Vogais: Professora Doutora Helena Silva Barranha Gomes Professor Doutor Pedro Filipe Pinheiro de Serpa Brandão Novembro de 2012 Resumo A dissertação que se segue estuda a génese da Instalação Artística, os vários movimentos artísticos que atravessa e os principais criadores que fundaram a sua prática através deste medium artístico. Diz‐se medium porque não é uma corrente em si, neste contexto, aproxima‐se mais de uma tela ou de um bloco de mármore. É um meio artístico ao qual o criador recorre para se expressar, sendo que o espaço e o tempo são propriedades inegáveis e incontornáveis de uma Instalação Artística qualquer (mesmo tratando‐se do ciberespaço). Geralmente, uma Instalação Artística compreende uma série de media, ou seja, um medium com vários media. No entanto, a sua apreensão, experiência e percepção é bem mais complexa que a tradicional pintura ou escultura, uma vez que convoca todos os sentidos de uma só vez e nos imerge literal, física e psicológica e instantaneamente numa ambiência imaginada. A sua compreensão faz‐se, portanto, com o corpo todo. Um corpo, contudo, dotado de uma pré‐consciência, como diria Maurice Merleau‐ Ponty, e enraizado e enlaçado com o mundo. Tem‐se, portanto, um corpo‐sujeito, não como entidades separadas, mas unas, no sentido de que o ‘Eu’ é uma alma e um corpo juntos e não faculdades desarticuladas como Descartes vinha a advogar segundo o seu dualismo durante séculos de filosofia moderna. É nesta senda que o trabalho se volta, depois, para a fenomenologia, tentando explicar ainda a experiência individual perante um dado fenómeno – neste caso a Instalação Artística “Casa dos Segredos” (2012), da artista Ana Vidigal. Pretende‐se, pois, responder às questões: “como é que o homem experiencia?” ou “como é que o indivíduo apreende um fenómeno, uma Instalação Artística?”. As percepções e as sensações são faces da mesma moeda e têm um papel vital na compreensão do tema e, como tal, se aborda nas folhas que se seguem. Palavras‐Chave: Instalação Artística, Arte, Filosofia, Fenomenologia, Percepção, Espaço, Tempo, Merleau‐Ponty, Corpo iii Abstract The following thesis studies the inception of Installation Art, the main artistic movements it crosses by and its main creators who established their practice through this artistic medium. One says medium because it’s not a movement per se, and, in this context, Installation Art’s closer to a canvas or a solid block of marble. It’s an artist mean to which an artist calls upon to express himself, giving that space and time are also unavoidable matters of any Installation Art (even when one’s speaking about cyberspace). Often an artistic installations use more than a few media, so one could say that it is a medium of several media. Though, its understanding, experience and perception are more complex than a traditional painting or sculpture, since Installation Art demands all of our senses at the same time, engulfing us literally, physically a psychologically and instantaneously in one imagined environment or atmosphere. Its understanding, then, is gathered by one’s entire body. A body, however, enriched by a pre‐consciousness, as Maurice Merleau‐Ponty would say, and intertwined and enmeshed in the world. Therefore, we have a body‐subject, not as separate entities, but one, in the sense that I have a body and soul as one solely thing instead of the Cartesian philosophy of dualism. Thus, this dissertation turns itself towards phenomenology, trying to explain the individual experience to a giving phenomenon – in this work one’s talking about “House of Secrets”, by Ana Vidigal (2012). So, the main issues are: “how does a man experiences things?” or “how does a man perceives a phenomena, an Installation Art?”. Perceptions and sensations are sides from the same coin and have the foremost importance in this subject as the following pages may suggest. Keywords: Installation Art, Art, Philosophy, Phenomenology, Perception, Space, Time, Merleau‐Ponty, Body iv Agradecimentos A minha eterna devoção e agradecimento estão na minha família: cinco elementos, cinco fundações, cinco relações, cinco educações. A formação do meu carácter; a fragilidade, o histerismo, o silêncio e os rasgos de coragem, aos meus os devo. Obrigado por terem criado uma a(r)v(or)e tão rara. Pai, Mãe, Avó e Irmão – obrigado. Às professoras Teresa Heitor e Bárbara Coutinho que me acompanharam nesta última jornada do vórtice académico, procurando professar o rigor e a exigência inerentes a qualquer dissertação. Obrigado pelos ensinamentos e por me terem aberto horizontes vastíssimos de conhecimento. Não esqueço os livros que a professora Bárbara Coutinho nos mostrou – “Skin + Bones” e “A Poética do Espaço” – que foram pontos charneira no meu interesse perante esta coisa estranhíssima que é a arquitectura; não esqueço igualmente a maior lição que recebi no curso, nos primeiros dias de aulas do 1º ano, pela professora Teresa Heitor ao dizer‐me: “Tu não podes ser tão conservador!” – desde então, literalmente, tudo mudou radicalmente; não esqueço também os sucessivos projectos relâmpago que se tornaram nos melhores momentos académicos que algum aluno alguma vez poderá ter. Ao professor Medeiros agradeço o interesse que mostrou aquando da realização dos inquéritos e pela ajuda prestada. Aos professores que passaram também deixo o meu profundo agradecimento: ao professor António Barreiros Ferreira por me ter ajudado a criar aqueles que eu considero os melhores projectos que guardo do técnico – o tempo que me concedeu para pensar e vomitar todas as imagens e pensamentos que guardava em mim e o apoio e consideração que demonstrou desde o 2º ano; ao professor Carlos Aurélio (um daqueles que passou e provavelmente não mais o encontrarei) cujas lições ainda hoje se fazem ressoar na minha mente: “a arquitectura é a mais nobre das profissões; junta escultura, desenho e pintura”. Aos amigos, todos, os que passaram, mas sobretudo os que ganhei com este curso e espero vir a ter forças e disponibilidade para nos juntarmos com a maior regularidade possível. É que… a vida acontece!... Das directas, dos cinemas, das tertúlias e das conversas que partilhámos guardo ternas memórias. À Zara, pela confiança em mim depositada e as palavras de conforto. À Jessica e à Mariana, as primeiras destes quase 6 anos, obrigado por cada gargalhada, cada escapadela, cada confidência... Ao Doutor José Gameiro e à Doutora Renata, descodificadores de mim mesmo, respostas para os mais pessoais problemas existencialistas. À Fluoxetina, ao Sedoxil, ao Victan, à Venlafaxina e ao inofensivo Valdispert, simplesmente… obrigado. Temos que gostar das drogas. Ao inventor da Internet e do e‐mail – temos que os adorar, não há hipótese. À artista Ana Vidigal, a primeira artista com quem eu falei e aprendi sobre o mundo actual da arte, pela simpatia e prontidão em me facultar tudo o que precisei da sua parte para esta dissertação, e pela maravilhosa Instalação que criou, o meu sincero obrigado. À minha madrinha, enciclopédia de conhecimento e precursora de maravilhosas, produtivas e enriquecedoras conversas ‐ outra professora. À outra professora, a da minha vida, dedico cada letra desta dissertação, cada traço e plano de cada maquete – à minha Mãe, a minha luz do céu e das trevas, o meu… obrigadão. v vi Índice Resumo iii Abstract iv Agradecimentos v Índice vii Índice de Figuras viii Introdução 2 1ª Parte 7 1. O dealbar da Arte Contemporânea 10 2. A Arte a partir da década de 60 18 3. A Instalação Artística 28 4. A relação entre a Arquitectura e a Arte 50 5. No exterior dos museus 62 2ª Parte 81 Introdução à 2ª Parte 82 6. A Fenomenologia, as Coisas e o Mundo 86 7. Da Percepção, da Experiência, das Sensações e (ainda) da Fenomenologia 100 8. Aplicação prática à “Casa dos Segredos” | Metodologias aplicadas 112 9. “Casa dos Segredos” | Descrição do Caso de Estudo e a Experiência Pessoal 116 10. Aferição das respostas aos inquéritos 130 Conclusão 150 Notas e Referências 156 Bibliografia 165 Anexo 1: Conversa com a artista Ana Vidigal 172 Anexo 2: Questionário 183 vii Índice de Figuras Ilustração 1: Esquema conceptual do trabalho, no qual se procura sintetizar a evolução das várias ideias que doravante se abordam ...................................................................... 6 Ilustração 2: Edvard Munch, "O Grito" (1893) Fonte: Wikipedia ............................................................................................................... 11 Ilustração 3: Pier Paolo Pasolini, "Salò ou os 120 Dias de Sodoma" (1975) Fonte: Wikipedia ............................................................................................................... 11 Ilustração 4: Marcel Duchamp, "A Fonte" (1917, réplica) Fonte: Wikipedia ............................................................................................................... 12 Ilustração 5: Kazimir Malevich, Composição Suprematista (1916) Fonte:Wikipedia ................................................................................................................ 13 Ilustração 6: Max Ernst, "The Elephant Celebes" (1921) Fonte:Wikipedia ................................................................................................................ 13 Ilustração 7: Jackson Pollock a trabalhar no seu atelier, executando a técnica 'dripping' Fonte: http://www.thequietfront.com/home/2012/10/2/jackson‐pollock.html ............................................ 14 Ilustração 8: Andy Warhol, "Campbell's Soup" (1965). Colecção Berardo Foto do autor ..................................................................................................................... 18 Ilustração 9: Capa do catálogo da exposição "Primary Structures", no The Jewish Museum (1966) Fonte: Wikipedia ..................................................................................... 19 Ilustração 10: Yoko Ono, "Cut Piece" (1964) Fonte: Google Images.. ...................................................................................................... 20 Ilustração 11: Mierle Ukeles, "Hartford Wash: Washing Tracks, Maintenance Inside" (1973) Fonte: http://www.learn.columbia.edu/courses/fa/images/large/kc_femart_ukeles_82.jpg .................. 21 Ilustração 12: Walter de Maria "Lightning Field" (1977) Fonte: LAILACH, Michael, “Land Art”. Taschen, Köln, 2007 .............................................. 23 Ilustração 13: Nancy Holt, "Sun Tunnels" (1973‐76) Fonte: LAILACH, Michael, “Land Art”. Taschen, Köln, 2007 .............................................. 25 Ilustração 14: Esboço para Acto III de "Parcifal", de Richard Wagner (1982) Fonte: Wikipedia ............................................................................................................... 29 Ilustração 15: Marcel Duchamp, Exposição Internacional Surrealista de Paris (1938) Fonte: http://dominiquecunin.acronie.org/OPS/duchamp.jpg ................................................................ 31 Ilustração 16: El Lissitzky, "Proun Room" (1923, recontruída na década de 60) Fonte: http://designblog.rietveldacademie.nl/?cat=1873 ..................................................................... 32 Ilustração 17: Allan Kaprow, "Yard", em Pasadena (1967) Fonte: http://classconnection.s3.amazonaws.com/361/flashcards/142361/png/kaprow1334607550257.png ......... 33 Ilustração 18: Carsten Höller "Lichtwand" (2000) Fonte: http://www.newscenter.philips.com/ .................................................................................... 35 Ilustração 19: James Turrell, "City of Arhirit" (1980) Fonte: http://www.spiegel.de/pics/50/0,1020,1502650,00.jpg ............................................................... 36 Ilustração 20: Kurt Schwitters, "Merzbau" (1932) Fonte: http://blanchardmodernart.blogspot.pt/2011_08_01_archive.html ................................................. 37 Ilustração 21: Yayoi Kusama, "Kusama's Peep Show or Endless Love Show" (1966) Fonte: http://www.phaidon.com/resource/kusama060b.jpg ................................................................. 38 viii Ilustração 22: Lucas Samaras, "Mirror Room" (1966) Fonte: http://25.media.tumblr.com/tumblr_m94rkvjcMx1rtb4hfo1_1280.jpg ............................................. 40 Ilustração 23: Grazia Toderi, "Orbite Rosse", em exposição no museu de Serralves (2010) Foto do autor .................................................................................................................... 41 Ilustração 24: Olafur Eliasson, "The Weather Project", na Tate Modern Gallery (2003) Fonte: http://ship‐key.blogspot.pt/2011/11/weather‐project‐by‐olafur‐eliasson.html ................................... 43 Ilustração 25: Nuno Silva, "Disco (distorção #3)" (2000), da colecção António Cachola (MACE) Foto do autor ....................................................................................................... 45 Ilustração 26: Hélio Oiticica, "Eden", tal como foi exibida no CCB (2012) Foto do autor. ................................................................................................................... 46 Ilustração 27: Hélio Oiticica, "Eden", tal como foi exposta no CCB (2012) Foto do autor. ................................................................................................................... 46 Ilustração 28: Atelier Asymptote, "Fluxspace 2.0" Fonte: asymptote.net. ...................................................................................................... 52 Ilustração 29: Atelier Asymptote, "Fluxspace 2.0" Fonte: asymptote.net ....................................................................................................... 52 Ilustração 30: Atelier Asymptote, "Fluxspace 2.0" Fonte: asymptote.net. ...................................................................................................... 53 Ilustração 31: Gordon Matta‐Clarck, "Splitting: Four Corners" (1974) Fonte: Google Images ....................................................................................................... 54 Ilustração 32: Gordon Matta‐Clarck, "Splitting" Fonte: http://www.agmamagazine.com/on‐line/2010/fall/gordon‐matta‐clark/ .......................................... 55 Ilustração 33: Donald Judd, "Untitled (caixas em cobre)" (1969) Fonte: http://24.media.tumblr.com/tumblr_mc7k8fDO2J1qedo2do1_500.jpg ............................................ 56 Ilustração 34: Donald Judd "Untitled (100 caixas de alumínio dispostas num hangar)" (1982‐86) Fonte: http://www.rebeccadiann.com/wp‐content/uploads/2010/10/DSC04819.jpg .................... 56 Ilustração 35: Anotações desenhadas por Donald Judd para o conjunto de 15 trabalhos em betão. Desenho datado de 1980 Fonte: Site da Fundação Chinati ............................ 57 Ilustração 36: Donald Judd, "Untitled (15 trabalhos em betão)" (1980‐84). Fonte: http://www.townandcountrytravelmag.com/vacation‐ideas/best‐vacations/marfa‐texas‐10‐07 ............... 57 Ilustração 37: Donald Judd da série "Untitled (15 trabalhos em betão)". Década de 80 Fonte: http://soldmyseoul.files.wordpress.com/2012/04/cubes.jpg. ........................................................ 59 Ilustração 38: Daniel Buren, "Within and Beyond the Frame" (1973) Fonte: http://www.monumenta.com/en/within‐and‐beyond‐the‐frame ................................................... 64 Ilustração 39: Daniel Buren, "Within and Beyond the Frame" (1973). Fonte: http://www.piaogea.com/en/observatorio_paisaje_canarias.php. ................................................. 64 Ilustração 40: Faith Wilding, "Womb Room (Crocheted Environment)" (1972) Fonte: http://mondo‐blogo.blogspot.fi/2012/01/california‐crazy.html ..................................................... 65 Ilustração 41: Anish Kapoor, "Leviathan" (2011) Fonte: http://laurenhoussin.com/2011/05/31/ ................................................................................ 67 Ilustração 42: Agnes Denes, "Wheatfield ‐ A Confrontation" (1982) Fonte: Google Images ....................................................................................................... 68 Ilustração 43: Anish Kapoor, "Leviathan" (2011) Fonte: www.architizer.com ...................................................................................................... 68 ix Ilustração 44: Richard Serra, "Tilted Arc" (1981‐89) Fonte: http://adamsrelations.blogspot.pt/2009/11/tilted‐arc‐richard‐serra‐new‐york.html .............................. 70 Ilustração 45: John Ahearn, 3 esculturas para o Bronx (1991) Fonte: KWON, Miwon, “One Place After Another”. MIT Press, Massachusetts,2004 ....................................... 71 Ilustração 46: Christo e Jeanne‐Claude, "Wrapped Reichstag" (1995) Fonte: http://christojeanneclaude.net/projects/wrapped‐reichstag ......................................................... 74 Ilustração 47: Christo e Jeanne Claude, "Wrapped Reichstag" (1995) Fonte: http://dentaku.wazong.de/tag/christo/ ................................................................................. 75 Ilustração 48: Peter Eisenman, "Holocaust Memorial" (2005, data de inauguração) Fonte: http://blog.ejc‐designer‐artist.com/2010/04/14/holocaust‐memorial‐berlin/ ...................................... 77 Ilustração 49: Vestuário para a Instalação Artística de Char Davies (1995) Fonte: http://www.fondation‐langlois.org/media/CRD/public/d00004495.jpg ............................................. 78 Ilustração 50: Char Davies, "Osmose" (1995) Fonte: www.digitalstudies.org .................................................................................................... 79 Ilustração 51: Robert Morris, "Untitled (L‐Beams)" (1965) Fonte: MARZONA, Daniel, “Minimal Art”. Taschen, Köln, 2005 .............................................................. 107 Ilustração 52: Robert Morris, "Hanging Slab (Cloud)" (1964) Fonte: MARZONA, Daniel, “Minimal Art”. Taschen, Köln, 2005 .............................................................. 109 Ilustração 53: "Casa dos Segredos", Ana Vidigal, 2012 Foto do Autor .................................................................................................................. 117 Ilustração 54: Stanley Kubrick, "The Shining" (1980). Cenas do filme. Fonte: Google Images ...................................................................................................... 118 Ilustração 55: No interior da "Casa dos Segredos" (no dia da inauguração). Ana Vidigal, 2012 Foto do autor. ......................................................................................................... 122 Ilustração 56: Pormenor (Interpretação da Instalação Artística) Foto do autor ................................................................................................................... 125 Ilustração 57: Pormenor (Interpretação da Instalação Artística) Foto do autor ................................................................................................................... 126 Ilustração 58: Pormenor da Instalação Artística Foto do autor ................................................................................................................... 127 Ilustrações dos separadores: Separador do Capítulo 1: Odilon Redon, “Eye‐Balloon” (Editada) (1878) Fonte: Google Images Separador do Capítulo 2: Jackson Pollock, “Autum Rhythm No. 30” (1950) Fonte: Google Images Separador do Capítulo 3: Olafur Eliasson and Ma Yansong, “Feelings are Facts” (2010) Fonte: Google Images Separador do Capítulo 4: Olafur Eliasson, “Innen Stadt Aussen” (2010) Fonte: http://digitaljournal.com/image/68107 Separador do Capítulo 5: Bruce Munro, “Field of Light” (2008) Fonte: (Editada) http://fc04.deviantart.net/fs71/f/2012/021/b/e/field_of_light_by_richardct‐d4n3yj5.jpg x Separador do Capítulo 6: Do artista norueguês Rune Guneriussen Fonte: http://michalsicak.wordpress.com/2011/10/04/white‐night‐in‐kosice‐or‐no‐it‐is‐not/ Separador do Capítulo 7: Mischa Kuball, “Platon’s Mirror” (2011) Foto do autor Separador do Capítulo 8: Antoni Muntadas, “Mirar, Ver, Percibir” (2009) Foto do autor Separador do Capítulo 9: Ana Vidigal, “Casa dos Segredos” (2012) Foto do autor Separador do Capítulo 10: Clarabóia do Pavilhão Central do Instituto Superior Técnico, Lisboa Foto do autor Separador dos Anexos: Foto do autor xi Introdução 1 Introdução A Instalação Artística, uma das expressões artísticas mais comuns na arte contemporânea, tem as suas raízes em meados do século passado. Uma instalação pode ser uma conjugação de muitas técnicas e formas de representação: da pintura ao som, do vídeo à internet. A dissolução das barreiras entre disciplinas e a defesa de uma liberdade criativa estão igualmente na sua génese e foram elas que possibilitaram a sua afirmação. A força da Instalação Artística reside, como veremos, no facto de ter chamado para a esfera da arte a interacção com o espectador, fazendo‐o de uma forma consciente e activa. Nesta perspectiva, e na sua consolidação como meio de arte, transformou o espectador no ponto principal dela mesma, por vezes como actor passivo, por vezes como motor da própria instalação. Isto significa que a sua vivência perante a Instalação Artística é importante tanto da parte autónoma, como da parte do artista que, em princípio, se preocupa com a percepção sensorial e emocional do sujeito que vivencia a sua obra de arte. Entenda‐se aqui arte no sentido em como Heidegger a expõe: arte é Poesia, ao mesmo tempo que é o “pôr‐em‐obra‐da verdade”, porque “faz (…) surgir, na obra, a verdade do ente”. Dizia ele, também, que “a arte acontece, a saber, quando há um princípio, produz‐se na história um choque (Stoss), a história recomeça de novo” e a história não é aquela coisa cronológica de acontecimentos marcantes, é antes “o despertar de um povo para a sua tarefa, como inserção no que lhe está dado” e assim se tem a “origem da obra de arte”1. O trabalho que se segue procura lançar luzes sobre várias experiências encetadas no âmbito deste recente medium artístico ao longo de oito décadas de existência. Mas para o compreendermos torna‐se essencial referenciar alguns dos mais importantes movimentos artísticos que, desde inícios do século XX, vieram desenvolvendo este tipo de representação e expressão. Este périplo no mundo da arte e da história das ideias desenvolve‐se sobretudo na primeira parte do trabalho, evidenciando vários exemplos e nomes da maior relevância para o estudo da Instalação Artística. Na segunda parte procura‐se analisar um caso concreto da artista Ana Vidigal: “Casa dos Segredos”, uma Instalação Artística que esteve patente no campus Universitário do Instituto Superior Técnico. Como a experiência de uma obra deste género faz‐se 2 sobretudo pela convocação total dos órgãos sensoriais que formam a percepção, a disciplina da fenomenologia torna‐se pertinente numa abordagem a este caso em estudo. A fenomenologia, de um modo muito geral, será, pois, o estudo de como experienciamos ou apreendemos de um fenómeno qualquer do ponto de vista singular, isto é, do indivíduo que a contempla. Contudo, neste estudo, procura‐se também dar voz aos indivíduos que pela Instalação passaram, mediante o recurso a inquéritos e entrevistas faladas. Deste modo, a dissertação mostra a experiência dos outros e a ‘minha’ experiência. Ao dizer‐se ‘minha’ não se pretende dar nenhum cunho pessoal e crítico baseado no ‘Eu’, é apenas a vivência sincera pessoal, da primeira pessoa, algo que a metodologia fenomenológico‐existencialista preconiza. Em anexos junta‐se o questionário proferido para o estudo da “Casa dos Segredos” e uma entrevista à autora e que serve de complemento fundamental ao estudo que aqui se propõe. Além de falar extensamente sobre a sua obra, fala igualmente da arte em geral e de como vê actualmente o mundo da arte e a importância da privacidade e intimidade numa época em que tudo se mostra e tudo se desenraíza. Motivação Na época natalícia de 2011 uma série de supostas Instalações Artísticas povoaram as praças, as ruas, as rotundas e os monumentos da cidade de Lisboa. Contudo, uma parte substancial dessas Instalações foi efectuada por arquitectos. O que inicialmente se supunha do campo da arte é agora, também, cada vez mais do campo da arquitectura. De facto, vários são já os arquitectos que no seu portfólio enunciam sucessivas Instalações Artísticas: umas mais interactivas, outras mais passivas; muitas especificas de um local, outras de carácter mais nómada que percorrem museus dos cinco continentes; ora abordam o espaço de uma forma concreta, ora o delegam para segundo plano e enaltecem o tempo, etc. O certo é que o arquitecto já parece ter criado raízes neste meio artístico e, como tal, o seu trabalho apresenta, neste contexto, novas reflexões teorias e práticas que merecem ser desenvolvidas. As matérias de que a arquitectura é feita são o espaço e o tempo, tal como na Instalação Artística. No entanto, o campo das sensações e das emoções, radicado na arte, não é tão objectivamente estimulado na arquitectura. O complexo que se abriu entre arquitectos e artistas na época moderna pode encontrar aqui uma relação, uma complementaridade, um caminho comum aos dois. A motivação principal foi esta, a de 3 chamar para o campo da arquitectura o papel emocional e sensorial do espaço e a experiência do mesmo. Além disso, face a uma crise eminente na construção, em que altas figuras do poder político actual e internacional parecem surtir algum desprezo pela disciplina da arquitectura, o trabalho de projectar edifícios estagnou e está alienado por alguns anos. Procurar alternativas ao exercício de projectar a arquitectura tradicional é outra das motivações e justificações que levaram à elaboração desta dissertação de mestrado. Objectivos São vários os objectivos que esta dissertação propõe, que para além de académicos têm igualmente uma vertente pessoal que interessava estudar e reflectir e vão desde a história da arte, à história da arquitectura, passando pelas teorias da Sintaxe Espacial. Contudo, o maior interesse prende‐se com a abordagem de conhecimentos ditos humanísticos, ou seja, filosóficos, que são da maior importância em qualquer formação e sobretudo porque ajudam a pensar. A pensar sobre o espaço, o tempo, a arte, a História e a arquitectura. (1) Conhecer e sedimentar a evolução da arte no século XX; as várias correntes, estéticas e obras marcantes de cada período. (2) Enfoque na contextualização histórica da Instalação Artística recorrendo a obras de autores chave e analisadas através da bibliografia específica do tema e do contacto directo com algumas delas. Ao mesmo tempo, procura‐se vincular a arquitectura à arte através da Instalação Artística. (3) Compreender a experiência. Como é que o homem experiencia o espaço? Como é que o percepciona? Com isto, estuda‐se, com a densidade possível a tão breve período de tempo de maturação, a fenomenologia quer como movimento filosófico, quer como disciplina e método da filosofia. (4) Analisar uma Instalação Artística do ponto de vista da fenomenologia, recorrendo à metodologia específica desta disciplina. (5) Procurar concluir possíveis pontos de abordagem à execução de uma Instalação Artística para que possam vir a ser utilizados em obras futuras. 4 Estado da Arte e Levantamento Bibliográfico Principal Para a contextualização histórica do século XX recorreu‐se aos dois livros principais, unanimemente reconhecido como a bibliografia geral para este tema: JANSON, H. W., “História da Arte”. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2005; e GOMBRICH, E. H, “A História da Arte”. Phaidon, Edição Portuguesa Divulgada por PÚBLICO – Comunicação Social, SA, London/Lisboa, 2006. Ambos os livros dão um enquadramento essencial sobre os principais movimentos desde a pré‐história, à arte contemporânea, sendo o primeiro título (2005) mais detalhado mais detalhado que o segundo. Da arte a partir da década de 60 recorreu‐se a ARCHER, Michael, “Art Since 1960”. Thames & Hudson, Lda., London, 2010, onde se faz uma resenha histórica sobre os movimentos desde a ‘Pop Art’ até à ‘Video Art’, referindo várias Instalações Artística até à actualidade. Para o tema em específico da Instalação Artística recorreu‐se à autora BISHOP, Claire, “Installation Art”. Tate Publishing, London, 2010. Nele, Bishop faz o levantamento crítico das várias temáticas/abordagens preferidas por vários autores e que marcam a história deste medium artístico. Recorreu‐se igualmente ao livro de KWON, Miwon, “One Place After Another: Site‐Specific Art and Locational Identity”. MIT Press, Massachusetts, 2005, no qual se abordam, critica e reflectidamente, vários casos de peças artísticas fora da esfera museológica, em contacto com o lugar e a comunidade. No entanto, há toda uma série de artigos e catálogos de exposições que foram consultados para esta temática, bem como a experiência pessoal de alguns exemplos abordados traduzida em escrita. Na segunda parte do trabalho, concernente à fenomenologia estudou‐se o livro de HUSSERL, Edmund, “A Ideia da Fenomenologia”. Edições 70, Lda., Lisboa, 2008, no qual o filósofo enseja as sementes desta disciplina, fruto de cinco breve lições. É um livro de difícil entendimento, pelo que foram necessárias leituras redobradas e exegetas próprios para a sua obra. Leu‐se igualmente MERLEAU‐PONTY, Maurice, “Phenomenology of Perception”. Routledge Classics, New York, 2002, provavelmente a obra mais determinante para o estudo da fenomenologia, tendo inclusive influenciado inúmeros artistas e arquitectos para as respectivas práticas. Nele, Merleau‐Ponty estabelece os principais fundamentos da fenomenologia da percepção, de como o homem/corpo apreende o mundo e as coisas no mundo. Além disso, uma série de artigos pelo fenomenologista contemporâneo David Seamon foram de extrema 5 importância para esta tese porque relaciona a disciplina directamente com a arquitectura e o espaço, sendo a maior parte deles publicados em “Environmental & Architectural Phenomenology Newsletter” e consultáveis na Internet. Ilustração 1: Esquema conceptual do trabalho, no qual se procura sintetizar a evolução das várias ideias que doravante se abordam 6 1ª Parte “Beware of artists: they mix with all classes of society and are therefore most dangerous” ‐ Queen Victoria “[This] is what the word ‘emancipation’ means: the blurring of the boundary between those who act and those who look; between individuals and members of a collective body” – Jacques Rancière, “The Emancipated Spectator” (2011) “What is required is a theatre without spectators, where those in attendance learn from as opposed to being seduced by images; where they become active participants as opposed to passive voyeurs.” – Ibiden 7 8 Capítulo 1: O Dealbar da Arte Contemporânea 9 1. O dealbar da Arte Contemporânea A obra de arte é feita de ideias e técnicas. Nas ideias estão todos os conceitos que o artista reflecte e pretende representar. Nas técnicas estão os media, a forma material de que é feita a arte. Contudo, esta divisão é meramente operacional, uma vez que não se pode segmentar uma obra de arte de forma tão frugal. Esta leitura começou a diluir‐se sobretudo na viragem do século XIX para o século XX, fruto de revoluções e mudanças culturais, sociais e políticas. O conceito de arte tornou‐se mais lato e subjectivo, em que cada artista poderia estabelecer a sua própria linha de pensamento no que à arte diz respeito. Os obstáculos academistas começaram a não resistir face aos “ataques” de artistas, em manifestos e outras proclamações. De igual modo, a noção de belo, tal como a noção de obra‐prima, começa a ser questionado enquanto categoria de avaliação da obra. A ordem e simetria platónica foram sendo questionadas e, relegadas para segundo plano. Com o tempo, a noção clássica de belo veio a desconstruir‐se, e por vezes a desmaterializar‐se, culminando, em muitos casos, na sua separação com a arte. De facto, em muitas das obras que vieram sendo concebidas desde o início do século XX não existe necessariamente o belo como motor primeiro de representação. A beleza deixou de ser o factor base da intenção artística. A noção de belo passa a residir em cada espectador, enquanto a concepção de um “belo” universal que Platão e Aristóteles tanto procuraram desvaneceu‐se. Um dos grandes saltos epistemológicos na arte deu‐se com Nietzsche. Com ele, “já não é a teoria que pensa a arte, mas a arte que engloba a teoria como ficção”2. O artista passa a ser livre de assumir a sua própria autonomia no campo da criação. Ao mesmo tempo, e também com Nietzsche, “a estética dará também a si própria os meios de não mais andar à procura de uma essência do ‘Belo’, da ‘Arte’, mas antes de um novo incitamento à criação”3. Este pensamento será tomado como referência no desenvolvimento e produção da arte moderna e contemporânea. Assim, uma obra de arte “desagradável”, ou que promove o feio ou o horror como valores, não deixa necessariamente de ser considerada válida, apreciável ou contemplável. Tome‐se, por exemplo, o caso de “Saló ou os 120 dias de Sodoma” (1975) de Pier Paolo Pasolini ou “O Grito” (1893) de Edvard Munch. A arte, aqui, não reside no belo, mas na provocação explícita dos comportamentos sexuais ou na intensa experiência da contemplação de uma sugestão feita de linhas sinuosas que anunciam o grito. Nesta perspectiva, e parafraseando Ernst Gombrich (2006), “o que perturba e deixa perplexo o 10 público em relação à arte expressionista [na qual o Grito se insere] talvez seja menos o facto de a natureza ser distorcida do que o resultado implicar um afastamento da beleza”4. Ora, Munch facilmente teria silenciado a oposição referindo que, realmente, “um grito de angústia nada tem de belo, e que seria falta de sinceridade retractar apenas o lado agradável da vida”5. Nestes casos, o “Belo” é tomado pelo horror para criar arte. Constata‐se, então, que uma obra não tem de ser bela, nem sequer agradável, para constituir objecto de valor artístico. De facto, Pasolini e Munch são dois exemplos desta nova forma de encarar a liberdade artística, despojada de qualquer conotação estilística e desvinculada de toda a concepção de belo que o gosto burguês que as academias advogavam. Quanto mais as novas ideias se desenvolviam, menos certa era a definição de arte. Na verdade, serão as vanguardas do início do século XX que marcam a grande clivagem com a forma tradicional de fazer arte, muito assente, até então, na pintura e escultura. Serão eles os precursores de novos meios artísticos que, décadas mais tarde, ganham um especial relevo. Entre estas novas linguagens, destaque para a reutilização de Ilustração 2: Edvard Munch, "O Grito" (1893) materiais e objectos, com objectivo de introduzir a matéria real no que era uma representação. Desde então é crescente a intersecção entre as artes, inicialmente estimulada pelas óperas, em que artes maiores e menores contribuíram para a criação de uma só arte. Richard Wagner é um caso exemplar nesta perspectiva pois foi o primeiro autor a considerar o conceito de “obra de arte total”6, génese da Instalação Artística. A fusão entre movimentos, correntes e artistas adensa‐se à medida que avançamos na linha cronológica. É importante, porém, compreender que muitos dos movimentos modernistas nasceram praticamente na mesma altura e curiosamente muitos morrem ainda antes da II Guerra. Isto significa, pois que o Ilustração 3: Pier Paolo Pasolini, "Salò ou os 120 Dias de Sodoma" (1975) primeiro quartel do século XX foi uma espécie de dealbar para a 11 arte contemporânea. Cada movimento declarava as suas ideologias e seguia‐as com utopia e coerência. O resultado é uma enorme riqueza cultural que seria legada à história da arte que chega até nós. Estes movimentos e correntes continuamente reinventaram a arte e as ideias, enquanto se estimulavam novas técnicas para novos meios de representação (a assemblage, por exemplo). Tomemos o caso do Dadaísmo, uma vez que é um movimento exemplar desta reciprocidade interdisciplinar. Citando Jansen (2005) “[o Dadaísmo] na sua deliberada irracionalidade havia também libertação, uma viagem às regiões desconhecidas do espírito criador. A única lei respeitada pelos Dadaístas era a do acaso, e a única realidade a das suas próprias imaginações”7. Marcel Duchamp foi o ícone máximo deste movimento e lançou as sementes para o corpus teórico do ‘readymade’ que consistia na procura de objectos já existentes e que eram usurpados do seu propósito original para serem expostos em galerias, subvertendo, então, o conceito inicial, bem como a sua essência. Uma das mais famigeradas obras deste género foi a “Fonte”, de 1917. Ora, a tal fonte era na verdade um urinol, que continha uma “genuína e profunda semelhança”8 com as obras de Constantin Brancusi, um dos mais famigerados escultores do movimento moderno. Os pressupostos do ‘readymade’ foram de extrema importância para um movimento que marcaria a arte a partir destes anos, a Arte Conceptual. Todavia, antes de avançarmos devem mencionar‐se as vanguardas Russas e o que Jansen considera o sucessor do Dadaismo após a saída de um dos seus fundadores, Marcel Duchamp: o Surrealismo. O vocábulo Dada, que não tem significado nenhum e constitui um neologismo irreverente na época em que foi criado, teve um semelhante na Rússia, mas de significações absolutamente diferentes: “zaum”. Segundo os russos, zaum seria um prenúncio de uma linguagem universal do mundo da arte, concedendo “ao artista uma liberdade total para redefinir o estilo e o conteúdo da arte” e “a superfície do quadro era agora considerada como o único veículo do seu significado, através da aparência”9. Esta ideia alimentou o movimento Suprematista (primeiro Ilustração 4: Marcel Duchamp, "A Fonte" (1917, réplica) 12 estilo originalmente russo) que foi a concretização prática destas ideias, com Malevitch como criador, mas que bebe de uma variante do cubismo praticada sobretudo na Rússia: o Cubo‐Futurismo. Doravante, interessa mais a relação entre formas, a sua organização ou sistematização numa índole puramente visual. Partindo da mesma vanguarda, surge, paralelamente ao suprematismo, o construtivismo. Segundo Tatlin, um dos expoentes maiores do movimento, “a arte não era a contemplação espiritual dos Suprematistas, mas sim um processo activo de formação, baseado em materiais e técnicas”10. Em vez de se pintar a arte procurava‐se construí‐la. No entanto, há que compreender que o suprematismo também tem uma certa construção, ainda que não real. De facto, não se pode considerar o Suprematismo como um movimento bidimensional, porque, de acordo com El Lissitzky, existe profundidade entre os planos pictóricos. Assim, é com este último artista que a cumplicidade entre Suprematismo e Construtivismo se estreita, mais concretamente na Instalação Artística “Proun Room” (1923), na qual se propõe, como se evidenciará mais adiante, a construção do suprematismo e da sua concepção de espaço. Deste modo, tanto se pode integrar El Lissitzky no Construtivismo, como no Suprematismo, o qual chegou, ainda, a influenciar artistas como Hans Arp ou Kurt Ilustração 5: Kazimir Malevich, Composição Suprematista (1916) Schwitters, aquando da sua estadia em Berlim. O Surrealismo insere‐se no âmbito da arte fantástica, onírica, e, portanto, ligada ao sonho. Por associação, a estética ou a moral não têm também lugar no campo dos sonhos. O objectivo dos surrealistas era, então, fomentar “o puro automatismo psíquico através do qual se pretende expressar, quer verbalmente quer pela escrita, a verdadeira função do pensamento”11. No entanto, havia igualmente uma necessidade de representar através da arte a libertação do excesso de lógica que o quotidiano comportava. A sua convivência com Freud e a Psicanálise é mencionada mais que uma vez no Manifesto Surrealista, escrito por André Breton (1924). Em coerência com este pensamento, e tal como Jansen Ilustração 6: Max Ernst, "The Elephant Celebes" (1921) 13 afirma, “o Surrealismo estimulou várias técnicas novas de provocar e explorar efeitos de acaso, interessando sobretudo ressalvar as Exposições Internacionais Surrealistas levadas a cabo em Paris e Nova Iorque12 (1938 e 1942, respectivamente). Na verdade, não eram clássicas exposições; eram Instalações que convocavam todos os sentidos e ficaram certamente como um dos momentos pioneiros da Instalação Artística. Houve a necessidade de criar uma ambiência onírica para que os espectadores se sentissem num sonho. Depois da II Guerra, Nova Iorque torna‐se o centro cultural por excelência das tendências modernistas. Estamos na transição para a década de 50 e um dos principais movimentos da década é o Expressionismo Abstracto. Pollock foi o protagonista deste estilo que procurava a libertação total do artista. A tela seria uma espécie de campo de forças que entrava em ignição e o condutor de tais forças e energias, o artista, descarregava‐se na tela entre salpicos, sacudidelas de tinta, com mais ou menos forças, mais ou menos lentidão. Era a entrega total do artista à cor e à arte e ao acto de pintar, como refere Jansen. Cada gota de um quadro de Pollock equivalia a uma entrega, a uma paixão e devoção, a uma força que vinha de dentro e se expressava na grande tela13. Contudo, é ainda na transição para os anos 50 que se volta a dar valor ao que se fez cerca de três décadas antes, nomeadamente o corpus teórico dos ‘readymade’ e do Dadaísmo (já mencionados), preparando o surgimento da Arte Conceptual. Em suma, o que este breve resumo pretendeu mostrar foi a defesa pela liberdade criativa e a crítica aos cânones clássicos quanto à forma, ao tema e aos materiais. Ou seja, com as vanguardas foram sendo derrubados todos os preconceitos instituídos sobre a arte. O que que começou por uma autonomia quanto a estilos e linguagens, alastrou‐se para campos onde o modelo físico deixou de existir e as obras passaram a ter uma índole mais conceptual, subjectiva e não‐objectiva que os estilos, por exemplo, nos meados do século XIX. Além Ilustração 7: Jackson Pollock a trabalhar no seu atelier, executando a técnica 'dripping' 14 disso, passou a existir uma importância crescente na parte conceptual da obra de arte. A arte deixou de pertencer apenas ao domínio da sensibilidade para se entregar ao domínio do pensamento e da filosofia. A representação mimética do real físico deixou de interessar aos modernistas, levando a uma cisão definitiva com o modo de fazer a arte tradicional. Estas décadas anteriormente abordadas prepararam e serviram de base teórica para a arte contemporânea, em que a subtileza do ‘readymade’ foi recuperada, estudada e desenvolvida para outros campos da arte até ao fim do segundo milénio. Mas não só. É importante pois compreender a influência dos ‘readymade’, tal como o legado dos Construtivistas14 e Dadaístas para a segunda metade do século XX. 15 16 Capítulo 2: A Arte a partir da década de 60 17 2. A Arte a partir da década de 60 A segunda metade do século XX é marcada por uma grande expansão económica, em que os movimentos sociais afirmam‐se e ganham um forte protagonismo no quotidiano. São as décadas da afirmação da sociedade de consumo, da agitação social, dos novos estilos de vida, da Pop e do Rock. Tudo isto foram sementes para novas formas de manifestação artística e para uma redefinição do conceito de arte. Há igualmente uma transferência de predomínio para o novo continente e para Nova Iorque que se assume como o mais recente centro de arte moderna, rivalizando com as principais capitais europeias. Este clima foi notório na Documenta de 1964 e quando “Rauschenberg (artista que sempre utilizou diferentes técnicas e materiais) venceu o primeiro prémio em Veneza nesse ano, um sucesso que foi clamado por muitos como uma evidência conclusiva (…) da superioridade da arte norte americana sobre a europeia”15. A ‘Pop Art’ foi um reflexo claro do contexto social, político, cultural e tecnológico da época e, portanto, “o seu ponto de partida era a consciência da modernização tecnológica e as suas consequências culturais, especialmente no âmbito da comunicação”16. Neste contexto, eram recorrentes o uso de cartazes publicitários, figuras de banda desenhada, dos tablóides e revistas, etc. Tudo isto era inovador e irreverente, ao mesmo tempo que era “extrovertido” e “impessoal”17. Tal como Richard Hamilton definiu, a ‘Pop Art’ era "popular, transient, expendable, low‐cost, mass‐produced, young, witty, sexy, gimmicky, glamorous, and Big Business". A ‘Pop Art’ teve um contributo muito expressivo na arte que lhe seguiu: rompeu novas barreiras, expôs o poder das novas tecnologias de divulgação de massa e, muito importante ainda, desenvolveu incessantemente o conceito de ícone, em que não só o retratado, isolado, ganhava essa conotação de personagem singular, como a própria arte deste período se tornou nisso também, um ícone. As famosas repetições pictóricas de Liz Taylor, Marilyn Monroe, Elvis Presley ou as Campbell Soup por Andy Warhol, serão para sempre ícones deste período. 18 Ilustração 8: Andy Warhol, "Campbell's Soup" (1965). Colecção Berardo Este movimento, note‐se, desenvolveu‐se paralelamente a outro: o Minimalismo, que para esta dissertação é de maior importância referir‐se18, porque tem uma cumplicidade muito especial com a arquitectura e com a fenomenologia e por estimular de forma consciente a interacção entre a obre e o espectador. Deu‐se, finalmente, uma colisão directa de espaços e a importância da pintura, apesar de ter sido expressão primordial deste movimento, foi usurpada pela escultura19. Tal como na Pop Art (embora por questões distintas), os objectos ‐ desprovidos intencionalmente de conteúdo ‐ sem espectador não faziam sentido. Interessava apenas a forma como as pessoas se apercebiam do espaço e dos objectos em seu redor, de forma directa e imediata e daqui a sua ligação com a fenomenologia (ver Robert Morris, capítulo 8). Para a arte minimal, o primado era a forma serial e a repetição de um módulo geométrico, industrial (sem marcas aparentes da acção manual do homem) e se vê é simplesmente o que se vê e nada mais (“What you see is what you see”). Deste modo, o Minimalismo passou também a ser sinónimo de Arte ABC, Arte Literal, “Primary Structures” e Escultura Ambiente, concebidas para envolver o observador, convidado a entrar ou passear dentro delas20. A expressão “Primary Structures” (1966), escrita entre aspas e em inglês, refere‐se a uma exposição elaborada pelo Museu Judaico que marcou, por assim dizer, o ano primeiro deste movimento por ser a primeira tentativa de expor e institucionalizar no mundo da arte e da crítica as obras minimalistas. Robert Morris, um dos nomes presentes nessa exposição, foi um artista e ensaísta que se preocupou com a base teórica do minimalismo, socorrendo‐se para tal dos estudos do filósofo Maurice Merleau‐Ponty, nomeadamente o seu livro “A Fenomenologia da Percepção” (1945)21 e que, a par com Donald Judd, Carl Andre, Dan Flavin e Sol LeWitt, é dos expoentes máximos desta expressão artística. Na verdade, parece seguro afirmar‐se que tanto Judd como Morris foram os principais teóricos do minimalismo – pelo menos no que às artes plásticas diz respeito, mesmo que eles rejeitem categoricamente a designação de ‘minimalistas’. Ilustração 9: Capa do catálogo da exposição "Primary Structures", no The Jewish Museum (1966) Apesar de terem posições diametralmente distintas, sedimentaram todo o corpus teórico do movimento e 19 até nós chegam várias críticas e artigos que escreveram sobre a escultura, o espaço, o corpo e a arquitectura. As suas obras são especialmente relevantes nesta dissertação porque são a síntese factual da mesma: um porque se associa à fenomenologia (Morris) e outro porque junta a arquitectura à arte (Judd). Judd, como veremos adiante, foi um dos primeiros precursores na evidenciação da relação existente entre a arte e a arquitectura. As obras dele, como ele postula diversas vezes, não se podem chamar de esculturas. São sempre mais qualquer coisa, ou qualquer outra coisa que não essa exactamente. Ao dizer tal coisa, é necessário esclarecer que a escultura minimalista goza de uma propriedade que vários autores têm vindo a chamar de “campo expandido”. Esta característica mais não é que uma das possíveis designações do conceito de Instalação Artística, porque o objecto escultórico já não existe isolado das relações com a sua envolvente e com o expectador, como acontecia no modernismo. O sítio onde o objecto se encontra também importa e talvez seja, por vezes, o mais importante. Muitas outras obras deste género, contudo, e em retrospectiva, confirmavam já um grande efeito de contágio entre movimentos, sobretudo o conceptualismo, a Land Art, o site‐specific e também, mais uma vez, a Instalação. Doravante, este efeito de contágio vai ser uma constante e as fronteiras entre movimentos vão extinguir‐se, sendo cada vez mais difícil “etiquetar” uma obra de arte. A Instalação Artística será o culminar desta ideia, em que tudo é válido: poderá ser conceptual, minimalista, ‘readymade’, performance, video‐ art, ou tudo ao mesmo tempo. E assim fica declarado o fim do pintor ou escultor, doravante seria apenas e tão‐só artista. O movimento artístico ‘Fluxus’ é também aqui importante pois a liberdade artística foi muito explorada e defendida pelos artistas que compunham este grupo e que Ilustração 10: Yoko Ono, membro do moviento 'Fluxus', na sua performance são a base para o conceptualismo. A "Cut Piece" (1964). Cada homem na plateia podia dirigir‐se à artista e cortar, base ideológica e teórica resume‐se com uma tesoura, uma peça do seu vestuário. 20 no seu manifesto (1963, por George Maciunas), no qual se pode ler: “Promovam a arte viva, a anti‐arte, promovam a realidade não‐arte, a ser assimilada por todas as pessoas, não apenas por críticos, diletantes e profissionais… Congreguem os quadros revolucionários culturais, políticos e sociais numa frente e acção unidas”. A definição de fluxo é retirada de um dicionário e intercalada com diferentes tipos de letra, sem preocupação alguma com o valor estético ou imagético. A Arte é, então, formalizada como a rejeição de qualquer estética artística, em que a ideia é soberana e é ela que faz um objecto ser definido como arte e deixa portanto, de pertencer praticamente ao campo visual, para se lhe substituir ao campo intelectual. O que, de facto, não seria muito diferente do pensamento duchampiano em que o espectador era, em primeiro lugar, reportado para o raciocínio e, depois, para a emoção. No âmbito do conceptualismo, é também importante referir o movimento situacionista, um dos catalisadores da agitação do Maio de 68, que iria acontecer, mais ou menos nos mesmos moldes, em Itália em Outubro de 69. Defendiam que a arte devia ser crítica, puramente política e subversiva, caso contrário seria por eles abnegada e devia, por este modo, prestar‐se à sociedade. Nos Estados Unidos, por exemplo, esteve enraizado nos direitos humanos dos negros, reivindicando o seu estatuto igualitário e reprovando: o racismo; a falta de igualdade de género; a guerra do Vietname; E assim, com isto concluímos que a década de 70 foi uma época em que a arte se tornou fortemente politizada e se prestou aos serviços da sociedade civil. Em adição, para além de politizada, a arte tornou‐se cada vez mais filosófica. As décadas que se seguem correspondem à afirmação de novos movimentos, sendo que muitos destes já estão fixados numa vertente voltada para a Instalação Artística que, por seu lado, goza de todo o corpus teórico e prático que os movimentos anteriores vieram a desenvolver. Mas antes deve‐se abordar a exteriorização da arte, isto é, quando a arte se passa a fazer no exterior, fora das instituições que habitualmente salvaguardavam Ilustração 11: Mierle Ukeles durante a sua performance "Hartford Wash: Washing Tracks, Maintenance Inside" (1973). Uma obra de difícil integração porque é conceptual, ao mesmo tempo feminista, 'site‐specific' ou arte performativa. as obras. Este ponto poderá ser importante, visto estudar‐se a Instalação Artística num espaço público. 21 É no referido último ramo mencionado do conceptualismo, com a divulgação de cartazes, apelando a ideologias sindicalistas e ajuntamentos comunitários que a arte “salta para a rua”. No entanto, a desmaterialização que a arte conceptual e a ‘Pop Art’ criaram ao divulgarem obras suas em meios de comunicação ou noutros media menos correntes já anunciava a presença da arte fora do museu. Mas é sobretudo com a ‘Land Art’22 que a arte se passou a realizar na paisagem, transformando‐a. O que inicialmente seria apenas exibido através da televisão, depressa se tornou numa tendência, em que o espectador teria que mover‐se para sítios fora da esfera museológica, distantes, por vezes mesmo em desertos. Este movimento, como muitos outros partiu da paisagem e da terra. Na verdade, os artistas que participaram na já citada exposição que consagrou o minimalismo, “Primary Structures” (Estruturas Primárias – já abordadas), viriam a expor alguns trabalhos noutra exposição que despoletou a ‘Land Art’ (Sol LeWitt, Robert Morris, Carl Andre): “Earth Works” (1968). Mas outros conceitos, como a ecologia, seriam também determinantes no desenrolar deste movimento. Os trabalhos da ‘Land Art’ são variadíssimos e mostram‐se‐nos sob diversos meios documentais, mas sobretudo a fotografia e o vídeo. Conquanto, são obras que, tal como a Instalação Artística para serem realmente experienciadas, o espectador tem que estar presente, tem que estar próximo, ou dentro, da obra. Uns trabalhos redesenham a paisagem, outros evidenciam apenas o que a paisagem já mostra, outros têm a capacidade de nos envolver no cosmos. O primeiro caso diz respeito ao artista Walter de Maria e a sua obra “The Lightning Field” (1977), no Novo México. O trabalho pressupôs a instalação de 400 barras de alumínio, cada uma com cerca de 6 metros de altura e 5 centímetros de diâmetro, numa área de 1 milha por 1 quilómetro23, que funcionam como uma sucessão de pára‐raios. O que se vê são torrentes quase contínuas de relâmpagos a caírem sobre as barras, numa obra que confirma a força da Natureza e, aliada ao isolamento do deserto, nos surge como meditação sobre a “beleza” da Terra. Este isolamento foi propositado e a intenção do artista vem cabalmente exposta no livro de Michel Lailach (2007): “a importância entre pessoas e espaço é de vital importância a De Maria, e atravessando o imenso campo descobrimos sempre novos arranjos de perspectivas, ângulos de visão e pontos de fuga. (…) Não mais de seis visitantes podem estar na propriedade num dado momento, e devem permanecer lá durante pelo menos 24 horas (uma pequena cabana 22 Ilustração 12: Walter de Maria "Lightning Field" (1977) 23 arranjada especificamente para este propósito serve de abrigo). Alguns visitantes consideram a restrições num irritante gesto de autoritarismo, sendo, no entanto, parte do conceito artístico. Apenas por esta via os indivíduos podem experienciar totalmente a grandeza do espaço”. Walter de Maria sintetiza nesta obra que “o isolamento é a essência da Land Art”24. O outro exemplo é da autoria de Nancy Holt e também se situa num deserto, neste caso em Great Basin Desert, Utah. A obra “Sun Tunnels” (1973‐76) é conseguida mediante o recurso a 4 tubos de betão perfurado em sítios estratégicos, cada tubo com 30 cm de espessura e diâmetro (útil) de 2.50 metros e 5.50 metros de comprimento. Ao todo, pesa 22 toneladas. Dois tubos estão dispostos segundo o eixo de máximo alcance solar, os outros dois perpendiculares. O que a artista pretendia era “trazer a vastidão espacial do deserto de volta à escala humana”25. Mas, se nos conseguirmos deslocar até lá num exercício de imaginação o resultado pode ser bem mais lato: uma sensação de pertença ao universo que a artista nos facultou, evidenciando constelações (mediante as perfurações no betão) e canalizando a luz do pôr‐do‐sol, desde o horizonte, pelo vazio do deserto, até à iluminação total dos tubos nos solstícios. Estes dois exemplos são absolutamente diferentes na abordagem do espectador. No primeiro estávamos perante espectadores passivos, no segundo o visitante pode movimentar‐se livremente, tocar os objectos, espreitar, criar o seu próprio panorama visual e explorar cada alinhamento proposto como mais lhe aprouver. Mas o certo é que congregam os principais avanços da arte após a década de 60: a politização, a exteriorização, a conceptualização e o corpo como motor ou veículo de arte. 24 Ilustração 13: Nancy Holt, "Sun Tunnels" (1973‐76) 25 26 Capítulo 3: A Instalação Artística 27 3. A Instalação Artística Depois de terem sido referidas várias Instalações, importa procurar definir o que é a Instalação Artística. O conceito coloca diversos problemas devido à liberdade/generalidade com que se usa e à dissolução de conceitos dentro do mundo arte contemporânea. Como referido, a Instalação Artística só pode ser compreendida se percebermos que não é um movimento, é um meio, como a escultura ou a pintura. Através da instalação pretende‐se a representação da arte. Existe desde logo uma diferença que a separa dos outros meios: a instalação implica mais a experiência dos visitantes. A instalação vive do contacto com o espectador, do seu movimento, da sua dinâmica corporal. Mais importante, a instalação depende do espaço em que se insere. Mesmo as que são feitas com o objectivo final da portabilidade, elas partiram de um espaço inicial. Neste trabalho, interessa‐nos as instalações concebidas para um espaço próprio e determinado por interagirem com um património construído e consolidado, conseguindo subverter o meio e o contexto desse mesmo espaço/património. Outra singularidade: a instalação pode comportar‐se como uma “obra de arte total”, que inclui em si todas as restantes formas com o objectivo de criar uma atmosfera que envolve o artista e o público. Esta noção vem associada a uma característica da instalação artística que é a teatralização do espectador, isto é, torná‐lo parte activa e determinante das obras, e, por conseguinte, outro e mais determinante atributo da instalação artística: a “imersão”. Poderíamos argumentar que qualquer forma artística tem essa capacidade de nos mergulhar noutra realidade, mas o certo é que nenhum outro medium artístico, para além da instalação, nos permite entrar dentro dele, penetrá‐lo e esquecer a dicotomia entre “espaço táctil” e “espaço ilusório”26. A imersão permite ao indivíduo retirar‐se do quotidiano que lhe é característico e passar para outra realidade, possibilita uma comunicação mais imediata entre duas esferas: a do indivíduo e a do artista. Imediata porque palpável e logo, inteligível. A imersão fomenta um estímulo muito eficiente com as sensações humanas e as questões da percepção. A única forma de nos imergirmos numa obra de arte é usando o corpo na sua totalidade sensorial. Tem vindo a assumir‐se que os dois movimentos na génese da instalação artística são o ‘Environmental Art’ e o ‘Happening’. No entanto, os verdadeiros pioneiros da instalação artística foram os surrealistas e as respectivas exposições internacionais. De uma certa forma, podemos também incluir nesta genealogia a ópera wagneriana. A tal expressão 28 “obra de arte total” (Gesamtkunstwerk) está intimamente ligada à obra escrita e operática de Wagner. Contudo, todo o seu pensamento radica nas ideias de Schiller, um século antes, no auge do Romantismo, quando a máquina ameaçava a divisão da sociedade e a dissolução da ideia de comunidade. E para além de estar intimamente ligada, em retrospectiva, à essência da Instalação Artística, o pensamento de Wagner contra o mercantilismo da arte seria já um prenúncio aos artistas do século XX que procuraram, igualmente, inverter esta tendência, libertando‐se do museu e utilizando meios cada vez menos convencionais. Em primeiro lugar, o Gesamtkunstwerk tinha como objectivo unir a sociedade numa só para que vivesse toda ela o colectivo e criasse a noção de identidade nacional. Em segundo lugar, este movimento procurou criar uma “síntese entre música, literatura, pintura, escultura, arquitectura, design de palcos e outros elementos”27. Portanto, havia também uma preocupação artística em juntar todas as expressões numa única obra imersiva. A ópera seria, por excelência, o veículo ideal para o conseguir. No limite, tudo se conjugava numa atmosfera transcendental, e não raras vezes utópica, muito típica dos românticos alemães. Todas estas ideias seriam postas em prática na Festspielhaus ‐ na cidade de Bayreuth ‐, uma nova concepção de teatro que Wagner fomentou e onde procurou, sobretudo, quebrar as barreiras entre os espectadores e o palco28. Ambos passavam a ser parte da obra, tal como na Instalação. Esta noção do total atingiu o seu expoente máximo em “Parsifal” (primeira produção em 1882), onde toda a mística da junção das artes se revelou no seu auge. Esta ópera também defende a especificidade da instalação pois Wagner ditou a sua proibição noutro teatro, uma vez que tinha sido especificamente desenhada para Bayreuth.29 Anteriormente referiu‐se que a Exposição Internacional Surrealista de 1938 foi a pioneira da Instalação Artística. Isto confirma‐se pelas palavras de Claire Bishop que refere que recentemente esta exposição “tem vindo a tornar‐se numa frequentemente citada precursora da Instalação Artística, celebrada menos pela pelas pinturas e esculturas individuais que juntou, do que pela sua abordagem inovadora em expô‐las”30. Toda a ambiência criada, Ilustração 14: Esboço para Acto III de "Parcifal", de Richard Wagner (1982) potenciada pela escuridão ajudou os visitantes nessa cada 29 vez maior imersão numa espécie de sonho, libertando os seus medos, tirando o mundo do inconsciente para a realidade. A importância da psicanálise, e toda a abordagem freudiana d’ “A Interpretação dos Sonhos” (1899), também esteve presente, em que “os observadores eram chamados à função de escavador, descobrindo os trabalhos um por um, como que recuperando por iluminação analítica os conteúdos tenebrosos e sombrios da psique inconsciente de cada artista”31. Em termos concretos, as salas32 traduziam‐se em campos palpáveis surrealistas, com pequenos lagos e vegetação, camas, sacos de carvão sujos no tecto a escurecerem o ambiente e a impedirem a luz, ao mesmo tempo que formavam uma espécie de nuvens negras a pairar num céu inexistente. Cada visitante, ao início, ligava uma lanterna e visitava a exposição com o auxílio da mesma, ouvindo gritos histéricos como banda sonora33. A imersão do mundo onírico estava plenamente concebida. O conjunto era, de facto, um sonho. A exposição como instalação também consta na obra “Proun Room” (1923 e reconstruída na década de 60) de El Lissitzky ao transformar uma galeria museológica num espaço tridimensional suprematista. El Lissitzy, apesar de ser posto na categoria dos construtivistas, pretendia construir o suprematismo, uma corrente que até então não tinha passado da tela ou da pintura. Na verdade, com esta “Proun Room”, o artista viria a antecipar algumas teorias da “Fenomenologia da Percepção” (1945) de Merleau‐ Ponty, compreendendo que o espaço não é algo que se ver através‐de, mas antes dentro‐de (dentro de um corpo, dentro de um mundo). De uma forma muito geral, “Proun Room” é a ‘trindimensionalização’ da pintura suprematista, em que os planos, as linhas e os pontos confrontam‐se no espaço do espectador e não no da tela. ‘Environmental Art’ e ‘Happenings’ seriam os movimentos que se seguiram e se serviram da Instalação. Uma das personagens notáveis destes géneros é Kaprow, pelo que será ele que tomaremos como caso nesta temática. Nele encontramos a herança de Pollock que, segundo Bishop, encontra‐se “primeiro, nas suas pinturas por toda a parte” favorecendo uma continuidade; “segundo, as ‘action‐paintings’ do Pollock eram performance”; “terceiro, o espaço do artista, do observador e o mundo exterior tornavam‐se intermutáveis”34. No entanto, Kaprow fugia às convencionalidades dos museus. Neste contexto, ele e outros artistas, como Claes Oldenburg preferiam lugares incomuns naquela época para exposições: lofts, lojas e caves, por exemplo. Consideravam que se adequavam melhor à imersividade dos ambientes. Houve desde 30 Ilustração 15: Instalação/Ambiência criada por Marcel Duchamp para a Exposição Internacional Surrealista de Paris (1938) 31 I lustração 16: El Lissitzky, "Proun Room" (1923, recontruída na década de 60) 32 logo uma clivagem entre o museu tradicional e a Instalação Artística. Esta rejeição do museu tinha um fundamento muito pessoal do ponto de vista de Kaprow, uma vez que considerava que os museus eram locais imaculados esteticamente, demasiado puros, limpos e estáticos, que contrastavam com a visão que ele tinha do mundo desordenado e sempre em mudança. A obra de Kaprow baseava‐se muito na ‘imeadiatividade’, elegendo o uso de objectos reais, familiares ao típico indivíduo: “paint, chairs, food, electric and neon lights, smoke…”35 e inicialmente encarava o observador como um reduto natural do que seria a exposição. Com o tempo, concluiu que o observador tinha um papel determinante na obra e que devia ser “activado” (a vertente mais associada ao Happening), uma vez que “tanto os Ambientes [‘Environments’] como os Acontecimentos [‘Happenings’] insistiam no observador como uma parte orgânica da totalidade do trabalho”36. O observador seria, então, accionado mediante esses materiais que estimulassem o seu lado psicológico. Neste contexto, o ‘Environment’ seria uma interligação de associações que deveriam guiar o indivíduo a um, nas palavras de Kaprow, “nível inconsciente, ilógico”37. Estes dois conceitos de ‘Environment’ e ‘Happening’ estarão presentes em muitos trabalhos feitos por artistas e manifestam‐se dentro de uma perspectiva de deslocar o espectador da sua zona de conforto e levá‐lo para outros campos, em que ele tem uma responsabilidade na apreensão. Neste contexto, existe uma multiplicidade de instalações com este propósito de “cena” e “actor”, como as procissões de Paul Thek, em que a componente religiosa tinha destaque, sobretudo na noção de comunhão, sendo que muitas das suas obras coincidiam com festivais religiosos – por exemplo, “Fishman”, de 1968. Existe ainda a Instalação como “crítica institucional”38, política e geracional. Em suma, e como podemos constatar, a Instalação Artística baseia‐se, essencialmente, na relação íntima entre espectador, ambiente (obra) e espaço, e isto não quer dizer, contudo, que muitas instalações se apresentem ao homem de uma forma passiva, sem que a sua interacção seja necessária. Ilustração 17: Allan Kaprow na montagem do seu 'Happening' "Yard", em Pasadena (1967) No entanto, a imersão física será decisiva como a característica máxima da Instalação Artística. 33 Atente‐se no exemplo da instalação “The Coral Reef” (2000), de Mike Nelson: “Passando por uma entrada de galeria em mau estado, o espectador encontra em primeiro lugar uma pequena cabine de escritório Islâmica, tendo, depois, acesso, a uma rede de corredores, portas e salas. Estes incluíam uma garagem de bicicletas, uma câmara despojada com vestígios de encontro evangélicos, uma virulenta sala azul com uma parafernália de heroína, um posto de segurança com revistas pornográficas (…). Os espaços não estavam identificados, e portanto era necessário um trabalho de detective, de forma a adivinhar‐se o que se referia ao quê. Cada quarto parecia aludir a uma subcultura ou nicho social distintos”39. Por aqui se conclui a importância do papel activo do espectador que passa a ser participante na acção. Todavia, poderíamos interpretar esta obra numa perspectiva voyeurista, no sentido em que entramos na propriedade alheia e exploramos a intimidade dos espectros que a habitam. Esta característica é sublimada na câmara de segurança, ou vigília, onde encontramos revistas de teor pornográfico. No limite, este é um exemplo de como a imersão física desencadeia uma reacção psicológica. Outras instalações procuram causar sensações inquietantes no espectador: euforia, desorientação, medo, etc. Um destes casos é a instalação “Lichtwand”, de Carsten Höller (do alemão, “Parede de Luz”, 2000), que pela imensidão de luz e calor que emana, causa um “duro impacto na retina” e porque as frequências estão sincronizadas com a actividade cerebral, o indivíduo consegue entrar em alucinações visuais40. Todos os sentidos nesta instalação são sobre‐estimulados para colidirem com a percepção sensorial humana. “Das Toes Haus Ur” (1984 até à actualidade), de Gregor Scheneider é a casa‐atelier do artista que a fez passar por uma série de remodelações, passando, então, a adoptar um aspecto puramente asséptico. O esquema dos quartos é linear, uns em frente dos outros, em que o quarto final tem uma janela que abre para uma parede branca. A sala onde recebe os visitantes está completamente isolada acusticamente, sem janelas, de aspecto austero. O desconforto é um dos objectivos da instalação – tirar o transeunte da sua zona de conforto, colocá‐lo em divergências internas e externas e questionar‐se, através do que sente e do que contempla. O lar como habitáculo de Instalações Artísticas foi igualmente um marco na vida artística de Kurt Schwitters, um Construtivista (por influência de El Lissiztky) e Dadaísta alemão que transformava continuamente a sua casa sem que as actividades quotidianas e socias 34 Ilustração 18: Carsten Höller "Lichtwand" (2000) 35 subliminares sejam suprimidas. As visitas ocorriam com normalidade, mas as percepções e as sensações não tinham um estado contínuo e definido ao longo do tempo. A este projecto deu‐lhe o título de “Merzbau”, cuja concretização teve início no ano de 1923 e desaparece nos escombros dos bombardeamentos da Segunda Grande Guerra (1943). Camadas de trabalho, tempo e histórias, num espaço em constante mutação. Tal como a Exposição internacional dos Surrealistas, também esta obra de Schwitters foi pioneira na Instalação Artística. Existam ‘assemblages’ diversas ao longo da casa, flores mortas, nichos, cantos e recantos e obras de alguns colegas seus, espelhos, rodas partidas e jornais41: tudo se harmonizava no que parecia ser o ambiente de uma Catedral Gótica. Referia o próprio: “[A casa, a Instalação] cresce da mesma forma que uma cidade” e; quando se cruza com algo que lhe surte interesse para a obra, diz ele: “apanho‐o, levo‐o para casa, prendo‐o e pinto‐o, sempre tendo em conta o ritmo do todo. Depois um dia virá quando me apercebo que tenho um cadáver nas mãos – relíquias de um movimento na arte que agora é passado”42. Ou seja, a casa era um grande organismo vivo, em constante crescimento, nutrido pelo artista e que poucos espectadores a podiam experienciar43. Já numa época bem diferente e de ideias renovadas, James Turrell refere acerca dos seus trabalhos que “visão imaginativa e a visão exterior encontram‐se onde se torna difícil de diferenciar entre ver do interior e ver do exterior”. Esta citação vem ao encontro da percepção e da sua demanda exaustiva na procura de um significado para este termo. Procurou, por assim dizer, estudar a percepção socorrendo‐se da Instalação Artística e da luz. Dizia o próprio numa entrevistas44 que “temos os limites fisiológicos da percepção e depois temos esta sobreposição cultural de percepções ensinadas”. De facto, o seu interesse neste conceito vai tão longe que nalgumas obras de Turrell, principalmente na “City of Arhirit” (1980) a luz desempenha um papel fundamental e único, retirando as coordenadas espacio‐temporais habituais. O artista envolve‐nos completamente pela luz; resta simplesmente o indivíduo num universo de cor, desprovido de chão, tecto e paredes, ao ponto de alguns Ilustração 19: James Turrell, "City of Arhirit" (1980) 36 Ilustração 20: Kurt Schwitters, "Merzbau" (1932, destruída durante os bombardeamentos da II Guerra Mundial) 37 espectadores se sentirem desorientados e caírem45. A visão, sob o signo da luz, e por conseguinte da cor, subjuga os restantes sentidos à nulidade. Em Yayoi Kusama, esta simplicidade já não se manifesta de uma forma tão lúcida, mas a homogeneização do corpo com o que está exposto é igualmente notória, sobretudo na instalação “Kusama’s Peep Show or Endless Love Show” (1966) (ou na mais recente “Soul Under the Moon”, de 2002), em que os visitantes espreitavam por orifícios para contemplarem um imenso espaço ‘infinitizado’ por espelhos e pontos luminosos, numa ambiência erótica avermelhada. A artista, no interior, misturava‐se nessa ambiência, vestida de vermelho, com pontos brancos espalhados pela sua silhueta. Referia: “a minha vida, um ponto: quer dizer, um de milhões de partículas. Uma rede branca de nada composta por uma astronómica agregação de pontos conectados obliterar‐me‐á juntamente com os outros e todo o universo”46. Contudo, é importante referir a singularidade do espelho no contexto desta e de outras instalações. É que o espelho, como objecto singular, também ele altera imediatamente a percepção que temos de qualquer coisa. Enquanto que no trabalho de Kusama o espelho é a manifestação do infinito puro, o universo do eterno amor e da bênção cósmica, no de Lucas Samaras este objecto tem uma conotação diferente. Baseado no reflexo como auto‐conhecimento, Samaras lembra a descoberta da sexualidade através do espelho apontado às partes íntimas; lembra, igualmente, os espelhos cobertos com panos na presença de um cadáver dentro de uma casa durante um velório – típico de mitos tradicionais gregos. Nesta perspectiva, adivinha‐se que a abordagem do espelho tem uma subordinação mais crua e traumática que a artista anterior. Claire Bishop aborda a instalação que Samaras concretizou intitulada “Corridor I” (1967), adjectivando‐ a de sádica: “um corredor espelhado que volta as costas a si mesmo à medida que o tecto se inclina cada vez mais, até que o visitante tem que rastejar para conseguir sair do trabalho”47. Outros trabalhos seus exploravam este confronto físico entre a obra e o espectador, recorrendo a uma violência subliminarmente presente. Novamente encontra‐se a desorientação, o Ilustração 21: Yayoi Kusama, "Kusama's Peep Show or Endless Love Show" (1966) 38 horror, a claustrofobia como sensações primordiais; outra vez a instalação feita com base na confrontação e na agitação física e psicológica. “Mirror Room” (1966), é, porém, a mais conhecida obra do artista, em que o corpo de divide, se separa e de torna disforme; o corpo, fica, por assim dizer, fragmentado. O seguinte texto resume uma experiência nesta instalação: “Quando te aproximas da Mirror[ed] Room, podes ver‐te completamente reflectido nas paredes exteriores enquanto lanças um olhar voyeurístico para o interior, onde espelhos se reflectem mutuamente em estranhos tons de verde (…). Mas a tua integridade corporal dissolve‐se quando te aproximas da porta que conduz ao interior da estrutura. Depois tens a primeira visão parcial de ti mesmo que espreita novamente dos painéis dessa sala onde está reflectido: vês‐te espreitando de um canto remoto que transmite a sensação de distância espacial e notas que os teus olhos já estão multiplicados em centenas de lugares. (…) Criaste um espectáculo de ti mesmo ao entrares na “Mirror[ed] Room”48. A exposição de Grazia Toderi (2010) em Serralves colocou em exibição uma vasta retrospectiva da artista, onde surgiam várias instalações vídeo‐visuais. A base deste género de Instalações parte do cinema, ou melhor, da escuridão em que o cinema nos envolve para nos imergir na narrativa cinematográfica. Há uma indolência subconsciente nesta experiência. Vários artistas exploraram este conceito e muitos estiveram intimamente ligados às teorias de Roland Barthes. Na escuridão estamos nós e a solidão. Na presença de outro objecto essa solidão, não se dirá que desaparece, mas fica suspensa, fomentando uma densa e rica interacção entre nós e o objecto. Há uma espécie de amplificação perceptiva quando nela, talvez por dissipar informações desnecessárias ao nosso cérebro, focando‐nos no essencial. É, pois, esse diálogo, entre penumbra e objecto, que estas obras expõem. Note‐se, porém, que nada têm a ver com a película ou narrativa cinematográfica propriamente ditas, apenas, ou maioritariamente, com a envolvente do cinema, o meio em que o vídeo é projectado: o isolamento acústico, a tela gigante, o pano, as superfícies acolchoadas49... É esta duplicidade que se nota em muitos trabalhos de instalação. As salas reservadas à retrospectiva de Toderis estavam maioritariamente imersas numa escuridão rompida pelas composições visuais que criava. Os filmes estavam projectados numa forma específica, em superfícies oblíquas em relação ao plano do chão, voltadas ligeiramente uma à outra e resultavam de ‘assemblages’ videográficas de vários troços de cidades. Nessas superfícies, dois filmes passavam, em tons rosados, onde pontos luminosos pareciam criar uma nebulosa. A paleta dos rosas alastra‐se às paredes e ao tecto do 39 Ilustração 22: Lucas Samaras, "Mirror Room" (1966) 40 Ilustração 23: Grazia Toderi, "Orbite Rosse", em exposição no museu de Serralves (2010) 41 museu e ficamos imersos nessa ambiência lânguida do rosa pálido que se mistura com o branco das paredes. Dessa composição de vídeos parecia criar‐se uma nova cidade, feérica, utópica, de tempos diferentes, das que nascem dos sonhos e parecem concretizar‐se aqui, à nossa frente, em tamanho gigante, projectada numa parede, onde vemos passar os feixes luminosos por entre o pó flutuante50. É importante, contudo, voltar a frisar que o que está em análise nesta dissertação é a percepção que o indivíduo tem duma Instalação Artística, e que, ao mesmo tempo, se enraíza no espaço. Há uma dimensão ontológica e epistemológica no espaço, porque é através dele que tomamos conhecimento do mundo e de nós mesmos. Mais um exemplo, desta feita de Olafur Eliasson (ver ilustração das pp. 30 e 31). O artista profere, num pequeno texto, uma frase muito interessante e que sintetiza todo o seu percurso: “Se eu fosse um texto, seria apenas uma frase; complexa, cristalina e surpreendentemente simples. Não proporia conclusões estáveis nem feitos universais, simplesmente ideias sentidas, pensamentos personificados e atmosferas. Seria físico arraigado na realidade. Seria tão ligeiro quanto uma pena ou um alento”51. Olafur Eliasson é o artista dos fenómenos do tempo e do espaço; do clima, da atmosfera física; do movimento; do aqui e do agora, do passado imediato e do futuro próximo que nos dão a sensação do presente. É o artista das coisas elementares e da elementaridade do fenómeno: da luz natural, da humidade, do nevoeiro e da cor. Porém é o discurso entre o tempo e o espaço que mais se nota na sua obra e nas suas palavras. Um discurso que, no entanto, tem que ter o indivíduo como ponto de partida e de chegada, porque são os movimentos entre os mesmos que marcam e pautam essa dialéctica. O tempo como produto do espaço. O tempo climático, com a sua previsibilidade e imprevisibilidade, como síntese entre o discurso entre tempo e espaço. Preocupações presentes na sua obra. No limite, depois, é na luz, que produz as cores, que os trabalhos do artista se desenvolvem. A experiência (como o artista gosta de chamar às suas obras) na Turbine Hall, em Londres, intitulada “The Weather Project” (2003) é das experiências que melhor explicam a essência do seu trabalho. Esta Instalação Artística ocupou o gigantesco hall de entrada da TATE Modern Gallery: tecto coberto de uma superfície reflectora, meio‐ círculo de led’s amarelos na fachada oposta à da entrada e na aresta entre o tecto e a fachada, e máquinas de nevoeiro. O resultado foi um sol gigante dentro daquele espaço. Havia dois sóis, o da rua, que passava do exterior para o interior, e o do museu que era metade verdadeiro, metade falso. Mas essa metade falsa em nada prejudica a atmosfera criada, dá‐lhe, juntamente com o reflexo invertido dos espectadores uma 42 Ilustração 24: Olafur Eliasson, "The Weather Project", na Tate Modern Gallery (2003) 43 dimensão misteriosa, também devido à neblina que enchia todo o recinto. O sol, a luz, a consagração do tempo: o meteorológico e, o que foi e está para vir, do passado e do futuro que nos orientam no presente. O espelho e a névoa: a ambiguidade do espaço, independente do tempo ou resultado do mesmo. Os visitantes procuram o sol, movimentam‐se por entre os obstáculos até à sua proximidade. Olham para o tecto e vêem‐se reflectidos nas vertigens que olhar para cima e olhar para baixo causam; ao mesmo tempo têm conhecimento de eles se olham mutuamente (a realização de uma reprodução nossa, exterior, que nos observa a observar?). Inalam a névoa. A experiência é sobre eles e não sobre os objectos. A cor foi igualmente um dos campos de experiência de Eliasson. Da física sabemos que a cor mais não é que diferentes comprimentos de onda de luz reflectidos pela materialidade dos objectos em que essa luz incide. As lâmpadas que emitem luz de diferentes cores são, portanto, lâmpadas que propagam ondas de diferentes comprimentos de onda do espectro visível de cores que vai desde os ultravioletas aos infravermelhos52. Fora destes campos, não existem cores perceptíveis pelo cérebro e pelo olho humanos. O interesse e o estudo pela luz e pela cor abrem uma infinidade de experiências possíveis na Arte. Já no século XIX artistas como Turner, preocuparam‐se com esta questão, aprimorada, mais tarde pelas teorias da Gestalt, no design, e desenvolvida por inúmeros cientistas. Em Eliasson estas teorias juntam‐se na instalação “Your Colour Memory” (2006), onde o próprio “investiga aspectos da percepção da cor, como as imagens remanescentes a sua relação temporal com as suas fontes. Se entramos num espaço saturado de luz vermelha, como reacção, os nossos olhos produzem tanto verde – com um atraso de uns dez a quinze segundos – para que o vermelho apareça menos intenso; quase se apaga. Se a cor da sala passar de vermelho à ausência de cor, na nossa retina aparecerá uma clara imagem remanescente verde”53. Uma tentativa semelhante foi encetada pelo artista português Nuno Silva, cuja obra “Disco (distorção #3)” (2000), inunda um pequeno espaço do MACE54 de luz igualmente vermelha e, no chão, no centro da sala, uma mangueira de plástico transparente enrolada em forma de círculo espiralado que estranhamente irradia raios vermelhos vindos das lâmpadas vermelhas incandescentes. Todas as cores dos objectos e dos visitantes que lá entram passam a pertencer ao espectro do vermelho ao preto. Todas as cores são substituídas pela cor predominante e as noções de relevo, profundidade e volume são conseguidas pela gradação vermelho‐preto. A nossa percepção é posta à prova, na medida em que tudo é reduzido a uma luz de cor única e à sombra dos 44 Ilustração 25: Nuno Silva, "Disco (distorção #3)" (2000), da colecção António Cachola (MACE) 45 objectos e, portanto, a percepção sobre o espaço ‐ e seus constituintes referenciais já referidos ‐ é simplificada pela obram, referindo o artista que “o objectivo é trazer à visão algo que está no campo do olhar, mas que a maior parte das pessoas não vê”55. O último elemento deste medium denota uma preocupação comportamental e social que coloca o indivíduo como fazedor de arte e não apenas como visitante: “o espectador activado”, segundo Claire Bishop. Os artistas que preconizam esta forma de expressão acreditam que ele é o princípio da obra de arte, per se, parte de um sistema muito complexo de relações entre diversas “coisas”: objectos, movimento, proximidade em relação a… Um dos percursores desta demanda social e colectiva da instalação foi Joseph Beuys, um homem de ideais de esquerda, anticapitalista, que procurava, através da arte, a auto‐realização individual do homem. Havia, no entanto, uma igual preocupação espiritual subjacente às suas teorias práticas e teóricas. Ou seja, para ele, o homem procura a sua essência através da arte. À parte desta problemática do Eu, havia outra de índole política, de resto, bem patente na obra de Hélio Oiticica, cujas obras tinham mensagens implícitas contra o regime ditatorial, pegando muitas vezes na imagética das favelas brasileiras. Oiticica teve uma obra muito rica neste aspecto. “Eden” (1969, reconstruída em vários museus e em Lisboa em 2012), recriada várias vezes em galerias mundiais, convidava o espectador a um ambiente de acalmia, pacificidade e relaxamento, que buscava a desmistificar e Ilustração 27: Hélio Oiticica, "Eden", tal como foi transformar internamente um mundo alienado56. Bishop exposta no CCB (2012). refere, de uma forma muito sistemática que “a premissa interactiva da arte relacional [o que ela vincula à obra deste último artista] é vista como inerentemente superior à contemplação óptica (…) porque a obra de arte é uma ‘forma social’ capaz de produzir relações humanas”. Ao entrar‐se na Instalação Artística de Oiticica, a “Eden”, paulatinamente se percebe a intenção que o artista Ilustração 26: Hélio Oiticica, "Eden", tal como foi exibida no CCB (2012). Outra perspectiva da pretende mostrar ao espectador. Na verdade, não se pode Instalação Artística/Ambiente 46 falar em espectador, talvez participante seja o termo mais conciso a esta obra. Caminha‐ se sobre a areia e a gravilha: sons e texturas diferentes; ora estamos na praia, com cabanas à beira‐mar, ora percorremos as ruas rudimentares das favelas. O espaço conforma‐se segundo barracas de madeira e tecido, de cores animadas, plantas, gaiolas. Ouve‐se o som de papagaios vivos que esvoaçam até nós e fazem vibrar o ambiente. Tarimbas e caixas com livros, esponjas… Pode‐se entrar nas caixas e folhear os manuais, pode‐se deitar na cama de esponja, agitar o tecido branco de uma espécie de dossel. Ouve‐se Bossa Nova numa das cabanas, melodias amenas e dançantes. Tudo parecia alegre, inusitado, colorido; uma atmosfera pacífica, livre, democrática. Era isto que Hélio Oiticica queria do seu país: liberdade, democracia, liberdade de expressão. A concepção desta obra decorreu durante a ditadura do regime militar brasileiro e ao mesmo tempo que agarra nas tradições culturais brasileiras, o artista cria uma nova ambiência afastada da pantanosa época tirana pela qual o Brasil passava. “Eden” era o seu Brasil paradisíaco imaginado que Oiticica queria ver restituído à realidade. À falta disso, só aquele ambiente servia. Dizia ele: “Em Éden eu traduzi experiências pessoais em algo aberto. De fato, aquelas cabines são todas parecidas. São todas baseadas numa sensação de lazer – um lugar onde se deitar, onde pensar. A areia, a palha, você se deita ou permanece de pé, são apenas acessórios para algo que sempre se relaciona a uma condensação de percepções; estar numa situação onde você pode libertar dentro de você mesmo algumas coisas essenciais”57. Hirschhorn inverteu o sentido de arte política, referindo que fazia antes arte politicamente. Dizia: “Não quero convidar ou obrigar os espectadores a interagir com o que eu faço; não quero activar o público. Eu quero dar‐me eu mesmo, comprometer‐me de tal forma que os espectadores confrontados com a obra possam tomar parte e tornar‐se envolvidos, mas não como actores”. Este périplo iniciado em Kabokov e terminado em Hirschhorn soma à história de arte contemporânea um legado impressionante de experiências, teorias e atmosferas. Atmosferas, pois é nelas que o indivíduo mergulha. Talvez, então, seja esta a maior concretização da Instalação: a criação de atmosferas. As atmosferas de Turner, as atmosferas de Zumthor, as atmosferas de Eliasson. Contudo, a Instalação intitulada “Platon’s Mirror” (2010), de Mischa Kuball, exposta no MNAC58 (2012), é igualmente capaz de nos remeter a uma atmosfera idílica e platónica, que nos envolve na luz, sombra e reflexo, num âmbito quase metafísico e cósmico. 47 48 Capítulo 4: A relação entre a Arquitectura e a Arte 49 4. A relação entre a Arquitectura e a Arte A problemática da arquitectura como expressão artística é uma discussão, sobretudo, do século passado. Na transição do século XIX para o XX, arquitectos como Adolf Loos começaram a permear na disciplina da arquitectura a ideia que estes dois campos (arquitectura e arte) não podiam existir ao mesmo tempo enquanto prática. Adolf Loos seria um dos precursores da arquitectura moderna, preparando as práticas que se iriam advogar ao longo das décadas seguintes à publicação do seu “Ornamento e Crime” (1908). Mas durante o Barroco, arte e arquitectura eram um todo. A prática da arquitectura fazia‐se pensando na arte como forma de deslumbrar, converter, ou confirmar os crentes na fé, no decurso da Contra‐Reforma instigada pela Igreja Católica. No Renascimento, as igrejas teriam que ter os frescos bíblicos nas paredes. Nos períodos anteriores, as grandes construções religiosas tinham sempre esta coabitação como forma de ensinar os fiéis por jeito de imagens. De facto, em períodos anteriores, a arte teve sempre uma função: a de ensinar, a de explicar; tinha uma função pedagógica, procurando professar a moral católica, apostólica e romana, e a distinção, através das imagens, do “bem” e do “mal”. Em contextos diferentes, mas ainda na mesma linha de pensamento, Gombrich refere a experiência única do deambular nos pátios interiores de Alhambra, com esta parafernália de rendilhados e geometrias expressas em azulejos, às quais se soma a subtileza da fonte central que anima todo os espaço. Siza Vieira refere algo semelhante, mas noutros contornos. Dirigindo‐se a uma série de signos nas paredes, Siza expressa‐se da seguinte forma: “são poemas que falam da beleza do pátio em que nos encontramos, ou da beleza de um jardim. Poemas de amor. Portanto, não é uma decoração gratuita. É qualquer coisa que tem a ver com o espaço em que se habita naquele momento. As relações entre a arquitectura e a literatura, aqui, são directas, gravadas nas paredes. São também muito estreitas”59. Siza conclui que a tónica não deve estar na diferença, mas na complementaridade entre as artes. Remata com um caso muito peculiar e que nos devia repensar na forma como um arquitecto faz arquitectura: “[na] magistral praça de Campidoglio, em Roma, de Miguel Ângelo, é um escultor que faz toda a composição numa altura em que um escultor era também um arquitecto”. Este caso deve ser, no entanto, acompanhado de outro que cita, em que a escultura parece ser a definidora do espaço. Na antiguidade clássica grega é segundo a escultura de Atenas que se desenha toda a Acrópole, ou assim parece ser: “esta obra de escultura tem um desempenho 50 fulcral no conjunto da Acrópole. Não é por acaso que os projectistas não a puseram no Pártenon, no edifício principal, no eixo. Fizeram um acesso em ziguezague e depois, à medida que se sobe, vai‐se vendo a estátua de Atenas, que não também não está exactamente no eixo e tem uma ligeira inclinação. Isso obriga, por reflexo, a avançar para o Pártenon. Este é um exemplo de como entre a escultura e a arquitectura não há diferença, mas complementaridade”. Uma complementaridade que hoje é quase impossível pela ideia de especialização e pelo primado dado por alguns arquitectos ao Projecto, negligenciando toda a parte Humanística. Alberti, por exemplo, começou por dominar muitas disciplinas “maiores” antes de dominar a arquitectura. E esse corpus teórico, tangencial a todos os campos científicos, é que o consagrou num reconhecido arquitecto, com obra escrita e muito pertinente aos séculos posteriores (a sua tratadística, nomeadamente) e obra construída (Palazzo Rucellai). A instalação poderia ser a complementaridade actual entre estes dois campos, em que a arte acrescenta valor à arquitectura e vice‐versa. A Instalação Artística, em termos abstractos, poderia ser a síntese entre a arquitectura ‐ no sentido em que parte do cheio e do vazio espacial e transforma o espaço ‐ e a arte ‐ em que existe uma dimensão, muitas vezes, imaterial de um conceito, mas que está subjacente ao espaço. Onde reside a função da Instalação Artística? Por ser um híbrido, e porque a arquitectura é muito mais que a sua função, esta forma de expressão pode ou não ter uma utilidade. Veja‐se o caso da “Casa dos Segredos”: existe uma dimensão artística e arquitectónica que, por seu lado, se manifesta numa utilidade – a de possibilitar aos alunos guardarem os seus bens no cacifo. Apesar de a artista defender o contrário numa forma abstracta, no seu caso, o seu pensamento não tem correspondência. Aqui existe função prática, à qual se junta a não‐função da utilidade do prazer intelectual da contemplação, o seu papel simbólico e poético. Ou seja, a Instalação Artística poderia ser a complementaridade, na sua essência, entre arte e arquitectura. De volta à Instalação Artística, temos que esta forma de expressão e construção procura essencialmente catapultar‐nos para um estado de imersão, num tempo e espaço criados pelo artista/arquitecto. Na verdade, são muitos os arquitectos que fazem instalações artísticas. Os CoopHimmelb(l)au começaram assim. Igualmente a dupla Diller+Scofidio. E por vezes criam instalações que são muito mais completas que as dos próprios artistas em termos da espacialidade. Com isto, introduz‐se uma fase em que são os próprios 51 arquitectos a voltarem‐se para as instalações artísticas em detrimento da construção de edifícios que lhes estaria, por formação, destinada. No caso da dupla Diller+Scofidio, existe um manancial de instalações e performances que partem da premissa primeira do espaço e a conduzem a campos mais abstractizantes da sua relação com o corpo, movimento e velocidade. “Preocupam‐se com a situação do corpo na sociedade. O corpo, a sua extensão protética [de prótese] e o seu peso e leveza do movimento à volta e dentro da arquitectura são reconfigurados para colocar projectos que à partida parecem estranhos, excêntricos, marginais e irreverentes”60. Curiosamente, ambos parecem ter bebido uma grande dose de inspiração de Duchamp, sendo o próprio ponto inicial de várias performances/instalações. Mas outros ateliês de arquitectura fizeram projectos semelhantes, como por exemplo, os Asymptote que tiraram partido da Bienal de Veneza para reintroduzirem o “Fluxspace 2.0” (2002), uma versão actualizada do seu homónimo em San Francisco, tempos antes. O projecto “procurou expressar a arquitectura como intermediária a uma experiência espacial baseada na Web. (…) [Em que] dentro da estrutura dois vastos discos, incorporando espelhos de uma face, que mediam cerca de 8 pés de diâmetro, a girarem ao longo do eixo vertical, estavam Ilustração 29: Atelier Asymptote, "Fluxspace 2.0", exibida na localizados nos dois pontos focais do lado oposto Bienal de Veneza (2002). Vista exterior da Instalação Artística do espaço. No centro de cada semi‐reflexivo, semi‐transparente espelho, uma câmara de 360 graus estava alojada de forma a captar o sempre cambiante espaço interior, enviando, ao mesmo tempo, essa informação para a Internet.” Durante a Bienal, milhares de configurações foram criadas que “podiam ser vistas e virtualmente ocupadas na Web”61. Na verdade, a Bienal de Veneza tem sido, a par com a Turbine Ilustração 28: Atelier Asymptote, "Fluxspace 2.0". Vista interior Hall da Tate Modern Gallery, um campo da Instalação Artística, onde se mostram os espelhos com as Webcams no centro. 52 extraordinário de experiências em que a cumplicidade entre arte e arquitectura, artistas e arquitectos, é notória. Relembremos, por exemplo, a intervenção do arquitecto Souto Moura e do artista Ângelo de Sousa no Grande Canal, onde “uma superfície espelhada reproduz os edifícios circundantes”62, alterando a percepção que os visitantes, habitantes e transeuntes tinham do espaço urbano e histórico. Existe, todavia, artistas que enquanto tal tiveram uma ligação muito especial com a arquitectura como Gordon Matta‐Clark e Donald Judd, ambos americanos, mas com diferentes abordagens sobre o tema. Para Matta‐Clark o seu suporte, o seu material de expressão artística e o seu objectivo era a arquitectura ou o espaço construído. Dito isto, toda a sua produção estava vinculada a um local existente, a partir do qual trabalhava para o subverter, rasgar e dissecar, complexificando ao mesmo tempo o lugar. Matta‐Clark teve toda a sua formação em arquitectura63, mas arquitecto e artista são designações que não lhe assentam. e é sob esta ideia que o grupo Anarchitecture, uma aglutinação dos termos ‘anarquia’ e ‘arquitectura’, desenvolve uma existência ainda mais breve que a do seu criador que morre com 35 anos de idade. Esta designação do grupo deu nome também a uma exposição que seria em parte mostra, em parte manifesto; um manifesto, contudo, por acontecer, numa “geração desiludida com manifestos”64. O nome, em si, já era um grito no meio artístico e arquitectónico, a que se lhe segue outro como “NOTHING WORKS” num placard, no que seria uma alusão implícita à regulação austera da grelha modernista. Assim, Matta‐Clark, da mesma forma que usa os martelos pneumáticos e outras ferramentas de destruição, usa a subversão linguística de modo absolutamente acutilante: a célebre de Sullivan “form follows function” é distorcida para “form fallows function”, qualquer coisa como “a forma inutiliza a função”. Dito isto, a suposta anarquia é falsa ou pelo menos aparente, já que tudo assenta em críticas concisas lançadas pelo artista/arquitecto. Toda a sua concepção artística ou arquitectónica encontra‐se em várias Instalações que realizou. Em Splitting: Four Corners o artista remove quase Ilustração 30: Atelier Asymptote, "Fluxspace 2.0". Perspectiva através de uma Webcam, e a través da qual os internautas tinham acesso à obra. cirurgicamente quatro arestas de uma casa e coloca‐as num contexto museológico. Os 53 visitantes deambulam por estes objectos dispostos separadamente mas em conformidade com a disposição original da construção – que agora deu lugar a desconstrução – ao mesmo tempo que se apercebem do esqueleto e da materialidade do que aquela casa em tempos foi: os tijolos, as telhas, os remates, etc. Em Bingo (1974) junta fragmentos de fachadas com janelas cortadas, vãos de escadas decepados, onde espelhos e cobertores passam a desenhar apenas um ziguezague, vigas desligadas da sua função original, portas divididas, estruturas evidenciadas… Pelas imagens percebe‐ se uma experiência complexa entre espectador‐objecto, porque também complexa é a exposição do objecto. Tanto era obra o que estava no museu, como o que estava fora dele, no sítio em que estes recortes construtivos foram retirados. Apesar de tudo, a magnificência do seu trabalho apenas é visível em fotografia e parte do trabalho executava‐se no local, isto é, edifícios em decadência eminente ou em estado de abandono ou demolição. Não são, portanto, exactamente Instalações Artísticas, são antes reformulações do edificado, novas perspectivas e experiências de viver o espaço. Desconstruções de construções e, no limite, criações de novas percepções e perspectivas interiores, porque furam troços colossais de edifícios, no que por vezes parece ser a subtracção de esferas, semiesferas ou cilindros a paralelepípedos maiores. Veja‐se, por exemplo, a obra Chronicle Intersect, de 1975, ou Office Barroque, de 1977, em que pedaços de lajes pavimentadas são recortados em formas de deltas arredondados e dispostos especificamente e círculos de pavimento são retirados para mostra‐se a estrutura e o piso inferior. Em Matta‐Clark a obra, a arte ou a arquitectura eram evidenciados pela sua desconstrução, ou aparente destruição, calculada seguindo a ideia de que a decadência também tem uma poética inerente e merece ser evidenciada. A aproximação à arquitectura por Donald Judd era assaz diferente e insere no orbe específico do minimalismo, mesmo que ele rejeitasse essa designação estilística. Judd tomou nota e interesse do potencial que as bases e os hangares tinham no antigo forte Russell, em Marfa, no Texas65. Uma vez desactivados, comprou‐os com a ajuda de uma fundação para aí encetar diversas experiências ligando a arte à arquitectura. Mais 54 Ilustração 31: Gordon Matta‐Clarck, "Splitting: Four Corners" (1974) Ilustração 32: Gordon Matta‐Clarck, "Splitting". Fotografia da desconstrução do edifício, do qual resultam os quatro cantos transformados em Instalação Artística (1974) 55 tarde deu nome ao projecto sob a constituição da Fundação Chinati, cuja missão seria quebrar o “isolamento” entre as artes – todas as artes, incluindo a arquitectura ‐, afirmando inclusive que “a arquitectura está quase a desaparecer”66. Havia ainda a sua preocupação ao ver a morte de muitas Instalações após a sua exposição, e por isso procurou também encontrar um espaço onde essa mostra fosse intemporal e inalterável. Se o espaço faltasse, adquiria‐se mais um lote, mais um armazém, um celeiro, uma garagem, o que fosse… Os vários hangares militares seriam a base imutável para os seus trabalhos e só ali fariam sentido estarem expostos após meticulosa instalação. “O visitante encontrará em exposição permanente muitos dos primeiros e maiores trabalhos de Judd, assim como peças importantes de John Chamberlain, Dan Flavin, Carl Andre, Roni Horn e outros”67. A ligação à arquitectura justificava‐se então pela importância que dava à noção de totalidade e por esta via entra de novo em discussão a recuperação da noção de Gesamtkunstwerk que seria a alternativa à exclusão modernista Ilustração 33: Donald Judd, "Untitled (caixas em cobre)" (1969). Judd preocupava‐se muito com a luz sobre os objectos, o reflexo e advogada pelos críticos Fried ou Greenberg68. A a sombra que produziam. Alguns desses objectos pareciam ‘obra de arte total’ era inclusiva porque adquirir uma fonte de luz própria. abraçava todas as artes, não existindo “relações hierárquicas entre as partes” e aludindo sobretudo ao “todo estético”69. A escala das obras deveria estar de acordo com a escala do edifício onde se expunham, ou assim parece ser de acordo com as imagens e os testemunhos. Refere o próprio num artigo seu: “os edifícios (…) e as obras de arte que continham foram planeados juntos o mais que possível. O tamanho e a natureza dos edifícios estavam dados. Isto determinou o tamanho e a escala Ilustração 34: Donald Judd "Untitled (100 caixas de alumínio das peças. Isto depois havia de determinar a 56 dispostas num hangar)" (1982‐86) existência de janelas contínuas e o tamanho das divisões70. A reciprocidade entre a as obras de arte e a arquitectura é notória. Tudo se fazia em consonância ou concordância entre partes. O edifício era determinante para a obra de arte, que, por seu lado, valorava o próprio edifício. A bem dizer verdade, muitas Instalações Artísticas pareciam‐ se antes a Instalações Arquitectónicas pela sua escala, materialidade e forma. Outras, pelas relações que postulam umas com as outras numa vasta extensão de terreno, pareciam consolidar quase um propósito urbanístico como as sucessões Untitled (que datam sobretudo da década de 80) em betão: vários abrigos paralelepipédicos que evidenciação do que na altura se passou a chamar de ‘espaço negativo’. Desta série podem‐se encontrar várias construções, todas com configurações e implantações diferentes. Ao todo são quinze conjuntos, de várias peças cada. Alguns conformavam pracetas, outros ruas, vários enfiamentos surgiam enquanto de passeava pelo lugar… Mas todos devidamente inseridos na paisagem árida de Marfa, no Texas. Judd chegou inclusive a realizar projectos de arquitectura num ateliê que comprou em Marfa e que agora consta igualmente da Fundação Chinati71. No estúdio 102 North Highland Avenue Ilustração 35: Anotações desenhadas por Donald Judd para o conjunto de 15 trabalhos em betão. Desenho datado de 1980 encontram‐se desenhos e modelos de projectos para uma estação de comboios, em Basel, e uma residência, na Suíça. Contudo, o que se deve mesmo destacar é a importância que Judd deu ao local de instalação das suas obras, de como a luz que passa pelas vidraças influencia a cor das várias Untitled e de como cada espaço tem uma apropriação específica e única para cada objecto. O sito era todo ele escrupulosamente estudado e as suas obras, apesar de simples, tinham uma complexidade inerente que apenas com o tempo e a atenção devidas se poderia resolver. Ilustração 36: Donald Judd, "Untitled (15 trabalhos em betão)" (1980‐84). Estas construções conformar um conjunto vasto no terreno de Marfa, Texas, conformando ruas, enfiamento e pequenos largos. Em suma, o que se retém deste texto é que a arquitectura, enquanto prática autónoma, pode 57 não conhecer a arte como uma via de expressão, recorrendo‐se ao espaço e ao vazio para esse efeito, mas são dois campos absolutamente complementares. No entanto, a Instalação Artística talvez seja uma forma do arquitecto se libertar deste complexo e juntar arte e arquitectura numa só forma de expressão, não apenas como dois pólos que se alimentam mutuamente, mas arte e arquitectura num todo único. Seja como for, é o visitante, o fruidor, que beneficia deste elo, que ora se alia, ora se rompe e será através da sua experiência e vivência, e do seu entendimento sobre as mesmas, que se chega ao cerne da obra, ou, in extremis, à essência do homem. 58 Ilustração 37: Donald Judd da série "Untitled (15 trabalhos em betão)". Década de 80. 59 60 Capítulo 5: No exterior dos museus 61 5. No exterior dos museus Esta tese baseia‐se na abordagem duma Instalação Artística num espaço de uso público. E a expressão espaço de uso público traduz‐se num lugar fechado ou aberto, cuja massa de visitantes é dispersa e não existe um grupo restrito, nem maioritário, de utilizadores. Este espaço encontra‐se fora da visão tradicionalmente museológica e tem vindo a ter uma importância crescente nas últimas décadas. O surgimento do movimento “street art” é disso exemplo, em que a arte, em geral, é exposta na rua, recorrendo, sobretudo, à grafitagem de muros. No entanto, “street art” é um dos termos e correntes que se podem aglutinar nesse termo mais geral que é a “arte pública”. Um dos mais badalados artistas contemporâneos que faz da rua suporte de arte é Banksy, e todo o circuito vertiginoso, marginal, vicioso, eufórico, ambíguo e ambivalente que a “street art” ou a arte pública representam, de uma forma ou de outra, está claramente implícito no seu documentário “Exit Through The Gift Shop” (2010). Esta apropriação da rua, da praça, dos transportes, dos outdoors, como sustentáculos expositivos reflecte‐se em pinturas murais, colagens que remontam à “assemblage” ou então esculturas com raízes na “arte povera”72, utilizando‐se materiais pobres, já utilizados, do quotidiano descartável que o mundo actual compreende, convertendo‐os num objecto, não raras vezes, gigantesco. A Instalação Artística em espaços públicos, lato sensu, é de difícil concretização, porque as variáveis são muitas, incontroláveis diversas vezes, e o bulício citadino pode dificultar a imersão no ambiente que se propõe (hipoteticamente falando). Além disso, existe a componente administrativa que suporta uma cidade: agentes financeiros, económicos, políticos e ambientais que requerem da parte do artista, ou das instituições artísticas, uma grande componente negocial. Arquitectos, urbanistas, designers, presidentes de todos os tipos de associações e comunidades são chamados, directa ou indirectamente, a dar um parecer sobre a concretização deste tipo de movimentos. Colocar a arte numa perspectiva comunitária, fazendo parte da mesma, integrando ou intervencionando, e/ou inspirando‐se em contextos próprios, tornam este género artístico ideológica, política e social e culturalmente complexos. As variáveis são, como referi, muitas. A arte passa, pois, do espaço hermético do museu, para o espaço amplo, livre, transfronteiriço, ambivalente, ambíguo, por vezes híbrido, por vezes vincado, que é a cidade – ou a metrópole. Deste modo, a arte pública tem que saber articular toda esta 62 contextualização – o que a torna ímpar e nos movimentos mais marcantes do final do século passado. No entanto, a arte pública tem uma peculiaridade ainda maior que se prende com a especificidade do lugar em que se encontra inserida. Na verdade, esta singularidade é que está na génese da arte pública e dá a qualquer obra artística uma identidade própria – reciprocamente – ao tal lugar e à própria peça, no limite, aos habitantes desse espaço. Assim, do ponto de vista abstracto ou ideal, podemos tomar a definição formulada por Kwon como acertada. No seu livro “One Space After Another” (2004) refere como acepção a esta especificidade local como algo que implica “qualquer coisa sólida, aliada às leis da física”73, fundada e fundamentada no espaço em que se implanta, em que a imobilidade é uma valência e, ao mesmo tempo, uma debilidade. Portanto, temos dois casos: em primeiro a arte específica do lugar, em segundo, a migração da arte do museu para o exterior quotidiano, para a esfera da cidade e dos cidadãos. Quando a arte se confronta com uma panóplia de contextos e situações sente a necessidade de se deixar contaminar pelo espaço, pela sociedade, pela identidade local, em detrimento da arte pública modernista que tinha uma vertente exclusiva e única de embelezar o local. Do ponto de vista do modernismo, esta ideia esteve patente na ideia de muitos urbanistas e arquitectos que procuraram estudar espaços onde a arte pudesse quebrar o excesso de rigidez, ortogonalidade e, em alguns casos, criar uma cisão no carácter desumano de algumas construções. O “site‐specific” surgiu nos inícios do Minimalismo, onde “o espaço da arte deixou de ser entendido como (…) uma tábua rasa, [passando a ser encarado] como um lugar real”74. À semelhança da instalação procurou‐se a experiência real, corporal e fenomenológica do sítio. As primeiras experiências nascem ainda dentro do museu, sob uma pontada crítica dos artistas a esse ambiente asséptico e descontextualizado que o museu representa, em que as palavras de Daniel Buren são bastante acutilantes no que a arte deveria significar: “a arte, o que quer que isso seja, é exclusivamente política”75. Surgem museus literalmente medidos, com cotagens pintadas nas portas e paredes dos museus, os níveis de humidade dos espaços são expostos, estuques retirados para mostrar a ossatura constituinte da parede, retirando o branco característico destes lugares expositivos, paredes recortadas… Uma das obras de Buren mostra esta cesura com o museu de uma forma muito particular, porque faz adivinhar já a saída para além fronteiras do espaço museológico. Em “Within and Beyond the Frame” (1973) existe toda uma fileira de panos com riscas, estendidos por uma corda, paralelos a uma parede 63 e que se expandem e “saltam” para lá da janela, continuando na rua, suspensos agora por duas cordas (em cima e em baixo), com término na fachada do edifício oposto. Foi uma forma assaz inteligente de marcar a diferença e trazer o museu para a rua. Num registo oposto, mas integrado num sítio determinado, a artista Mierle Ukeles, lança mãos a utensílios de limpeza e esfrega, limpa, varre todas as galerias do Wadsworth Atheneum. Com esta performance, traz à ribalta o trabalho de manutenção necessário à brancura pura dos museus, ao mesmo tempo que, sendo mulher, expõe a árdua tarefa que este empreendimento acarreta e que cabia às mulheres. Estamos, nesta época, no auge do feminismo. De igual modo, a artista “mostrou o museu como um sistema hierarquizado de relações laborais e complexificou a divisão social e de género entre as noções de público e privado”76. No manifesto que redigiu intitulado Maintenance Art—Proposal for an Exhibition escreve: “A manutenção é uma chatice. Consome a merda do tempo inteiro. | A mente confunde e atrofia no aborrecimento. | A cultura confere um status baixo em trabalhos de manutenção = ordenados mínimos, donas de casa = nenhum pagamento”77. Dito isto, talvez esta performance78 seja mais de uma especificidade social, do que propriamente local, porque, como veremos de seguida, não depende exactamente daquele espaço, isto é, a artista poderia ter‐se manifestado num qualquer outro museu, de igual forma. A obra de Buren já falada também se assemelha neste aspecto à de Ukeles. Já o mesmo não deveria acontecer (embora se tivesse verificado o Ilustração 38: Daniel Buren, "Within and Beyond the Frame" (1973) oposto) com a obra da artista Faith Wilding, “Womb Room (Crocheted Environment)” (1972 e recriado em 1995). O que primeiro tinha sido feito propositadamente para uma casa de apoio a mulheres, foi, depois, recriada de forma quase integral para o California Institute of Arts. No entanto, o original fora destruído e com ele desaparecera também todo o 64 Ilustração 39: Daniel Buren, "Within and Beyond the Frame" (1973). Vista para a rua. trabalho de croché feito por mulheres para essa casa. Em primeira instância, a peça tinha sido feito para um sítio concreto, num contexto próprio que se radicava nas lutas feministas. Ao se recriar noutro lugar, esse valor inerente perdeu‐se e uma pessoa questiona‐se sobre a autenticidade da obra em termos de identidade e origem. É que o site‐specific ao transladar‐se, perde todo o seu significado, porque se desenraíza e torna‐se noutra instalação ou peça vulgar. Por outras palavras, destrói‐se. Apesar de tudo, as intenções da artista mantêm‐se inalteráveis e inabaláveis, mesmo com esta mutabilidade de lugares, o que resulta, então, num dilema: por um lado, há a necessidade de fazer chegar uma mensagem importante a outros cantos do mundo, por outro a destituição de rigor perante a mudança do sítio. A “Casa dos Segredos” (2012), da artista Ana Vidigal é um destes exemplos, ao ter aceitado o convite do Instituto Superior Técnico para uma instalação artística comemorativa dos 100 anos de existência. A artista deslocou‐se à Universidade, fez uma pesquisa profunda sobre o local, a sua génese e a sua história, para, no final, conseguir formular um conceito para a sua peça. No livro editado pelo Instituto (em 2012), nota‐se que essa pesquisa acabou por ser uma extensão da própria instalação, sendo tão rica quanto a mesma. As fotografias dos vários departamentos, dos vários trabalhos produzidos ao longo de décadas, mostravam todo um contexto muito peculiar onde só aquela instalação poderia pertencer. Simultaneamente, essa documentação feita a priori terá uma vida bem mais extensa e alargada que a peça principal e provavelmente tornar‐se‐á autónoma com o passar do tempo. Na conversa que tivemos, a artista afirma que “um caso destes é impossível reproduzi‐lo com esta espectacularidade e com esta teatralização. Porque só o assim pode ser assim, se o voltarmos a fazer aqui. (…) Sempre podia reproduzir esta numa galeria, mas não havia a clarabóia, não havia o mezanino para as pessoas subirem até lá cima, não havia os alunos de manhã irem buscar Ilustração 40: Faith Wilding, "Womb Room (Crocheted Environment)" (1972) as coisas aos cacifos… Neste caso, (…) perderia 65 todo o interesse se voltasse a fazer isto sem ser aqui”. Ou seja, a relação entre as componentes do espaço consolidado determinaram não só a concepção e a construção da instalação, como a própria experiência. É curioso notar que toda a austeridade do Pavilhão onde a peça se mostrava reflectia‐se (literal e figurativamente) nessa mesma peça. Houve uma assimilação, uma integração, da e na identidade do espaço, em detrimento de uma intervenção. Ao mesmo tempo, pode citar‐se a instalação de Olafur Eliasson para a Tate Modern Gallery, “Weather Project”, desenhada especificamente para o hall gigantesco daquela instituição e já caracterizada anteriormente. Ou, então, “Marsyas” (2002), de Anish Kapoor, também para aquela instituição. Em alternativa, “Leviathan” (2011), pelo mesmo, mas agora para o Grand Palais em Paris. A “Leviathan” ‐ uma das centenas de nomes que o Demónio pode tomar, um monstro ou o Estado segundo Hobbs (todas estas figurações estiveram no conceito da obra) ‐ será, provavelmente, a mais impressionante instalação que Anish Kapoor alguma vez projectou. O Grand Palais é uma estrutura em ferro forjado e vidro construída aquando da Exposição Universal de Paris, em 1900. Neste contexto, existe uma forte componente patrimonial e histórica que representa a arquitectura da viragem do século XIX para o século XX e que, a par com a Torre Eiffel, é um dos símbolos máximos da arquitectura e monumentalidade francesas. Assim, e partindo da volumetria e disposição do edifício, esta instalação artística desenvolve‐se em três espaços primordiais, sendo que o cruzamento entre eles, uma espécie de cruzeiro, conforma o epítome e, ao mesmo tempo, o momento principal da peça. O espaço dita a proposta, uma cruz truncada79. Construído em PVC encarnado ‐ de carne ‐ os visitantes parecem entrar em três úteros cuja pele deixa passar a luz e a sombra de toda a estrutura metálica do palácio. Na verdade, o maior desafio do artista foi a opulência lumínica do palácio. O projecto procura activar no espectador uma espécie de memória remanescente dos seus antepassados e que nasce com o indivíduo. O artista refere que não existem “visões inocentes”80. Quando nascemos, somos a forma de uma memória delegada num corpo. Nesta dissertação interessa abordar a instalação artística num contexto de arte urbana, que, por seu lado, pode ser, ou não, específica de um lugar. Ora, a arte urbana sempre existiu, no sentido em que a rua é o mais democrático meio de todos e onde as ideias e ideologias mais se fazem sentir e vibrar. A rua, a praça, o jardim, o pátio, os viadutos – tudo sítios de grande expressividade e importância na urbe. No entanto, antes dos finais da década de 50, a arte pública era tida como algo estático, monumental e celebrativo. Era uma “coisa” no meio de muitas outras que não activava o espectador, não o 66 Ilustração 41: Anish Kapoor, "Leviathan" (2011) 67 confrontava, não o fazia reflectir no seu bairro, na sua rua, cidade, ou metrópole. Embelezava, ou, então, acrescentava um valor simbólico ao local. Servia os desígnios do arquitecto e do urbanista que o convidavam a colocar, em determinado sítio gizado criteriosamente, num ponto de vista modernista, a sua obra. Quando a arte saltou para fora do museu, expondo‐se no exterior, fez‐se de duas formas: em locais ditos inóspitos ou rurais, no meio da paisagem, confrontada com o horizonte pacífico do deserto ou da planície, com o rio, com o vale a colina – tudo sob a alçada da Land Art; ou em contexto urbano, como temos vindo a expor. Idealmente, qualquer uma das situações podia reflectir a identidade do local e, como tal, ser “site‐specific”. No caso da Land Art podemos citar o exemplo de Agnes Dean, “Wheatfield – A Confrontation” (1982), como um tipo de arte urbana de sítio específico. O vasto campo de trigo que a artista plantou no campo de entulhos (marginal à cidade), aquando da construção do World Trade Centre, partia de um contexto muito específico e só ali parecia fazer sentido. “O trabalho é uma lembrança de prioridades mal calculadas – mais, é uma insistência na necessidade de prioridades sãs, e é a revelação da verdade por detrás do comércio global”81. No entanto, apesar da globalidade do conceito, só ali fazia sentido fazer tal empreendimento artístico, é que: “Manhattan é a mais rica, mais profissional, Ilustração 43: Anish Kapoor, "Leviathan" (2011) mais congestionada e, sem dúvida, a mais fascinante ilha do mundo” e “plantar, manter e colher dois acres de trigo ali, gastando valor precioso de propriedade, obstruindo a maquinaria, indo contra o sistema, foi uma afronta que a tornou [a obra] num poderoso paradoxo”82. Essa singularidade de Manhattan, aliada àquele espaço de aterro de entulhos do World Trade 68 Centre – o maior símbolo Ilustração 42: Agnes Denes, "Wheatfield ‐ A Confrontation" (1982) arquitectónico de negócios comerciais mundiais durante anos ‐, possibilitou as mais idílicas paisagens/visões/experiências dentro daquele inoportuno e surpreendente campo de trigo. Por outro lado, no caso de um contexto urbano, a instalação “site‐specific” torna‐se mais difícil de reconhecer. Ou seja, existem inúmeras instalações feitas em cidades, mas são o que se pode chamar de instalações “nómadas”, em que o conceito não depende necessariamente do lugar. Geralmente, muitas das instalações que se encontram neste âmbito da arte urbana ou têm um carácter útil, no sentido de fornecer aos transeuntes sombra ou refúgios, ou têm um carácter mais performativo do que propriamente de instalação, de envolver‐nos num ambiente artístico, onírico, nostálgico, etc. No caso da escultura, o mesmo não acontece. Existem, nesta perspectiva, dois casos relevantes sobre as possíveis idiossincrasias decorrentes de arte, neste caso escultura, realizada para locais determinados: “Tilted Arc” (1981) de Richard Serra e três esculturas para um parque no Bronx (1991), de John Ahearn. São exemplos que, apesar de escultóricos, devem ser maturados, uma vez que nos fazem pensar sobre a importância e força que possíveis instalações artísticas podem surtir no quotidiano de uma comunidade. O primeiro caso, então, um vasto muro de aço que rasgou por completo uma “plaza”. A peça foi depois retirada. Veja‐se porquê: as autoridades queixavam‐se de que a peça fomentava actos de vandalismo (grafitagem) e constituía um grave obstáculo à vigilância do local, especulando‐se sobre a formação de hipotéticos grupos marginais e; a população reclamava do carácter separatista e autista que a escultura representava, para além da arrogância com que o artista abordou a questão social, não envolvendo os cidadãos na discussão da obra, nem tão pouco representantes de agrupamentos comunitários. Kwon refere o disfarce que “Tilted Arc” literalizava “as divisões, exclusões e fragmentações sociais que poliam e domesticavam esteticamente os espaço público”83. O segundo caso – as três esculturas de Ahearn, no Bronx ‐, pelo contrário, envolveu uma franca preocupação com o local e as características sociais do mesmo. Ahearn preocupou‐se em perceber a realidade daquele bairro, tendo habitado, aliás, nas suas proximidades durante anos: como viviam os habitantes, o traço geral dos mesmos, que etnias, que grupos sociais… Na verdade, alguns dos seus trabalhos anteriores mostravam já esse cuidado na abordagem do sentido de comunidade na arte. O conceito a que chegou para as três esculturas, reflectia, portanto, toda esta 69 Ilustração 44: Richard Serra, "Tilted Arc" (1981‐89) 70 problemática. Em questão estão três personagens que espelhavam e sintetizavam o orgulho e a singularidade da vida no Bronx, com pessoas trabalhadoras e assaz lutadoras: uma criança, um Latino‐americano com um pitbul e um preto representante de uma classe operária. Cada um com as suas peculiaridades, representantes de diferentes contextos, mas todos formando a identidade de uma sociedade vista muitas vezes como marginal. As figuras, em três portentosos pedestais, eram os ícones supremos do Bronx. Apesar desta boa intenção do artista, o conjunto escultórico acabou por ser removido cinco dias depois. O argumento de protesto, curiosamente, veio dos próprios moradores que, apesar de terem sido fundamentais na concepção teórica da obra, nunca foram confrontados previamente com a ideia final do artista. Como tal, recusaram liminarmente a obra, dizendo que não se identificavam com a mesma, que era estereotipada, para além de revelar a verdade que muitos não queriam divulgar de Bronx como um bairro gueto, cheio de etnias irreconciliáveis, ameaçadoras e destruidoras de um tecido social estável e pacífico, convidativo a novas massas. Esta intenção de Ahearn foi vista como mais uma tentativa integracionista, no auge na discussão do multiculturalismo, ainda hoje muito debatido por falta de um paradigma acertado, de boas intenções aos olhos de um “branco que nunca poderia entender a experiência da ‘comunidade’ afro‐americana”84. A denúncia das esculturas como racistas levou à sua remoção. Estes dois casos são paradigmáticos de uma discussão em aberto. Ambos partiram do real e de análises críticas bastantes acutilantes, mas falharam em mostrar‐se aos seus coabitantes como símbolos de paixão e orgulho em pertencer àqueles bairros. Dificilmente, obras site‐specific, em contexto urbano, tendem a ter uma longa e próspera vida se não se identificarem com os habitantes, e vice‐versa, não numa perspectiva exterior, mas antes numa interior. A aceitação tem que partir dos de “dentro”, para depois se difundir pelos de “fora”. Enquanto o primeiro exemplo mostra uma tentativa intervencionista, o segundo mostra uma integracionista (na qual a obra da Ana Ilustração 45: John Ahearn, 3 esculturas para o Bronx (1991) Vidigal também se insere). Em qualquer dos 71 casos, nenhuma teve um final feliz, mas foram modelos de profunda discussão no orbe da arte urbana site‐specific. As obras posteriores a estas já denotavam uma preocupação redobrada nesta questão ambígua que se tem vindo a desenvolver. O compromisso a que se chegou foi tornar o espectador num fazedor activo de arte (a tal discussão semelhante no capítulo anterior do espectador passivou contra o activo). Ademais, suprimiu‐se o papel do arquitecto urbanista e do designer urbano, para dar maior liberdade ao artista de reflexão. Esta visão timoneira foi liderada pelo programa “Culture in Action” (1993) que “abandonou a implicação premente de que os arquitectos e designers urbanos é que eram os negociantes especialistas entre arte e espaço urbano”85. Desta forma, o artista passava a ser o principal mediador, assimilando ao mesmo as funções de sociólogo, agente cultural, administrador e artista propriamente dito. No entanto, e ainda assim, a discussão deste novo modelo não foi de todo pacífica, em que alguns críticos começaram a apontar um abandono da ideia de especificidade local e as obras deixaram de ter implicações políticas próprias à génese da arte urbana. Desta forma, a maior parte das obras apresentadas no âmbito do programa cultural da “Culture in Action” aproximaram‐se muito mais de questões ligadas a comunidades específicas do que a locais específicos. De “site‐specific” passaram a “community‐specific”. Na pesquisa efectuada, constata‐se que instalações para sítios específicos, onde a noção de identidade de lugar se manifesta, existem em número muito reduzido. Várias instalações em contextos urbanos, mas nenhuma propriamente à volta da identidade de um lugar. De modo que a junção destes dois temas – arte urbana e instalação “site‐ specific” ‐ parecem ainda não ter‐se verificado com muita frequência. Todavia, existe ainda toda uma questão de percepção de uma eventual instalação artística em meio urbano que deve ser abordada. Partindo do que foi referido sobre a essência da Instalação, a capacidade de imersão e facilidade de nos catapultar para atmosferas diversas, coloca‐se a interrogação: como é que esta essência, esta génese, deste medium se pode manifestar e ser percepcionada num meio onde o ruído é muitas vezes inquietante, a informação visual é excessiva e todas as sensações se misturam e confundem? É que a instalação requer uma grande disponibilidade sensível para ser percebida, para ser experienciada, com tempo, deambulando, por entre o espaço e o tempo. Além disso, existe ainda o pormenor das massas: como é que a instalação se consegue mostrar de forma eficaz a grandes massas, sobretudo se requerer uma 72 activação especial do espectador? O pormenor da escala espacial também é importante. Num museu temos um espaço ilimitadamente possível em termos de materialidade, mas com uma escala controlada, que não ultrapassa a volumetria do próprio museu, na cidade temos uma escala aparentemente ilimitada, num espaço logisticamente limitado pelas diversas condicionantes habitacionais, urbanísticas, viárias, etc. No âmbito de uma metrópole, como fazer com que a Instalação chegue a todos, num espaço densamente populoso, extenso e cheio de obstáculos? Dito de outra forma, como fazer, por exemplo, uma Instalação à escala metropolitana para ser experienciada, ao mesmo tempo, como um todo? O tempo: como articular o tempo frenético e incontrolável das cidades ao tempo determinado da instalação? É um continuum de difícil resolução. As variáveis são imensas e muito espessas e parece quase haver um choque entre a génese da instalação artística e a arte pública site‐specific. Em suma, como formular uma imersão sensorial no meio de tantas adversidades? Provavelmente incorporando sempre no conceito da obra todas estas preocupações pertinentes e jogando com as condicionantes e a materialidade do espaço urbano existente, sendo, portanto, verdadeira e geneticamente “site‐specific”. As instalações urbanas contemporâneas, de facto, remontam muito mais a uma intenção de arte pública do que propriamente a uma noção identitária do local onde se encontra, não existindo, portanto, uma correlação e uma reciprocidade entre estas duas visões. Deste modo, os temas que abordam são de índole geral e abstracta (mesmo que partindo de questões locais), como já se referiu, ou então, apoiam‐se na tal ideia de utilidade urbana (criar sombra, espaços de repouso, etc.). Na verdade, esta ‘abstractização’ e consequente abandono da ideia de lugar como definidor e formulador de arte estão bem mais presentes na arte contemporânea em espaço público e que agora se pratica frequentemente. Há, no entanto, honradas excepções no campo da arte em locais abertos, feitas de forma específica para um local. Em primeiro lugar temos o exemplo da instalação de metros e metros de tecido branco a envolverem o Reichtag (1971‐95), em Berlin, por Christo e Jeanne‐Claude. O que significa cobrir o maior e mais representante edifício da democracia alemã em lençóis brancos e cordas? Uma interpretação possível passa pelo questionamento no objecto/edifício em si através da sua obliteração. É como se o vasto manto branco cobrisse o edifício de dúvidas que, por ela – pela dúvida ‐, se questiona a sanidade democrática de um país. Pode‐se dizer que há uma certa semelhança com a peça de Richard Serra “Tilted Arc”, uma vez que tem um carácter interventivo no local. A brancura do lençol sugere uma coisa por acontecer, como uma tela branca à espera de 73 ser pintada, como um presente à espera de ser aberto. O que significa isto num país recentemente reunificado? O que é o lenço branco a cobrir o sítio da discussão política? Esta série de questões enunciadas foi discutida tanto no parlamento como fora dele e é esse o principal objectivo da obra: questionar. É raro ver e ouvir um parlamento falar sobre arte. Esta obra levantou esse véu com o discurso de Konrad Weiss (25 de Fevereiro de 1994), fundador da Aliança 90 (movimento político alemão que junta os Verdes e o partido político DDR), no Reichtag. Nele, Weiss explicava aos colegas políticos que esta instalação permitia‐os “ver noutra clarividência uma nova e perceptual experiência este central e ambivalente lugar na história alemã” e que eles, enquanto políticos, passariam “a ser parte do trabalho artístico de Christo”86. É, pois, um caso de instalação site‐specific em contexto urbano, que parte da génese do parlamento alemão para o questionar que, como sabemos, não é um parlamento qualquer: é o símbolo democrático de um país que marcou a história universal, mas sobretudo a democracia pós‐segunda guerra, na Europa. No final, e nas palavras de Weiss, o desenrolar do edifício seria o renascer da democracia, o renascer do país que era suposto tornar‐se num outro com a reunificação. O segundo caso, também em Berlin, é o memorial das vítimas judias no Holocausto (inaugurado em 2005), da autoria do arquitecto Peter Eisenman e também ele muito discutido, mas mais criticado que a obra anterior. Talvez seja este carácter de magnetismo mediático, entre controvérsias, debates e opiniões e paixões suscitadas, que importa reter. A brutalidade dos cerca de 3000 blocos de cimento, ao longo de uma vasta área urbana, remonta à igual brutalidade do holocausto. O peso da morte, o peso da culpa e o peso da vida estão ali representados. Inertes. Corpóreos. Silenciosos. Uma paisagem cinzenta de uma época também cinzenta. Um labirinto ortogonal que relembra o ziguezaguear da vida e da História. Apesar de toda esta poesia envolvida, muitos opuseram‐se à sua construção, sobretudo escritores de renome mundial: Günter Grass, o carácter abstracto e opressivo87 e; Martin Walser, que a considerou um caso de monumentalização da desgraça alemã. O Ilustração 46: Christo e Jeanne‐Claude, "Wrapped Reichstag" conceito, demasiadamente generalizador, 74 (1995, ano de inauguração). Na imagem é visível a enorme afluência de espectadores Ilustração 47: Christo e Jeanne Claude, "Wrapped Reichstag" (1995, ano de inauguração) 75 porque baseado tão só nos judeus, foi igualmente criticado, esquecendo homossexuais, ciganos e todos os outros indivíduos mortos em nome da pureza ariana. No entanto, o memorial depressa passou a representar um marco na cidade, ponto de atracção turística e cultural. Estes dois exemplos entroncam numa ideia de espectacularização mediática, quer pelos temas e locais por que se debruçam, quer pelas massas que movimentam até si. Este novo conceito de instalações como pontos de atracção é, talvez, uma das derradeiras fronteiras da Instalação no contexto urbano. Há, de certa forma, o reconhecimento de que a instalação é capaz de movimentar e seduzir o público até si, algo típico do ramo do entretenimento. Ou seja, “muitas instalações têm uma qualidade de espectáculo”88. Este momento e visão procuram diluir as barreiras entre cultura erudita e cultura de massas (entretenimento), destinadas, respectivamente, a elites e ao povo. Até certo ponto, a associação da instalação ao cinema que foi referida no capítulo anterior, e que os escritos de Roland Barthes secundaram, já anunciava esta ideia de instalação como entretenimento e torna‐se mais pertinente quanto mais avança no tempo. O livro de Guy Debord “Sociedade de Espectáculo” (1967) vem reforçar esta ideia na arte, criticando‐a. É importante frisar que esta ideia de instalações como espectáculos lança divisões na abordagem do tema. As duas Instalações abordadas anteriormente atraíram milhões de pessoas. Antes de estar completamente montada, a instalação do Reichtag foi vista e fotografada por cerca de cinco milhões de indivíduos; a “Weather Project”, na TATE Modern e explicada no capítulo anterior, por dois milhões. Os números confirmam o poder aglutinador de massas que a Instalação gera, números ao nível de festivais, blockbusters e espectáculos. Esta noção parte do reconhecimento de Guy Debord de uma sociedade espectáculo, cuja obra procurou evidenciar todas as fragilidades entre o mundo do espectáculo e da arte e de como a arte se estava a tornar muito mais num produto comercial do que propriamente imaterial. O que a contemporaneidade veio a confirmar foi que a arte também pode ser conivente com o espectáculo, ou com a cultura de massas, sem perder o seu valor intangível. As instalações de Christo e Jeanne Claude são disso exemplo. E muitas instalações podem servir como catalisadores urbanos, acrescentando‐lhe capital que ajuda, por exemplo, na conformação, reestruturação ou recuperação urbana. Ainda, esta contemporaneidade veio afirmar que pode não existir mal na arte como entretenimento e que a mesma pode, inclusive, ser tão gratificante quanto a outra, a “clássica” (no sentido de tradicional, do que está habituado a ter‐se 76 Ilustração 48: Peter Eisenman, "Holocaust Memorial" (2005, data de inauguração) 77 mentalmente como imagem de arte), ainda que os modus operandi sejam diferentes. Anne Petersen explica isto mesmo no seu artigo científico “The Work of Art in the Age of Commercial Funscapes”. A diversão e o lazer também podem pertencer à arte e o consumismo que subjaz à mesma – é o reflexo de um capitalismo inevitável em todos os campos da vida. Muitas das Instalações no virar do milénio recorreram à tecnologia informática e cibernética para nos imergir em mundos completamente digitais, procurando uma espécie de emulação do nosso corpo de osso e carne, para um corpo de dados virtuais e circuitos internáuticos. Em “Osmose” (1995), Char Davies expande o alcance dos nossos sentidos através da tecnologia para nos imergir num ambiente virtual, de árvores e florestas computorizadas. Uma veste equipada de dispositivos processa o nosso movimento no espaço real para surtir efeitos num espaço digital; uma espécie de capacete projecta quase nos nossos olhos esse ambiente visual. A percepção é posta em análise, porque nos dividimos entre dois espaços, o cibernético e o concreto. O resultado será a confusão e a mistura entre estes dois campos. Ora colidem mas não se misturam, ora colidem e se misturam. Espaços heterogéneos, espaços homogéneos. Quando a tecnologia evolui a noção de continuum também evolui, no sentido em que espaço e tempo assumem novas hipóteses. O espaço virtual, como hipótese alternativa a este espaço natural também se assume atinente na construção arquitectónica cibernética. Museus virtuais, escolas virtuais, instituições virtuais. É todo um novo mundo que se desenvolve perante os nossos olhos, infinito como o universo precisamente pelas tais hipóteses interpoladas e múltiplas matrizes espaciais que fomenta. “Osmose” é uma Instalação pioneira nesta perspectiva, em que os nossos sentidos, respiração (que, no fundo, é que nos faz navegar pela paisagem virtual) e movimento passam a ser activadores e condutores de uma passagem 78 Ilustração 49: Vestuário e capacete usados para a Instalação Artística virtual de Char Davies (1995). Através desta indumentária, obtinha‐se a informação do movimento e da respiração do espectador Ilustração 50: Char Davies, "Osmose" (1995) 79 pelo lugar‐simulacro e cujo objectivo é imergir‐nos na Mãe Terra, na sua natureza e no seu útero. Mas já no capítulo do “complexo” entre a arte e a arquitectura deu‐se o exemplo do “Fluxspace 2.0” dos Asymptote que se basearam de maneira similar numa experiência espacial fomentada pela Internet. No caso da “Osmose” não nos orientamos pelo sol, pela sombra, pelo norte e pelo sul, mas antes pelas acções básicas da nossa vida ‐ movimento e respiração – e pela programação de um computador. Matthew Smith (2007) conclui que esta instalação “é um projecto de retrocartografia89, retomando o espectador a uma primordial forma de mapear o campo”90 alicerçado na experiência. Este capítulo procurou demonstrar as fronteiras últimas onde a Instalação se pode manifestar, partindo da arte pública, passando pela especificidade local ou comunitária até aos novos campos da cibernética e da Interne. Na verdade, o recentemente intitulado movimento New Media Art funda‐se já muitas vezes em Instalações Artísticas. 80 2ª Parte “(…) I am the absolute source, my existence does not stem from antecedents, from my physical and social environment; instead it moves out towards them and sustains them, for I alone bring into being for myself (…) the tradition which I elect to carry on, or the horizon whose distance from me would be abolished (…) if I were not there to scan it with my gaze.” ‐ Merleau‐Ponty, in Phenomenology of Perception (1945) “The world is precisely that thing of which we form a representation, not as men or as empirical subjects, but in so far as we are all one light and participate in the One without destroying its unity” – Ibiden 81 Introdução à 2ª Parte Na primeira parte abordou‐se o conceito de Instalação Artística enquanto meio artístico que conjuga arte e arquitectura. Considerou‐se que a essência deste medium baseia‐se na imersão do sujeito num espaço e tempo especificados pelo artista/arquitecto. Para essa imersão acontecer, a experiência imediata é sempre necessária que, por seu lado, depende da abordagem interactiva que o criador propõe ‐ dividida, sobretudo, entre um espectador passivo ou activo. Enquanto a arte se manifesta num orbe mais intangível, correlacionado com o conceito e parte emocional e cognoscente do mesmo, a arquitectura vincula‐se à abordagem espacial da obra. E o espaço é uma ideia tão vaga, ideal e abstracta que tudo lhe pode pertencer: em termos materiais e também imateriais (ciberespaço). A história da filosofia mostra‐nos inenarráveis abordagens feitas a esta ideia: desde o seu carácter ideal físico ou metafísico, ao comportamento analítico dos seres no mesmo, à experiência perceptiva dos objectos que lá encontramos91. Esta segunda parte do trabalho procura explicar, sobretudo, o conceito de fenomenologia, bem como a leitura do espaço segundo a Sintaxe Espacial. Enquanto o primeiro remonta aos inícios do século anterior, vinculado sobretudo à filosofia, como movimento e disciplina da mesma, o segundo surge vinculado à análise morfológica, estudado e encetado, sobretudo, num âmbito académico. Esta pesquisa, todavia, faz‐se de acordo com um caso de estudo: a Instalação Artística da artista Ana Vidigal no átrio do Pavilhão Central do Instituto Superior Técnico, uma comemoração do centenário desta instituição. Nesta perspectiva segue‐se a descrição e contextualização da obra e do local, sendo que tudo o que foi anteriormente referido atinente à site‐specific art encontra aqui uma concretização detalhada enquanto análise, contemplação, observação e experiência. É importante mencionar que o capítulo concernente à obra “Casa dos Segredos” faz‐se acompanhar de uma entrevista (Anexo 1) à artista que ajuda à transposição entre estas duas partes do trabalho, bem como à compreensão de toda uma série de ideias tangenciais à Arte. No fundo, o que está em causa é uma abordagem à experiência da Instalação numa perspectiva fenomenológica e não a análise crítica da obra propriamente dita; ou seja, não interessa aqui saber como se analisa uma obra de arte, mas sim como o sujeito a 82 percepciona e vive: as suas experiências sensoriais, memoriais, espaciais ou imaginativas. Como apoio à análise da Instalação Artística, recorre‐se à descrição da sua configuração espacial decorrente do modelo sintáctico (Hillier e Hanson, 1984) e as ferramentas que lhe estão associadas (Depthmap 3.0). É importante frisar que é apenas neste enquadramento da descrição do espaço que nesta dissertação se aborda a Sintaxe Espacial. A escolha desta Instalação como caso de estudo relaciona‐se com a facilidade em estudá‐la, devido à localização e ao manancial informativo que teria acesso como estudante do Instituto. Além disso, reunia as condições necessárias para ligar a arte à arquitectura, a arte ao lugar. Diz‐se lugar porque é uma instalação vocacionada exclusivamente para o Pavilhão Central e, como tal, a identidade e o tempo da Instituição são essenciais, como já expliquei, para a construção do objecto artístico. Além disso, esta especificidade local aproxima este medium da arquitectura, porque também ela, quando não é efémera, deve partir da sua localização, do meio onde se irá inserir92. 83 84 Capítulo 6: A Fenomenologia, as Coisas e o Mundo 85 6. A Fenomenologia, as Coisas e o Mundo É que, diga‐se de passagem, com o passar dos anos, esquecemo‐nos do que a arquitectura se alimenta e faz dela uma ‘coisa’ importante. A grande imagem perde‐se. Perde‐se com pormenores: a viga e o pilar, o tijolo, ou então o reboco, pinta‐se desta cor que fica mais fino, etc. Não é que sejam minudências, mas a raiz, a essência da arquitectura, a tal grande imagem, não é isto: é o espaço e o homem. Pensar o espaço e o homem é uma actividade que é relegada para longe e funciona‐se quase por consuetudinários inquestionados, porque o que interessa é vender projectos. Pensar o espaço e o homem é a principal preocupação desta dissertação. Como é que o homem experiencia o espaço? O que é a experiência? Como é que ela se faz? O que é o homem? Como ganha o homem consciência do espaço? Isto requer do arquitecto uma maior capacidade em pensar, ou filosofar, se se preferir. Dizia Merleau‐Ponty numa das suas conferências que “filosofar é procurar, é afirmar que há algo a ver e a dizer. Ora, hoje, quase não se procura. «Regressa‐se», «defende‐se» uma ou outra tradição. As nossas convicções fundam‐se menos sobre valores ou verdades descobertas do que sobre os vícios e os erros das que detestamos”93. Falava o filósofo sobre o estado da filosofia, mas o mesmo se aplica actualmente na arquitectura. O conceito de espaço mais próximo que temos provém duma perspectiva cartesiana, desenvolvida por Descartes, sobretudo o seu entendimento da tridimensionalidade como propriedade espacial. Com Newton esta noção diversifica‐se e temos um espaço absoluto, “sem relação com nada externo”94, e um espaço relativo, ou a distância entre corpos feita através dos sentidos. Com o absoluto vem a procura de Deus que pela sua omnipresença, está em todo o lado e, como tal, é o espaço em si. Leibniz, por seu lado, opõe‐se a este absolutismo conceptual do espaço e afirma que o mesmo é tão só uma relação, uma ordem de fenómenos coexistentes95, e coaduna‐se com o tempo por ser uma grandeza ideal e não real, por “não [existir] espaço real fora do universo material. É com Kant, contudo, que o espaço começa a ter uma conotação de âmbito fenomenológico em comparação com os filósofos anteriores, sendo base de partida às investigações fundadas por Husserl (Ideas, 1913), embora tivesse criticado as concepções transcendentais que Kant formulara. Neste contexto, Kant advoga o espaço como uma “condição da possibilidade dos fenómenos, isto é, uma representação a priori, fundamento necessário dos fenómenos”; era, portanto, “uma intuição pura”96. Para tal, as sensações (visuais, tácteis, olfactivas…) eram indispensáveis. O espaço, e a 86 vivência do mesmo, era o sustentáculo da cogitatio, do pensamento. Em “A Ideia da Fenomenologia”, Husserl (1913) nunca aborda frontalmente este tema, e parece ocupar‐se muito mais com o tempo, do que com o espaço. Actualmente pode dizer‐se que a definição de espaço tem vindo a ser sedimentada por pontos de vistas físicos, geométricos e psicológicos, sendo que estes últimos estão intimamente ligados à ideia de espaço “como objecto de percepção”, bem como à forma hipoteticamente empírica97 ou nativista98 que apreendemos essa mesma ideia de espaço. É sobretudo a percepção dos fenómenos e do espaço que Merleau‐Ponty (Phénomènologie de la Perception, 1945) vai abordar numa perspectiva fenomenológica, encetada a partir dos fenómenos espácio‐temporais, onde o movimento do corpo e a consciência são factores decisivos na investigação fenomenológica. Merleau‐Ponty que, de resto, foi uma figura essencial na teorização e conceptualização de muitas Instalações Artísticas anteriormente abordadas (ver capítulo 3). No entanto, apesar de ter um século de existência, a fenomenologia como disciplina da filosofia ainda não se encontra perfeitamente consolidada, existindo aliás vários pontos de vista sobre ela. Aqui procura‐se o estudo da fenomenologia existencialista, fomentada por Merleau‐Ponty, Heidegger ou Sartre, mas será com os textos de David Seamon que se fará a transição integrada para a leitura da Instalação Artística. Deve deixar‐se claro que nesta dissertação apenas interessa esta fenomenologia, uma vez que é aquela que é secundada por Seamon99, mesmo existindo toda uma série de correntes e abordagens disciplinares no seio desta filosofia: fenomenologia transcendental constitutiva; fenomenologia naturalista constitutiva; fenomenologia genética; fenomenologia hermenêutica… Todavia, é importante deixar uma contextualização histórica do que aqui se problematiza e, para tal, há que abordar necessariamente Husserl, que embora não se insira na fenomenologia existencial, mas sim na transcendental, é ele o principal precursor deste movimento/disciplina e sobre as suas Ideias assentam as investigações dos sucessores Heidegger (seu contemporâneo), Sarte, Merleau‐Ponty ou Bachelard. O termo fenomenologia, como ramo da filosofia, ou disciplina da filosofia, foi estabelecido por Edmund Husserl ao longo da sua extensa obra designada tipicamente por Husserliana. De um modo muito geral, a fenomenologia estuda a experiência do ponto de vista individual, no ponto de vista da primeira pessoa. Como vimos anteriormente, a experiência sintetiza‐se numa série de percepções ou sensações 87 movidas pela intencionalidade atinente a um objecto, paisagem, etc. Neste contexto, o fenómeno, a raiz do vocábulo ‘fenomenologia’ (fenómeno+logia), constitui a aparência das coisas. Segundo Husserl, fenómeno significa “o objecto intuído (aparente), como o que nos aparece aqui e agora”100. A fenomenologia aborda e estuda, portanto, a experiência experienciada numa óptica subjectiva e o significado que as coisas têm nessa mesma experiência, de como o fenómeno se apresenta perante o sujeito e de como são percepcionados pelo próprio. Mas toda esta experiência, e o estudo da mesma, tem como objectivo abordar a consciência, não cedendo contudo a psicologismos e a explicações imediatas das coisas que mostram perante nós. Segundo Lyotard (La Phénoménologie, 1954) a genética da fenomenologia assenta em dois paradigmas que vêm de uma certa degeneração do psicologismo e do sociologismo: “uma forte confiança na ciência instiga a vontade de assentar as suas bases com solidez, a fim de estabilizar todo o edifício e impedir nova crise. Mas, para realizar tal operação é preciso sair fora da ciência e mergulhar naquilo em que ela inocentemente mergulha”101. A fenomenologia de Husserl, baseada nestes dois critérios procura abordar o ante‐racional (embora, e como Lyotard afirma, possa culminar num anti‐ racional). Sendo as bases deste movimento ou disciplina lançada por Husserl, será normal que muitas das obras que se seguem às suas “Investigações Lógicas” sirvam de fundação a muitas outras. Sartre, Heidegger, Bachelard e Merleau‐Ponty passaram pela análise do pensamento husserliano. Contudo, as suas conclusões foram diametralmente diferentes e opostas. Enquanto Husserl defendia uma fenomenologia transcendental, Sartre e Merleau‐Ponty, por exemplo, influenciados pelas ideias de Heidegger, opuseram‐se defendendo uma fenomenologia existencialista. No entanto, o cerne da definição desta disciplina mantém‐se nas palavras gerais de Husserl: “a fenomenologia é a doutrina universal das essências, em que se integra a ciência da essência do conhecimento”102. Merleau‐Ponty, cerca de meio século volvido, refere praticamente o mesmo, acrescentando o que iria desenvolver num vínculo ao existencialismo: “ (…) a fenomenologia é também uma filosofia que coloca a essência de volta à existência e não procura chegar a um entendimento do homem e do mundo que não seja partindo da sua ‘facticidade’” e acrescenta que procura recuperar a primitividade das coisas, o seu estado cru e autêntico, dum mundo que existe antes de qualquer conhecimento103. 88 Tem‐se pois os dois ramos fundamentais da fenomenologia. O primeiro, postulado por Edmund Husserl, defendia a transcendência da consciência, em que a mesma estava apartada de contextos existentes. A fenomenologia transcendental defendia, portanto, o fenómeno como isolado, “puro”. O outro ramo, o existencialista, opôs‐se categoricamente a esta concepção fenomenológica, instando que as coisas existiam num mundo anterior a nós, que esse mundo já existia quando nascemos, e que, como tal, os fenómenos estariam envoltos em contextos sociais, políticos, culturais, ambientais, sexuais, etc. O fenómeno para os existencialistas não esta, assim, isolado, nem se nos afigurava só. Esclarece Lyotard que “a filosofia transcendental, enquanto filosofia do sujeito radical, não consegue integrar uma sociologia cultural”104 e é assim que o existencialismo se apropria da fenomenologia. O existencialismo, por seu lado, defendia que a existência do ‘ser’ não pode ser explicada pelas ciências exactas; que a questão do significa ‘ser’ ou ‘existir’ não algo que se aprende teoricamente, mas sim segundo a experiência da vida. Além disso, foi um movimento que opôs ao excesso de academicismo que a filosofia ocidental vinha a tomar: demasiado preocupada com ideias, a razão, juízos, etc. A filosofia deveria, pois, surgir da própria existência de viver, do quotidiano consciente, mediante o corpo, o sexo, a emoção... Sartre, numa única expressão sintetiza o existencialismo: “A existência precede a essência”, “significando que o ser humano experiencia primeiro o seu mundo e só depois o dota de um significado auto‐consciente, quer seja pessoal, cultural, ideológico ou douto”105. Mas antes de Sartre, Heidegger considerava que para se conhecer a essência das coisas deve‐se proceder à desocultação do ser‐coisa, a “coisidade da coisa”. Essa desocultação advém da meditação da experiência presenciada. Uma coisa é “o que é perceptível nos sentidos da sensibilidade, através das sensações e saber uma coisa é, portanto, “ter visto, no sentido lato de ver, que indica: apreender o que que está presente enquanto tal”106. Deste modo, a raiz do ser, do ente, da coisa, conhece‐se fenomenologicamente. O discurso dum sujeito em relação ao mundo faz‐se pelas palavras, mas a atribuição de uma palavra a um objecto deve fundar‐se no real vivido, na vivência efectuada verdadeiramente. O que acontece é que parte das palavras assumem um significado desenraizado, porque resultam de traduções que não incorporam a experiência do fenómeno que lhe subjaz. Refere Heidegger (1950): “O pensamento romano recebe os nomes gregos sem a correspondente experiência original do que eles dizem”107. 89 Se o fenómeno for, por exemplo, a Obra de Arte, então estas considerações tornam‐se pertinentes porque a arte não pode ser tida como uma representação analisada, cientificada ou sistematizada como aparecem nos manuais. Não podem ser traduzidas. A essência da obra de arte, segundo este filósofo, é a restituição da verdade do ente. Logicamente, a obra de arte é arte, que por sua vez, é Poesia: “a fábula da desocultação do ente”108. No livro que resulta de uma série de conferências por si dadas (A Origem da Obra de Arte, 1950), Heidegger pressupõe que a arte é um exercício fenomenológico capaz de nos evidenciar a crueza dos fenómenos. Ou seja, “os fenomenologistas existencialistas [nos quais se insere Heidegger] baseiam‐se na arte como uma espécie de demostração fenomenológica”109 e que “reorientando‐nos (…) para o mundo, a arte pode mostrar‐nos coisas que de outra forma não conseguíamos ver”110. Disto, verifica‐se que deve existir uma aprendizagem fundada numa diferente forma de ver e não apenas de olhar. Quando se fala em arte, o mesmo serve para a arquitectura, para a escultura ou a música. Assim, é deste modo que a fenomenologia se alia ao existencialismo, procurando esclarecer como explicamos o nosso ser na vida, no tempo e no espaço. Heidegger, Sartre e também Merleau‐Ponty abraçaram a refutação do Cartesianismo de Descartes por Husserl, considerando que a intenção era, pois, a manifestação de que a “consciência é a nossa abertura directa ao mundo” e através dela “a mente e o mundo se tornam inteligíveis”111. Seamon remata dizendo que “um dos objectivos do estudo da fenomenologia existencial é revelar e descrever as várias estruturas vitais e dinâmicas da atitude natural e da vida no mundo112”113. Um exercício deste género fenomenológico ‐ o existencialista ‐ pode ser lido n’A Náusea de Sartre. Transcreve‐se, de seguida, o parágrafo no qual o protagonista, através do método que esta disciplina formou e da tal desocultação do significado das coisas, chega a uma espécie de epifania bizarra da sua existência: “Eu fugia a fazer o menor movimento, mas não precisava de me mexer para ver, por detrás das árvores, as colunas azuis e o lampadário do coreto, e a Véleda, no meio dum tufo de loureiros. Todos aqueles objectos – como dizer? – me incomodavam; teria desejado que existissem com menos intensidade, duma maneira mais seca, mais abstracta, com mais recato. O castanheiro metia‐se‐me pelos olhos dentro. Cobria‐o até meia altura uma ferrugem verde; a casca, negra e empolada, parecia de couro fervido. O leve ruído da água da fonte Masqueret escorria‐me pelos ouvidos e fazia neles um 90 ninho, enchia‐os de suspiros; as narinas transbordavam‐me dum odor verde e pútrido. Todas as coisas, suave, ternamente, se entregavam à existência como essas mulheres cansadas que se abandonam ao riso, dizendo com uma voz molhada: «Rir faz bem»; exibiam‐se umas em frente das outras, faziam umas às outras a confidência abjecta da sua existência. Percebi que não havia meio termo entre a inexistência e aquela abundância extática. A existir‐se, era necessário existir até àquele ponto, até à tumidez, à obscenidade. Num outro mundo, os círculos, as melodias, conservam as suas linhas puras e rígidas. Mas a existência é um aviltamento”114. Mas a revelação veio antes, como um ímpeto que entrou no ser da personagem: “E depois sucedeu aquilo: de repente, ali estava, era claro como a água: a existência dera‐se subitamente a conhecer. Perdera o seu aspecto inofensivo de categoria abstracta: era a própria massa das coisas; aquela raiz estava amassada em existência. Ou antes, a raiz, o gradeamento do jardim, o banco, a relva rala do tabuleiro, tudo se tinha evaporado: a diversidade das coisas, a sua individualidade, já não era mais que uma aparência, um verniz. Esse verniz derretera‐se; restavam massas monstruosas e moles, em desordem – nuas, duma medonha e obscena nudez”115. Estes dois excertos podiam ter sido complementados com muitos outros. Porém, há que notar que este exercício é meramente literário. Através da percepção do mundo que o rodeia, o protagonista, Monsieur Roquentin, toma consciência da sua existência e da essência natural das coisas; de tal forma que a sua existência é assolada por uma náusea, por um transtorno e não raras vezes um tédio e aborrecimento quotidianos. Assim, o que se lê, para além do exemplo fenomenológico, é igualmente uma série de considerações filosóficas que, através da narrativa, Sartre vai expondo ao leitor. No âmago deste exercício está, como se abordou, a percepção individual, no ponto de vista do protagonista. Contudo, há que explicar‐se que no caso d’A Náusea, a fenomenologia surge associada à ontologia, ou seja, a ela se recorre para explicar o homem, “O que é existir? O que é ser?”. Apesar de terem desenvolvido trabalhos e teorias bastante diferentes dos colegas, Bachelard parece encontrar‐se igualmente numa via existencialista, reconhecendo que o excesso de juízos afecta a experiência. Para Bachelard essa experiência forma‐se numa imagem e essa imagem tem um poder revelador e ao mesmo tempo poético e libertador. A imagem está para o fenomenologista, como a tela está para o pintor. Logo, a imagem, segundo o próprio, vem antes do pensamento; é uma espécie de consciência 91 naïve, que se capta instantaneamente e deve ser analisada nesse estado puro. Mas se a imagem vem antes do juízo, do pensamento, ela não advém da mente, mas sim da alma. A imagem poética corrobora a fenomenologia da alma que Bachelard propõe, frisando que existem “forças que se manifestam em poemas que não passam pelos circuitos do conhecimento”. Isto não significa, no entanto, uma recusa e uma diminuição da mente, o que Bachelard preconiza é uma inversão destes dois pólos. Primeiro vem a alma e depois a mente, ambas “indispensáveis ao estudo do fenómeno da imagem poética nas suas várias nuances, sobretudo, porque seguem a evolução dessa imagem poética do estado original do devaneio até à execução”116. É daqui que parte a sua crítica ao espaço Cartesiano, concebendo ferramentas mais humanas ao acto de projectar, como a “topoanálise”, que liga o indivíduo ao espaço íntimo em que habita – nomeadamente o seu lar ou a sua habitação. Deste modo, a obra de Bachelard é da maior importância referir‐se, porque ao longo dos tempos tem vindo a surtir um forte impacto na arquitectura e cujos arquitectos “trabalhando através das imagens das suas almas, criariam (…) espaços que convidam ao conforto”, onde “uma arquitectura não‐ Cartesiana conduzirá a uma ‘geometria habitada’”117. Seamon, num orbe bem mais contemporâneo e informado, estabelece que a fenomenologia existencialista se baseia em três campos/temas fundamentais. (1) O primeiro tema refere‐se à experiência factual, ou seja, “se queremos compreender‐nos como entes vivos e o mundo no qual vivemos, devemos basear esse entendimento numa concepção ou linguagem que surge da e volta para a experiência e significado humanos”118. (2) O segundo refere‐se à imersão individual no mundo que parte da intencionalidade que Husserl desenvolveu primeiramente. A intencionalidade é a orientação voluntária em direcção a um objecto cujo significado se pretende conhecer, num mundo de significado emergente, decorrente. Nesta perspectiva, a tal característica que Merleau‐Ponty descreveu do corpo enquanto sujeito (‘body‐subject’) tem aqui uma importância e um significado igual, porque “a sempre presente qualidade da intencionalidade significa que o sujeito está imerso e entrelaçado no seu mundo”. (3) Finalmente, o terceiro tema diz respeito ao quotidiano de cada um, ao mundo tomado por garantido que normalmente passa despercebido e, como tal, um fenómeno como que ocultado119, o que em inglês se designa por lifeworld. O primeiro assunto abordado por Seamon referia‐se à compreensão da experiência fundada/factual, que, por seu lado, se associa (de uma forma muito geral) às noções de espaço axial e espaço convexo. Do ponto de vista da fenomenologia, estes dois tipos de 92 espaço representam uma tensão entre movimento e repouso; o mesmo tipo de dialéctica que se encontra em expressões vivenciais como “habitar/viajar, lar/horizonte e continuidade/mudança”120. Além disso, a tal semelhança apontada há pouco do espaço ballet e do espaço de função ‘generativa’ manifesta, igualmente, e aqui, a convergência entre fenomenologia e Sintaxe Espacial. Interessa, pois, explicar que o espaço ballet é uma espécie de aglutinação entre rotina corporal, como gestos, comportamentos e acções de base a determinadas tarefas, e rotina espácio‐temporal, acções do corpo que se estendem durante uma vasto período de tempo – a rotina do levantar de manhã, ou a rotina diária do almoçar. Estes espaços criam pontos de comunhão, de significados vários, de troca de experiências e, portanto, são potenciais fundadores de novas experiências; os espaços de aprendizagem também se apresentam como locais de partilhas várias. A respeito desta noção, Seamon conduziu um estudo focado num mercado centurial em Varberg, na Suécia. Nele conclui que todo o mercado assenta numa lógica de espaço ballet, mesmo que os residentes não se apercebam disso. É uma espécie de coreografia de corpos no espaço e no tempo, comunitária e de experiências partilhadas que faz com que “uma dimensão implícita do quotidiano terreno se torne mais explícita”121. É neste sentido de comunidade que este mercado não pode ser visto como um vector exclusivamente económico, mas também social e cultural. Aquele mercado com todas estas três vertentes faz parte da identidade do lugar, como as várias Instalações espalhadas por Veneza, aquando da Bienal. Não a Instalação concreta, mas a ideia que de ‘tempos a tempos’ existe arte e arquitectura espalhadas pela cidade, que agitam as multidões, interagem com o movimento diário, criam ‘regularidades’ e ‘surpresas’, exactamente como no mercado de Varberg. Essa noção de comunidade torna‐se tão mais rica quanto mais específica for em relação ao local onde se implanta. Assim, seria uma noção importante de explorar e compreender, confrontando‐a com artistas e/ou arquitectos que realizam Instalações Site‐Specific. Em suma, o espaço, ou lugar, ballet “fornece um conceito que pode ter um papel de protecção, incremento e criação de ambientes que geram uma sensação de vitalidade, atmosfera e bem‐estar”122. O tema da imersão no mundo representa sintacticamente a simbiose entre movimento humano e a estrutura dos caminhos onde esse movimento tem lugar. Novamente a ideia de intencionalidade fenomenológica, aliada ao corpo‐sujeito dotado de uma pré‐ consciência (como sugerido por Merleau‐Ponty) que o faz movimentar de forma 93 inteligente ou mecânica, constitui aqui um tema de complementaridade entre Sintaxe Espacial e fenomenologia. Para estudar a experiência do espaço há que reconhecer que a experiência está imbuída num corpo e que o mesmo está sincronizado com o mundo. É esta relação especial que faz com que um indivíduo atribua um significado a um qualquer lugar que viveu. Do mesmo modo, o corpo assume‐se como uma medida de todas as coisas da vida quotidiana e é através dessa noção que o sujeito apreende o mundo e se insere nele. Por fim, serão essas imagens que representaram um tipo de síntese da imersão humana no mundo. No limite, quando um espaço penetra cada vez mais em nós ao longo do tempo, passa a pertencer a uma posição “inserção existencial”: o espaço íntimo e familiar, o espaço de pertença, o espaço que é ‘meu’ – a minha rua, o meu bairro, a minha praça, o meu escritório. Dito isto, Seamon reconsidera os três modus operandi no espaço: para além do movimento e do repouso, encontramos ainda o encontro, a confirmação da relação perceptiva do corpo, do sujeito, com o mundo123. Finalmente, o último tema procura lançar luzes sobre a descrição e entendimento da vida quotidiana no mundo (do inglês lifeworld) e aqui o conceito de grelha deformada (deformed grid) é assaz importante. Segundo Seamon, esta grelha constitui os caminhos mais integrados, aqueles, portanto, que se alimentam de outros e formam espaço, zonas, lugares ou ruas de grande dinamismo em todos os aspectos. Esta grelha tanto pode ser um bairro, de percursos reconhecíveis, como de uma cidade ou metrópole, de percursos robustos, variados e extensos. A ligação com a fenomenologia faz‐se, outra vez, com a noção de espaço ballet que também goza desta capacidade de comportar escalas pequenas e escalas maiores e que as cidades são feitas de múltiplos e plurais espaços ballet que se sobrepõem e cruzam, desde “o decorrer diário de ‘lugares terceiros’, aos encontros no passeio de vizinhos habituais, aos encontros acidentais de estrangeiros que passam pelo bairro em direcção a qualquer sítio”124. Estes três temas principais na fenomenologia, por seu lado, poderiam, segundo Seamon, completar as abordagens preconizadas por Hillier e respectivos colegas (Hanson, Peponis, Turner ou Batty), afirmando que a Sintaxe Espacial fornecia “um suporte conceptual e empírico poderoso à ideia fenomenológica de uma relação recíproca entre acção humana – isto é, o movimento espacial quotidiano – e as qualidades do ambiente físico e espacial – as estruturas de percursos latentes no mundo, ou configuração espacial”125 (mesmo que a sua abordagem seja ostensivamente analítica). Esta citação confirma a teoria de Merleau‐Ponty de que o corpo‐sujeito está ‘enredado’ no mundo. 94 Assim, a Sintaxe Espacial, resulta de uma investigação encetada por Bill Hiller e Juliene Hanson na década de 1970 Bartlett Scholl of Graduate Studies, University College of Londoin e publicada como A Lógica Social do Espaço (1984). Integra um conjunto de ferramentas que permitem a representação, descrição e análise do espaço construído com base em relações de natureza topológica – permeabilidade física e visual ‐ estabelecidas entre os vários espaços que constituem a estrutura espacial de uma edificação, também designada por estrutura configuracional. Para tal, a edificação é descrita segundo unidades elementares relevantes – espaços convexos (HILLIER, HANSON, 1984) e campos de visão (BENEDICKT, 1979; TURNER et al, 2001), As plantas de uma edificação constituem a fonte primária desta descrição morfológica. A partir das plantas são criadas representações do espaço com base exclusivamente nos elementos definidores dos espaços, ou seja, nas barreiras ao movimento e à visão. Os espaços obtidos a partir desta representação são designados por espaços convexos ‐ um espaço convexo refere‐se à contenção de uma linha entre dois pontos num polígono ‐ e o menor conjunto destes espaços capaz de representar todo o sistema espacial é denominado de mapa convexo. Num espaço convexo pessoas e coisas estão no mesmo campo visual, tendo uma relação directa de visibilidade e de acessibilidade. A relação de acessibilidade pode ser descrita pela rede de conexões estabelecidas pela permeabilidade entre espaços convexos adjacentes – existência de passagem, por exemplo. Como refere Amorim et alt em “Da restauração do espaço da arquitetura: o Instituto de Antibióticos”126: “uma forma de descrever as propriedades dessa rede é pela introdução da ideia de profundidade topológica, medida pelo número de espaços que intervém na passagem de um a outro. Portanto, espaços adjacentes distam um do outro de 1 “passo” e se houver a intermediação de um ou mais espaços, a profundidade será definida pelo número de intermediações. Sendo um sistema relacional, a sua representação por meio de grafos permite quantificar diferentes propriedades. No sistema de representação, os espaços convexos são representados como nós (círculos no grafo) e as conexões como linhas, e pode ser justificado (organizado) a partir de qualquer de seus espaços, revelando de maneira mais evidente quão raso ou profundo este espaço é com relação ao sistema e qual o número de conexões que estabelece com os espaços adjacentes. Dessa forma é possível identificar, por exemplo, sistemas sequenciais – onde cada espaço dá acesso a apenas outro espaço, ou, ao contrário, se são oferecidas alternativas de movimento – vistas como anéis no grafo” 95 O sistema de representação de campos visuais, denominado de visual graph analysis (VGA), ou análise gráfica de visibilidade (TURNER et al, 2001) é baseado num grafo de mútua visibilidade de todos os pontos para todos os pontos num dado sistema espacial. Este sistema de representação, descrição e análise é baseado no preenchimento do espaço por uma malha de pontos e as condições de mútua visibilidade entre esses pontos é expressa por uma matriz preenchida por 0, quando não há visibilidade entre os pontos, e 1, quando há. A partir desta matriz de relações é possível extrair as mesmas variáveis descritas anteriormente no sistema de acessibilidade, como conectividade (visual) e integração (visual) A representação gráfica dos campos visuais “mostra as áreas que são visíveis dos espaços convexos ou das linhas axiais” a partir de um determinado ponto. O resultado é um esquema de polígonos coloridos atinentes a essas áreas ou a esses campos de visão. É, portanto, uma medida de síntese entre o alcance visual e físico. Estudos vários explanam a conivência entre espaços agregadores de fluxos e a abrangência visual. Em condições ideais, pode chamar‐se a um espaço de integrado quando nele confluem movimentos diversos e constantes fruto de uma fácil acessibilidade ou alcance, resultando em cores de representação quente. Por seu lado, um menor alcance ‐ físico e visual – assenta em cores frias com conotações de ‘segregação’ ou ‘marginalidade’. Conclui‐se, pois, ser humano é existir num espaço e num tempo. E ser humano é ser plural com as coisas e com os outros que nos rodeiam através da experiência, da percepção da mesma e do corpo que se dirige a essas coisas. Os lugares surtem significados íntimos no indivíduo, significados esses que orbitam entre as sensações e as emoções da vivência desse lugar. Por conseguinte, estes espaços significantes ajudam‐ nos a criar representações singulares do espaço habitado, criando grelhas topológicas distintas partindo da forma como nos movimentamos em acções breves e em acções prolongadas. Doravante, deve considerar‐se um lugar nestes moldes e reconhecer que se um lugar repercute em nós um significado, o contrário também se verifica, ou seja, através do movimento, dos encontros e desencontros, das relações e correlações de espaços habitados, os indivíduos conferem características e ambiências ímpares e reconhecíveis. E esses lugares não têm necessariamente símbolos arquitectónicos que lhe confiram uma identidade distinta, são antes a vitalidade do homem para com o espaço e do espaço para com o homem, os fluxos físicos e metafísicos que se criam127. Estas conclusões derivam da fenomenologia, uma disciplina que ajuda a descortinar todas estas relações entre o mundo e as coisas e o homem. 96 Termina‐se, ainda, reiterando a importância da linguagem que se toma por adquirida, mas que cujo uso devido e essência compreendida ajuda a descodificar muitas ideias. Ser e estar um só verbo, como a língua anglo‐saxónica preconiza: “To Be” é ser e estar: eu sou num lugar, eu estou num lugar; eu sou num tempo, eu estou num tempo. Termina‐se, também, frisando que a nossa história não é uma sucessão de acontecimentos temporais genéricos, é antes uma sucessão de experiências fundadas num corpo e num mundo, em que o corpo e o mundo estão interligados numa harmonia quase cósmica. Esta noção serve já de propedêutico ao próximo capítulo. 97 98 Capítulo 7: Da Percepção, da Experiência, das Sensações e (ainda) da Fenomenologia 99 7. Da Percepção, da Experiência, das Sensações e (ainda) da Fenomenologia Se com esta dissertação se pretende estudar a percepção de uma Instalação Artística, do ponto de vista fenomenológico, deve chegar‐se a uma unanimidade sobre o que realmente significa isto de “percepção”. Todavia, há que reconhecer que não se poderá ser totalmente assertivo, uma vez que parece ser um conceito mutável com o tempo e com isto entenda‐se que se altera quanto mais conhecimento sobre o Homem e os seus processos se junta. Além do mais há que reconhecer a limitação desta dissertação e pensar que este é um tema que não será, à partida, densamente explorado, uma vez que isso implicaria meses extensamente sucessivos e intensivos de investigação, algo que actualmente não é facultado a quem escreve uma dissertação nestes parâmetros. Refere‐se, pois, que as breves páginas que se seguem são um brevíssimo compêndio de leituras várias, que tocam no tema da percepção. O que se pode dizer em primeiro lugar é que o estudo da percepção foi um dos grandes problemas da Filosofia. Desde Leibniz a Kant, desde Husserl, a Merleau‐Ponty. No entanto, com o desenvolvimento das neurociências e da psicologia, novas noções se instalam sobre este tema e, assim, actualmente, este conceito tem vindo a ser problematizado numa dialéctica entre Filosofia e Ciência, em que Maurice Merleau‐ Ponty foi pioneiro. No campo da Filosofia, o conceito de percepção não teve, de todo, consensos entre as figuras mais proeminentes de cada época. Leibniz128, por exemplo, considera que a percepção é a reprodução de muitas partes num todo único ‐ ou seja, a súmula sintética entre coisas. Como ele próprio expõe, “o estado passageiro que compreende e representa uma multiplicidade na unidade ou na substância simples”129. A percepção era algo que se encontrava em nós, ou melhor, na nossa mente. Outra perspectiva sobre a sua visão pode formular‐se da seguinte forma: (1) “cada substância tem uma série de percepções estipuladas por Deus para jogarem umas com as outras em harmonia”130, onde se conclui que (2) a percepção é algo transcendental, coincidente com a sua oposição à ideia de tábua rasa131. A Monadologia, sob a forma de Idealismo, prende‐se com isto que foi referido na oração passada: (3) “a percepção e a consciência não podem possivelmente ser explicadas mecanicamente”, ou seja contrariamente ao espírito. Com Kant (Crítica da Razão Pura, 1787), e a sua conciliação entre filosofias, a percepção ganha nova acepção e define‐se como uma “consciência empírica, isto é, ‘uma 100 consciência acompanhada de sensações’”132. Esta percepção advém da experiência, ou melhor, a experiência é resultado de uma série de percepções ordenadas. Kant recorre ao exemplo de uma casa para explicar a percepção: temos uma perspectiva que nos permite ver apenas uma parte da casa – uma janela e o reboco circundante ‐, vamos contornando a casa e temos novas perspectivas – da porta, da cornija, do frontispício; estas perspectivas aparentes são as percepções que se unem para formar a ideia de casa, a experiência. Contudo, é importante referir que Kant objectou o princípio da monadologia de Leibniz, afirmando que a percepção tinha fundações naturais, mecânicas e estáveis. George Berkeley (Princípios, 1710), numa linha tangencial a Leibniz, advogava dois tipos de percepção: uma mediata e outra imediata. Neste contexto, os objectos, como uma casa ou um jardim, inserem‐se no mediatismo; as ideias, por seu lado, no imediatismo. Desta forma, percebemos indirectamente, mediatamente, as coisas materiais, percebendo directamente, imediatamente, ideias ‐ que são dados dependentes da mente133. É nesta cláusula do mediatismo dos objectos que encontramos igualmente a percepção do ponto de vista fenomenológico. De um modo muito geral, o argumento que apresenta é este: (1) “temos a percepção de coisas comuns (casa, montanhas, etc.); (2) temos a percepção apenas de ideias; (3) [portanto, essas] coisas comuns são ideias”134. No entanto, antes de se avançar mais, é imprescindível abrir‐se uma adenda aos filósofos racionalistas. Descartes (Tratado da Luz, 1664) e Espinosa (Ética, 1677, publicação póstuma) consideravam a separação entre sensação e percepção. Se até aqui a percepção, exceptuando Kant, se ia inserindo com algum pudor no orbe da sensação, com estes dois últimos filósofos tudo se altera. Defendiam eles que “a percepção é sobretudo um acto intelectual”, que se baseava na “apreensão de objectos sensíveis”135. Doravante, com o advento da psicologia moderna, seria esta a noção vertebral a adoptar para a percepção. Diz‐se aqui de base porque isto depois evolui, como veremos adiante. O que se conclui com estes últimos pensadores é que no idealismo e no realismo, o conceito de percepção jogava‐se, sobretudo, entre o “puro pensar e o puro sentir, bem como entre o sujeito e o objecto”136. Numa linha doutrinal assaz diferente, mas conivente com o mediatismo atribuído ao idealismo, os fenomenologistas, sob a alçada de Husserl (Ideias) e Brentano, concebiam duas percepções: uma interna e outra externa. Na interna poder‐se‐ia inscrever ainda as 101 percepções sensíveis perante uma coisa real; na externa, as percepções categoriais quando confrontadas com coisas ideais. Nesta doutrina, não se consegue atribuir à percepção uma qualidade sensível e individual, portanto subjectiva, nem uma qualidade puramente da inteligência. É antes na união entre estes dois estados que a percepção se manifesta. De acordo com o Dicionário de Filosofia de José Ferrater Mora (1989), podem‐se destacar três itens na percepção fenomenológica: primeiro, a percepção radica na consciência, “o sujeito que percebe não ‘interpreta’ ou ‘decifra’ um mundo supostamente caótico [e] qualquer percepção se apresenta dentro de determinado horizonte e no mundo”; segundo, a percepção não se pode reduzir exclusivamente a um parâmetro psicológico e; terceiro, já numa perspectiva existencialista, “o mundo percebido é o fundo sempre pressuposto por qualquer racionalidade, valor e existência”. Não esqueçamos que a fenomenologia via a percepção de um objecto como algo que não é imediato, que ter que ser ponderado várias vezes, sob ângulos diferentes, tocado. Há como que uma proporção temporal na experiência ou na vivência que algo, o que acaba por ditar a percepção cabal, ou não, de um determinado fenómeno. Além disso, os fenomenologistas acreditam que para um objecto existir, basta acreditar que as informações sensíveis de várias naturezas foram, estão, serão, ou seriam experienciadas, mediante condições determinadas. Essa informação sensível, por seu lado, assenta numa espécie de base de dados não‐física que arquiva as qualidades sensíveis de um indivíduo137. Mas o que dita a existência de conhecimento é a intencionalidade, “o acto do entendimento dirigido ao conhecimento de um objecto”138. Brentano considera que a intencionalidade lida apenas com actos mentais dirigidos a algo exterior a si próprios. Husserl, através da introspecção, considera que existe também a formação de conhecimento quando dirigimos a intencionalidade ao interior139. Segundo ele, existem dois tipos de intencionalidade: (1) a “do acto, que é aquela dos nossos julgamentos e daquelas ocasiões em que tomamos uma posição (…)” e (2) a operativa, “a que produz a natural e ante‐predicativa unidade do mundo e da nossa vida, sendo manifestada nos nossos desejos, das nossa avaliações e na paisagem que vemos, mais claramente do que no pensamento objectivo”140. Ou seja, e em jeito conclusivo, para Husserl a experiência pauta‐se por percepções e “na percepção, por exemplo, está obviamente diante dos nossos olhos uma coisa; está aí no meio das outras coisas, vivas e mortas, animadas e inanimadas (…) e, em parte, está também dado no nexo da recordação”141. Estas considerações fenomenológicas sobre a percepção acabariam por consolidar as teorias da Gestalt e sobretudo as de Merleau‐ Ponty que parece aceitar o argumento da intencionalidade de Husserl categoricamente. 102 Do ponto de vista psicológico há que abordar a Gestalt142. O termo ‘gestalt’ é um vocábulo alemão que designa ‘forma’. A representação dessa forma pela percepção foi a base de toda a Teoria da Gestalt, ou seja o modo como a nossa psique apreende os objectos em nosso redor através dos órgãos sensoriais e de que modo são estas sensações representativas ordenadas pelas estruturas mentais. Mais tarde houve uma preocupação com a percepção interna e a teoria complexificou‐se: “(…) conceitos análogos à forma espacial podem não só ser aplicados a objectos complexos de percepção (…) mas também a objectos que têm uma complexidade que se estende no tempo”143. Por conseguinte, passa a considerar‐se o sentimento, os estados de alma e as emoções. O já mencionado Brentano adoptou muito do pensamento Gestaltiano; Husserl também reconheceu muitos conceitos como válidos, referindo‐os na sua Husserliana, contudo mais comedidamente; mas seria por Merleau‐Ponty com o seu livro “Fenomenologia da Percepção” (1945) que as teorias da Gestalt seriam retomadas de uma forma decisiva, principalmente na sua abordagem do corpo perante as formas simples (como o cubo) e à percepção fenomenológica, socorrendo‐se ainda do estudo com amputados de guerra e a sua percepção da extensão dos coutos quando estimulados (no original: “the phantom limb”). Mas voltando à fenomenologia, com Merleau‐Ponty, o que se nota na leitura do livro “Fenomenologia da Percepção” é a migração de conhecimentos vindos da psicologia para este campo da filosofia. O título evidencia desde logo o que o filósofo se propõe fazer: investigar a percepção do ponto de vista da fenomenologia, isto é, como experienciamos a percepção; ao mesmo tempo advoga uma primazia da percepção sobre o pensamento analítico144. Segundo Ferrater Mora (1989), “a fenomenologia da percepção tem uma base psicológica, mas um propósito ontológico” – a ontologia, de uma forma muito abreviada, é o estudo do ser, ou do ser sendo – e “a análise fenomenológica da percepção mostra‐nos que há nela uma síntese de índole ‘prática’, a qual é possível porque percebeu no mundo a forma das diversas relações entre os elementos da percepção”. Essa relação, habitualmente, dá‐se entre o nosso corpo e os objectos. Mas o nosso ser, apesar de se conhecer no espaço e no tempo, opera entre estados psíquicos e fisiológicos. Além disso, e mais importante ainda, a experiência que Merleau‐Ponty elaborou com amputados de guerra permitiu concluir que existe uma espécie de memória emocional que faz com que os pacientes sentissem a perna como um todo, mesmo que decepada, com término num couto. Daqui, Merleau‐Ponty estabelece a validade do empirismo, uma vez que esta doutrina era incapaz de prever 103 tal ‘sensação’ e começa a aprofundar a percepção que um indivíduo tem do seu próprio corpo. Para além da parte psíquica e fisiológica, há toda uma dimensão memorial e emocional que afecta a percepção que temos de nós mesmos e o nosso corpo não pode ser visto como um objecto, mas antes como um “estar‐no‐mundo”. Mas, atenção, o empirismo que aqui se aborda não é o positivista, como comumente nos é ensinado nos manuais de filosofia; é antes o que David Seamon denomina de “empirismo radical”, o modo como o “inquiridor procura abrir‐se ao fenómeno e permitir que se mostra por si mesmo, na sua plenitude e complexidade, através do seu envolvimento directo e compreensão”145. Esta nova visão do empirismo exclui a teoria apriorística nimbada de conceitos e juízos anteriores à experiência e funda‐se na ideia de que o conhecimento, ou o entendimento, “surge directamente da sensibilidade e atenção do investigador, em vez das habituais construções em segunda mão da ciência positivista”146. Para tal, as intuições também são importantes, o momento imediato em que o objecto é apreendido, despojado de preconceitos. O corpo é, então, “um veículo do ‘estar‐no‐ mundo’, e ter um corpo é (…) estar envolvido num ambiente definido”, tornando‐se o corpo num medium147. Assim, mesmo que um indivíduo esteja amputado, ele não deixa de conseguir percepcionar o mundo; o corpo adapta‐se148. Merleau‐Ponty aborda o tema da percepção do capítulo “A Teoria do Corpo já é uma Teoria da Percepção” (Phenomenology of Perception, 1945), no qual recorre a um objecto elementar como o cubo. Ora o cubo, na verdadeira acepção do objecto‐conceito – “volume‐de‐6‐faces” – não existe. Nós é que nos fazemos utilizar do nosso corpo e através da nossa intenção projectada ao cubo o vemos em posições diferentes, sob ângulos distintos, em perspectivas e tempos diferentes. No fundo, é através da desconstrução do sólido que o percebemos, porque “o cubo com seis lados iguais não só é invisível, como inconcebível”. Isto é, através da desconstrução das coisas, constroem‐ se essas mesmas coisas. A percepção surge paulatinamente, investigando, experienciando o objecto em várias formas: “Ao me movimentar em torno [do cubo], vejo a face frontal, logo um quadrado, mudo a sua forma, depois desaparece, ao mesmo tempo que os outros lados aparecem à vista e a um por um se tornam quadrados. Mas os sucessivos estágios desta experiência servem simplesmente para eu ter a oportunidade de conceber o cubo por inteiro, com os seus seis lados simultaneamente iguais, a estrutura inteligível que produz a sua explicação”149. Parte integrante da percepção e da experiência é a sensação. Aliás, Merleau‐Ponty acrescenta‐se ainda que as sensações, no entanto, não são nem estados, nem 104 qualidades, “apresentam‐se com uma fisionomia motora, e estão envolvidas numa significância vital”150. Para sentir um fenómeno que seja uma cor, por exemplo, o corpo‐ sujeito – nunca se deve encarar o corpo e o sujeito como entidades separadas numa experiência – percepciona‐a segundo uma atmosfera própria e é dessa comunhão e coexistência entre ambiência e corpo‐sujeito que as sensações se manifestam151. Conclui‐se com isto, que sensação e percepção não são muito diferentes. Este filósofo, inclusive, afirma não distinguir entre estes dois conceitos. As Instalações que adoptaram a cor como ‘fenómeno’ procuraram esta mescla entre o espectador e o ambiente que a tal cor produziu e interromper esta experiência seria interromper o deleite das sensações. As instalações de Olafur Eliasson são disso exemplo. Todavia, quem fala de cor fala de tudo: duma paisagem, dum lugar, etc. Por conseguinte, das sensações forma‐ se um estado de plenitude e de unidade, de tornarmo‐nos unos com o mundo. Bachelard refere muito esta unicidade entre o homem e o espaço no seu livro “A Poética do Espaço” (1958), servindo‐se de uma passagem poética de Pierre Albert‐Bireau: “E com um traço da caneta escrevo‐me | Senhor do Mundo | Homem ilimitado”152. No entanto, para isto tudo se concretizar, deve considerar‐se a suspensão do pensamento objectivo com o objectivo de eliminarmos definitivamente preconcepções que podem claudicar a vivência da alma e que, por seu lado, podem ter ocultado um manancial importante de sensações. Assim, ao suprimir‐se momentaneamente o pensamento objectivo pode chegar‐se ao âmago, ou à essência, de um objecto e é neste sentido que se atinge a imersão numa Instalação Artística: “no seu próprio jeito, cada sensação revela o núcleo, ou estrutura, de um objecto, e por esse meio comunica igualmente com os outros sentidos”153. A isto Merleau‐Ponty chama de ‘síntese perceptiva’ – a “unificação das nossas experiências sensitivas”154. Nos últimos parágrafos percebe‐se a insistência da abordagem do corpo de acordo com Merleau‐Ponty, embora não se perceba exactamente o que significa o corpo para o mesmo. A consciência que o sujeito tem de si e do mundo provém do corpo, sobretudo do corpo em movimento. A consciência do mundo faz‐se através do corpo e a consciência do corpo mediante o mundo. Aqui se percebe a reciprocidade entre nós e o universo, e por aqui se percebe igualmente a expressão estar‐no‐mundo, ou ser‐no‐ mundo. Nesta perspectiva, dizer‐se “que o corpo habita o tempo e o espaço significa que nos podemos estender nestas categorias, podemos esticar os nossos corpos e transcender os limites do tempo, e podemos mudar o nosso modo de estar‐no‐mundo, apropriando‐nos e adquirindo as coisas à nossa volta”155. 105 Por sua vez, compreender a nossa relação com o outro é perceber que o nosso corpo existe no num mundo uno e que “devemos, por consequência, descobrir, anteriormente a qualquer separação, uma coexistência do Eu e do outro num mundo inter‐ subjectivo”156. O sujeito da percepção (e isto parece líquido para a maioria dos fenomenologistas existencialistas) é, pois, e como já fora aflorado, o corpo dotado de uma pré‐consciência que o orienta no quotidiano e aqui reside a solução para a teoria do dualismo (matéria e espírito como entidades separadas) que se tinha aberto com Descartes sobretudo. Reconhecer esta cogitatio existente antes de tudo, é reconhecer que corpo e alma são o mesmo, sendo ao mesmo tempo esta união do corpo‐sujeito a chave para o entendimento de toda a linha teórica e filosófica de Merleau‐Ponty. O mesmo corpo que sente ou percepciona, não através das suas partes individuais – a visão primeiro, o tacto a seguir, o olfacto, depois –, mas no seu todo; sentir, portanto, com o corpo todo. Logicamente será também com o corpo que o espaço se percepciona. Mas o espaço, será o veículo de todas as percepções e sensações do ser‐no‐mundo, de todas as experiências. O espaço não pode ser visto como um somatório de arranjos métricos, nem de percepções desprovidas de significados, nem tão pouco de disposições das coisas, ou de objectos. Como Merleau‐Ponty explica: “a percepção do espaço não é uma classe particular de ‘estados da consciência’ ou actos. As suas modalidades são sempre uma expressão da vida inteira do sujeito, a energia com que ele tende em direcção a um futuro através do seu corpo e do seu mundo”. Dito isto, será através da profundidade, ou da distância – de um sentido aliado a um significado (a palavra francesa sens denota este duplo sentido) em direcção às coisas – que este filósofo esclarece o espaço. “A distância não é uma relação externa entre coisas; é, antes de mais, a relação dialéctica entre corpo no sentido fenomenológico e o seu mundo”157. No limite, esta noção de profundidade/distância será a ligação com o tempo: o passado e o futuro mediante um presente. Algo onde o movimento também joga um papel fundamental porque coaduna um desfasamento espacial a um momento temporal, o que leva Merleau‐Ponty a convidar ao prazer em disfrutar o espaço158. Se se pretende estudar a percepção do espaço do ponto de vista da fenomenologia existencialista, secundada por David Seamon, e fulcral nesta dissertação, todo o pensamento de Merleau‐Ponty torna‐se fundamental a respeito deste tema. Neste contexto, e segundo este último pensador, a percepção é um cômputo de sensações 106 que o indivíduo encontra no mundo através do seu corpo e das relações que o mesmo estabelece com a envolvente. Não existe qualquer coisa como o sentir elementarmente. As sensações são resultados de arrebatamentos e atmosferas que vibram no interior do corpo‐sujeito. Por seu lado, estas conclusões (impossíveis sem o contributo das teorias da Gestalt, as experiências que concretizaram e os pensadores que formaram no seu seio) viriam a fomentar a crítica Cartesiana que insistiu em separar e em “distinguir entre sujeito e objecto, a clássica dicotomia entre mente e matéria, consciência e coisas”159. Um artista capaz de fazer uma resenha sobre toda a matéria teórica e vagamente abstracta até aqui exposta, e fazê‐lo do ponto de vista prático, é Robert Morris que se baseia na elementaridade das formas da gestalt e na “Fenomenologia da Percepção” de Merleau‐Ponty. A importância do corpo como medida e noção de escala, a relevância da experiência e da percepção, do espaço e da relação entre as coisas, etc., foram constantes na maior parte das suas Instalações Artísticas minimalistas. De facto, quando se percebe pelos escritos de Merleau‐Ponty que o sujeito é indivisível do mundo ou dos objectos e que a vivência diária é uma interligação de momentos, espaços e sensações ou percepções, abriu‐se um novo caminho na produção de arte. Morris compreendeu tudo isto e vincou a percepção dos objectos minimalistas à totalidade do corpo; já não importava apenas a visão, mas também o tacto, o olfacto, a audição. Percebeu, portanto, como já se referiu, que se percebe o mundo e se sente com o corpo inteiro, com todos os sentidos, não individualmente, mas ao mesmo tempo – por isso é que as experiências são ao mesmo tempo complexas e ricas. Aliás, o seu grande mote diz que “simplicidade da forma não é necessariamente simplicidade de experiência”. Importa, portanto, a luz, a cor, a textura, o tamanho, a profundidade e o volume e a captação do objecto em várias perspectivas e em vários tempos e condições lumínicas. Estas novas variáveis estão expressas em dois artigos que Morris escreveu para a revista Artforum intitulados “Notes on Sculpture” (1966). Nele traça as novas concepções da escultura face aos desenvolvimentos da Gestalt e da Ilustração 51: Robert Morris, "Untitled (L‐Beams)" (1965) fenomenologia, procurando advogar a ideia de que é necessário “retirar todas as 107 relações internas desnecessárias da escultura e mudar o centro de interesse para o espaço e para os observadores”160. Parece seguro afirmar‐se que Morris foi uma espécie de executor das teorias de Merleau‐Ponty. As suas Instalações Artísticas “Untitled (L‐ Beams)” (1965) e “Hanging Slad (Could)” (1964) sintetizam do ponto de vista prático o que foi referido anteriormente. A obra exibiu‐se numa vasta sala com três esculturas em forma de L gigantes, pintadas em branco. As peças eram todas iguais, de iguais dimensões, cor e material, mas a percepção que os visitantes tinham era diferente: dependendo do arranjo, da disposição, da perspectiva, da sombra e dos raios luminosos, e da posição do corpo entre as peças, os L’s pareciam diferentes. Como o próprio artista refere, “você vê uma forma – este tipo de formas com a simetria que têm ‐, vê as formas, crê que as conhece, mas nunca vê o que conhece, porque vê sempre a distorção e parece que conhece no plano da perspectiva”161. No entanto, esta disciplina filosófica da fenomenologia está presente em maior destaque noutro artigo seu: “Some Notes on the Phenomenology of Making”, escrito igualmente para a revista Artforum, em 1970. Aqui, todavia, o enfoque vai para a arte enquanto acto de produção por parte do artista, referindo o exemplo de Jackson Pollock como um caso máximo de concepção fenomenológica, “onde a ordem não é procurada em sistema apriorísticos de lógica mental, mas em “tendências” inerentes a uma interacção entre materiais/processo”162. Segundo ele, “o trabalho de Pollock envolvia directamente o uso do corpo inteiro”163 e onde se nota também o desapego pelas coordenadas Cartesianas em detrimento de outras mais próximas do homem. Assim, não importa apenas a forma como o espectador se apercebe da obra, mas como ela mesma é concebida. A fenomenologia é válida tanto para a experiência do indivíduo enquanto observador activo, como para o artista enquanto criador. São estas ideias que permeiam, de diversas formas, o trabalho de Robert Morris, de vários minimalistas e de alguns participantes da Land Art. Deste modo, o lugar é importante, porque é ele que estabelece as variáveis pelas quais a interacção entre o corpo e o espaço se rege. Em suma, a base de todo o conhecimento é a percepção e o corpo substrato dessa percepção. Percepção e sensação são indistinguíveis porque são linhas da mesma teia da experiência do ser‐no‐mundo, com o corpo‐alma/corpo‐sujeito e as coisas. É nesta linha de raciocínio, aliada à sintaxe espacial, que se estudará a Instalação Artística da artista Ana Vidigal, onde os textos de Seamon serão fundamentais. 108 Ilustração 52: Robert Morris, "Hanging Slab (Cloud)" (1964) 109 110 Capítulo 8: Aplicação prática à “Casa dos Segredos” | Metodologias aplicadas 111 8. Aplicação prática à “Casa dos Segredos” | Metodologias aplicadas A análise de qualquer objecto, obra, habitação, etc., implica o recurso a métodos que ajudem a explicar a sua natureza, da mesma forma que um fenómeno implica normas mínimas para a elucidação da sua essência experiencial ou perceptiva. Mas dizia Nabokov (1915) no prefácio que escreveu para “A Metamorfose” de Kafka: “Podemos decompor a história, podemos descobrir como encaixam os seus elementos, como uma parte do esquema corresponde a outra; mas tem de haver em nós uma determinada célula, um determinado gene, um determinado gérmen, que vibre em resposta a sensações que não podem ser definidas nem descartadas”164. Reconhecer estas eventuais incógnitas que podem surgir na análise, é reconhecer que estamos perante algo do foro artístico e que só pode ser compreendido pelo próprio corpo‐sujeito. É pois, com este breve excerto, onde se conclui que uma análise fenomenológica, da essência das sensações/percepções numa experiência, secundada de uma análise sintáctica – e não ao contrário – que se inicia o estudo da Instalação Artística “Casa dos Segredos”. A “redução fenomenológica” é uma espécie de voltar à experiência directa, de voltar atrás, à essência das coisas; dar voz à vivência. Ou melhor: “A redução é uma espécie de atenção reflexiva que deve ser praticada para que o entendimento fenomenológico ocorra. A redução é, consequentemente, não apenas um método de pesquisa, como também descreve a atitude fenomenológica que deve ser adoptada por qualquer um que deseje participar nas questões que um determinado projecto persegue”165. No entanto, não se deve confundir esta redução como um reducionismo, antes pelo contrário, a redução fenomenológica é, ironicamente, a descrição extensa, por meios variados, de uma vivência. Geralmente recorre‐se ao texto, mas a arte também pode ser um excelente e verosímil exercício de redução166. Então, e de um modo muito geral, a redução fenomenológica é pedir emprestadas as palavras dos inquiridos, ou dos participantes, e com isto iniciar o estudo da percepção consciente das experiências. Quando a peça esteve exposta não se conheciam os métodos mais indicados para a tradução da perspectiva fenomenológica em medidas concretas. Ainda assim, os questionários realizados, com o apoio da Professora Teresa Heitor, consistem num método válido que se insere igualmente no vasto grupo de ‘reduções fenomenológicas’. Verificam‐se, pois, três métodos principais de redução fenomenológica167: 112 O ‘descricionista’, em que as pessoas descrevem atentamente, nos seus próprios termos, o que vêem, o que sentem, como percepcionam e o que apreendem ‐ Seamon designa este método por “pesquisa fenomenológica da primeira‐pessoa”. Nele incluem‐ se textos, esquemas, anotações soltas ou até mesmo desenhos do próprio. O método fenomenológico‐existencial que engloba grupos de indivíduos em contacto com o local em estudo e cuja matriz assenta num questionário formulado pelo investigador principal168 que traça os marcos e guias que conduzem a indagação do inquirido. Seamon assinala quatro linhas vitais para a concretização deste método de investigação: “(1) identificar o fenómeno no qual o fenomenologista está interessado; (2) reunir respostas descritivas dos inquiridos em relação à sua experiência do fenómeno; (3) estudar cuidadosamente essas respostas com o objectivo de identificar qualquer ponto comum ou padrão; e (4) apresentar as descobertas aos inquiridos (…) e aos colegas investigadores (…)”169. O método fenomenológico‐hermenêutico assenta na interpretação de dados, geralmente associados a diários escritos que podem ter informações importantes sobre a experiência pessoal de pessoas desconhecidas ou que “não estão disponíveis para comentar [o seu texto sobre] a sua produção ou significado”170. Por exemplo, ao analisar‐se o excerto atrás colocado d’”A Náusea”, de Jean Paul‐Sartre, requer‐se algum conhecimento sobre hermenêutica. Assim sendo, o método optado é o segundo, o fenomenológico‐existencialista, que de resto é o mais recorrente na maior parte das investigações académicas e geralmente se formulam sob um formato de questionário. 113 114 Capítulo 9: “Casa dos Segredos” | Descrição do Caso de Estudo e da Experiência Pessoal 115 9. “Casa dos Segredos” | Descrição do Caso de Estudo e a Experiência Pessoal Casa dos Segredos foi o título que a artista Ana Vidigal atribuiu à Instalação Artística que elaborou a convite do Instituto Superior Técnico. O motivo deste convide prende‐se com a comemoração do centenário desta instituição fundada em 1911, com Alfredo Bensaúde como primeiro director, na transição entre regimes políticos (da monarquia para a república). Contudo, o complexo universitário, da autoria do arquitecto Pardal Monteiro, surge mais tarde na data de 1936, em plena república ditatorial, e é sobre este campus que a artista recolhe toda a informação e projecta a sua ideia. No livro editado na ocasião da inauguração da exposição, constata‐se uma série de fotografias dos vários departamentos de cursos e disciplinas nos quais a artista recolheu informação e inspiração. O livro, por si só, é uma obra informativa e artística excepcional, e que por se ter criado num media convencional terá, seguramente, uma vida mais prolongada que a própria Instalação Artística. Neste livro, por ora, restam apenas palavras e intenções de uma obra física que já não existe e não pode ser experienciada e que só a imaginação pode reconstruir no futuro. O livro não mostra nenhuma foto da obra terminada, pelo que é uma ponta de véu levantada sobre o que esteve durante semanas em exibição no Pavilhão Central. O livro é o conceito por concretizar, as frases por materializar, e que este trabalho, na sua modesta execução, pelo menos, vem concretizar, mostrando imagens da Instalação montada e vivenciada pelos alunos, professores, assistentes, funcionários, etc. Pelo título percebe‐se que o conceito da Instalação baseia‐se na ideia de segredo. Esta ideia, porém, não tem um vínculo imediato com a realidade da instituição. Não. O que a artista procurou evidenciar foi uma reflexão geral sobre o segredo, o acto de guardar em segurança o que valoramos como precioso. A palavra casa, idealmente, remonta a uma noção de espaço familiar e que podemos reclamar como nosso. Um espaço que conhecemos visceralmente e cuja morfologia se reconhece de olhos vendados, através da memória. No entanto, esta casa dos segredos não parece ter partido exactamente dessa ideia; parte antes da mais elementar constatação física de uma casa: paredes, chão, tecto – elementos que configuram ao mesmo tempo um labirinto. Na verdade, a essência da “Casa dos Segredos”, o que está na sua origem conceptual é esse labirinto. Portanto, parece haver uma vontade vaga em tratar o segredo e a conceptualização do mesmo, passa pela concretização de um labirinto. 116 Ilustração 53: "Casa dos Segredos". Como vista do mezzanino (Piso 1). Ana Vidigal, 2012 117 O labirinto mitológico da Grécia antiga, as figuras mitológicas como o minotauro que o habitam, o labirinto tenebroso do filme “The Shining” (1980) do Kubrick, os percursos de infindáveis possibilidades que serpenteiam o espaço e o tempo e neles nos fazem perder... Paredes, muros, que nos ultrapassam e aprisionam, nos privam da orientação espacial e nos agitam os sentidos e as emoções e nos conduzem macabramente em direcção a um fim que nem finito pode ser. Um segredo. A vida pauta‐se de intermináveis linhas labirínticas, criadas pelos segredos íntimos que comportamos amargamente e nunca chegam a ser revelados. Morre‐se dentro de muitos segredos – de muitos labirintos que criamos. E pensar que o labirinto é pelo homem construído... Uma vez dentro, o espaço torna‐se infinito, porque os percursos são infinitos e porque a única lembrança de um exterior livre de barreiras é um céu, lá em cima, também ele ilimitado, que zomba da nossa prisão e nos lembra do tempo que por nós passa e nos castiga com o outro tempo, o meteorológico. Poder‐se‐ia dizer que para chegar ao fim, ou ao centro, temos que percorrer o infinito. Talvez seja por isso que o labirinto sempre teve uma conotação transcendental, divina – o maior dos castigos a um sacrilégio. A grandiosidade da Instalação Artística da Ana Vidigal não se prende exactamente com o objecto ou resultado final, embora o mesmo seja um autêntico fenómeno. A sua magnificência assenta no sentido de escala da abordagem ao conceito de segredo. Do corpo à célula. Do campus, ao cadeado. Há uma proporção conceptual na ideia final que é tão interessante quanto o resultado materializado. A secura e austeridade paralelepipédica do pavilhão central, o aspecto de fortificação que a peça artística conforma, o aço frio, cinzento, bruto e impenetrável dos cacifos, a preciosidade do cadeado dourado de códigos algorítmicos que constituem a última barreira Ilustração 54: Stanley Kubrick, "The Shining" (1980). Cenas do filme. O protagonista morre dentro do labirinto, congelado. 118 ao âmago de uma parte da nossa vida. E claro o labirinto que precisa de ser ultrapassado para sabermos a posição do cacifo/segredo desejado. Os muros são cacifos que se sucedem, frios e inertes, nem sequer são vegetais como muitos outros das estórias ou das histórias. Em baixo, o chão; mármore polido que reflecte dubiamente sombras e brilhos de tudo o que por cima dele se observa. Em cima, o céu; formas geométricas douradas, pretas, brancas e amarelas – a clarabóia obstruída, o chiaroscuro por acontecer. É importante referir que a noção de austeridade tem sido uma constante no trabalho da artista Ana Vidigal. Tanto a austeridade material, como aquela, que por meios políticos desviados, nos obrigam a reger e a formar a concepção de vida como algo severo e inflexível. Isto é notório, por exemplo, na Instalação Artística intitulada Penélope: uma cama com uma colcha feita de postais e cartas que os pais da artista trocaram durante a guerra colonial. A produção desta peça também é ela muito interessante e coaduna‐se igualmente com a noção de secretismo inerente à “Casa dos Segredos”. Numa entrevista ao jornal Público lê‐se o seguinte: “ [Jornalista] Os envelopes, na colcha que cobre a cama, estão dentro de uma segunda caixa. Como se formassem uma colcha de patchwork. [Ana Vidigal] Estão dentro de uma segunda caixa, ou seja, de sacos plásticos. Os próprios sacos plásticos estão agrafados uns aos outros, e a própria carta tem um agrafo no meio. Mesmo que tirem os agrafos de fora, danificam a carta para a tirar daquele envelope. [Jornalista] São sucessivas formas de obstruir o acesso àquele conteúdo. [Ana Vidigal] Sim. Uma das coisas que mais me incomodaram foi o roubo de uma das cartas, numa exposição em Coimbra. Se algum dia alguém danificar uma peça minha, não me incomodo com essa possibilidade ‐ são coisas que acontecem. Retoca‐se, restaura‐se, resolve‐se. Mas aquele roubo chocou‐me. Não foi por danificarem a obra ‐ tenho mais cartas. Foi por violarem e desrespeitarem a intimidade dos meus pais”171. Ou a mais recente exposição “Austeridade (e pequenos sinais de fumo)” que parte do panorama crítico pelo qual Portugal atravessa, entre crise e medidas de austeridade, castigo e punição; uma exposição que, nas palavras da autora, deviam dar “pistas para a sobrevivência (ao fim e ao cabo) nestes momentos que estamos a passar”172. No texto do livro editado para esta ocasião intitulado “Casa dos Segredos” (2012), a curadora da exposição Ruth Rosengarten interroga‐se se as palavras e o texto têm a capacidade de acompanhar a obra. Provavelmente não. Provavelmente as palavras aqui escritas mais não passam de uma bruma por sobre as coisas que ora as mostra como são, ora as mistifica. É por isso que a experiência em qualquer obra de arte, mas 119 sobretudo na Instalação Artística, se torna imprescindível ‐ e como já foi referido na 1ª parte. Além disto, o texto foi escrito antes da construção da peça e o que se verificou nem sempre correspondeu à linha conceptual que o texto expunha e talvez seja necessário fazer uma retrospectiva factual e não‐crítica do que se verificou realmente. Muitas vezes, o tempo de concepção ou produção da Instalação Artística não é igual, digamos, ao de uma escultura ou pintura, que podem ser retocadas durante anos até se atingir cabalmente a Ideia primeira. Na pintura, geralmente, o tempo de conceptualização acompanha, também, o tempo de produção. Ora, na Instalação ou qualquer peça de grandes dimensões cuja produção dão depende apenas do artista tem primeiro uma parte de planeamento (ver entrevista à artista Ana Vidigal) e de execução posterior, em que a expectativa inicial pode não corresponder, por exemplo, ao comportamento dos indivíduos após a concretização. Na arquitectura ocorre o mesmo. Veja‐se: um dos elementos principais da Instalação seria, entre outros, a clarabóia. Mas a clarabóia não existe; é uma farsa. O que realmente se verifica é, na verdade, um vitral de composição Art Déco. Por questões orçamentais, decidiu‐se a construção de uma clarabóia falsa e, como tal, o chiaroscuro não se verifica, ou pelo menos não existe da mesma forma que um igual barroco, operático, ou lírico. Por associação, os espelhos colocados encima dos cacifos não chegam a manifestar as reflexões lumínicas desejadas inicialmente, no sentido de criar uma nova dimensão labiríntica em si mesmos. E apesar de isto ser uma confrontação entre a ideia e o resultado final, os questionários que se encetaram e de seguida se mostram corroboram isto mesmo. No entanto, é importante frisar que apesar destas observações o conceito mantém‐se impresso na obra como um todo, ainda que estas partes não se assumam com a exuberância esperada antes da realização. Mas volte‐se novamente ao conceito. Referiu‐se que são quatro os elementos principais que se associam no seu jeito próprio à ideia de segredo: a já falada clarabóia, os espelhos, os cacifos e o labirinto. Nos dois últimos percebe‐se a associação ao segredo. A clarabóia constitui uma espécie de enfoque à contemplação da obra e do conceito. Os espelhos poderiam aludir às considerações enunciadas por alguns artistas no capítulo 4, em que o sujeito não pode tomar consciência do seu Eu através de uma superfície reflectora, uma vez que ela dita uma farsa e transforma um ego num narcisismo. No entanto, o espelho, aqui, não procura uma confrontação directa com o indivíduo; pretende, pois, ampliar uma realidade, ainda que de forma dolosa, do espaço. O que fica reflectido são troços da clarabóia, dos pilares e das guardas em disposições um tanto geometrizadas, 120 abstractizadas e distorcidas; disposições que não são imediatamente apreendidas e demoram a compreender‐se e a perceber a sua real natureza (tal como o segredo). Portanto, temos o espelho como mentira deturpadora à protecção do segredo. Todavia, há toda uma dimensão que deve ser explorada atinente ao título propriamente dito e que nos leva a toda uma eventual reinterpretação do conteúdo expositivo, ainda que a artista rejeite taxativamente essa ideia. O título “Casa dos Segredos” é uma espécie de usurpação de outro título usado num programa televisivo, no qual concorrentes entravam dentro de uma casa e procuravam, de maneira indirecta, revelar os seus segredos íntimos a todos os espectadores. A casa estava repleta de câmaras que gravavam meticulosa e ‘voyeuristicamente’ todos os comportamentos individuais. A devassidão absoluta da intimidade particular, conivente com olhos e mentes sequiosas de o observar. Ao servir‐se do título deste programa, a artista parece inferir uma crítica aos modos de vida actuais, despojados de um pudor mínimo e incentivado subliminarmente pelos media em geral. Nada se guarda, tudo se publica. Quando antes existiam diários e cadernos que mostravam desejos profundos, guardados na escrivaninha, à chave, com a caneta e a tinta ao lado – agora tudo está exposto num “Blog”, com links alusivos ao “Facebook”, repleto de fotografias pessoais que nem ao mais liberal dos antigos se julgaria publicar. A artista Ana Vidigal leva então o espectador a meditar sobre o sentido de segredo face à mediatização da individualidade. Na entrevista efectuada, à questão de se existe uma intenção voyeurística na obra, a autora da Instalação nega categoricamente essa vontade; que a verdadeira intenção, ou pelo menos como vê a intimidade e o segredo, é a de esconder e reclamar a privacidade de cada um. Todavia, a experiência que se tem no local é diferente e começando logo na vernissage quando holofotes e câmaras incidiam sobre a exposição, enaltecendo e registando os percursos dos visitantes e o acto de guardar objectos dos utilizadores dos próprios cacifos. Porque apesar de ser uma peça artística, e como já se mencionou, havia uma vontade utilitária na mesma: os cacifos eram utilizados pelos alunos normalmente. Além disso, grande parte das aulas no pavilhão central tem início no piso superior, em que o mezanino que dá para o átrio fica atulhado de alunos que se encostavam às grades a observarem e troçarem dos colegas que entravam e deambulavam pelo labirinto à procura do seu cacifo. Paradoxalmente, então, existia um jogo constante de “espionagem” aos utilizadores dos cacifos, e aparentemente um gozo enorme nisso, e que a artista não pretendia. E isto é toda uma outra retrospectiva que 121 Ilustração 55: No interior da "Casa dos Segredos" (no dia da inauguração). Ana Vidigal, 2012. 122 se enseja aqui e que parte das observações locais, em que se registavam os comportamentos dos indivíduos no espaço expositivo. De facto, não raras vezes notava‐ se um desconforto nos colegas ao constatarem que havia alguém a observá‐los no cimo. Num dos questionários, uma inquirida expressa precisamente um desconforto sentido num momento em que existiam inúmeros sujeitos, que enquanto aguardavam o início das aulas, observavam todo o desenrolar de uma experiência supostamente particular no piso inferior. Conclui‐se, portanto, que o que aqui foi referido não é muito diferente do que se passa no tal inenarrável programa televisivo, embora não houvesse obviamente a intenção da parte de algum aluno em expor os seus fragmentos de intimidade no interior do respectivo cacifo. No capítulo anterior já se tinha indicado o carácter de ‘readymade’ que a artista tinha utilizado para esta Instalação, ou seja, serviu‐se de objectos já existentes para os adaptar a uma nova concepção/contextualização. Neste caso, os objectos em questão são os cacifos que passaram dos pisos mais inferiores do Pavilhão Central, amontoados em corredores e salas recônditas para um espaço nobre e principal que é o átrio. Por serem utilizados há já bastante tempo, os cacifos traziam marcas de uso, notas de quem já recorreu àqueles cacifos e lá quis deixar a sua impressão – autocolantes de partidos políticos ou de marcas diversas, frases, palavras, juras de amor e pequenos desenhos. Mas as pichações também eram notórias – esquiços que ocupavam a fronte do cacifo inteiro, obscenidades escritas, etc. Enquanto os primeiros eram ecos de intimidades que se mantinham no interior, os outros (as pichações) manifestavam‐se no exterior e acabavam por animar os percursos, quebrando os sempre cinzentões muros de cacifos. Na verdade, foi uma certa intenção por parte da artista em tornar o espectador participante, que se possibilitou estas descobertas no interior dos cacifos. Durante o deambular, os indivíduos podiam abrir e fechar os cacifos como lhes aprouvesse, modificando sempre a visão dos corredores: uma porta aberta, duas, todas abertas, todas fechadas. Ao passo que no interior da exposição tínhamos uma infinidade de possibilidades visuais e sensoriais, no exterior a brutalidade não fazia adivinhar isto pela sucessão de planos cinzentos metálicos. Perante tal frieza, as sensações podiam apenas provir do espaço de inserção propriamente dito – o átrio. No entanto, esta característica de brutalidade ajudava a criar uma noção de mistério em torno da instalação, fazendo‐ nos questionar sobre aquele paralelepípedo colossal que nos confronta e que nos veio deturpar a memória que tínhamos daquele lugar, até então, essencialmente vazio. Houve como que uma disrupção da imagem que guardávamos daquele sítio. 123 Esta, pois, é uma daquelas Instalações que são indivisíveis do seu contexto arquitectónico, social, político e cultural, na qual a artista aborda a micro e a macro escala dos conceitos que aborda de uma forma absolutamente notável. A imersão tão mencionada durante a explicação deste medium artístico deve socorrer‐se desta totalidade que a “Casa dos Segredos” comporta; é a relação crítica de todos os elementos onde a obra se insere e dos quais é feita e que em nós ascende pela percepção. É pelo deambular consciente, por seu lado, que a captação do conceito e das sensações se manifesta; a posição do corpo no átrio ou no labirinto, do som que nele faz ressoar, dos objectos que nele despertam atenção e o comovem são factores que evidenciam a experiência e a vivência da peça da artista Ana Vidigal e das Instalações Artísticas em geral. O som do cadeado que se abre, o ranger da porta por olear, o impacto da porta que petrifica o passeante, o som do cadeado que se fecha. O eco das vozes que se multiplica e faz vibrar todo o átrio. E é sobre esta experiência, e como estudá‐la, que de seguida se trata numa perspectiva da fenomenologia. No entanto, há todo um rol de conceitos inerentes à fenomenologia e à sintaxe espacial que devem ser considerados de imediato e o principal prende‐se com a noção da já abordada percepção. Um conceito que geralmente se resume na sensação, mas que pode não ser exactamente isso. Neste contexto, o que significa percepção e onde, ou em que ramos do saber, buscar essa significação? 124 Ilustração 56: Pormenor (Interpretação da Instalação Artística) Exercício de redução fenomenológica recorrendo à imagem 125 126 Ilustração 57: Pormenor (Interpretação da Instalação Artística). Exercício de redução fenomenológica recorrendo à imagem. Ilustração 58: Pormenor da Instalação Artística. Exercício de redução fenomenológica através da imagem. 127 128 Capítulo 10: Aferição das respostas aos questionários 129 10. Aferição das respostas aos inquéritos Como base de estudo, foram entrevistados docentes, funcionários, sobretudo alunos e visitantes exteriores à instituição que tiveram conhecimento indirecto da peça artística e a decidiram, por iniciativa própria, visitar (Anexo 2). Ao todo, juntaram‐se 35 questionários, 12 do sexo masculino, 23 do sexo feminino, cujos desfasamentos etários variam dos 19 aos 70 anos de idade. Dos inquiridos, 6 eram docentes, 7 alumni (antigos estudantes do Instituto Superior Técnico) bolseiros, 11 alunos, 2 visitantes, 4 alumni e, finalmente, 6 funcionários. O questionário procurou ser sucinto e não muito pormenorizado; procurou‐se estimular a vontade livre em dar resposta, qualquer que fosse essa resposta, e mesmo quando a mesma não se coadunasse com a questão proferida, aceitou‐se igualmente, uma vez que fazia parte da vivência do espectador e era simplesmente com isso que neste ponto nos preocupamos. O que interessava, portanto, era obter o maior número de experiências, sensações, objectivações e pareceres pessoais, ou impessoais, no âmbito do objecto de estudo. O que está em causa é o que o transeunte respondeu, liberto de preconceitos qualitativos de se a pergunta foi, ou não, correcta ou devidamente respondida. Nenhum julgamento será formulado, até porque a maior parte das respostas são interessantes e assaz válidas. O referido inquérito constava de duas partes. Na primeira parte formulou‐se oito questões relativas à experiência individual do inquirido. Na segunda parte, pediu‐se que desenhassem o trajecto que assumiram dentro da Instalação, assinalando pontos de interesse, de paragem ou interacção. Na aferição dos resultados que aqui se propõe, procura‐se não estabelecer uma análise muito grupal, em que se toma, por exemplo, um mesmo grupo, o separa dos restantes, e se analisa isoladamente. Faz‐se, portanto, uma dissecação pergunta a pergunta, sobretudo, e quando as diferenças entre grupos são notórias, identificam‐se devidamente. Escusado será referir que todos os inquiridos têm uma validade igual aos seus homónimos, em que a resposta de um docente tem tanto interesse, quanto a de um visitante, ou de um aluno. A primeira questão ‐ “Antes de ter conhecimento da “Casa dos Segredos”, apercebeu‐se que ali existia uma Instalação Artística?” ‐ foi uma espécie de teste para saber a reacção dos inquiridos quanto ao que estava exposto no Pavilhão Central, isto é, se eles 130 percebiam imediatamente que estavam na presença de uma peça artística. As respostas não foram exactamente ao cerne da pergunta e muitos desconhecem o significado de “Instalação Artística” e, quando interpelados por esta primeira questão, ativeram‐se em dar uma resposta, duvidando. Geralmente teve‐se que explicar que a “exposição” (termo mais comum entre eles) era, não uma exposição corrente, mas antes uma Instalação. Em termos quantitativos, vinte inquiridos responderam que não tinha conhecimento que ali existia de facto uma Instalação Artística, julgavam, na maior parte dos casos, que se tratava de uma mudança logística dos cacifos. Os restantes quinze responderam que sim, embora muitos tivessem visitado a obra porque sabiam que ali estava algo diferente, sem saber exactamente o quê. Esta nota será, talvez a mais interessante a destacar. Alguns inquiridos notaram que havia algo novo no átrio do pavilhão e que tinha sido colocado propositadamente. Poucos foram os que visitaram já com o conhecimento de que era uma Instalação Artística. In extremis, apesar da ambiguidade da pergunta, os testemunhos recolhidos foram essenciais para perceber o que poderá existir na mente dos indivíduos quanto à noção e limites da arte, se eles reconhecem uma peça daquela dimensão como algo artístico. Será que os visitantes consideram a “Casa dos Segredos” como arte? Uma pergunta que fica por responder. Dados: vinte inquiridos não associaram o objecto em estudo a uma Instalação Artística, ergo, não se ponderou, sequer, uma proposição artística. Dos outros quinze, houve alguns que hesitaram na resposta, não sabendo o que é uma “instalação”; sabiam que existia ali algo, mas não atribuíram imediatamente a uma peça do foro artístico. À pergunta ambígua, deram uma resposta também ela dúbia. Há que deixar claro que os docentes afirmam que é rara a vez que passam pelo Pavilhão Central; o mesmo acontece com o grupo do secretariado e com alguns alunos de engenharia civil. A única forma de inverter esta prática foi um convite lançado aos vários grupos de inquirição e que se prende com a segunda questão ‐ “O que o levou a visitar a instalação?” ‐ que procurava, então, saber o que levou a visitar a Instalação Artística. De um modo geral, percebe‐se que foi por via indirecta, isto é, convite, ou newsletter. Porém, há aqueles que apenas lá foram por necessitarem dos respectivos cacifos, ou os que ficaram movidos pela curiosidade (em reduzido número). Só se registou um caso em 131 que um visitante entrou na Instalação por conhecer a artista e querer saber a sua última demanda no campo da arte. A terceira questão ‐ “Após a visita à instalação, qual a sensação que teve e quanto tempo demorou na visita?” ‐ será a que dará mais espuma a este estudo. Sendo das principais, analisa‐se, ou procura perceber‐se, as sensações e o tempo que cada inquirido despendeu a visitar a instalação. A par com o desenho do trajecto, esta pergunta está directamente ligada à perspectiva fenomenológica da Instalação Artística, uma vez que o tempo e o percurso irão dizer se uma hipotética fenomenologia foi possível naquela cogitatio (no sentido de vivência173 individual) de cada entrevistado. Como se viu anteriormente, percepção e sensação não se distinguem segundo Merleau‐ Ponty. No entanto, os inquiridos podem ter um parecer diferente sobre estes temas, pelo que se usaram as duas terminologias ao longo do inquérito. Deste modo, conseguimos ter um visão teórica do que cada indivíduo entende‐se por cada um destes conceitos. Apesar de várias atribuições, por vários filósofos, ao longo dos tempos, consideramos aqui que sensação é a apreensão, pelos sentidos, de algo exterior, como no empirismo Aristotélico que Kant, de uma forma muito própria se apropria, muito mais tarde, (nomeadamente numa derivação para o “sensualismo”). Todavia deve‐se ressaltar uma doutrina muito peculiar que se intitula de aristotélico‐tomista que, apesar de um tanto anacrónica, exprime cabalmente o que muitos reconhecem como noção de sensação174. Esta doutrina “consiste em incluir na sensação, ou potências sensíveis, todo o conhecimento proporcionado tanto pelos sentidos externos (como os dos órgãos dos sentidos, mas também os que experimentam prazer, dor, bem‐estar, mal estar, etc.), como pelos sentidos internos Esquema 1: Identificação dos Espaços Convexos para apoio aos Grafos que se seguem. 132 (como a imaginação, a memória e o sentido‐comum). A sensação não é aqui um dos modos como a alma usa o corpo, mas é o ponto de partida para o exercício das chamadas potências intelectuais, as quais precedem as operações de abstracção”.175 Ou seja, interpreta‐se “sensação” como algo do foro empírico. Deste modo, é uma perspectiva que não se desliga muito da de Merleau‐Ponty, que apesar de negar o empirismo na fenomenologia, serve‐se dele para aprofundar o que se entende por sentir e daí surgir a ideia de um “empirismo radical”, como já foi aflorado atrás. No entanto, ao se analisar as respostas, nota‐se uma série delas que substituem a sensação pelo pensamento. Respostas como: “Pensei que…” ou outras que se abstêm de utilizar a palavra sensação, dando, pois, uma resposta dúbia e inexacta à questão. Neste contexto, é legítimo interrogar‐se se realmente a sensação não será, como diz Descartes, “um modo confuso de pensar” e que Leibniz subscreve, embora noutros contornos; interrogo‐me, colocando‐me na perspectiva do inquirido; um aluno escreve: “sensação de incompreensão”. Por ser uma questão tão subjectiva, constata‐se uma substancial variedade de respostas, pelo que a dissecação de cada inquérito se torna mais difícil de destrinçar, obrigando a uma atenta leitura questionário a questionário de forma a ver se existem padrões de resposta. E, de facto, existem. Na categoria dos que nada sentiram, encontram‐se pouquíssimos alunos. Geralmente são docentes ou funcionários. No entanto, há questionários que não podem ser lidos questão a questão e que têm de ser compreendidos no seu todo, uma vez que apesar de terem dito que não sentiram nada, com o avançar do questionário, nota‐se que foram sensíveis ao conteúdo da exposição e talvez este grupo, seja um dos que esteve mais preocupado com a parte intelectual e inteligível da Instalação do que com a experiência. Aqui vemos em acção o que Grafo 1 de espaços convexos. Os níveis são simétricos devido à existência de dois pontos de acesso que tanto podem ser tomados como entrada ou saída. muitos filósofos designam por “filtro dos juízos”. 133 Existe um testemunho muito interessante de uma inquirida, de 61 anos de idade. À pergunta em desenvolvimento, responde que a sua visita durou cerca de 20 minutos e não teve qualquer espécie de sensação, apercebendo‐se, contudo, que a disposição espacial assentava num labirinto. Com isto, parece que a inquirida esteve mais preocupada em desembaraçar o conteúdo e a forma, do que em experienciar a vivência através dos sentidos, das sensações, das percepções. Este questionário revela que a visitante compreendeu cabalmente o conceito da artista (talvez a que mais à vontade demonstrou em dissecar o conceito de segredo e secretismo), para além de ter tido uma postura crítica quanto à execução da Instalação Artística. Dito isto, parece seguro afirmar‐se que é um dos inquiridos que se insere no orbe cartesiano da sensação. Dos que parecem ter visitado a obra nestes termos do percebível pelo intelecto, pelo “racionalmente compreensível”, pelo inteligível, encontramos o caso de um aluno que responde à questão da sensação como “incompreensão” do que via. Esta incompreensão prende‐se com o conteúdo da exposição, isto é, o conceito. Muitos foram, também, os que sentiram realmente algo. Nesta categoria, por assim dizer, insere‐se um grande número de alunos do curso de arquitectura, que para além de contar com uma componente humanística no currículo académico pressupõe‐se que os alunos tenham uma sensibilidade acima dos restantes cursos quanto ao entendimento do espaço e da forma como nos confrontam emocional e sensorialmente. Não é de estranhar, portanto, que haja um considerável manancial de sensações exibidas nas respostas. Alguns sentiram‐se observados, outros experimentaram uma sensação de clausura, sensação de desnorte, confusão, alguma nostalgia quanto a um alumnu que outrora teve um cacifo e agora, uma vez formado, já não possui, desconforto e claustrofobia, num dos casos, devido à Grafo 2 das Isovistas 134 imensidão de recantos. Transcreve‐se uma resposta que se captou de uma inquirida “Claustrofobia, insegurança… Muitos recantos. Avança primeiro a cabeça e só depois o corpo, como uma espécie de protecção. Cacifos mal tratados”. A inquirida, de repente, sentiu que devia activar um estado de vigilância aumentado; algo que se adensa quando percebe que há muita gente no piso 1 a olhar para a instalação, vulgo, “cá para baixo”. Os diagramas elaborados mediante o software Depthmap podem corroborar o que se referiu atrás. No caso do grafo de isovistas, constata‐se que o campo de visão e a abrangência são muito reduzidos. A área de visualização é parca e geralmente encontra‐ se um perfil visual semelhante a um túnel e um polígono aproximadamente rectangular, claro, dependendo das possíveis ‘localizações de convergência’. Quando um visitante entra pela entrada principal e se detêm no centro do Hall de entrada tem um campo de visão muito irregular, de inúmeros vértices e uma forma muito complexa. Por seu lado, no interior do labirinto, os campos de visão tendem a ser mais simples, exceptuando os espaços próximos das entradas/saídas. Atente‐se agora no grafo da conectividade visual. O que se percebe imediatamente é uma predominância de cores frias. A paleta oscila entre o azul – pouca conectividade – e o vermelho – múltiplas conectividades. De acordo com o mapa de espaços convexos, vemos que o espaço 7 é o que menos conectividade apresenta, uma vez que o seu acesso é conseguido apenas por uma passagem. Alguns inquiridos tiveram uma sensação claustrofóbica e de desconforto nesta zona do labirinto. Com isto, infere‐ se que quanto menores conectividades um espaço apresenta, maior a probabilidade de incómodo sensitivo/perceptivo, sobretudo tratando‐se de recintos de dimensões reduzidas. É importante notar que a materialidade com que (neste caso) uma Instalação é construída também afecta. A opacidade vem reforçar o desconforto, porque não permite uma conectividade visual com outros lugares, mesmo que vertente física não esteja assegurada. Uma Grafo 3 da Conectividade 135 conclusão básica a retirar deste exemplo é que as relações visuais e físicas entre os espaços têm uma forte influência no tipo de sensações que um indivíduo possa vir a ter. Apenas o centro do labirinto, o espaço 8 apresenta um número relativamente elevado de comunicações com os vizinhos adjacentes – exactamente 4, estando, pois, representado a vermelho. Semelhante a este grafo, mas com significados muito diferentes, é o da ‘integração HH’ que relaciona “os espaços mais integrados e os mais segregados”176. Por outras palavras e definindo este conceito de forma mais rigorosa, “a integração de um espaço relativamente a outro é dada pela sua profundidade relativa”, ou seja, “pelo número mínimo de mudanças de direcção necessárias para ir de um espaço ao outro do sistema”. Neste caso, os espaços mais segregados, então, encontram‐se no centro do labirinto o que corresponde a um maior número de passos topológicos para o alcançar, ou para sair dele. A sensação de difícil retorno, de desnorte, de não recordar o caminho percorrido para voltar atrás, é proporcional ao número de viragens até se chegar a um determinado lugar177. Um grafo igualmente importante é o da profundidade – ‘step depth’. O grafo simplificado mostra 8 níveis/passos de profundidade. Da teoria, sabe‐se que “quando a inteligibilidade espacial está associada ao aumento de profundidade, pode produzir‐se um impacto na sua utilização, desencorajando os visitantes a utilizarem a totalidade do espaço”178. Isto resulta, eventualmente, num decréscimo de interacção com o espaço e, portanto, com a Instalação – recordemos que a interacção é fundamental na Instalação Artística e na formulação da percepção que se tem sobre ela. De igual modo, a experiência também sofre com esta reduzida reciprocidade entre visitante e objecto e vice‐versa. Elaborada esta conjugação entre redução fenomenológica e a sintaxe espacial, os casos que Grafo 4 da Integração HH 136 abordo de seguida são peculiares, no sentido em que as inquiridas visitaram a Instalação Artística mais que três vezes. Neste sentido, procuraram relatar o que sentiram, ou retiveram, nas várias vivências. Ambas eram do curso de arquitectura e visitaram a obra no dia da vernissage. O que este dia tem de peculiar é que o contexto da inauguração da Casa dos Segredos era também ele peculiar, porque a “exposição” estava “melhor iluminada” e havia uma série de “flashes” vindos de máquinas fotográficas que num dia dito normal, de leccionamento de aulas, não existe. Havia um enfiamento de focos de luz que iluminavam a instalação em todo o seu perímetro, pelo que a percepção de todo o espaço seria, com certeza, diferente. Uma colega, quando interrogada sobre este aspecto, disse que, de facto, achou que havia mais luz que nos dias habituais e que preferia mais iluminação, até porque a clarabóia falhou na sua função primordial, devido à obstrução a que foi submetida. Além disso, havia uma câmara de vídeo que registava toda a movimentação dos visitantes aquando da experiência do labirinto. Isto leva‐nos a concluir que foi um dia de excepção, porém as diferenças para os restantes dias, podem ser a diferença entre duas sensações ou percepções distintas (eventualmente uma melhor, ou não, percepção local, algo muito relevante neste estudo). Como se percebe, o termo sensação deu lugar ao vocábulo percepção e a aluna, inconscientemente, não notou a diferença. A outra participante no questionário concordou que a exposição surtia mais impacto com os focos acesos, transcrevo: “enfatizava a ‘promenade’, teatralizava mais a cena, chamava mais a atenção para a peça”. No entanto, reconhece que, se o fizessem todos os dias, a Instalação poderia perder o carácter utilitário e quase natural do quotidiano. Dito isto, há que colocar a questão – e voltemos ao carácter imersivo característico da Instalação Artística como antes se mencionou – de se estes focos nos levariam a uma imersão mais rápida e eficiente na Grafo 5 da profundidade, Step Depth obra, visto que centralizam a atenção na própria 137 peça artística. A imersão que a artista propõe (eventualmente) teria sido melhor conseguida com estas luzes acesas. Ao focar um objecto, a periferia dilui‐se, mas, neste contexto, a periferia talvez interesse mais numa perspectiva de construção conceptual, do que propriamente numa essencialidade do labirinto, ou do objecto. Veja‐se, a imersão requere do espectador uma grande abstracção a informações que se tornam poluentes da experiência. Essa abstracção ‐ supõe‐se ‐ de forma a catapultar‐nos para outra dimensão ‐ a da artista ‐ faz‐se pelos sentidos e os órgãos dos sentidos, pela percepção. Ou seja, é necessário também pela parte dos indivíduos uma certa ‘redução fenomenológica’. O ruído que se registou nos períodos de transição de aulas era de tal forma insuportável que a experiência estava comprometida. Os questionários recolhidos mostram que alguns entrevistados, se sentiram intimidados pela quantidade de colegas no Piso 1 e pela agitação sonora que conferiam ao átrio. Isto, ao que parece, fez deslocar a sua atenção da obra propriamente dita para a esfera do privado. Isto é, ficaram mais preocupados com a sua integridade física, mental e individual, do que com a Instalação. O mesmo acontece, obviamente, no campo da visão. Dependendo da obra, claridade e/ou escuridão afectam directamente as nossas sensações e, por conseguinte, a percepção. A importância da luz nota‐se no espaço e as nossas sensações com ela se modificam. Peter Zumthor refere no seu livro “Pensar a Arquitectura” uma passagem assaz interessante e que expõe laconicamente o que se procura aqui exprimir: “O ambiente na sala é escuro e enquanto os olhos não se adaptaram é sombrio. Esta impressão perde‐se rapidamente, a luz parece agora suave. A luz do dia, que entra no ritmo das janelas altas, faz realçar certas zonas do espaço enquanto outras, que não tiram proveito do reflexo dessa luz, ficam na penumbra e recuam”179. É como se a luz conferisse movimento e cadência ao espaço. Está‐se, portanto, na presença de um exercício fenomenológico, semelhante ao de Sartre, apesar desse ter prospectos ontológicos da existência humana e o de Zumthor situar‐se num método fenomenológico‐hermenêutico, em que o próprio interpreta e descreve o fenómeno da luz por sobre as coisas180. Em suma, o que se conclui desta demanda que a terceira questão impôs é que não há uma forma unívoca de abordar as sensações, por motivos educativos, sociais e culturais. O que procurei aqui foi tentar encontrar uma resposta às questões que coloquei a mim mesmo neste orbe do “que é sentir”. Fazendo a ligação com os questionários, constata‐ 138 se que as sensações comprometem a experiência, o que os nossos órgãos sensitivos apreendem ditam a vivência do espaço. Uma conclusão que será fundamental no campo da fenomenologia e como já percebemos nos capítulos anteriores. No entanto, não como Husserl a entendeu primeiramente, mas como Merleau‐Ponty ou Bachelard procuraram abordar numa perspectiva ora mais psicológica, ora mais artística e poética. Conclui‐se, também, que a intimidação que muitos referiram coaduna‐se com o facto de se sentirem observados. Neste contexto, sabendo que a visão da artista é guardar “os segredos” e não expô‐los gratuitamente, à vista de todos, vemos que essa visão também ela fica comprometida, mas que ao mesmo tempo lhe confere mais substância e uma dimensão “voyeurista” que eu desde o início senti e que aqui se parece confirmar. Durante o questionário, fiz essa pergunta adicional – “Acham que havia uma dimensão “voyeurista” na Instalação?” ‐ (off the record), mais num contexto informal, numa conversa colectiva na qual se procurou traçar uma síntese do que se viveu e a resposta de muitos foi que, sim, parecia haver uma componente “voyeurista”, que parecia querer expor a intimidade dos guardavam naquela “casa” a sua intimidade. As duas questões que se seguem ‐ “Durante a visita, compreendeu o conceito da instalação?” e “O título da Instalação pareceu‐lhe adequado?” ‐ merecem ser analisadas em conjunto, uma vez que a artista confessou que o título seria o necessário para desencadear a compreensão do conceito da Instalação Artística, ou seja, o que se aborda nestas questões é o conteúdo, por assim dizer, da Instalação Artística. Neste sentido, encontrou‐se três padrões: uns que afirmaram positivamente, que perceberam o objecto de estudo, outros que afirmam que não a compreenderam e outros que deram respostas ambíguas, isto é, afirmaram que compreenderam, afloraram o tema, mas na resposta a seguir, que deveria ser coerente com a anterior, deram uma resposta assimétrica. Dos inquiridos, os que dizem ter compreendido a “Casa dos Segredos” são 19. Tal decorre do facto de terem conseguido articular várias peças para construir um esquiço mental do conceito. Diz‐se esquiço, e relembrando o texto da curadora Ruth Rosengarten, porque seria complicado, numa fracção de minutos, discorrer sobre todos os temas que a peça artística aborda. Assim, associaram os cacifos a algo que guarda algo no interior que sagrado e o labirinto que dificulta a chegada a esse segredo. A curadora e a artista, quando referem o labirinto, fazem‐no com outro propósito e outro discurso, porém parecem igualmente adequadas as respostas e esta forma de rematar o 139 labirinto como algo que é análogo ao segredo e ao secretismo. Perceberam que era uma casa, quando viram a Instalação do mezanino do piso 1. Para os entrevistados do curso de arquitectura, foi como se tivessem imediatamente visto uma planta de uma casa e o conceito depressa floresceu nas suas mentes, também. Curiosamente, alguns do curso de engenharias só chegaram à intenção da artista através do preenchimento do questionário, o que não deixa de ser interessante em como a escrita desencadeia um processo mental sob o indivíduo de forma a chegar‐se a determinadas ilações… Por vezes estes questionários não têm apenas um carácter determinístico e analítico, típico das estatísticas, mas existe também uma componente pedagógica e de auto‐ aprendizagem por parte da pessoa que o preenche. Não se esqueça isto. Estas duas questões, por ventura, podem ser articuladas com uma pergunta mais adiante ‐ “Durante a sua visita, apercebeu‐se que a instalação é composta por quatro elementos básicos – cacifos, clarabóia, espelho e labirinto?” ‐ que faz uma espécie de cômputo entre todos os elementos constituintes da Instalação Artística e se os mesmos foram, todos eles, apreendidos pelos indivíduos. Muitos que afirmaram ter percebido o conceito da artista, falham, porém, na compreensão, contemplação e apreensão da clarabóia. Com isto, coloca‐se a interrogação: será que ter a noção de todos os elementos é algo decisivo para a experiência nesta particular Instalação Artística? É que a clarabóia foi sempre uma tónica no discurso da artista e da curadora. Mas analisemos o espaço, o átrio, aquela clarabóia propriamente dita. Alguns inquiridos tiveram, até, dúvidas do que seria uma clarabóia. A clarabóia construída falha como abertura de iluminação zenital precisamente porque foi propositadamente obstruída no exterior, por questões financeiras. O que lá está mais não é que uma composição vitral, de vincada estrutura ortogonal, com vários vidros coloridos. Desta forma, com uma clarabóia tão anódina, não é de estranhar que muitos dos questionados não lhe tivessem dado a devida atenção. E, sem luz, o “chiaroscuro” dramático que a curadoria fala, não se verifica exactamente no espaço do átrio do Pavilhão Central. Mas voltando às questões conceptuais, 10 foram os inquiridos que nada compreenderam sobre a Instalação. O que parece concluir‐se é que os espectadores inquiridos estavam, de facto, à espera de um segredo em concreto. Não conseguiram captar o tom metafórico entre as várias componentes expostas (e já abordadas) e o título. Um dos inquiridos, por exemplo, refere, que “andou à procura de segredos e não encontrou”, espreitando “alguns cacifos entreabertos”181. Os restantes 6 inquiridos deram respostas que individualmente seriam válidas, mas em conjunto, percebe‐se que 140 fizeram uma associação voltada para o reality‐show transmitido por uma estação televisiva. No entanto, alguns dos que dizem que o título não foi adequado, mas perceberam o conceito, associam o segredo aos cacifos. Mas ao lhe juntar a palavra “casa”, parece que o título, para os questionados, deixa de fazer sentido. Há ainda uma nuance que se prende com o cartaz informativo da Instalação que uma inquirida fez questão de frisar, cita‐se o que se reteve das suas afirmações: “estava à espera de uma coisa diferente, mas não isto; o cartaz com os livros não se coaduna com o que viu: cacifos, metal, etc.”. O desapontamento da inquirida é notório, mas que isto não signifique algo de pejorativo, pelo contrário, a inquirida pareceu extática com o facto de haver algo de tão inovador e de carácter claramente artístico nesta instituição. A pergunta seguinte ‐ “Leu algum texto explicativo sobre a instalação antes de a visitar?” ‐ procura informar‐nos se os inquiridos leram algo que sumarizasse a ideia da artista. As estatísticas são absolutamente claras: apenas uma inquirida leu o texto da curadoria antes de visitar a Instalação. Porém, procurei perceber entre os entrevistados (cerca de metade; a outra metade, foi conseguida, de forma indirecta, através da escrita) se achavam importante ler algo sobre a obra e, se afirmativo, antes ou depois da experiência. Muitos foram os que responderam que era, realmente, importante ler algo breve, mas depois de visitarem a peça, de forma a terem duas perspectivas: a própria e depois a da artista; o texto também indicaria se aquilo que viram estava, de facto, alinhado com o pensamento da Ana Vidigal. Será, contudo, importante dizer que a inquirida que visitou a Instalação já ia com uma sensibilidade mais refinada e, talvez, uma ideia pré‐concebida. No entanto, pelo discurso, vê‐se que a entrevistada acrescenta ainda mais ao que o texto explicativo mostra, para além, de ter presenciado uma certa paixão nela enquanto me tentava explicar o que viu. A última questão deveria ter sido separada em duas ‐ “Observou a instalação a partir do varandim do piso 1? A sua percepção foi diferente?” ‐, precisamente porque a pergunta chave refere‐se à percepção que os inquiridos tiveram quando nos pisos 0 e 1. Além disso, havia uma regra de visita que a artista estipulou e que muitos, por falta de informação visível, obliteraram. A artista fazia ideia que o percurso deveria começar no piso 1, para que todos tivessem primeiro uma visão global da peça. Só depois é que viria a experiência corpo‐sujeito, sujeito‐no‐mundo, dentro da instalação. Ora, o que se verificou foi precisamente o contrário por parte dos inquiridos. A maior fatia decidiu visitar o labirinto em primeira instância, só depois é que subiram ao piso 1 para verem a 141 totalidade da peça. Isto, obviamente, para os que foram, porque houve muitos que se quedaram simplesmente pelo labirinto, não tendo nem uma síntese (caso tenham ido depois ao varandim), nem uma introdução da obra (caso se tenham deslocado primeiro ao piso 1, conforme as indicações da artista), nem tiveram conhecimento dos espelhos que cobriam os cacifos. E, assim, regressa‐se à questão dos elementos constituintes da exposição, ou seja, para além da clarabóia, houve muitos que não tiveram a noção dos espelhos e a sua relação com a envolvente e com o conceito. Os percursos desenhados pelos inquiridos são uma adenda fundamental na compreensão do comportamento dos mesmos no espaço confinado à instalação artística. Mas não só. Permitem dar‐nos uma informação muito mais específica que a relação do objecto com o todo, ou seja, da obra com o átrio, para além de, consoante o desenho do percurso, perceber se uma aprofundada compreensão da peça foi atingida. Neste contexto, um percurso em que se nota uma grande derivação de caminhos, com várias sinalizações indicando paragens ou pontos de interesse, será, em princípio, mais propenso a uma percepção cabal do lugar do que um percurso demasiado rígido e linear. Mas neste caso a análise não é “preto‐no‐branco”, uma vez que a informação é vasta e os percursos não se repetem e portanto são todos diferentes; mesmo encontrando padrões, há desenhos que mostram um labirinto totalmente percorrido, cantos e recantos, mas na compreensão da matéria expositiva falham. O contrário também se constata; existem alguns inquéritos que mostram um percurso linear, de rápido trajecto e os inquiridos respondem afirmativamente às questões relativas ao conceito e ao título, com explicações desenvolvidas. Agora, há que evidenciar‐se o facto de existir alguma consistência entre os percursos e as respostas às perguntas anteriores. Ou seja, os que não compreenderam o título, nem o conceito, mostraram um trajecto rápido e sequenciado, sem hesitações, nem percalços, ininterrupto, e daqui podemos reter algumas conclusões e especular sobre outras em forma de questão. Ora, a experiência passa pelos sentidos, pelo movimento do corpo. O corpo não sente individualmente, ou em partes separadas, sente várias coisas ao mesmo tempo. Consequentemente, ao longo desse percurso há uma reciprocidade entre o movimento e novamente os sentidos, no sentido em que o movimento no espaço (e, por conseguinte, no tempo) vai alimentando paulatinamente os sentidos com novas 142 sensações. Num percurso rápido e fugaz, fugidio, até (tal não é a vontade de descobrir logo o fim do labirinto, seja ele qual for), será possível maturar todas as informações, sensações ou experiências que a instalação fomenta? Serão estas observações válidas para todos os casos? De acordo com a maior parte dos fenomenologistas, a experiência deve ser lenta e calma de forma a tirar‐se o maior partido dos significados e das sensações que o espaço nos proporciona. A experiência dum espaço também é proporcional ao tempo. Coloca‐se igualmente a questão de se existe uma disparidade entre a intenção da artista e a realidade quotidiana do espaço percorrido, isto é, muitas vezes caminhamos e deambulamos sem notarmos o espaço, indiferentes ao que nos rodeia e, como tal, alheados da realidade substancial e consciente em que percorremos. Será que os questionados encararam a Instalação não como uma peça artística, mas como um jogo ali colocado para pôr a nossa vida em disrupção? Seria, pois, o labirinto, uma redução a uma entrada‐para‐encontrar‐a‐saída? Muitos são os percursos que mostram isso mesmo: parecia haver tão‐só uma vontade de encontrar uma saída, sem referir os que lá iam com um propósito meramente prático de visitarem o próprio cacifo. O que foi agora mencionado está relacionado com o conceito de espaço ballet, em que o átrio pode ser considerado como tal. Vejamos, as duas premissas deste conceito manifestam‐se frequentemente naquele lugar: o ‘corpo ballet’, dotado de uma pré‐ consciência, assume as rotinas básicas, como o deslocar até à sala de aula, o comer, etc.; a ‘rotina tempo‐lugar’, aqueles hábitos que se estendem no tempo, como o esperar a entrada do docente, ou os próprios horários de aulas que dependem se uma duração numa determinada sala, ou espaço. Quando estes princípios se manifestam em conjunto temos, então, o ‘espaço ballet’, cujo grau zero da sua existência “é a regularidade do comportamento humano no tempo e no espaço”182, que, por conseguinte, criam uma noção de comunidade e identidade local. Tratando‐se de uma Instalação Site‐Specific, esta questão da identidade do local é muito pertinente e quando a interacção entre espectador e obra de arte se sugere, importa compreender o conceito de comportamento numa perspectiva fenomenológica, neste caso a desenvolvida por David Seamon. Por seu lado, o ‘espaço ballet’ deve compreender duas categorias: a ‘regularidade’ e a ‘surpresa’. No primeiro caso, podemos considerar o movimento mecânico em direcção às aulas, por parte dos alunos; os funcionários da limpeza e os seus percursos habituais; 143 os seguranças na vigia em postos determinados. No segundo caso, temos os encontros esporádicos entre colegas, professores e as várias exposições vieram tendo lugar naquele átrio por ocasião dos 100 do Instituto Superior Técnico. É importante frisar que a ‘surpresa’ deriva da ‘regularidade’, ou seja, “a continuidade e previsibilidade oferece a base da estabilidade e o tomado‐por‐garantido, dos quais uma certa dose de novidade, variedade e surpresa pode surgir”183. Seja como for, independentemente da forma como os indivíduos interagem ou interpretam o que os rodeia, as exposições vieram trazer uma novidade no comportamento dos utentes e visitantes do IST e formou novos ‘espaços ballet’, novos padrões, novos encontros e desencontros. Criou novas coreografias entre os corpos e novos espaços entre eles. Curiosamente, um mês passado da inauguração, a Instalação tornou‐se cada vez mais rotineira, os alunos que tinham os cacifos já não precisavam de um roteiro, automaticamente deslocavam‐se pelo labirinto em direcção à já adquirida nova posição do seu cacifo. A regularidade passou a estar mais presente ao longo do tempo do que a surpresa. A imutabilidade da Instalação foi assimilada, e da inicial teatralização inusitada passou‐se à previsibilidade. Se a Instalação permanecesse durante mais tempo naquele local, e a julgar pelas observações no local que realizei, inevitavelmente tornar‐se‐ia parte da identidade do Pavilhão Central. Desconfia‐se, no entanto, que o sentido artístico desvanecer‐se‐ia com o tempo, dando lugar um conceito meramente logístico. Enquanto no início os utentes tinham uma postura exploratória e indagável, no final já só existia o interesse em utilizar o cacifo e nada mais. O mesmo acontece com o Esquema 2: Sobreposição de todos os percursos dos inquiridos 144 fluxo dos indivíduos perante a Instalação. Inicialmente notava‐se um fluxo disperso devido à curiosidade e ao interesse de apreender a obra de várias formas, ao que deu lugar, com o tempo, a fluxos rígidos e desinteressados, ignorando até, nalguns casos, a existência daquela Instalação no centro do átrio. Voltando aos factos, certo é que a maior parte dos inquiridos que perceberam na totalidade a instalação, detiveram‐se em detalhes, “vistas” ou perspectivas, caminhos e percursos hipotéticos e, daí, terem demorado mais no percurso, bem como terem vivido a experiência de formas diferentes e, como tal, mais ricas. Alguns lembraram vividamente zonas do labirinto: “o canto recôndito”, “uma espécie de corredor onde havia alunos a baterem fortemente nas portas dos cacifos”, o fim do labirinto (que culminava com o busto do Bem‐Saúde), o início (com o título da exposição) … Provavelmente, por se terem dilatado na sua experiência, a memória ficou com mais impressões digitais da peça artística e, como tal, houve uma actividade intelectual e sensorial mais expansiva no caso destes transeuntes. Isto, assumindo que a delonga da estadia é proporcional à reminiscência memorial e cognoscente de um dado lugar ou espaço; ou seja, quanto mais tempo permaneço num dado espaço, melhor o compreendo e um maior número de pormenores guardo em mim. Estes inquiridos pertencem (salva uma excepção) ao curso de arquitectura. Os restantes participantes, por seu lado, sobretudo ligados aos cursos de Engenharias, mostraram percursos mais rígidos, menos derivativos, sem paragens, mas dividem‐se entre os que perceberam o conceito e os que não conseguiram revelar a ideia da artista. Entre os que conseguiram compreender o conceito num percurso breve destaca‐ Esquema 3: Sobreposição dos pontos de paragem/interesse dos inquiridos 145 se o subgrupo feminino de colegas e funcionárias e poucos masculinos. A grande maioria dos que não entenderam a concepção artística, num percurso breve, é do sexo masculino. É curioso notar que alguns dos questionados não chegaram a atravessar os dois acessos ao labirinto, entrando e saindo pela mesma comunicação com o exterior do labirinto. Daqui poder‐se‐ia ainda questionar qual pode ser considerada a entrada e qual a saída do labirinto, se a que está a sul ou a norte, respectivamente. Como veremos adiante, alguns visitantes entraram por portas secundárias do edifício Central e, como tal, entraram na instalação pelo acesso mais próximo do labirinto (sul). Porém, tem.se vindo a desenvolver apenas o comportamento dos visitantes dentro do labirinto, mas existe ainda todo o contexto exterior que importa referir184. Nesta perspectiva, destaca‐se um questionário curioso de uma inquirida de arquitectura que assinalou os pontos de paragem “fora” do labirinto. Na entrevista falada, refere que se fez acompanhar de uma câmara fotográfica e procurou fotografar, principal e inicialmente, o contexto em que a instalação artística se enquadrava; escreve: “queria ver se existia alguma relação entre185 o busto e a instalação”. No interior, filmou, pelo que as primeiras impressões visuais foram obtidas através de um pequeno ecrã e o percurso foi contínuo. Sobre o contexto exterior, apenas se pode mencionar o sítio por onde os visitantes entraram no átrio (entrada principal, ou entradas secundárias), por onde subiram, para observarem a exposição a partir do varandim, e por onde saíram do edifício. Contudo, é seguro afirmar que a generalidade dos visitantes aproximou‐se da instalação Esquema 4: Justaposição dos esquemas dois esquemas anteriores 146 pela entrada principal, atravessando o ‘hall’ para entrarem directamente no labirinto. Poucos foram os que entraram em portas secundárias e os que o fizeram vieram de nordeste (a porta de acesso ao Central mais próxima do pavilhão Civil). Verifica‐se, ainda, que parte dos inquiridos contornou a instalação para subir ao piso superior, em vez de tomarem as escadas e o percurso mais directos. Por último, constata‐se que tomaram as entradas (primárias e suplementares) do edifício como saídas. 147 148 Conclusão 149 Conclusão Concluem‐se com este trabalho várias ideias que vieram sendo expostas desde o capítulo 1, com o dealbar da arte contemporânea, até à aferição dos inquéritos aos espectadores da Instalação Artística, no capítulo 10. Enunciam‐se as principais conclusões de seguida: (1) Reitera‐se a questão: O que é, então, uma Instalação Artística? Inicialmente tem‐se o ímpeto de associar a Instalação Artística ao espaço, em oposição ainda, e por exemplo, com a Arte Performativa que se desdobra no tempo. Contudo, este não pode ser o caminho para a compreensão da essência da Instalação Artística. O tempo é tão importante quanto o espaço, porque a experiência do corpo‐sujeito, como se mencionou nos capítulos 6 e 7, depende desse continuum e está enraizado nele. Também não se pode dizer que a Instalação Artística está mais focada na Arquitectura, do que, ainda, a Arte Performativa. Vito Acconci chega a referir que a arquitectura não é sobre espaço, mas sobre tempo”186. Ao mesmo tempo, artista performativa Marina Abramović preocupa‐ se bastante com o espaço, tando inclusive criado performances radicadas na arquitectura. A experiência do espaço é assaz importante no trabalho da artista187. Então, só resta reduzir a essência da Instalação Artística a um conjunto de media, capazes de activarem todos os órgãos dos sentidos através da imersão do indivíduo na obra, na atmosfera, na ambiência, do mesmo modo que transforma esse espectador em sujeito activo ou passivo da obra. Não raras vezes, a Instalação Artística não existe simplesmente sem a presença do espectador, porque ele é que é o elemento agregador do conjunto. (2) O crescente voltar da Instalação Artística para o indivíduo e para a interacção entre o mesmo e os objectos. Assim, a obra de arte passa a estar imbuída de uma componente social e humana que parte de questões reais e concretas. A isto chama Nicolas Bourriaud a “Arte relacional” que se define por “uma arte que toma como seu horizonte teórico a esfera das interacções humanas e os seus contextos sociais, em vez da asserção de um espaço simbólico autónomo e privado”188. Interessam, pois, o contacto do espectador com a obra, com os outros e com as coisas que o rodeiam ‐ a experiência com o mundo. (3) Em paralelo, a experiência individual da Instalação Artística mantém‐se, mas com menos pujança. A instalação de Char Davies, “Osmose” (1995) (ver páginas 78 e 79), por exemplo, parece perpetuar esta ideia, radicada ainda num 150 aparente individualismo, onde interessa apenas a experiência que o sujeito tem com aquela obra em particular. De facto, com o advento da New Media arte este conceito complexifica‐se, porque, apesar de um indivíduo estar conectado com uma rede vasta de internautas, ele está isolado no plano do real. Neste contexto, algumas das Instalações encetadas no advento da New Media Art comportam esta experiência cibernética partilhada, mas refugiada num espaço privado do utilizador. Veja‐se ainda a Instalação/Performance Artística “Vectorial Elevation”, de Rafael Lozano‐Hemmer (1999), onde internautas configuravam como lhes aprouvesse uma instalação que se desdobrava numa performance no tempo. Cada internauta interagia ciberneticamente com a Instalação, mas em rede pública com outros. (Nota: a experiência social internáutica ainda é um tema pouco explorado no campo das artes e, disto isto, a fenomenologia da arte cibernética é francamente parca – possibilidade para estudos futuros) (4) A importância do corpo e a importância das sensações; não é em vão que Olafur Eliasson intitulou uma obra sua “Feelings are Facts”. A nossa história não é uma sucessão de acontecimentos temporais genéricos, é antes uma sucessão de experiências fundadas num corpo, num mundo, sentido. A percepção e a sensação são o mesmo. O corpo está dotado de órgãos sensíveis que perante um fenómeno se activam, não de vez a vez, mas todos uma só vez e, por isso, é que as experiências são tão importantes e o seu entendimento também: a fenomenologia. Este corpo, contudo, dota‐se de uma pré‐existência cognoscente que faz com que corpo e alma passem a pertencer à mesma esfera, do mesmo modo que tempo e espaço têm de ser vistos como entidades unas. Merleau‐Ponty sintetiza este pensamento na expressão corpo‐sujeito; não existe um ‘Eu’ desenraizado de um corpo; ambos nutrem‐se numa reciprocidade indivisível e constante. (5) A experiência faz‐se no mundo, com as coisas. Existem rotinas e essas rotinas configuram e caracterizam um espaço – Seamon esclarece isto mesmo. O espaço ballet, que o átrio do Central comporta, é uma constante coreografia de corpos‐sujeitos que se cruzam, trocam experiências e vivências e partilham rotinas diversas. É isto que confere aos lugares atmosferas distintas. (6) Com a introdução da Instalação Artística da “Casa dos Segredos” formam‐se novos espaços ballet, porque novas experiências foram introduzidas naquele lugar. Novas sensações confrontam o utilizador que, por sua vez, equivalem a 151 novas percepções e perspectivas do espaço e do tempo. A artista Ana Vidigal, numa perspectiva mais integracionista do que intervencionista, interpretou o lugar e confirmou‐o, desocultando‐o, isto é, procurando a essência do fenómeno que o Instituto representa. Retribuiu à comunidade a sua visão, propondo uma nova interacção entre corpo‐sujeito com aquele Mundo de coisas que é o átrio do Central. O vocábulo novo, curiosamente, não deixa de ter uma conotação rapidamente transitória, porque, findo um mês de presença, a peça já parecia pertencer àquele lugar, àquela comunidade. Dito isto, percebe‐ se a pertinência das teorias da fenomenologia existencialistas de Seamon na arquitectura e na especificidade do lugar. (7) Contudo, existem poucas Instalações Artísticas tal como foram definidas anteriormente concebidas num contexto urbano, num espaço de uso público exterior. A imersão sensorial, do corpo e do sujeito – ou da alma, como diria Bachelard – pode tornar‐se um ponto de difícil acesso em situações destas, devido à agitação citadina ou metropolitana. Talvez seja por isso que algumas obras tenham um carácter de vincado entretenimento ou lazer, sem que isto se torne numa expressão pejorativa. Há toda uma noção de blockbuster, por exemplo, inerentes as Instalações como “Wrapping Reischtag” do Christo e da Jeanne‐Claude, ou do memorial do Holocausto de Peter Eisenman, ou a mais recente “Cloud Gate” de Anish Kapoor. Ainda, o denominador comum neste tipo de instalações parece afigurar‐se numa ‘gigantização’ das obras, de forma a aglutinar multidões e tornarem‐se pontos de referência/encontro em cidades vastíssimas. (Nota: Esta ideia de Instalação Artística Site‐Specific em locais públicos exteriores está ainda pouco explorada em termos práticos e teóricos, pelo que urgem novas literaturas e peças artísticas que abordem o tema numa perspectiva talvez mais integracionista, no sentido articular todas as variáveis locais numa hipotética imersão) (8) A importância da fenomenologia, uma disciplina descurada em arquitectura e na arte. A fenomenologia estuda a experiência do indivíduo, mas quando dotada de uma componente ontológica, estuda a experiência do indivíduo enquanto ser. Compreender‐se, através das vivências próprias, devia ser a tónica de cada um ao longo da vida. Compreender a fenomenologia do espaço e do tempo e do ser para, depois, fazer arquitectura. Constrói‐se sem se perceber a vivência, constrói‐se sem se perceber o homem; constrói‐se sem se perceber a importância das sensações e da reciprocidade entre o sujeito e o lugar. Seamon 152 (2010) escreve sobre Bachelard e a arquitectura, socorrendo‐se da literatura de Bromfiled. No artigo “Gaston Bachelard’s Topoanalysis in the 21st Century: The Lived Reciprocity between Houses and Inhabitants as Portrayed by American Writer Louis Bromfiled” Seamon expressa‐se muito claramente sobre a importância desta ‘topoanálise’ no âmbito da arquitectura e da construção de lares (lares, não habitações – um termo um tanto anódino). Refere o próprio que através desta ferramenta “o lar e os habitantes sustêm‐se e reflectem‐se mutuamente, por vezes numa perspectiva positiva que facilita o compromisso e o cuidado; outras vezes, numa perspectiva negativa que intimam o promovem a dissolução social e pessoal”189. A habitação, ou o lugar, “deve crescer do coração”190. (Nota: novamente um tema interessante que parece ter correspondência apenas no trabalho deste autor. A ‘topoanálise’, preconizada por Gaston Bachelard, que “estuda a componente psicológica e sistemática dos lugares na nossa vida íntima” (BACHELARD, 1994), poderia ser um complemento à Sintaxe Espacial. A articulação rigorosa entre Sintaxe Espacial e Arquitectura poderia ser igualmente sistematizada de forma rigorosa. Seamon já encetou alguns estudos, mas não representam literatura suficientemente robusta para a aplicação pelo arquitecto) (9) A importância das ideias de Bergson, sobre a matéria, o espírito e a intuição no pensamento de Merleau‐Ponty. No texto que Merleau‐Ponty escreveu intitulado “Elogio da Filosofia”, percebe‐se a constante recorrência às ideias de Bergson e sobre as suas teorias, o filósofo francês interroga‐se “não é verdade que a nossa inserção no espaço é sempre indirecta, reflectida para nós pelo aspecto perspectivístico das coisas que indica o ponto que deve ser o nosso?”191. Além disso, a noção de corpo como expressão entronca na reflexão sobre Bergson por Merleau‐Ponty de que “a matéria é obstáculo, mas também é instrumento e estímulo”192 E termina‐se, finalmente, esta dissertação com um pensamento de Merleau‐Ponty a respeito de Bergson no seu “Elogio da Filosofia” e que de algum modo sintetiza a essência da fenomenologia (mesmo não sendo Bergson um fenomenologista), ressalvando, ao mesmo tempo a importância da intuição: “Não somos esta pedra, mas, quando a vemos, ela ressoa no nosso aparelho perceptivo, a nossa percepção surge‐nos como provindo dela, isto é, como existindo por ela, como nossa recuperação daquela coisa muda que, desde que entra na nossa vida, se mexe, desenvolve o seu ser íntimo, se revela a si própria através de nós. O que julgámos ser coincidência é coexistência”193. 153 154 Notas e Referência 155 Notas e Referências Bibliográficas 1 Cf. HEIDEGGER, Martin, “A Origem da Obra de Arte”. Edições 70, LDA., Lisboa, 2010. 2 HUISMAN, Denis, “A Estética”, Edições 70. Lisboa, 2008. P. 52 3 Idem P.52 4 GOMBRICH, E. H., “A História da Arte”, Phaidon. Público – Comunicação Social, S.A., 2006. P. 564 5 Idem 6 Gesamtkunstwerk em alemão. Atribuído geralmente às execuções operáticas de Wagner: a encenação, o cenário, as composições, os libretos, etc. 7 JANSEN, H. W., “História da Arte”, Fundação Calouste Gulbenkian, 7ª edição, 2005. Lisboa. P. 693 8 WOOD, Paul, “Arte Conceptual”, Editorial Presença, Lisboa, 2002. P. 12 9 Idem, p.687 10 Idem, P. 738 11 O manifesto Surrealista escrito por André Breton. Este manifesto sintetiza a vontade dos Surrealistas e explica o que os motiva, tendo sempre como base o sonho e as várias formas de o abordar. Consultado on‐ line, em http://www.tcf.ua.edu/Classes/Jbutler/T340/F98/SurrealistManifesto.htm 12 BISHOP, Claire, “Installation Art: a critical history”, Tate Publishing. London, 2010. P. 20 13 Jansen caracteriza esta entrega de uma forma muito interessante comparando o artista a um “’cowboy’, que domina um cavalo selvagem, num frenesim de acção psicofísica”. De facto, só o recurso a telas grandes poderia comportar tamanha libertação de energia. 14 Nesta dissertação o construtivismo está associado à obra de El Lissitzky, artista Russo Construtivista, cuja obra se estende ainda ao Suprematismo, como se verá adiante. 15 ARCHER, Michael, “Art Since 1960 (New Edition)”, Thames & Hudson. Londres, 2010. P. 30 16 “Guía Museo Thyssen‐Bornemisza”, Lunwrg Editores S.A.. P. 160 17 Idem P.162 18 Alguns autores (MARZONA, Daniel, 2005) consideram a distinção entre minimalismo e arte minimal. O primeiro termo é bem mais abrangente que o segundo que se confina exclusivamente à chamadas artes plásticas. Como se anuncia, por esta época, um cesura entre movimentos e estilos, considera‐se neste documento os dois termos como sinónimos, porque deixa de ser relevante para os artistas ligar as obras a uma ideologia artística contemporânea. 19 MARZONA, Daniel, “Minimal Art”. Taschen, Köln, 2005. P 7 20 JANSEN, H. W., “História da Arte”, Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa, 2005. P. 741 21 ARCHER, Michael, “Art Since 1960 (New Edition)”. Thames & Hudson, Ltd, London, 2010. P. 57 22 A Land Art, em diversos livros sobre o tema, surge paralelamente a outro movimento: Environment Art. No entanto, por partilharem tantas semelhanças, considera‐se que tudo o que possa vir associado à Environment Art associa‐se à Land Art. 23 LAILACH, Michael, “Land Art”. Taschen, Köln, 2007. P. 38 24 Idem 25 Idem. P. 58 26 ROTHKO, Mark, “A Realidade do Artista”. Livros Cotovia. 2007. P. 140 27 SMITH, Mathew Wilson, “The Total Work of Art: from Bayreuth to Cyberspace”. Routledge, New York, 2007. P. 9 28 Idem p25 29 As operas de Wagner não devem ser colocadas no mesmo patamar que as suas homónimas barrocas, que apenas consideravam a totalidade das artes como um recurso estilístico, de opção artística puramente pessoal. As óperas de Wagner, por seu lado, procuravam a integração do espectador na atmosfera criada, procurava imergi‐lo na obra, nas cenas e nos actos. É neste contexto que este multifacetado artista sugere 156 uma nova sala (na Festspielehaus, em Bayreuth) exclusivamente para as suas peças operáticas, redesenhando‐se o palco, o auditório, etc. Mais tarde, a Bauhaus viria a retomar este legado e desenvolveria o modelo por conta própria. O livro de Matthew Smith “The Total Work Of Art: From Bayreuth to Cyberspace” explica todo o desenvolvimento da Gesamtkunstwerk ao longo dos tempos, sendo a Festspielhaus de Bayreuth, dedicada unicamente às obras‐primas de Wagner, o seu ponto de partida. 30 BISHOP, Claire, “Installation Art: a critical history”. Tate publishing. London, 2010. P. 20 31 Idem. P. 22 32 A exposição não foi instalada num museu, mas sim na Galerie des Beaux‐Arts de Paris; prenúncios de uma viragem radical na história da museologia, como adiante se irá constatar. 33 Idem. P. 22 34 Idem. P. 23 35 Idem. p. 23 36 Idem. P. 24 37 Idem. P. 24 38 Idem. P. 32 39 Idem. 45 40 Idem. 48 41 Idem p. 41 42 O’DOHERTY, Brian, “Inside the White Cube: the Ideology of the Gallery Space”. University of California Press, Expanded Edition, 2000. Pp 42‐44 43 Já aqui se denota a viragem na exposição de objectos artísticos fora dos museus tradicionais. Apesar da Exposição Internacional dos Surrealistas ter sido o ponto zero da Instalação Artística, a Merzbau, conseguiu acumular duas funções: a de precursora, também, do novo medium artístico e a de objecto visitável apenas fora de instituições museológicas; poder‐se‐ia, eventualmente dizer três, com alguma site‐specifity que lhe é inerente, não fosse a constante mutabilidade do ambiente artístico. 44 Entrevista a James Turrell por Richard Whittaker. Consultada on‐line, a 15‐10‐2012, em http://www.conversations.org/story.php?sid=32 45 Refere Claire Bishop (2005): “muitos [espectadores] tiveram que gatinhar ao longo da exposição, sobre as mãos e os joelhos”; tal não foi a implicação da arte na fisiologia do indivíduo. 46 Texto sobre Yayoi Kusama, da autoria do curador Mami Kataoka, do Mori Art Museum, de Tóquio. Consultado on‐line, a 03‐08‐2012, http://interactive.qag.qld.gov.au/looknowseeforever/essays/infinite‐ consciousness‐directed‐at‐the‐cosmos/index.html 47 BISHOP, Claire, “Installation Art: a critical history”. Tate publishing. London, 2010. p 92 48 Excerto do livro: FEAL, Rosemary; FEAL, Carlos, “Painting on the Page”. Suny Press, August, 1995. Consultado on‐line, em http://www.sunypress.edu/pdf/53271.pdf , p.3. 49 BISHOP, Claire, “Installation Art: a critical history”. Tate publishing. London, 2010. P. 94 50 Esta exposição gira, sobretudo, em torno da instalação “Orbite Rosse” da artista, que esteve primeiramente em exibição na Bienal de Veneza de 2009 51 “Escritos de Olafur Eliasson: Leer es respirar, es devenir”. Edições Gustavo Gili, Barcelona, 2012. P 11 52 MULLER, Richard A., “Physics for Future Presidents”. Fall 2008 Edition. University of Berkley 53 “Escritos de Olafur Eliasson: Leer es respirar, es devenir”. Edições Gustavo Gili, Barcelona, 2012. p 54 54 MACE – Museu de Arte Contemporânea de Elvas, da colecção António Cachola 55 Catálogo da exposição “Génesis”, exposta no MACE 56 BISHOP, Claire, “Installation Art: a critical history”. Tate publishing. London, 2010. P. 108 57 Do catálogo da exposição “Hélio Oiticica: Museu é o Mundo”, em exposição no Museu Colecção Berardo (2012) 157 58 MNAC – Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado 59 CRUZ, Valdemar, “O horror ao vazio e ao silêncio”, in ACTUAL, Expresso, 3 de março de 2012. 60 SPILLER, Neil, “Visionary Architecture: Blueprints of the Modern Imagination”. Thames & Hudson, London, 2006. pp.36‐39 61 Idem pp.66‐68 62 Entrevista a Eduardo Souto de Moura relativamente à Bienal de Veneza e à prática da arquitectura em geral. Consultada on‐line, a 31‐07‐12, em http://ipsilon.publico.pt/artes/entrevista.aspx?id=218246 63 ATTLEE, James, “Towards Anarchitecture: Gordon Matta‐Clark and Le Corbusier”. Consultado on‐line, a 20‐09‐2012, em http://www.tate.org.uk/download/file/fid/7297 64 Idem 65 Breve história sobre Marfa, no Texas, sob o ponto de vista da Fundação Chinati. Consultado on‐line, a 13‐ 10‐2012, em http://www.chinati.org/visit/forthistory.php 66 Manifesto de Judd sobre a missão da Fundação Chinati. Consultado on‐line, a 10‐10‐2012, em http://www.chinati.org/visit/juddstatement.php 67 MARZONA, Daniel, “Minimal Art”. Taschen, Köln, 2005. P 56 68 BATCHELOR, David, “Minimalismo”. Editorial Presença, Lisboa, 1999. P. 64. 69 MARZONA, Daniel, “Minimal Art”. Taschen, Köln, 2005. P 58 70 JUDD, Donald, “Artillery Sheds”. 1989. Consultado on‐line em http://www.chinati.org/visit/collection/artilleryshedsbyjudd.php 71 Fact Sheet da Fundação Chinati. Consultada on‐line, a 13‐10‐2012, em http://www.juddfoundation.org/_literature_105590/Marfa,_TX_Fact_Sheet 72 Do italiano, “Arte Pobre”, um breve movimento que deriva igualmente do “Happenings”, que procurava criar obras de arte através de materiais pobres, de pouca qualidade e simples, por vezes associados a obras imbuídas de uma estética clássica, como a obra de Pistoletto na “Vénus de Trapos” (1967). Está igualmente associado a correntes políticas, tendo inclusive alguma relevância no protestos de 68 (Fonte: moma.org) 73 KWON, Miwon, “One Place After Another: Site‐Specific Art and Locational Identity”. MIT Press, Massachusetts, 2004. P. 10 74 Idem, P. 11 75 Idem, P. 14 76 Idem, P. 19 77 O manifesto tem claramente um cunho feminista, mas não exagerado – realista, diria, até. Ao mesmo tempo que fala da arte em geral, e também de um ponto de vista pessoal, refere a labuta diária da mulher em tarefas extenuantes e desgastantes. É um documento riquíssimo da época do feminismo que merece uma leitura séria, embora, o texto contenha algumas ironias e sarcasmos. http://www.feldmangallery.com/media/pdfs/Ukeles_MANIFESTO.pdf. Consultado a 30‐07‐2012 78 Performance e Instalação Artística são mediums muito diferentes. Nesta dissertação não se pretende, de todo, abordar o primeiro caso. Aqui, contudo, abre‐se uma excepção como exemplo de algo que tem raízes em pensamentos bastante importantes sobre temas vitais à noção de “site‐specificity” 79 Entrevista ao artista pelo canal vernissage.tv, onde o artista explica todo o conceito que subjaz à obra Leviathan. Visionada on‐line, a 13‐08‐2012, em http://www.youtube.com/watch?v=12Ni0c4D27Y&feature=fvwrel 80 Entrevista com o artista Anish Kapoor, no âmbito da Monumenta, projecto para o qual construiu a instalação Leviathan que, simultaneamente, representa uma das maiores exibições de arte contemporânea que a história tem vindo a solidificar. Visionada em http://player.vimeo.com/video/45568339 81 COHEN, Mark Daniel, “The Paradox of Eco Logic: The Art of Agnes Dean”. Consultado on‐line, em http://www.agnesdenesstudio.com/WRITINGS_The_Paradox_of_Eco_Logic_by_Mark_Daniel_Cohen.pdf 82 LAILACH, Michael, “Land Art”. Taschen, Köln, 2007. P. 40 158 83 KWON, Miwon, “One Place After Another: Site‐Specific Art and Locational Identity”. MIT Press, Massachusetts, 2004. P. 74 84 Idem, P. 91 85 Idem, P. 104 86 Texto completo do discurso feito por Konrad Weiss em Bona, 25 de Fevereiro, de 1994. Consultado on‐ line, a 14‐08‐2012, em http://www.bln.de/k.weiss/te_wrapped.html 87 Texto sobre o memorial pela escritora Sarah Quigley, no qual descreve toda a história da obra. Consultado on‐line, em http://www.war‐memorial.net/Holocaust‐Memorial‐‐Architect‐Peter‐Eisenman,‐ Berlin‐2005‐2.66 88 PETERSEN, Anne Ring, “Fun City”. Arkitektens Forlag/The Dannish Architectural press, 2007. Pp. 236 – 258. 89 Este conceito de retrocartografia é melhor compreendido com Wagner o qual tentou “devolver à sociedade uma forma antiga de marcar a paisagem”, tal como na idade média se fazia com as peregrinações religiosas, entre mosteiros e abadias. A Festspielhaus, a Disneyland e a Osmose retomam esta ideia como centros de peregrinação cultural e de espectáculos. No entanto, em Osmose, a retrocartografia já não se baseia tanto num espaço cartesiano, mas antes num espaço inventado pela tecnologia (SIMITH, 2007) 90 SMITH, Mathew, “The Total Work of Art: From Bayreuth to Cyberspace” p 161 91 José Ferrater Mora (1989) aborda o espaço pré‐Socrático, o platónico, o Renascentista, o realista, idealista, fenomenológico, behaviorista e o espaço segundo a psicologia. Considera, ainda o espaço segundo os vários ramos ou disciplinas da filosofia, o gnosiológico ou ontológico, para além do já referido fenomenológico. 92 Por questões ultrapassam a concepção desta dissertação, só foi possível analisar uma Instalação Artística, embora inicialmente se tivesse pensado noutra possível abordagem. Num contexto de um espaço de uso público exterior, a Instalação de Rudolfo Quintas seria a outra Instalação que iria encerrar esta espécie de périplo pelas Instalações Site‐Specific em espaços público. Na falta de patrocínios e de capital a Instalação nunca chegou a concretizar‐se, o que poderia debilitar este trabalho. Com o objectivo de colmatar esta lacuna, que nada se pôde fazer para a evitar, procurou‐se, na parte 1, evidenciar obras propositadamente visitadas em museus portugueses. Embora se tenha feito uma abordagem unicamente teórica, constituem mais‐valias ao trabalho, na senda de “ir às fontes”, de se falar sobre aquilo que realmente se experienciou. 93 MERLEAU‐PONTY, Maurice, “Elogio da Filosofia”. Guimarães Editores, 5ª edição, Lisboa, 1998. P. 55 94 MORA, José Ferrater, “Dicionário de Filosofia”. Círculo de Leitores. 1989. Pp. 99‐102 95 Idem 96 Idem. De uma forma pouco convicta, porque o filósofo nunca se expressou directamente sobre esta noção, para Husserl o espaço era o meio pelo qual se formava a percepção dos objectos, das coisas e dos fenómenos, através dos quais formamos, juntamente com o tempo e, então, da experiência espácio‐ temporal, consciência do mundo à nossa volta. 97 Diz a teoria empirista que o conhecimento deriva directamente da experiência, contudo esta experiência e este conhecimento afastam‐se das teorias fenomenológicas. Tem‐se aqui empirismo como a doutrina que vem do positivismo, onde as experiências já vêm dotadas de juízos e conceitos, ao ponto de se criar uma espécie de base de dados que serve a posterioridade. A experiência que tenho agora resultará em conhecimento que será usado para a experiência futura. 98 O nativismo defende a existência de ideias inatas, que nascem com o sujeito. Neste contexto, todas as experiências tidas enquanto seres‐no‐mundo derivam de reminiscências de todos os homens anteriores ao sujeito e tais experiências têm já na sua raiz “verdades” ou “faculdades”. Ou seja, não há experiências puras, despojadas de conceitos, porque esses já nasceram connosco. 99 SEAMON, David, “A Lived Hermetic of People and Place: Phenomenology and Space Syntax” 100 Cit. de MORA, José Ferrater, “Dicionário de Filosofia”. Círculo de Leitores, 1989. P.122 101 LYOTARD, Jean‐François, “A Fenomenologia”. Edições 70, LDA., Lisboa, 2008. P.11 102 HUSSERL, Edmund, “A Ideia da Fenomenologia”. Edições 70, Lisboa, 2008. P. 20 159 103 MERLEU‐PONTY, “Phenomenology of Perception”. Routledge Classics, New York, 2002. Preface, page vii 104 LYOTARD, Jean‐François, “A Fenomenologia”. Edições 70, LDA., Lisboa, 2008. P.43 105 SEAMON, David, “Existencialism/Existencial geography”. 106 HEIDEGGER, Martin, “A Origem da Obra de Arte”. Edições 70, Lda., Lisboa, 2010. P.47 107 Idem. P.16 108 Idem. P.59 109 Ed. PARRY, Joseph D., “Art and Phenomenology”. Routledge, New York, 2010. P.10 110 Idem. P.11 111 Stanford Encyclopedia of Philosophy: Existencialism 112 ‘Lifeworld’, em inglês; ‘Lebenswelt’, em alemão, expressão original, portanto, segundo Husserl. Designa a experiência quotidiana subjectiva e imediata. É uma expressão idiomática de difícil tradução, mas muito perto, como se percebe numa leitura cruzada, com o conceito de fenomenologia. 113 SEAMON, David, “A Lived Hermetic of People and Place: Phenomenology and Space Syntax”. Consultado em: http://www.arch.ksu.edu/seamon/spacesyntaxkeynote.htm, em 29‐07‐2012 114 SARTRE, Jean‐Paul, “A Náusea”. Publicações Europa‐América, Lda., Mem Martins, 2011. P. 144 115 Idem 116 BACHEALRD, Gaston, “The Poetics of Space”. Beacon Press, Boston, 1994. P. xxi 117 DENTON, David E., “Notes on Bachelard’s Inhabited Geometry”, in Environmental & Architectural Phenomenology Newsletter, Verão de 1991. 118 SEAMON, David, “A Lived Hermetic of People and Place: Phenomenology and Space Syntax” 119 Idem 120 Idem 121 SEAMON, David, NORDIN, Christina, “Marketplace as Place Ballet: a Swedish example” 122 Idem. Mais notas sobre o ‘espaço ballet’ no capítulo da aferição de resultados, em linha com o desenvolvimento da análise ao comportamento dos expectadores durante a exibição da “Casa dos Segredos”. 123 Idem 124 Idem 125 SEAMON, David, “The Hermetic… 126 AMORIM, L., BRASILEIRO, C., LUDERMIR, R, Da conservação do espaço da arquitectura: o caso do Instituto de Antibióticos. In: 8o Seminário DOCOMOMO Brasil, 2009, Rio de Janeiro. Anais do 8o Seminário DOCOMOMO Brasil. Rio de Janeiro: DOCOMOMO‐RIO, 2009. 127 Como exemplo, Seamon cita os casos do “Soho”, da “East Village”, de San Francisco ou de Istambul, e, que aqui se acrescenta, da(s) “Chinatown(s)”. São espaços com atmosferas muito próprias e que resultam dos entrecruzares de espaços ballet e são menos fisicamente estruturados do que qualquer análise não sintáctica possa vir a revelar. 128 Filósofo racionalista e Católico Ortodoxo, cuja filosofia ou pensamento sobre as coisas não se encontra exactamente numa obra magna, mas conhecido pela oposição à teoria da tábua rasa ou à noção de espaço absoluto. Deste modo, Deus desempenha um papel fundamental nos seus pensamentos, ao ponto de se opor taxativamente às descobertas de Newton. 129 MORA, José Ferrater, “Dicionário de Filosofia”. Impresso para a Círculo de Leitores. 1989. P. 237 130 Enciclopédia de Filosofia da Universidade de Stanford, http://plato.stanford.edu/entries/leibniz/ 131 Diz a teoria da tábua rasa que o homem quando nasce, nasce vazio de conteúdos, uma folha branca na qual se vão inscrevendo conceitos, significados, conhecimentos, ao longo da vida. 132 MORA, José Ferrater, “Dicionário de Filosofia”. Impresso para a Círculo de Leitores. 1989. P. 237 160 133 George Berkeley na Enciclopédia On‐line de Stanford, http://plato.stanford.edu/entries/berkeley/ 134 Idem 135 MORA, José Ferrater, “Dicionário de Filosofia”. Impresso para a Círculo de Leitores. 1989. P. 237 136 Idem 137 Stanford Encyclopedia of Philosophy. 138 MORA, José Ferrater, “Dicionário de Filosofia”. Impresso para a Círculo de Leitores. 1989. p 171‐172 139 Resenha sobre os principais pensadores da Gestalt, na qual se verifica igualmente uma passagem sobre os fundadores da fenomenologia. http://www.sonoma.edu/users/d/daniels/Early_Gestalt.html 140 MERLEAU‐PONTY, Maurice, “Phenomenology of Perception”. Routledge, New York, 2002. P. XX 141 HUSSERL, Edmund, “A Ideia da Fenomenologia”. Edições 70, Lisboa, 2008. P.37 142 Grupo de teóricos e psicólogos que fundou as suas teorias na década de 40 do século anterior, embora se baseasse nos textos do filósofo austríaco Christian von Ehrenfels 143 Ed. SMITH, Barry, “Foundations of Gestal Theory”. Philosophia Verlag, Munique and Vienna, 1988. http://ontology.buffalo.edu/smith/articles/gestalt.pdf 144 MARSHALL, George J., “A Guide to Merleau‐Ponty’s Phenomenology of Perception”. Marquette University Press, Milwaukee, 2008. P.55 145 SEAMON, David, “Phenomenology, Place, Environment and Architecture: a Review”. In Environmental & Architectural Phenomenology Newsletter. Consultado on‐line, em http://www.arch.ksu.edu/seamon/articles/2000_phenomenology_review.htm 146 Idem 147 MERLEU‐PONTY, Maurice, “Phenomenology of Perception”. Routledge Classics, New York, 2002. Pp. 94‐ 95 148 Merleau‐Ponty associa este caso a um análogo, de um insecto. O insecto amputado não deixa de viver se um dos membros faltar; no homem o mesmo acontece, embora o caso seja mais complexo. 149 Idem p.236 150 Idem. P 243 Nota: não há forma de ser demasiado extensivo em como o filósofo chegou a estas conclusões. Porém, serviu‐se novamente da psicologia, nomeadamente a psicologia indutiva. Com o objectivo de esta tese não enveredar por caminhos errantes, escrevem‐se apenas as conclusões que Ponty defendeu. 151 LANGER, Monika, “Merleu‐Ponty’s Phenomenology of Perception: a Guide and Commentary”. Macmillan Press, London, 1989. P. 74 152 Cit. De BACHELARD, Gaston, “The Poetics of Space”. Beacon Press, Boston, 1994. P.189. Do original: “Et je me crée d’un trait de plume | Maître du Monde | Homme illimité” 153 LANGER, Monika, “Merleau‐Ponty’s Phenomenology of Perception: a Guide and Commentary”. Macmillan Press, London, 1989. P.78 154 Idem 155 HÅVARD, Nielsen, “Gestalt and Totality. The Case of Merleau‐Ponty and Gestalt Theory”. Winter Symposium on Cornelius Castoriadis. University of Akureyri, Iceland, March 2008. Disponível em http://nome.unak.is/previous‐issues/issues/vol3_2/merleau.pdf 156 LYOTARD, Jean‐François, “A Fenomenologia”. Edições 70, LDA., Lisboa, 2008. P. 99 157 LANGER, Monika, “Merleu‐Ponty’s Phenomenology of Perception: a Guide and Commentary”. Macmillan Press, London, 1989. P.85 158 Idem P.83 159 HÅVARD, Nielsen, “Gestalt and Totality. The Case of Merleau‐Ponty and Gestalt Theory”. Winter Symposium on Cornelius Castoriadis. University of Akureyri, Iceland, March 2008. Disponível em http://nome.unak.is/previous‐issues/issues/vol3_2/merleau.pdf 160 MARZONA, Daniel, “Minimal Art”. Tashen, Köln, 2005. P. 78 161 161 MARZONA, Daniel, “Minimal Art”. Tashen, Köln, 2005. P. 22 162 MORRIS, Robert, “Some Notes on the Phenomenology of Making: The Search for the Motivated”. In Artforum, Abril, 1970 163 Idem 164 Prefácio da autoria de Vladimir Nabokov relativamente à Metamorfose de Franz Kafka, publicado pela editora Relógio D’Água, Lisboa, 2005. 165 Site da Internet vocacionado exclusivamente ao estudo da fenomenologia. Consultado a 19‐09‐2012, em http://www.phenomenologyonline.com/inquiry/methodology/reductio/ 166 NOË, Alva, “Experience and Experiment in Art”. Consultado a, 19‐09‐2012, em http://socrates.berkeley.edu/~noe/art.pdf. A autora explica como a arte pode fornecer estudos válidos na abordagem da consciência perceptiva. 167 Victor Daniels, outro fenomenologista, descreve mais uns tantos, mas em leituras cruzadas com outros autores, percebe‐se que algumas reduções fenomenológicas são semelhantes e podem pertencer aos grupos a abordar. http://www.sonoma.edu/users/d/daniels/phenomlect.html 19‐09‐12 168 Aos inquiridos pode, ou deve, chamar‐se de co‐investigador 169 SEAMON, David, “Phenomenology, Place, Environment and Architecture: a Review”. In Environmental & Architectural Phenomenology Newsletter. Consultado on‐line, em http://www.arch.ksu.edu/seamon/articles/2000_phenomenology_review.htm 170 Idem 171http://www.publico.pt/Cultura/ana‐vidigal‐e‐pintora‐e‐nunca‐lhe‐passou‐pela‐cabeca‐ter‐ filhos_1446411 , entrevista ao jornal Público publicada no site do próprio em 12.07.2010, consultada no dia 28.01.2012 172 http://www.rtp.pt/programa/tv/p26022/c86057, conversa com a artista Ana Vidigal a respeito da sua exposição “Austeridade (e pequenos sinais de fumo)” (2012). 173 Cogitatio deriva do método cartesiano de Descartes, que Husserl utiliza “No primeiro grau da consideração fenomenológica” e associa‐o à vivência. O cogito é inseparável da experiência. HUSSERL, Edmund, “A Ideia da Fenomenologia”. Edições 70, Lisboa, 2008. P. 21 174 Há filósofos para todos os gostos, como há os artistas. Esta doutrina é uma justaposição de duas doutrinas, a Aristotélica e a de S. Tomás de Aquino, com um carácter teológico e metafísico muito vincado. Estes ensinamentos seriam seriamente comprometidos com a Idade Moderna e com Descartes, com o qual todos os conceitos de metafísica, teologia, alma e corpo (como dualismo) evoluíram bastante. 175 MORA, José Ferrater, “Dicionário de Filosofia”. Impresso para a Círculo de Leitores. 1989. 176 KLARQVIST, Björn, “A Space Syntax Glossary” 177 Uma forma de controlar os espaços segregados que conduzem à marginalização e à criação de guetos, por exemplo, é o recurso à videovigilância. No entanto, o labirinto construiu propositadamente uma série de cantos e recantos que se prendem com a essência da Instalação: o secretismo. No caso de uma vandalização de cacifos, a correcção imediata pela segurança seria complexa. O grafo da integração mostra um acesso ao centro moroso e sinuoso, o que aumenta a sensação ou percepção de insegurança. 178 HEITOR, Teresa, et al, “Inside‐Out and Outside‐In” 179 ZUMTHOR, Peter, “Pensar a Arquitectura”. Gustavo Gili, SA, Barcelona, 2005. P. 38 180 Seamon escreve que o método fenomenológico‐hermenêutico também se usa na descrição da materialidade do espaço: do mobiliário, dos edifícios, paisagens ou padrões de acampamentos (in “Phenomenology, Place, Environment and Architecture: A Review”). 181 Não deixa de ser curioso que um espectador que não percebeu o conceito artístico, ainda assim, parece ser o que mais interagiu com a Instalação, abrindo e fechando os que estavam sem cadeado. 182 SEAMON, David, NORDIN, Christina, “Marketplace as a Place Ballet: a Swedish example”. Consultado a 21‐09‐12, em http://ksu.academia.edu/DavidSeamon/Papers/176631/Marketplace_as_Place_Ballet_A_Swedish_Example 183 Idem 162 184 Poucos foram os inquiridos que assinalaram na totalidade o percurso que efectuaram do átrio, de forma que se foque apenas nestes, pese embora alguns tenham (lembrando de memória) mencionado por onde entraram no átrio, mas que não desenharam e, portanto, não conto como facto válido. 185 No original “do”. 186 Consultar a entrevista que o artista deu ao site Dezeen: http://www.dezeen.com/2012/10/13/vito‐ acconci‐interview/ 187 Veja‐se o artigo “Marina Abramovic Presents: Architectural Experience as Critical, Self‐reflective Practice” de Betty Nigianni e depois o documentário “Marina Abramovic: The Artist is Present” (2012). 188 Ed. BISHOP, Claire, “Participation: Documents of Contemporary Art”. Co‐published by Whitechapel Gallery and The MIT Press, London, 2006. P. 160 189 SEAMON, David, “Gaston Bachelard’s Topoanalysis in the 21st Centutry: The Lived Reciprocity Between Houses and Inhabitants as Portrayed by American Writer Louis Bromfield. Consultado on‐line em www.arch.ksu.edu/seamon/ 190 Citação original: “A place which grows about the heart”, de Bromfield, utilizada por Seamon para explicar que um lugar é uma amálgama de presente e passado que, ao mesmo tempo, configuram a pertença a um lugar. 191 MERLEAU‐PONTY, Maurice, “Elogio da Filosofia”. Guimarães Editores, 5ª edição, Lisboa, 1998. P. 29 192 Idem. P.38 193 Idem. Pp. 25‐26 163 164 Bibliografia 165 Bibliografia Bibliografia geral sobre a História da Arte: - GOMBRICH, E. H., “A História da Arte”, Phaidon. Público – Comunicação Social, S.A., 2006. JANSEN, H. W., “História da Arte”. Fundação Calouste Gulbenkian, 7ª edição, Lisboa 2005. ROTHKO, Mark, “A Realidade do Artista”. Livros Cotovia. 2007 “Guía Museo Thyssen‐Bornemisza”, Lunwrg Editores S.A. Bibliografia específica sobre a História da Arte Contemporânea: - ARCHER, Michael, “Art Since 1960”. Thames & Hudson, Ltd., London, 2010 Ed. BISHOP, Claire, “Participation: Documents of Contemporary Art”. Whitechapel Gallery and The MIT Press, London and Massachusetts, 2006 BATCHELOR, David, “Minimalismo”. Editorial Presença, Lisboa, 1999 KAPROW, Allen, Ed. KELLEY, Jeff, “Essays on the Blurry of Art and Life”. University of California Press, Los Angeles, 2003 LAILACH, Michael, “Land Art”. Taschen, Köln, 2007 MARZONA, Daniel, “Minimal Art”. Taschen, Köln, 2005. TRIBE, Mark; JANA, Reena, “New Media Art”, Taschen, Köln, 2007 WOOD, Paul, “Arte Conceptual”. Editorial Presença, Lisboa, 2002 Bibliografia específica sobre o tema da dissertação: - 166 BISHOP, Clair, “Installation Art: A Critical History”. Tate Publishing, London, 2010 COULTER‐SMITH, Graham, “Deconstructing Installation Art”. CASIAD Publishing, 2006 (Este livro pode ser consultado on‐line – versão utilizada ‐ em: http://www.installationart.net/) ELIASSON, Olafur, “Leer es Respirar, es Devenir”. Gustavo Gili, SL., Barcelona, 2012 Ed. GITTE, Marling, ZERLANG, Martin, “Fun City”. The Danish Architectural Press, Copenhagen, 2007 KWON, Miwon, “One Place After Another: Site‐Specific Art and Locational Identity”. The MIT Press, Massachusetts, 2004 O’DOHERTY, Brian, “Inside the White Cube: the Ideology of the Gallery Space”. University of California Press, Expanded Edition, 2000 RANCIÈRE, Jacques, “The Emancipated Spectator”. Verso, London, 2011 SMITH, Mathew Wilson, “The Total Work of Art: from Bayreuth to Cyberspace”. Routledge, New York, 2007 SPILLER, Neil, “Visionary Architecture: Blueprints of the Modern Imagination”. Thames & Hudson, New York, 2007 Catálogo “Casa dos Segredos” de Ana Vidigal. Instituto Superior Técnico, 2012 “Tate Modern: The Handbook”. Tate Publishing, London, 2009 Bibliografia relativa Fenomenologia e à Filosofia: - BACHELARD, Gaston, “The Poetics of Space”. The Beacon Press, Boston, 1994 HEIDEGGER, Martin, “A Origem da Obra de Arte”. Edições 70, Lda., Lisboa, 2010 HUISMAN, Denis, “A Estética”. Edições 70, Lda., Lisboa, 2008 HUSSERL, Edmund, “A Ideia da Fenomenologia”. Edições 70, Lda., Lisboa, 2008 LANGER, Monika, “Merleau‐Ponty’s Phenomenology of Perception: a Guide and Commentary”. Macmillan Press, London, 1989 LYOTARD, Jean‐François, “A Fenomenologia”. Edições 70, LDA., Lisboa, 2008 MARSHALL, George J., “A Guide to Merleau‐Ponty’s Phenomenology of Perception”. Marquette University Press, Milwaukee, 2008 MERLEU‐PONTY, Maurice, “Phenomenology of Perception”. Routledge Classics, New York, 2002 MERLEAU‐PONTY, Maurice, “Elogio da Filosofia”. Guimarães Editores, 5ª Edição, Lisboa, 1998 MORA, José Ferrater, “Dicionário de Filosofia”. Círculo de Leitores, 1989 Ed. PARRY, Joseph D., “Art and Phenomenology”. Routledge, New York, 2010 SARTRE, Jean‐Paul, “A Náusea”. Publicações Europa‐América, Mem Martins, 2011 Bibliografia específica sobre o tema da arquitectura: - - Coord. RODRIGUES, José Manuel, “Teoria e Crítica de Arquitectura Século XX”. Ordem dos Arquitectos – Secção Regional Sul; Caleidoscópio – Edição e Artes Gráficas, SA., Lisboa, 2010 ZUMTHOR, Peter, “Atmosferas”. Editorial Gustavo Gili, SA., Barcelona, 2006 ZUMTHOR, Peter, “Pensar a Arquitectura. Editorial Gustavo Gili, SA., Barcelona, 2005 Bibliografia relativa à Sintaxe Espacial: - HILLIER, Bill, “Space is the Machine”. Download facultado em www.spacesyntax.com HILLIER, Bill, HANSON, Julienne, “The Social Logic of Space”. Cambridge University Press, New York, 2003 Artigos atinentes à Fenomenologia ou à Filosofia - - DENTON, David E., “Notes on Bachelard’s Inhabited Geometry”, in Environmental & Architectural Phenomenology Newsletter, Verão de 1991. HÅVARD, Nielsen, “Gestalt and Totality. The Case of Merleau‐Ponty and Gestalt Theory”. Winter Symposium on Cornelius Castoriadis. University of Akureyri, Iceland, March 2008. Disponível em http://nome.unak.is/previous‐ issues/issues/vol3_2/merleau.pdf SARTRE, Jean‐Paul, “Existencialism is a Humanism” (1946). Consultado em www.marxists.org/reference/archive/sartre/works/exist/sartre.htm, a 12‐07‐ 2012 167 - - - - - - SEAMON, David, “Gaston Bachelard’s Topoanalysis in the 21st Centutry: The Lived Reciprocity Between Houses and Inhabitants as Portrayed by American Writer Louis Bromfield”. Consultado on‐line em www.arch.ksu.edu/seamon/ SEAMON, David, “Phenomenology, Place, Environment and Architecture: a Review”. In Environmental & Architectural Phenomenology Newsletter. Consultado on‐line, em http://www.arch.ksu.edu/seamon/articles/2000_phenomenology_review.htm SEAMON, David, “Phenomenology, Place, Environment and Architecture: a Review”. In Environmental & Architectural Phenomenology Newsletter. Consultado on‐line, em http://www.arch.ksu.edu/seamon/articles/2000_phenomenology_review.htm SEAMON, David, “A Lived Hermetic of People and Place: Phenomenology and Space Syntax”. Consultado em: http://www.arch.ksu.edu/seamon/spacesyntaxkeynote.htm, em 29‐07‐2012 SEAMON, David, “Existencialism/Existencial geography”. Consultado em www.arch.ksu.edu/seamon/ SEAMON, David, NORDIN, Christina, “Marketplace as a Place Ballet: a Swedish example”. Consultado a 21‐09‐12, em http://ksu.academia.edu/DavidSeamon/Papers/176631/Marketplace_as_Place_ Ballet_A_Swedish_Example SHIRAZI, M. Reza, “On Phenomenological Discourse in Architecture”, in Environmental & Architectural Phenomenology Newsletter Ed. SMITH, Barry, “Foundations of Gestal Theory”. Philosophia Verlag, Munique and Vienna, 1988. http://ontology.buffalo.edu/smith/articles/gestalt.pdf “The Contents of Perception”, in Stanford Encyclopedia of Philosophy “Existencialism”, in Stanford Encyclopedia of Philosophy “Phenomenology”, in Stanford Encyclopedia of Philosophy Artigos atinentes à Instalação Artística/Arte: - - - 168 ATTLEE, James, “Towards Anarchitecture: Gordon Matta‐Clark and Le Corbusier”. Consultado on‐line em www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/07spring/attlee.htm, a 10‐ 10‐2012 COHEN, Mark Daniel, “The Paradox of Eco Logic: The Art of Agnes Dean”. Consultado on‐line, em http://www.agnesdenesstudio.com/WRITINGS_The_Paradox_of_Eco_Logic_by_ Mark_Daniel_Cohen.pdf JUDD, Donald, “Artillery Sheds”. 1989. Consultado on‐line em http://www.chinati.org/visit/collection/artilleryshedsbyjudd.php LEE, Pamela, “On the Holes of History: Gordon Matta‐Clark’s Work in Paris”, in pp. 65‐89 (Consultado on‐line em October, Vol. 85, www.jstor.org/stable/779183, a 10‐10‐2012) MORRIS, Robert, “Anti Form”, in Artforum, April, 1968 MORRIS, Robert, “Notes on Sculpture: Part I”, in Artforum, February, 1966 MORRIS, Robert, “Notes on Sculpture: Part II”, in Artforum, October, 1966 - MORRIS, Robert, “Some Notes on the Phenomenology of Making: The Search for the Motivated”, in Artforum, April, 1970 “Simon Grant interviews Robert Morris”, in Tate Etc. issue 14; Autumn 2008 Artigos relativos à Sintaxe Espacial: - - AMORIM, L., BRASILEIRO, C., LUDERMIR, R, Da conservação do espaço da arquitectura: o caso do Instituto de Antibióticos. In: 8o Seminário DOCOMOMO Brasil, 2009, Rio de Janeiro. Anais do 8o Seminário DOCOMOMO Brasil. Rio de Janeiro: DOCOMOMO‐RIO, 2009. HEITOR, Teresa, ET AL., “Inside‐Out and Outside‐In”. Consultado a 29‐03‐2012, em http://www.spacesyntax.tudelft.nl/media/longpapers2/heitort.pdf KLARQVIST, Björn, “A Space Syntax Glossary”. Consultado a 3‐07‐2012, em https://dspace.ist.utl.pt/bitstream/2295/630855/1/glossarySS.pdf Sites da internet consultados no decorrer da dissertação, cujos materiais foram usados em diversas ocasiões: - www.publico.pt www.dezeen.com www.archdaily.com www.thisiscolossal.com www.designboom.com/eng www.ignant.de www.artandsciencejournal.com Bibliografia adicional: - BOCKEMÜHL, Michael, “J. M. W. Turner: O Mundo da Luz e da Cor”. Taschen para o jornal Público, Colónia, 2004 DELEUZE, Gilles, “Francis Bacon: Lógica da Sensação”. Orfeu Negro, Lisboa, 2011 HESS, Barbara, “Lucio Fontana: «Uma Nova Realidade na Escultura». Taschen, Colónia, 2009 TRAQUINO, Marta, “A Construção do Lugar pela Arte Contemporânea”. Edições Humus, Ribeirão, 2010 Catálogo da exposição “Decode: Digital Design Sensations”, no Victoria & Albert Museum, Londres (2009/2010) “O Mar na Maré Baixa Sonhando”. Livro/catálogo editado pelo Museu Serralves na ocasião da exposição sobre o artista Harald Klingelhöller (2007) 169 170 Anexos 171 Anexo 1: Conversa com a artista Ana Vidigal A conversa que se segue teve lugar num dia agitado para a artista. O que tinha construído um dia antes, estava destruído no dia seguinte. A frustração de ver o nosso trabalho destruído, não é frustração, é raiva e angústia pelos que não compreendem e destroem. Os cacifos reverberavam o espaço. O átrio, feito de pedra quase maciça, tinha outro elemento, o aço. Os reflexos sonoros eram duplicados, a conversa não podia ser feita ali. Inicialmente chamava ao texto que se segue de entrevista, até que me apercebi que isso soava a pretensão da minha parte. Foi uma conversa simplesmente. De alguém que estava na disposição de oferecer gentilmente conhecimento empírico e académico, sobre o que faz, a alguém que está interessado avidamente no assunto. Teria preferido o meu silêncio, às perguntas e ilações que proferi e ouvir a artista durante longas horas, mas os academismos a que me obrigam involuntariamente têm que me fazer valer qualquer coisa, falando ou fazendo. Encontrámos lugar num gabinete de apoio, o suficientemente confortável para conversarmos. Duas cadeiras, uma mesa redonda, um gravador, uma folha com perguntas e uma grande disposição da artista em me explicar o que sucedeu. E uma atenção ainda maior para conversar comigo. Uma conversa assaz agradável. Afinal, não é todos os dias que conheço uma artista com uma vasta obra e uma retrospectiva no CAM feita em 2010. Não esqueço. Falámos sobre Arte, Arquitectura, sobre obras e segredos, mas sobretudo sobre coisas. Coisas que podem ser coisas quaisquer. Esta palavra onde tudo cabe e onde nada se especifica. Coisa tanto pode ser tudo, como nada. A coisa é isto, a coisa é aquilo. E “dizem que em cada Coisa uma Coisa Oculta Mora”, como escreveu Alberto Caeiro. E que coisa oculta é essa? Ou que coisas ocultas são essas? “O que é na verdade a coisa, na medida em que é uma coisa? Quando assim perguntamos, queremos conhecer o ser‐coisa, a coisidade da coisa. Importa o experienciar o carácter coisal da coisa. Para tanto, temos de conhecer o âmbito a que pertencem os entes a que, desde há muito, chamamos com o nome coisa. A pedra no caminho é uma coisa, tal como o outeiro no campo. O cântaro é uma coisa, tal como a fonte no caminho. E o que se passa com o leite no cântaro e com a água na fonte? Também elas são coisas se, com razão, se chama coisas à nuvem no céu e ao cardo no campo, à folha no vento de outono e ao açor no bosque. Tudo isto se deve, de facto, chamar coisa, se com este nome se designa o que não se mostra a si mesmo como o acima citado, a saber, uma «coisa em si», é, segundo Kant, por exemplo, o todo do mundo, uma tal coisa é até mesmo o próprio Deus. Todo o ente, que de todo em todo é, designa‐se, na linguagem da filosofia, uma coisa.”1 Sim, falámos de arte e de obras, mas de coisas acima de tudo. A conversa foi informal para a artista, formal para mim porque nervoso. Deixo, em baixo, a versão integral da conversa, despudorada, mas rica; confusa, por vezes, mas 172 sincera e interessante. As perguntas originais que tinha planeado, deixaram de fazer sentido ao longo da conversa. No entanto, um manancial de informação para a minha mera formação. À artista Ana Vidigal, o meu sincero obrigado. A instalação intitula‐se “Casa dos Segredos” por associação ao programa da TVI que, enfim, mostra a vida das pessoas de uma forma um tanto gratuita. Pelo programa temos a noção que há uma espécie de voyeurismo, mas que esta obra não mostra de uma forma muito directa, pois não? Não, mostra é exactamente o contrário. Manter o privado em privado, porque nunca vamos espreitar o que está dentro dos cacifos dos alunos. Nem sequer nos passou isso pela cabeça! Mesmo que tenhamos pensado sobre o que eles têm ali dentro. É uma coisa que não se faz mesmo. Não andamos atrás dos alunos para ver o que é que eles têm. E em relação aos cacifos, é capaz de ser a “coisa” mais privada que eles tenham aqui dentro. Um professor, numa aula, pode pedir ao aluno para lhe mostrar o caderno de apontamentos – pelo menos no meu tempo era assim ‐, mas ninguém poderá, nunca, violar os cacifos – a não que hajam suspeitas de algo muito grave. Os cacifos estão fechados e talvez deve ser a coisa mais privada que eles tenham aqui na Universidade. Portanto mantém mesmo que a intimidade deve ser preservada e o segredo deve ser mantido. Sim, exactamente, ao contrário dos outros que vão para o espaço público fazer alarde de supostos segredos – porque são sempre supostos – para chamar a atenção Aqui, as pessoas tentam não o fazer e serem o mais discretas possíveis, guardam as suas coisas mais preciosas com descrição. Não sei se conhece o livro do Gaston Bachelard, “A Poética do Espaço”, mas às tantas há um capítulo dedicado à casa como segredo, à casa como um baú, onde está a história de toda uma geração, onde há uma série de gavetas com “aquelas” cartas proibidas. O que me leva a crer que há uma grande relação entre esta instalação e o que ele escreveu. Mas o filósofo refere ainda que quem enterra o baú, enterra‐se com ele. Não sei se a Ana tem noção dessa angústia do segredo… Se o revelamos temos uma sensação de leveza, mas se o perpetuamos até ao fim, há um peso que se vai somando paulatinamente ao longo do tempo. Não sei se concorda… Ao trazer os seus objectos pessoais para aqui, não sei se é a sua maneira de se libertar desse secretismo; talvez os mais levianos?… Eu sempre trabalhei com essa dicotomia entre o que é público e o que é privado. Isto aconteceu‐me porque o sítio onde eu ia buscar os materiais para os seus trabalhos era uma casa de família, que hoje já não existe… Era a casa dos meus avós. Uma casa muito grande. As pessoas só guardam coisas se tiverem espaço para as guardar. Hoje em dia é impossível e se calhar gostam de guardar muitas coisas e não podem. E, portanto, pela minha experiência, eu não concordo muito que as pessoas ao guardarem segredos, ou ao arquivarem as coisas, se enterrem com elas. Porque, por exemplo, no meu caso, eu desenterrei tudo o que a minha avó tinha enterrado e ela tinha noção disso. Ela, ao permitir que consultasse todas as coisas que tinha guardado, coisas que nem sequer 173 eram segredos, eram coisas que, digamos, “privatizadas”… Vou dar um exemplo: a minha avó teve uma irmã que morreu. E tinha embrulhado, dentro de uma caixa, uma trança com o cabelo da irmã que era uma coisa que antigamente se fazia muito. Quando ela tinha não sei quantos anos, cortaram‐lhe o cabelo e o que é certo é que essa senhora, quando em adulta morreu, a minha avó preservou [a tal trança]. E ela permitiu que eu tomasse conhecimento disso. Portanto, depende muito da atitude de quem guarda. Há realmente quem guarde e não permita que ninguém veja. E, depois, há aqueles, a quem eu chamo de pessoas generosas, que é o caso [da minha avó], e permitem que outras pessoas utilizem essas coisas. Obviamente que não utilizei isto [a trança], mas utilizei muito do que ela tinha e que eram coisas que tinha prazer em guardar. E cartas! Utilizei isso, também, noutros trabalhos. Cartas que a minha mãe me deu. Na Instalação “Penélope”, certo? Sim, ela também me permitiu isso. Ela, ao guardar aquilo, não se estava a enterrar, porque anos mais tarde… Eu quando lhe perguntei, achei que não me ia dar! Só que ela, estranhamente, disse, “ah, sim, podes levar”! E, como tal, acho que depende das pessoas. Há quem guarde e queira manter isso, para sempre, no campo do silêncio, não permitindo que ninguém divulgue e depois há as que guardam e têm o prazer de partilhar com outras, sem serem elas, até, a fazerem isso, permitindo a outras pessoas, por exemplo o meu caso, que o façam. Não sei se respondi bem à questão. Às vezes uma pessoa começa a falar e… [Sorrisos] Pelo que li, percebo que a Ana tem um método para chegar às obras que faz acontecer. É um método exigente, ou é daqueles que vão evoluindo organicamente, deixando as coisas simplesmente acontecerem? Ele vai acontecendo… Quer dizer, há sempre um esquema, mas depois vou adaptando‐ me ao que vou encontrando. Eu, aqui, segui mais ou menos o esquema de quando me são dados estes tipos de trabalhos para fazer. Ou seja, eu sou essencialmente pintora. Artista plástica/pintora porque trabalho em casa e tenho muito prazer em pintar telas. Mas, depois, de vez em quando, também gosto de fazer este tipo de trabalhos. E geralmente o que acontece é: eu vou para os locais… Eu não faço peças para depois ir colocá‐las em certos locais. Como sou pintora, sou convidada para fazer um trabalho, portanto eu já sei o sítio onde essa peça vai ficar. E, como tal, o que eu faço sempre é ir ao local para ver o que é que eu posso aproveitar desse local. E faço isso, como quando estou no ateliê e vou procurar coisas para pôr nas telas. Vou aos meus arquivos. Este trabalho, surgiu, para aí, em 2010 e talvez só tenha chegado à conclusão dos cacifos em Novembro… Em Setembro de 2011. A exposição era para ser em Novembro, depois o Técnico é que pediu para adiar. Então andei para aí um ano e tal aqui, à procura de várias coisas para poder pegar nelas. E o processo é esse. Eu vou visitando os departamentos. Fotografo. Depois faço pesquisa sobre as coisas. O que é que é, o que é que não é. E depois, claro, tenho que ver o que é que formalmente e esteticamente me agrada. Porque há coisas que podem ser muito interessantes a nível científico, mas para 174 mim não têm interesse nenhum, mas também o contrário. Havia coisa que formalmente me agradavam, mas que eram impossíveis de transportar aqui para o Pavilhão Central. Posso interromper? Pelo discurso que faz, vê‐se que há uma fase quase, e primeiro, de planeamento, depois de estudo prévio, depois de sonho, depois de desenho e, depois então, de execução. Sim. É mais ou menos isso. Quase como um arquitecto. Como um arquitecto! E, assim: acha que fez arquitectura? Não. Quer dizer, eu acho que não fiz arquitectura porque seria pretensioso da minha parte dizer isso, mas eu tive a colaboração de um arquitecto. Eu tenho um irmão que é arquitecto, é o Egas José Vieira e ele é que veio aqui comigo para noções de espaço, organização de espaços e coisas assim. Eu nessas coisas tenho noção que, nós artistas plásticos, somos muito limitados; principalmente porque estamos habituados a trabalhar em bi‐dimensão. É um trabalho completamente diferente. E, portanto, quando tenho instalações, trabalho muito com ele e com o gabinete de apoio dele. Acho muito importante ter ao lado um arquitecto que tem a noção de espaço muito treinada, digamos assim, porque é com isso que trabalham. Portanto, eu não fiz arquitectura e achava isso um pretensiosismo da minha parte enorme, mas pedi colaboração… Aliás, o desenho do labirinto, que está no catálogo, foi feito por ele; as medidas – porque eu sou péssima a tirar medidas ‐; quantos cacifos seriam precisos… Ou seja, a parte técnica é feita por quem sabe. É como disse: eu sonho, calculo e transmito. E eles passam a rigoroso aquilo que eu acho que é possível fazer. “Gostava, assim, de uma fileira de não sei quê e tal, tal, tal, e fazer o desenho… É possível?”. E eles, com as medidas que vieram cá tirar, disseram, “sim, é possível”. “Integra‐se?...” Porque a minha primeira ideia até era… Para já, porque depois também não havia cacifos suficientes… Mas a minha primeira ideia era que os cacifos em vez de serem dois, um em cima do outro, fossem quatro. Para ficar mais alto. Depois chegámos à conclusão que isso ficava desproporcionado no espaço. Não funcionava. Eu pensava que quanto mais alto fosse, mais impacto tinha. Não. Até porque tirava a grandiosidade do espaço! Portanto um arquitecto é fundamental para uma coisa destas. O que eu noto é que esta instalação tem uma escala muito mais humana do que propriamente este edifício todo. É muito austero! Exactamente. Eu tenho uma questão que vem ao encontro do que esteve a dizer. A Instalação Artística não é um movimento, um estilo, é mais um médium, um meio, como é a tela. Não há uma ideologia por detrás, não há uma coisa que defina que uma instalação artística é isto, ou aquilo. Neste contexto, o conceito de uma instalação poderia inserir‐se na óptica de um qualquer movimento, por exemplo uma instalação surrealista, conceptualista, minimalista… É que, li algures, todos os artistas têm um bocado de conceptualista. 175 [Pausa. Sorrisos.] É assim, não sei como responder a isso… Para mim, é um bocado difícil estar a classificar. O que eu posso dizer é que um trabalho destes é um trabalho mais de concepção da minha parte, do que propriamente de execução. Porque até pelas minhas capacidades físicas eu não era capaz de trazer os quatrocentos e tal cacifos. O que eu acho é que no trabalho de ateliê, que sou eu que faço e executo praticamente tudo – às vezes tenho lá uma sobrinha ou um colega meu mais novo que me vão lá ajudar a fazer recortes, mas por uma razão muito simples: eu perco muito tempo e tenho muito trabalho e eles vão lá cortar, por exemplo, estas letrinhas todas para eu fazer colagens ‐ porque eu trabalho com colagens, desde pensar a executar. E neste tipo de trabalhos eu praticamente só penso, porque não sou eu que os executo. Agora, eu não acho que estes trabalhos são mais conceptuais que a pintura. Porque também, na pintura se não pensarmos muito aquilo – desculpa o termo – sai uma borrada. [Sorrisos]. Portanto, o que acontece, é que aqui existe menos parte prática. Mas também é aqui neste exemplo, porque eu tenho uma colega, a Armanda Duarte, que faz umas instalações lindíssimas, que demoram horas e dias a fazer, uma vez que é tudo feito com linhas e é ela que tem que as fazer. As linhas têm que ser colocadas de determinada maneira… Não só é ela que pensa a peça, como também a executa. Isto depende muito de situação para situação. Hoje em dia o modus operando, digamos assim, é muito vasto. É muito livre… É muito livre, sim. Que vem muito daquelas lutas todas, quase infernais, que os artistas do século anterior vieram advogando: desde o Duchamp, ao Readymade, à Pop Art. A crítica à sociedade, ao gosto burguês… Sim. Esta instalação, ao fim e ao cabo, é um readymade. Os cacifos existem. É fazer um labirinto com cacifos. É usar uma coisa que já tem uma função e dar‐lhe outra. Apesar de aqui ter também a sua função inicial, porque nós quisemos que a peça fosse utilizada pelos alunos... Ou seja, a nossa intenção foi, primeiro, evitar que as pessoas não conseguissem atravessar o Pavilhão Central como atravessam, tipo corredor; com os espelhos, chamar à atenção que existe uma clarabóia que é lindíssima que as pessoas ‐ como é lógico [as pessoas] estão com pressa e não estão a olhar para cima; e, por outro lado, dar vida a um sítio de passagem. Portanto, colocar neste espaço as coisas dos alunos, para que eles em vez de irem aos corredores [na cave do Pavilhão Central], irem ao átrio central e, assim, o átrio ter vida, movimento. Eu não sei se concorda, mas a partir dos anos 50 a arte passou a voltar‐se para as massas e isto levou a que muitos críticos passassem a fazer a distinção entre a arte alta e a arte baixa, ou a “arte pequena e a arte grande”. Acha que podemos ver a arte ainda dessa forma? Não. Acha que se diluiu completamente… Quer dizer, eu não sou uma teórica. 176 Acha que por exemplo um Da Vinci poderá valer mais ou menos que um Wharol ou as primeiras instalações de um Kabokov? Não, acho que não. O que eu acho é que isso é resultado do Mercado, esta palavra que agora está muito em voga. A Arte é um mercado. Por muito que as pessoas digam “não estou interessada em que a arte seja comercializada”… Para já, enquanto somos vivos, temos que comercializar, porque, se não comercializarmos, não pagamos as contas, não vivemos, não… E depois, a partir de um certo escalão de artistas internacionais… É quase como estar a investir em acções! Com uma diferença: são bastante mais bonitos que os papéis das acções! [Sorrisos]. São bastante mais interessantes. Mas não acha que isso prejudicou ou prevaricou a essência da arte, o que quer que essa essência seja? [Hesita] Eu por acaso acho que não. Ou acha que acabou por trazer mais vitalidade [à Arte]? Essas coisas passam‐nos um bocado à parte. É lógico que, enquanto um artista é vivo, se tem êxito e se esse êxito se reflecte no mercado, o artista tira partido disso, óbvio. Mas repara, há coisas que são excelentes e que não têm saída comercial. Aliás a instalação é ela muito difícil de comercializar! Quer dizer, esta instalação é incomercializável, porque os cacifos não são meus e, depois, não me parece que Portugal tenha estruturas. Não há uma instituição que possa adquirir uma instalação destas. (…) Isto é uma peça comemorativa de um centenário, é uma coisa que vai pertencer ao instituto. Eu própria, quando fiz este trabalho, preferia ter um catálogo e escolher a equipa que vem montar… Porque já sabia que ia haver problemas como estes [parcial destruição da montagem, no dia da entrevista], porque mexem e porque as pessoas não estão habituadas. Muitas são vezes são empresas de fora. Por exemplo, esta situação de terem mudado os cacifos e agora ter que se tirar os rebites outra vez, uma empresa de fora diria imediatamente “ah, mas isso fora do orçamento!”. Portanto, eu gosto de trabalhar com pessoa com que eu já estou habituada a trabalhar porque já sabem que estas coisas acontecem e que irritam muito. Mas são trabalhos que, à partida, já sabemos que são, digamos, a fundo perdido. Ou seja, já haver disponibilidade económica para pagar uma produção destas, porque uma coisa destas custa dinheiro… E como tal, no meu caso, eu achei que era preferível ter disponibilidade para uma boa equipa de montagem e para o verificar, com registo, no catálogo, do que propriamente haver honorários, ou que esta peça possa ser comercializada, ou seja o que for! Nem sequer me passou isso pela cabeça. Também porque, como eu sou pintora, ganho o meu dinheiro com as pinturas e, como tal, sempre que tenho estes convites nunca os aceito com o aliciante de serem comerciáveis. Por acaso tive a sorte dum, que uma vez fiz, que, depois, adquiriram a peça. Foi uma roulotte que eu fiz… 177 Que esteve no CAM… Sim, esteve no CAM, mas aquilo foi feito para a Trienal de Arquitectura. A Trienal tinha uma exposição de promotores. E havia uma empresa que tinha um terreno, mas essa exposição de promotores só pode mostrar os terrenos quando os projectos já estão aprovados. E tinham um projecto, mas ainda não estava aprovado, e não podiam apresentar o projecto. Eles, como empresa de promotores. Depois tiveram uma ideia que foi esperta e que foi: “nós não podemos, mas um artista plástico pode!”. O que eles queriam mostrar era que eles eram donos do terreno. Essa roulotte estava toda forrada por dentro com fotografias do terreno. Foi feita para mostrar exactamente isso. E depois eles gostaram tanto, que adquiriram a peça. Mas eu quando fiz aquilo, não fiz com intenção de… Fiz aquilo, porque achei que era um desafio interessante, da mesma maneira que este. Quer dizer, não é todos os dias que nos dão um espaço destes – Estado Novo, com esta dimensão – para poder trabalhar. Eu como queria mesmo fazer este trabalho, disse que aceitava, mas a únicas condições que punha era um catálogo e escolher eu a equipa de montagem. Agora isso que estava a perguntar, se prejudicava… Eu acho que, eu acho que não… Porque quando estamos a falar de artistas que só fazem instalação, quando eles chegam ao ponto de só fazerem instalação, já estão muito bem integrados no mercado e, portanto, já não são limitados, as pessoas já lhes oferecem todas as condições para eles poderem trabalhar. Por exemplo, um caso de alguém que já morreu para não haver chatices! A Louise Bourjois, a fazer aquelas aranhas gigantescas… Não me parece que fosse condicionada. Ela se quisesse fazer um trabalho daqueles e pedisse um financiamento, toda a gente lho disponibilizava. Ou a Paula Rêgo… Imagina que a Paula Rêgo chegava aqui ao Técnico e dizia assim: “ah! gosto muito do Pavilhão Central, gostaria de fazer aqui uma coisa”; quer dizer, qualquer pessoa disponibilizaria tudo para a Paula Rêgo fazer um trabalho aqui. Eu queria só esclarecer uma coisa que é, eu há bocado quando fiz a pergunta “acha que fez arquitectura?”, fi‐lo porque eu não distingo arte de arquitectura. Mas nunca te esqueças de uma coisa: tu podes fazer uma tela. Eu não posso assinar um projecto. Sim, mas isso são questões burocráticas! Não! E porque não aprendi! Porque a pintura é uma coisa que logicamente também se aprende e se evolui, mas tem outros condicionantes. Vê, por exemplo, agora esta situação de crise: eu, em casa, em vez de fazer desenhos de três metros, faço desenhos de tamanho mais pequeno. Estou a fazer e estou a guardá‐los. Tu, como arquitecto [salvo seja!], não podes estar a fazer projectos! Eu percebo o que dizes, que não há diferenças. E eu sou a primeira pessoa a dizer que há arquitectos que são criadores e que, portanto, estão ao mesmo nível que nós [artistas]. Com uma diferença, os arquitectos têm uma grande condicionante que é o cliente. Logicamente, há sempre aqueles utópicos que poderão estar a desenhar e que se podem dar ao luxo de pensar coisas, mas que não passam também do desenho. Eu, que na família estou rodeada de arquitecto, vejo as dificuldades por que eles têm e que são: não há clientes, eles não podem trabalhar e têm que manter os ateliês. Não podem estar a fazer projectos por 178 auto‐recriação. Eu, ok, não estou a vender, mas estou a produzir para, quando a coisa melhorar, eu ter um acervo que me permite compensar o tempo em que as coisas estiveram piores. E eles não podem fazer isso… Mas o que a Ana fez aqui foi trabalhar o espaço. Quer o cheio, quer o vazio. No fundo, é isso que o arquitecto faz. Mas ao mesmo tempo [a Ana] deu‐lhe outra dimensão quase impalpável, inteligível, imaterial, que são os segredos. Há uma dimensão artística no espaço. Sim. É uma coisa muito simples que se resume a não ter utilidade, a não ser a utilidade mental do prazer. O trabalho de um arquitecto tem sempre uma função. Se estás a desenhar uma casa é para as pessoas viverem lá. Ninguém desenha uma casa para estar fechada; ninguém desenha um museu para não ter quadros, ou para não ter exposições. Mas a boa arquitectura também deveria ter essa outra dimensão [a artística, a imaterial]. Ou não concorda? Mas agora a arquitectura também tem essa função. Por exemplo, quando vês a Casa da Cascata, do Frank Loyd Wright, ou lá como ele se chama!, a primeira coisa com que ficas encantado é com a suspensão das formas e… Vê aquilo quase como uma escultura. Depois, se for arquitecto, vai lá ver como é que é ao certo… Mas eu vejo sempre aquilo com o carácter estético e formal como está resolvido. Estou a dar exemplos clássicos da arquitectura. Ou aquela capela daquele dos óculos, como é que se chama… Corbusier. Do Corbusier! Para mim, aquilo, poderia ser uma capela como uma outra coisa qualquer. O que é o bonito é a forma. Para mim… Os meus irmãos foram visita‐la, eu nunca fui ver a capela do Corbusier. Mas eles visitaram por dentro e acharam‐na espantosa. Eu só vi por fora e aquilo é quase uma escultura. Eu acho que [a capela] não tem nada a ver com o trabalho anterior dele. Porque ele era daqueles que advogava taxativamente a casa como uma máquina, o reducionismo puro. Mas, depois, houve uma parte de reflexão após a guerra e eles [os arquitectos] realmente perceberam que era precisa “essa outra dimensão” [mais humana]. Portanto, essa forma toda orgânica, quase poética, já vem de uma crítica que ele fez ao trabalho dele mesmo. Mas concorda, então, que actualmente todas as áreas se estão a esbater dentro do domínio da arte: a ciência com a arte, a arquitectura com a arte… Sim, eu sou completamente permissiva a essas [situações]. Eu não sou nada do tipo: “ai, eu não posso considerar isto arte porque isto ultrapassa os limites do clássico”. Desde a pessoa que a execute [a peça de arte] assuma que aquilo é arte, para mim, chega. Eu não vou discutir… Vou dar um exemplo. Não sei se conhece a Sophie Calle, é uma artista que eu admiro imenso, francesa, que faz coisas que se podem chamar quase de arte conceptual e faz projectos do género seguir alguém na rua. Quer dizer, ela é tão séria nessas coisas que isso para mim é tão válido como uma pintura. Aliás, às vezes encanta‐ 179 me mais esse tipo de trabalhos porque são coisas que eu ainda não tenho coragem de as fazer. E, portanto, para mim ainda têm mais valor. Eu sou de uma geração que vem dos anos 80, uma geração que estava nas Belas‐Artes quando houve um regresso à pintura e, então, eu venho de uma geração de pintores. Eu sou uma pessoa que precisa de tempo para ir evoluindo. Era inconcebível eu fazer um trabalho destes [a instalação] nos anos 80. Enquanto que, se calhar, eu tivesse sido dos anos 60, e tivesse a idade escolar nessa altura, talvez fosse para uma coisa que para mim era normal [porque], logicamente, nós somos muito influenciados por tudo aquilo que se passa à nossa volta. E, portanto, nos anos 80 fui influenciada por pintores. Mas as pessoas vão evoluindo e vão fazendo outro tipo de trabalhos. E eu preciso de tempo!… Preciso de ter a certeza, sem querer ser pretensiosa, que aquilo que estou a fazer está bem feito. [Breve silêncio] Agora mete‐se a internet. Parece que a arte está em todo o lado. Acha que está a existir um esgotamento de possibilidades onde a arte se pode manifestar? Não, eu acho que isso não… Isso é como aquelas coisas que dizem sobre os livros: que os livros vão acabar… Não, acho que há espaço para tudo. Há sempre quem há‐de gostar de ler em papel, há sempre quem prefira ler no Kindle… Por acaso eu li, no outro dia, que a enciclopédia britânica publicou em 2010 a última edição. Era como dizia o Miguel Esteves Cardoso: publicou a última até ser publicada outra! Quer dizer, não acredito que daqui a não sei quantos anos não façam outra edição. Estas coisas têm sempre um tempo e há sempre umas modas. Mas as coisas normalizam. Há bocado falou numa palavra‐chave: clássico. A arte também se desvinculou do conceito de Belo. A estética de Nietzsche [ou o estudo sobre a estética por Nietzsche] ajudou a que cada artista tivesse a sua própria forma de encarar a estética. Acha que o conceito de Belo ainda pode ter lugar na arte contemporânea. Por exemplo, na Grécia antiga, o Belo estava associado à simetria, à ordem, à repetição, à polarização… Actualmente o Belo… Pode ser outra coisa. É assim: existem tantas correntes. Há muita gente que diz que não tem interesse, há outras que dizem [o contrário] … [Hesita] Como é que eu vou sair desta… Acha que se tornou facultativo? Por exemplo, lembro‐me do Edvard Munch e d’”O Grito”. Não sei se aquilo é belo. Não sei se se pode considerar belo “O Grito”. Há ali uma angústia, quase um horror que se calhar é mais interessante do que qualquer coisa que se pode considerar belo. Eu acho que essa distinção de belo depende muito do que a gente considera o belo. Por exemplo, aqueles puristas podem achar uma escultura do Richard Serra bela, mas as pessoas acham horrível. Eu não sei como responder… Porque, muito francamente, não ligo… 180 Acha que tudo está na subjectividade… Acho que o que pode ser belo para uns, pode não ser para outros. Mas, no outro dia, por acaso, li uma coisa qualquer, já não sei aonde… Houve uma altura em que tudo o que era belo era considerado decorativo e não interessava. Mas li que isso era uma coisa que tinha que ser um bocadinho burilada… Não podia ser tão radical assim. E associavam isso ao momento de crise, ou seja, que as pessoas precisavam de algum descanso no olhar e recuperarem algumas coisas, que podiam ser consideradas “belas”. Teria algum interesse… Uma última pergunta: A instalação tem vindo a ser, ou foi criticada, como um caso de teatralização. Concorda com essa crítica? Ou acha que é antes uma valência ao valor intrínseco da instalação artística? Eu acho que é uma valorização. Eu acho que uma teatralização, se for bem feita, para mim, é uma coisa que é interessante. Não vejo isso como uma coisa depreciativa. Acho que até tirar partido dessa teatralização, durante o tempo em que a instalação está presente [breve], é fundamental. (…) As pessoas também gostam de estar envolvidas nalguma coisa. Até porque a instalação tem muito esse lado efémero. Uma vez que acabe, fica documentada, mas para reviver [a experiência] é preciso de um grande esforço de imaginação. Quer dizer, um caso destes é impossível reproduzi‐lo com esta espectacularidade e com esta teatralização. Porque só o assim pode ser assim, se o voltarmos a fazer aqui. Esta, para todos os efeitos, é uma instalação site‐specific, não é? Exactamente, enquanto que há outro tipo de instalações que podem perfeitamente ser refeitas, porque não são específicas do local. Eu sempre podia reproduzir esta numa galeria, mas não havia a clarabóia, não havia o mezanino para as pessoas subirem até lá cima, não havia os alunos de manhã irem buscar as coisas aos cacifos… Neste caso, penso que perderia todo o interesse se voltasse a fazer isto sem ser aqui. Acha que o visitante – para finalizar mesmo –, antes de entrar na instalação, ou antes de ver uma obra, devia ter uma brochura a explicar o que é que vai ver? Um levantar, se calhar, do véu… Eu acho que a informação é sempre uma coisa boa. Agora depende. Eu o que gostava aqui era que as pessoas antes de entrarem no labirinto vissem a peça de cima, porque eu concebi a peça para ela ser vista de cima. Como ela tem uma escala um bocadinho maior que a humana (só olhando para cima é vêm alguma coisa), não se apercebem de quase nada. Uma coisa que vou pedir é ver se posso pôr ali à porta uma coisa a dizer às pessoas para antes subirem. Mas não vou explicar mais nada. Porque acho que não é preciso, acho que as pessoas, com o título, vendo os cacifos e entrando no labirinto, conseguem associar. E depois, porque cada pessoa fará a sua leitura, o que será sempre interessante. Como é que uma pessoa interpreta aquilo que está a ver? Mas há outras, 181 estou a lembrar‐me das minhas peças, por exemplo “A Noiva” também não precisava, mas a Roulotte se calhar poderia ter explicado a história que te contei; se as pessoas estiverem interessadas em saber o que me motivou a fazer aquilo. Mas são livres de fazerem as interpretações que quiserem. Quem quiser saber… Oh filho!, se calhar tem que pensar um bocadinho! Tem que ver as coisas com mais calma e fazer associações entre o título e a forma e o espaço em que está integrado. Mas eu também não faço coisas que eu acho que sejam muito complicadas. Também tem que haver o prazer em perceber o usufruto das coisas. 182 Anexo 2: Questionário O questionário que se segue insere‐se no âmbito do trabalho de Dissertação de Mestrado em Arquitectura do IST – Instalação artística: contexto e interacção, em desenvolvimento no ano lectivo 2011‐12. Com este inquérito pretende‐se explorar o modo como a instalação artística Casa dos Segredos, da autoria da Artista plástica Ana Vidigal, em exibição no átrio do Pavilhão Central do IST, é percepcionada e compreendida pelos visitantes. Todas as informações obtidas serão tratadas em condições de anonimato e confidencialidade. Apesar de algumas questões poderem ter uma resposta imediata (“sim/não”), é desejável que junte um testemunho mais alargado que será fundamental para a investigação que estou a desenvolver. Desde já, agradeço a sua disponibilidade e colaboração. José Rui Pardal Pina Lisboa, Março de 2012 IDENTIFICAÇÃO Aluno do IST: Docente do IST: Funcionário do IST: Visitante: Sexo: Curso: Departamento: Departamento: Idade: PERGUNTAS 1. Antes de ter conhecimento da Casa dos Segredos, apercebeu‐se que ali existia uma instalação artística? 2. O que o levou a visitar a instalação? 3. Após a visita à instalação, qual a sensação que teve e quanto tempo demorou na visita? 4. Durante a visita, compreendeu o conceito da instalação? 5. O título da instalação pareceu‐lhe adequado? 6. Leu algum texto explicativo sobre a instalação antes de a visitar? 7. Durante a sua visita, apercebeu‐se que a instalação é composta por quatro elementos básicos – cacifos, clarabóia, espelho e labirinto? 8. Observou a instalação a partir do varandim do piso 1? A sua percepção foi diferente? 9. Desenhe o trajeto que percorreu na planta em anexo. Indique o ponto por onde entrou e por onde saiu. Assinale também os pontos onde esteve parado. 183 184 185
Download