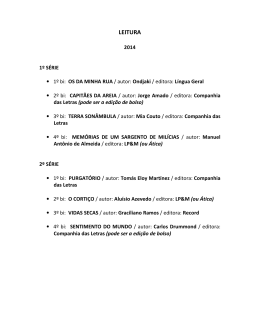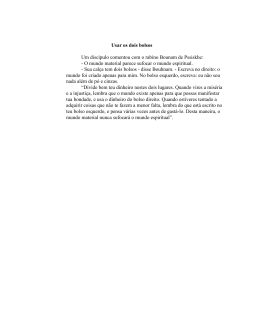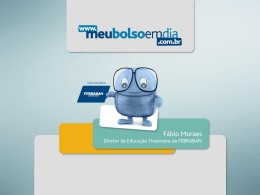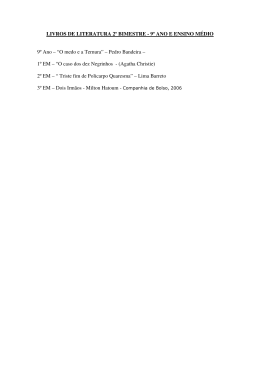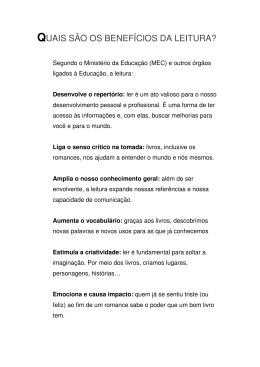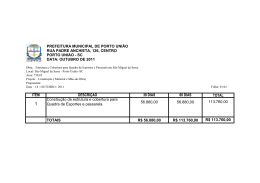1. O observador observado Era uma noite úmida em Paris. A chuva tamborilava sem cessar nos telhados de ardósia dos grandes bulevares e nas pequenas mansardas do Quartier Latin. Do lado de fora do Crillon e do George V, os porteiros assobiavam para os táxis na escuridão, depois corriam com guarda-chuvas para segurá-los acima dos hóspedes protegidos por casacos de pele que entravam nos carros. O imenso espaço aberto da place de la Concorde cintilava em negro e prata no dilúvio. Em Sarcelles, nos distantes subúrbios do norte da cidade, Yusuf Hashim se abrigava sob uma passarela. Não era o gracioso arco da Ponte Neuf, onde os enamorados se abraçavam para ficar secos, mas um comprido pedaço de concreto apoiado em colunas, cujas portas baratas de muitas fechaduras se abriam para appartements cinzentos de três peças. A passarela tinha uma visão panorâmica de um trecho da barulhenta auto-estrada N1 e estava ligada a uma torre de apartamentos de 18 andares. Batizada pelo arquiteto de L’Arc en Ciel, o ArcoÍris, a torre despertava receio, até mesmo nessa área de má reputação. Depois de lutar durante seis anos contra os franceses na Argélia, Yusuf Hashim finalmente caíra fora. Teve de fugir para Paris e encontrar um lugar no Arc en Ciel, onde a ele se reuniram, no devido tempo, seus três irmãos. As pessoas diziam que somente os que haviam nascido na torre proibida. podiam caminhar por suas passarelas sem olhar em volta, mas Hashim não temia ninguém. Tinha 15 anos de idade e lutava pelo movimento nacionalista argelino, a FLN, Frente de Libertação Nacional, quando tirou pela primeira vez a vida de alguém em um ataque à bomba a uma agência do correio. Ninguém que Hashim conhecia, no norte da África ou em Paris, dava muito valor a uma única vida. A corrida era para os fortes, e o tempo provara que Hashim era tão forte quanto os fortes. Ele saiu para a chuva, olhando rapidamente à frente e atrás sob a lâmpada de sódio. Seu rosto, de expressão cautelosa, era marrom-acinzentado e marcado pela acne, com um nariz longo e curvo projetando-se dentre sobrancelhas pretas. Bateu levemente no bolso traseiro das calças azuis de ouvrier, onde, dentro de um saco plástico, carregava 25 mil francos novos. Era a maior soma que já tivera nas mãos, e até um homem com sua experiência tinha razão de ficar apreensivo. Recuando para as sombras, olhou pela quinta ou sexta vez para o relógio. Nunca sabia a quem procurar porque nunca era o mesmo homem duas vezes. Isso era parte da perfeição do esquema: a saída rápida, o infindável suprimento de novos mensageiros. Hashim também tentava manter a segurança quando despachava a mercadoria. Insistia em locais diferentes e pedia contatos novos, mas nem sempre isso era possível. Precauções custam dinheiro, e, embora desesperados, os compradores de Hashim sabiam o valor daquilo que estavam comprando. Nenhum elo da corrente ganhava dinheiro bastante para agir em total segurança: ninguém, isto é, exceto algum controlador Trabalhador. Final, superpoderoso, a milhares de quilômetros de distância do fedor da escada onde Hashim se encontrava agora. Encostou na boca um maço azul-claro de Gauloises, apertou os lábios em torno de um único cigarro e puxou-o. Quando acendeu o isqueiro descartável, uma voz falou na escuridão. Hashim deu um salto de volta para a sombra, irritado consigo mesmo por ter permitido que alguém o observasse. A mão desceu para o bolso lateral da calça, onde sentiu o contorno da faca que era sua companheira constante desde a infância nos subúrbios de Argel. Uma figura pequena, com um comprido casaco militar, entrou no cone da luz de sódio. O chapéu que usava parecia um velho quepe da Legião Estrangeira, e a água escorria da parte alta do quepe. Hashim não conseguiu ver seu rosto. O homem falou em inglês, tranqüilamente, com voz arranhada: — Nos campos de Flandres — disse —, as papoulas florescem. Hashim repetiu as sílabas que aprendera apenas pelo som, sem idéia alguma de seu significado: — Entre os cruzes, fileiras e fileiras. — Combien? Quanto? — Até esta única palavra mostrava que o fornecedor não era francês. — Vingt-cinq mille. Vinte e cinco mil. O mensageiro depositou uma sacola de lona marrom no último degrau ao pé da escada e deu um passo para trás. Tinha ambas as mãos nos bolsos do casaco, e Hashim não duvidava de que uma delas segurava uma arma. Do bolso traseiro das calças azuis, Hashim tirou o dinheiro embrulhado em plástico. Depois, recuou. A coisa era sempre feita assim: nenhum contato físico e distância segura. O homem se inclinou e pegou o dinheiro. Não parou para contá-lo, meramente inclinou a cabeça enquanto colocava o pacote dentro do paletó. Então, foi sua vez de se afastar e esperar o movimento seguinte de Hashim. Hashim se curvou para o degrau e levantou a sacola. O peso parecia bom, maior que o de costume, mas não tanto que o fizesse suspeitar que a sacola estivesse cheia de areia. Sacudiu-a para cima e para baixo uma vez e sentiu seu conteúdo mover-se silenciosamente, com o satisfatório peso do pó seco empacotado. O negócio estava concluído, e ele esperou que o outro homem se fosse. Essa era a rotina: seria mais seguro se o fornecedor sequer visse em que direção o receptador começava a andar, porque a segurança residia na ignorância. Hesitando em dar o primeiro passo, Hashim encarou o outro homem. Subitamente, tornou-se consciente do barulho em torno deles — o rugido do tráfego, o som da chuva pingando da passarela no solo. Alguma coisa não estava certa. Hashim começou a se mover ao longo da parede, furtivo, como um lagarto, avançando gradualmente para a liberdade da noite. Em duas passadas o homem estava em cima dele, o braço em torno da garganta de Hashim. Então, a parede sem pintura bateu contra seu rosto, achatando o nariz curvo em uma polpa disforme. Hashim sentiu que era atirado ao solo de concreto, ouviu o ruído de uma trava de segurança sendo solta e sentiu o cano de uma arma pressionado atrás de sua orelha. Com a mão livre e exercitada agilidade, o homem puxou os braços de Hashim para trás do corpo e os algemou. Polícia, pensou Hashim. Mas como poderiam... Logo estava deitado de costas, o homem arrastou-o até o pé da escada e depois o soergueu. Do bolso do casaco tirou uma cunha de madeira de formato triangular, com cerca de 10 centímetros na parte mais larga. Enfiou-a na boca de Hashim, forçando-a com a parte da mão próxima ao punho e depois golpeando-a com a coronha da arma, ao som de dentes quebrados. Do bolso do casaco tirou um grande alicate. Inclinou-se sobre Hashim, e seu rosto amarelado ficou momentaneamente visível. — Isto — disse em mau francês — é o que fazemos com gente que fala. Enfiou o alicate na boca de Hashim e prendeu-o firmemente em sua língua. René Mathis jantava com sua amante em um pequeno restaurante perto da place des Vosges. As cortinas limpas presas a uma haste de latão obscureciam a parte inferior da vista pela janela, mas as luzes superiores permitiam que Mathis visse um canto da praça com seus tijolos vermelhos sobre colunatas e a chuva que ainda corria das calhas. Era sexta-feira, e ele seguia uma rotina encantadora. Depois de sair do trabalho no Deuxième, o Serviço de Inteligência francês, tomou o metrô de St Paul e foi para o pequeno apartamento de sua amante no Marais. Passou pelos açougueiros kosher e as livrarias com escrituras e candelabros de sete braços até chegar a uma gasta porte-cochère* azul, onde, depois de verificar, por instinto, se não tinha sido seguido, puxou a corda da velha campainha de sino. Era facílimo para um agente secreto ser um adúltero bem sucedido, refletiu alegremente enquanto olhava a rua acima e abaixo. Ouviu passos do outro lado da porta. Madame Bouin, a robusta zeladora do prédio, abriu-a e deixou-o passar.
Download