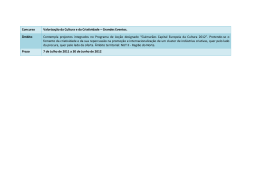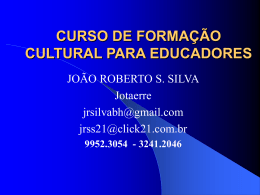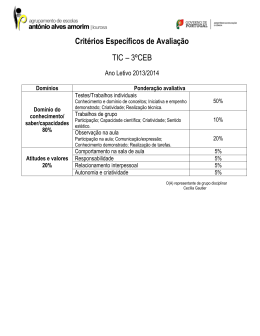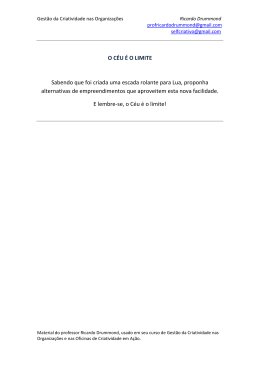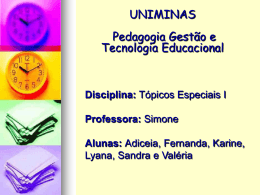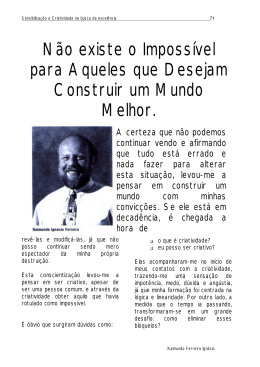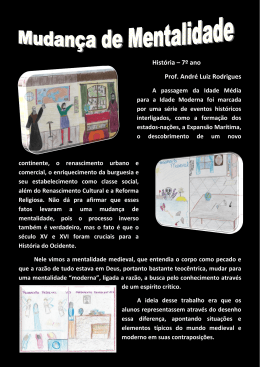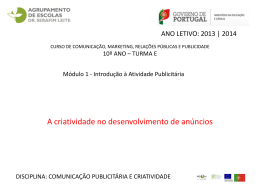FACULDADE MARECHAL RONDON COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO ESTUDO SOBRE COMO A MENTALIDADE RACIONAL DAS ORGANIZAÇÕES LIMITA A CRIATIVIDADE E O TALENTO MARCELO DA SILVA PESSÔA Orientador: Prof. MSc. Rosana Amador Ramos Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Marechal Rondon - São Manuel, para obtenção do título de Bacharel em Administração de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior São Manuel – SP Novembro – 2004 II FACULDADE MARECHAL RONDON COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO ESTUDO SOBRE COMO A MENTALIDADE RACIONAL DAS ORGANIZAÇÕES LIMITA A CRIATIVIDADE E O TALENTO MARCELO DA SILVA PESSÔA Orientador: Prof. MSc. Rosana Amador Ramos Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Marechal Rondon - São Manuel, para obtenção do título de Bacharel em Administração de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior São Manuel – SP Novembro – 2004 III OFERECIMENTO E AGRADECIMENTOS Dedico o presente trabalho a Deus e aos meus pais que, com sua humildade e sabedoria, contribuíram em muito para minha educação e formação como pessoa, ensinando-me que sempre há uma saída diferente para qualquer problema. Agradeço a minha orientadora por sua dedicação e empenho os quais me motivaram a levar este projeto adiante. IV SUMÁRIO Resumo.................................................................................................................... Página 01 Abstract.................................................................................................................... 03 CAPÍTULO 1 – Projeto de Pesquisa....................................................................... 05 1.1 – Introdução....................................................................................................... 05 1.2 – Objetivos......................................................................................................... 08 1.3 – Justificativa..................................................................................................... 10 1.4 – Revisão de Literatura..................................................................................... 11 1.4.1 – Mentalidade............................................................................................. 11 1.4.1.1 – Definição de Mentalidade............................................................... 11 1.4.1.2 – Abordagem Filosófica da Mentalidade........................................... 12 1.4.1.2.1 – Contribuição do Autor............................................................. 16 1.4.1.3 – Abordagem Psicológica da Mentalidade........................................ 16 1.4.1.3.1 – Contribuição do Autor............................................................. 19 1.4.2 – Racionalismo.......................................................................................... 19 1.4.2.1 – Definição de Racionalismo............................................................ 19 1.4.2.2 – Abordagem Filosófica do Racionalismo........................................ 19 1.4.3 – Organização............................................................................................ 20 1.4.4 – Limitação................................................................................................ 21 1.4.5 – Criatividade............................................................................................. 21 1.4.6 – Talento.................................................................................................... 23 1.5 – Metodologia de Pesquisa............................................................................... 24 1.5.1 – Pesquisa Bibliográfica............................................................................ 24 CAPÍTULO 2 – Mentalidade Racional.................................................................. 25 2.1 – Definição de Mentalidade Racional.............................................................. 25 2.2 – Abordagem Filosófica da Mentalidade Racional.......................................... 26 2.2.1 – A Mentalidade Sob a Ótica da Filosofia Mítica.................................... 26 2.2.1.1 – Mitologia Grega.............................................................................. 28 2.2.1.2 – Mitologia Romana.......................................................................... 28 2.2.1.3 – Mitologia Egípcia........................................................................... 29 V 2.2.1.4 – Conclusão....................................................................................... 31 2.2.2 – A Mentalidade Sob a Ótica de Tales de Mileto..................................... 31 2.2.3 – A Mentalidade Sob a Ótica de Sócrates, Platão e Aristóteles.............................................................................................. 32 2.2.3.1 – Sócrates.......................................................................................... 32 2.2.3.2 – Platão............................................................................................. 34 2.2.3.3 – Aristóteles...................................................................................... 36 2.2.3.4 – Conclusão...................................................................................... 39 2.2.4 – A Mentalidade Sob a Ótica de Epícuro............................................... 39 2.2.5 – A Mentalidade Sob a Ótica do Cristianismo....................................... 40 2.2.5.1 – Santo Agostinho – Fase Patrística................................................. 40 2.2.5.2 – São Tomás de Aquino – Fase Escolástica Tomista.......................................................................................... 41 2.2.5.3 – Guilherme de Ockham – Fase Escolástica Pós-Tomista................................................................................... 45 2.2.6 – A Mentalidade Sob a Ótica de René Descartes.................................... 46 2.2.7 – A Mentalidade Sob a Ótica de Immanuel Kant – Iluminismo.................................................................................. 48 2.2.8 – A Mentalidade Sob a Ótica de Georg Hegel – Idealismo Alemão....................................................................... 48 2.2.9 – A Mentalidade Sob a Ótica do Romantismo........................................ 49 2.2.10 – A Mentalidade Sob a Ótica de Feuerbach – Materialismo............................................................................... 50 2.2.11 – A Mentalidade Sob a Ótica de Augusto Comte – Positivismo.................................................................................. 50 2.2.12 – A Mentalidade Sob a Ótica de Franz Brentano – Fenomenologia............................................................................ 51 2.2.13 – A Mentalidade Sob a Ótica de Edmund Husserl – Fenomenologia............................................................................ 52 2.2.14 – A Mentalidade Sob a Ótica de Wilhelm Wundt – Estruturalismo............................................................................. 2.2.15 – A Mentalidade Sob a Ótica de Willian James 52 VI – Funcionalismo............................................................................. 53 2.2.16 – A Mentalidade Sob a Ótica de Skinner – Behaviorismo Radical................................................................. 53 2.2.17 – A Mentalidade Sob a Ótica de John B. Watson – Behaviorismo Metodológico....................................................... 54 2.2.18 – A Mentalidade Sob a Ótica de John Dewey – Pragmatismo................................................................................ 55 2.2.19 – A Mentalidade Sob a Ótica de J.C.C. Smart – Estados Mentais........................................................................... 55 2.2.20 – A Mentalidade Sob a Ótica de Hilary Putnam – Funcionalismo.............................................................................. 56 2.2.21 – A Mentalidade Sob a Ótica de Revolução Cognitiva.......................... 57 2.2.21.1 – Jerry Fodor – Funcionalismo Computacional............................... 58 2.2.21.2 – Howard Gardner – Teoria das Inteligências Múltiplas................. 58 2.2.22 – A Mentalidade Sob a Ótica de Daniel Goleman – Inteligência Emocional................................................................. 60 2.2.23 – Conclusão.............................................................................................. 61 2.3 – Abordagem Psicológica da Mentalidade........................................................ 61 2.3.1 – Influência da Filosofia Empirista Sobre a Psicologia.............................. 62 2.3.2 – Influência da Fisiologia Sobre a Psicologia............................................. 63 2.3.3 – Influência da Psicofísica Sobre a Psicologia............................................ 63 2.3.4 – Wilhelm Wundt: O Primeiro Laboratório de Psicologia.......................... 64 2.3.5 – Edward B. Titchener – Psicologia Estruturalista Americana................... 65 2.3.6 – Psicologia Funcionalista Americana........................................................ 66 2.3.7 – Behaviorismo Americano......................................................................... 67 2.3.8 – Behaviorismo Russo – Reflexo Condicionado......................................... 68 2.3.9 – Psicologia da Gestalt................................................................................. 69 2.3.10 – Teoria Psicanalítica................................................................................. 71 2.3.10.1 – Subdivisões da Personalidade......................................................... 72 2.3.11 – Psicologia Cognitiva............................................................................... 73 2.3.11.1 – Evolução Histórica da Psicologia Cognitiva................................... 74 2.3.11.2 – Conceito de Psicologia Cognitiva................................................... 75 VII 2.3.12 – Inteligência Emocional............................................................................ 76 CAPÍTULO 3 – Abordagem da Organização............................................................ 79 3.1 – Conceito de Organização.................................................................................. 79 3.2 – Origem da Organização.................................................................................... 79 3.3 – Evolução da Organização Racional.................................................................. 83 3.3.1 – Revolução Industrial.................................................................................. 84 3.3.2 – Administração Científica........................................................................... 85 3.3.3 – Teoria Clássica da Administração............................................................. 86 3.3.4 – Teoria das Relações Humanas................................................................... 87 3.3.5 – Organizacionismo...................................................................................... 89 CAPÍTULO 4 – Limitação do Ser Humano no Contexto Social e Organizacional............................................................................................... 90 CAPÍTULO 5 – Estudo Histórico da Criatividade.................................................... 94 5.1 – Abordagem Filosófica da Criatividade............................................................. 94 5.1.1 – Criatividade Como Origem Divina............................................................ 94 5.1.2 – Criatividade Como Loucura....................................................................... 95 5.1.3 – Criatividade Como Gênio Intuitivo............................................................ 95 5.1.4 – Criatividade Como Força Vital.................................................................. 96 5.1.5 – Criatividade Como Força Cósmica............................................................ 97 5.2 – Abordagem Científica da Criatividade............................................................. 97 5.2.1 – A Criatividade Sob a Ótica do Associacionismo...................................... 98 5.2.2 – A Criatividade Sob a Ótica da Teoria da Gestalt...................................... 99 5.2.3 – A Criatividade Sob a Ótica da Teoria Psicanalítica.................................. 99 5.2.4 – A Criatividade Sob a Ótica da Teoria Neo-Psicanalítica.......................... 100 5.2.5 – Reação ao Freudianismo No Estudo da Criatividade................................ 101 5.2.5.1 – E. G. Schachtel................................................................................... 101 5.2.5.2 – Carl Rogers......................................................................................... 102 5.2.6 – A Criatividade Sob a Ótica da Análise Fatorial......................................... 102 5.2.6.1 – J. P. Guilford....................................................................................... 102 5.2.6.2 – Arthur Koestler.................................................................................... 104 5.2.7 – Criatividade Como Solução de Problemas.................................................. 105 5.2.8 – Criatividade Como Processo de Criação..................................................... 105 VIII 5.2.9 – Criatividade Como Inteligência Manipulativa............................................ 106 5.2.10 – O Papel Dos Hemisférios Cerebrais.......................................................... 107 5.2.11 – A Criatividade Sob a Ótica da Teoria do Ócio Criativo.......................... 108 5.3 – Conclusão........................................................................................................... 109 CAPÍTULO 6 – Breve Abordagem Sobre o Talento.................................................. 110 CAPÍTULO 7 – Como a Mentalidade Racional das Organizações Limita a Criatividade e o Talento......................................................... 114 7.1 – Maior Preocupação Com Práticas Tradicionais................................................. 114 7.2 – Busca das Mesmas Soluções Para Diferentes Problemas.................................. 118 7.3 – Crença de Que Se Deve Estar Sempre Certo..................................................... 121 7.4 – Travas Mentais Que inibem a Criatividade....................................................... 122 7.5 – A Importância do Equilíbrio Entre Racionalismo e Criatividade...................... 123 7.6 – Comprometimento do Ambiente de Trabalho................................................... 124 CAPÍTULO 8 – Conclusões....................................................................................... 128 Referências Bibliográficas.......................................................................................... 130 IX RESUMO X ABSTRACT 1 RESUMO A idéia de desenvolver um trabalho que trata como a mente racional limita a criatividade e o talento se faz necessária tendo em vista o modo de pensar que controlou o homem no passado em relação ao comportamento que este deve apresentar no futuro. Este trabalho apresenta diversas formas de pensamento e comportamento que, ao longo do tempo, influenciaram e influenciam a forma de pensar e agir do ser humano, condicionando-o a usar, na maioria das vezes, as mesmas soluções para diferentes problemas. A pesquisa que gira em torno do referido assunto traz registros provenientes de livros, revistas, artigos publicados na internet, etc. Este trabalho combina opiniões de especialistas em filosofia e psicologia, bem como teorias provenientes destas disciplinas, considerando que são as disciplinas mais mencionadas quando o assunto é comportamento do ser humano. Os registros apresentados compreendem um período que começa nos tempos antigos, com personalidades e teorias filosóficas pertinentes ao assunto, passando pelo período Moderno, marcado pelas evoluções da ciência, e culmina neste início de terceiro milênio, período em que o lado humano do homem esta sendo mais estudado. O levantamento feito por este trabalho apresentou resultados satisfatórios tendo em vista que identificou vários pontos no passado que influenciaram a evolução do ser humano. Pontos que ditaram regras e normas para o pensamento e o comportamento do homem. Este trabalho descobriu que, além de assimilar essas regras e normas, esse homem incorporou a necessidade de obedecê-las além do necessário. Como uma bola de neve, essa 2 submissão cresceu dentro da natureza humana. Conforme a evolução da humanidade, cresceu a ilusão de que a lógica está acima de tudo, enquanto que a atenção que deve ser dada para o estado emocional humano, capaz de soluções criativas e revolucionárias considerando a diversidade de potenciais talentos espalhados ao redor do mundo, decresceu. Por isso, este trabalho traz como observações finais o problema do discurso e da prática, onde muito tem sido mencionado sobre a importância do papel humano no trabalho e muito menos tem sido feito com relação a esta questão. Circunstâncias, como o advento do computador, ainda tornam o ser humano eufórico por uma linguagem de um sistema que não aceita exceções, como a situação que trata de mudanças repentinas provenientes da mente criativa do ser humano. Um problema que se torna mais sério quando este reprime ainda mais o ser humano espontâneo e original. 3 STUDY ABOUT HOW THE RATIONAL MENTALITY OF THE ORGANIZATIONS LIMITS THE CREATIVITY AND THE TALENT. São Manuel, 2004. 141p. TCC (Bacharelado em Administração com Habilitação em Comércio Exterior) – Faculdade Marechal Rondon. Author: PESSÔA, MARCELO DA SILVA Adviser: RAMOS, ROSANA AMADOR ABSTRACT The idea of developing a work that treats how the rational mind limits the creativity and the talent is necessary because of the way of thinking which controlled the man of the past with reference to the behavior that he must show in the future. This work shows several forms of thought and behavior which, lengthwise the time, influenced and influence the way of thinking and acting of the human being, spoiling him to use, in the majority of times, the same solutions for different problems. The research which turn around the related matter brings registers originated from books, magazines, articles published on the net, etc. This work combines opinions of specialists in philosophy and psychology, together with theories originated by these subjects, considering that these are the most mentioned subjects when the matter is human behavior. The registers showed imply the period that starts in the ancient times, with philosophic characters and theories with reference to the matter, going beyond the modern period, marked by science evolutions, and arrive in this beginning of third millenium, period which the human side of men is being more studied. The lift done by his work showed satisfactory results intend that identified several points in the past which affected the human being behavior. Points that imposed rules and norms for the thought and the behavior of man. This work found out that, besides assimilate this rules and norms, this man absorbed the need of obey it beyond the necessary. Like a snowball, this submission increased inside the human nature. According the mankind 4 evolution, the illusion that the logic is on the top of everything increased, meanwhile the attention which must be given for the human’s emotional state, capable of creative and revolutionary solutions considering the diversity of talents potentials around the world, decreased. Therefore, this work brings final observations like the problem of speech and practice when so much have been mentioned how important is the human role at work and much less has been done about this matter. Circumstances, like the advent of the computer, still became the human being euphoric for a language of a system that doesn’t accept exceptions, like the situation which treats the suddenly changes originated by the human being’s creative mind. A problem that became more serious when it halts the spontaneous and original human being. 5 1- Projeto de Pesquisa 1.1 - Introdução Preocupadas com a maximização de seus lucros e, consequentemente, com a sua sobrevivência num mercado competitivo; muitas empresas estabelecem planejamentos estratégicos, táticos e operacionais; buscando a diminuição dos custos através de sistemas como terceirizações, gestões de qualidade, certificações de processos como o ISO 9000; orientando-se somente por meio de raciocínios lógicos como estatísticas e análises, no sentido de saber o motivo do seu sucesso ou fracasso no mundo dos negócios. O problema é que elas ficam presas somente a essa racionalidade estruturada que é baseada em regras tradicionais de gestão que são contra o fracasso e à variação. Com medo de assumir maiores riscos, as organizações acabam, conscientemente e inconscientemente, limitando a criatividade e o talento de seus empreendedores. Isso pode ser constatado através de atitudes organizacionais que buscam sempre as mesmas soluções para diferentes problemas, inibindo a geração de novas idéias. Algumas das causas para tal comportamento organizacional podem ser explicadas por diversas maneiras. Uma delas diz respeito à mentalidade racional predominante atualmente no contexto organizacional. A maneira de pensar e julgar do homem de negócios de hoje é concebida através de uma ênfase maior na razão. Em busca de novas idéias, as organizações, 6 ao longo do tempo, construíram uma série de razões nas quais apenas o evidente é adotado como ferramenta válida. Essa mentalidade racional restringe a influência da imaginação onde o estilo de gestão de algumas organizações leva em conta, muitas vezes, as mudanças periféricas que se limitam na estrutura, sistema, política e prática; e não as mudanças de base como mentalidade organizacional. Num meio ambiente exigente, a crença de que há necessidade de a organização estar certa a cada passo e o tempo todo é uma das maiores barreiras para as idéias novas. Quando conseguem encontrar a resolução para um problema por meio de uma idéia que passa a ser dominante, agem como se não houvesse necessidade de procurar um caminho melhor e mais direto. Com isso, as empresas que procuram organizar minuciosamente os acontecimentos, dando o máximo de seu conhecimento, engenhosidade e capacidade técnica; acabam por não considerar a criatividade e o talento para se prevenir quanto às casualidades, suprimindo a liberdade de aceitar informações ao acaso. O que acontece é que não há modelos confiáveis nem regras, processos ou mesmo parâmetros para se medir previamente a criatividade. Partindo desse raciocínio, as empresas acabam acreditando que é muito mais seguro viver sob a tutela de uma metodologia suprema. Em razão disso, num mundo em que a velocidade das transformações é cada vez maior, empresas que não forem inovadoras correm o risco de sumir do mapa tendo em vista que os acontecimentos nem sempre funcionam conforme o pretendido. Tendo em vista que a criatividade consiste na capacidade criativa do ser que capta uma intuição criativa a qual não lhe havia ocorrido antes, sem o exercício da criatividade, as organizações cultivam certas “travas mentais” inibindo a sua afinidade com as características da criatividade. A empresa que não pratica a criatividade não sabe o quanto sua criação é importante e, em conseqüência disso, ninguém saberá. Uma empresa não pode ficar muito tempo sem testar e apresentar novidades. Dentro de todo esse contexto, o presente trabalho defende um equilíbrio entre a razão e a criatividade, as quais, num ambiente onde uma, através de um tratamento altruísta, completa a necessidade da outra. A criatividade pode ser algo muito importante para uma empresa, mas pode também ser muito perigosa se sua predominância suprimir a razão. Uma empresa não pode inovar porque se acha que está na moda, por exemplo. Uma empresa deve inovar em função do seu mercado, da sua estratégia, e de seus concorrentes, entre outras 7 observações. Da mesma forma que não pode ser desconsiderada, a criatividade não pode ser considerada suficiente para levar uma empresa ao sucesso. Ela tem que estar em equilíbrio com as demais ferramentas metodológicas de gestão empresarial. Seu mau uso pode fazer com que esta empresa não enxergue seus limites, assumindo riscos incompatíveis com seus objetivos. Empresas podem ser ricas em inovações, mas se cometerem um erro estratégico, não vai ser a inovação sozinha que vai salvá-la do naufrágio. Além disso, duas das questões mais importantes dentro de uma organização ficam perigosamente comprometidas: a da cultura da empresa e a do ambiente de trabalho. Tomando por base a cultura organizacional, que consiste no conjunto de fenômenos resultantes da ação humana visualizada dentro das fronteiras de um sistema, quando há empresas cujas práticas inibem a inovação; muitos funcionários de diversos níveis hierárquicos, por exemplo, ficam com medo das conseqüências de suas idéias em virtude de algumas empresas punirem o erro de uma iniciativa. Em conseqüência disso, haja vista que o clima organizacional é um fenômeno resultante da interação dos elementos da cultura organizacional, o empreendedor é submetido por muito tempo no mesmo lugar desenvolvendo atividades rotineiras. O intuito deste estudo é mostrar como a mentalidade racional de uma organização limita sua criatividade e talento impedindo que a organização adquira o hábito de mudar, de uma hora para outra, sua cultura, seu processo, sua estratégia de acordo com as vicissitudes. Tal agilidade criativa pode trazer uma vantagem competitiva para empresa capacitando-a de forma que, se um concorrente aparecer com uma novidade, ela não será pega de surpresa. 8 1.2 - Objetivos O objetivo geral do presente trabalho é despertar a conscientização por parte do ser humano com relação à importância de um comportamento de preparação para constantes mudanças no meio em que vive. A intenção é fazer com que o indivíduo passe a conhecer melhor a si próprio e a seus semelhantes identificando a necessidade de escolher diferentes caminhos baseando-se na perfeita harmonia entre a sua razão e a sua emoção. Assim, esse indivíduo estará preparado para resolução de questões provenientes do seu dia-a-dia, extraindo ao mesmo tempo soluções inteligentes e criativas independentemente do surgimento de problemas no decorrer da sua vida. Após a leitura do presente trabalho o leitor será capaz de identificar os seguintes objetivos específicos: - identificar, no âmbito psicológico, as variantes internas e externas que influenciam a mentalidade e, consequentemente, o comportamento criativo do ser humano em seu ambiente de trabalho; - conhecer, no contexto organizacional, quais as teorias e as práticas utilizadas pelas empresas que acabam por condicionar seus empregados a trabalhar sob a tutela de uma idéia dominante em detrimento ao exercício da criatividade e talento dos mesmos; - Compreender a importância de se estabelecer um equilíbrio entre o 9 raciocínio e a imaginação sem que um interponha-se ao outro na obtenção de novas idéias. 10 1.3 - Justificativa Tendo em vista que o homem é o produto da história pela qual também é o agente, o advento do presente trabalho justifica-se a partir do momento em que se procura estudar as condições que esse ser humano cria para transformar o meio em que vive e pelo qual também é influenciado. Formando a sociedade, o homem é um ser social que sobrevive através de suas ações e das inter-relações que sua natureza e o meio externo lhe impõem. Levando-se em conta que a sociedade contemporânea é caracterizada por ser uma sociedade de organizações, é indispensável que se perceba que, além do homem ser dependente em grande escala das organizações, a recíproca também é verdadeira. Entendida como um sistema onde coexistem grupos de pessoas interagindo segundo padrões de comportamento, a organização tem que estar ciente de que é dependente dos valores e da interação dos homens os quais ela recruta. O estabelecimento de normas e a criação de restrições sem levar em conta a flexibilidade para geração de novas idéias, entre outras ações, são um demonstrativo de como são criadas barreiras para a criatividade e o talento, por mais que essas ações transmitam um senso de segurança para os seus membros. Portanto, num mundo que está cada vez mais imprevisível, a não existência de estratégias de gerenciamento que combinem processos de mudança e inovação com a racionalização presente nas decisões técnicas provenientes do planejamento estratégico implica uma mentalidade organizacional baseada em paradigmas que limitam o estímulo à criatividade. 11 1.4 - Revisão de literatura 1.4.1 - Mentalidade Para melhor compreensão do impacto da mentalidade racional como limitadora de criatividade e talento é preciso que se faça uma análise da palavra mentalidade desde sua definição até sua evolução abordada pela humanidade por meio de uma literatura filosófica e psicológica. 1.4.1.1 – Definição de mentalidade A definição do termo mentalidade é trazida pelo Dicionário Globo(1992) como “a qualidade do que se refere à mente”. A partir deste conceito, entende-se que se trata da ligação simultânea dos poderes, meios ou direitos de fazer que influenciam a maneira individual de um ser pensar e julgar. Dentro do contexto vocabulário do referido dicionário, essa maneira é influenciada por um movimento de variáveis tais como intelecto, inteligência, alma, memória, entendimento, disposição, intuito, entre outras. Levando essas variáveis em consideração, percebe-se que a mentalidade é uma manifestação do estado psicológico do ser. Assim, é imperativo que se estabeleça uma análise da mentalidade sob o contexto da área de estudo da psicologia. Mas antes disso, é preciso 12 submeter a análise da mentalidade inicialmente sob a ótica da filosofia tendo em vista que, segundo Aguiar(2000), desde os seus primórdios, a psicologia era considerada uma área de estudo da filosofia a qual era denominada filosofia mental, ou seja, a mente era pelo menos um dos tópicos estudados por esta área. 1.4.1.2 – Abordagem filosófica de mentalidade A evolução da humanidade e da sua mentalidade deu-se através de períodos históricos cuja influência de filósofos caracterizou-se por uma sucessão de paradigmas em função de cada contexto histórico. O primeiro período a ser abordado é o Pré-Helênico: Mitofilosófico – (Cosmogonia) onde, segundo a Garita(2004), as explicações sobre a origem do Universo é baseada em mitos, ou seja, atos de fé que atraem em si toda a parcela de irracionalidade existente no pensamento humano. Neste período, os gregos cultivavam uma série de deuses como Zeus, Hera, Ares, Atena, entre outros. Os gregos criaram uma rica mitologia formada por um conjunto de lendas e crenças que, de modo simbólico, forneciam explicações para a realidade universal. Segundo Severino(1992), as pesquisas antropológicas revelam que a forma mais ancestral de os homens buscarem a explicação, o sentido das coisas foi o mito que, conforme o autor, é a expressão de uma primeira tentativa da consciência humana de libertarse cada vez mais das incumbências quase que instintivas de manutenção da vida. Segundo Aranha e Martins(1992); foi uma forma dos povos primitivos se situarem no mundo, encontrando seu lugar entre os demais seres da natureza. Para as autoras, a partir do pensamento mítico que se desenvolvem rituais que fixam modelos exemplares de todas as funções e atividades humanas no sentido de acomodar e tranqüilizar o homem. Conforme a Garita(2004), a passagem do saber mítico ao pensamento racional, ocorre no período Arcaico e Clássico(Século VIII a IV a.C.). Mas isso não significou um rompimento definitivo com os conhecimentos do passado. Segundo ela, a filosofia grega nasceu na cidade de Mileto procurando desenvolver o logos (saber racional) em contraste com o mito (saber alegórico). Conforme Chaui(2003), no período Pré-Socrático (Século VII a VI 13 a.C.), Tales de Mileto, considerado o pai da filosofia, através de sua forma de raciocinar, deduzindo e inferindo por meio de fatos visíveis; já considerava a Psykhé (em latim anima e, em português, alma, temperamento) uma força capaz de mudança de comportamento. No período Socrático ou Clássico(Século V a IV a.C.), Chaui(2003) afirma que o helenista Gregory Vlastos analisou a psicologia moral através da diferença entre Sócrates e Platão. Segundo essa análise, Sócrates considera o intelecto ou a razão um poder perfeito para comandar as ações virtuosas e evitar o vício. Platão, entretanto, estuda as diversas atividades da alma elaborando uma psicologia e uma pedagogia como condições da vida ética ou da prática da virtude. Ainda dentro do período Socrático, Garita(2004) informa que, acreditando nos dados transmitidos pelos sentidos, Aristóteles discordava de Platão afirmando que a indução é uma operação mental que vai do particular para o geral a qual representa o processo básico de aquisição de conhecimento. As correntes filosóficas do período Helênico ou Pós-Socrático (Século III a II a.C.) passam a tratar da intimidade, da vida interior do homem; formulando-se “filosofias de vida” capazes de oferecer paz de espírito e felicidade interior em meio às transformações sociais. Epícuro propunha que o homem deve buscar o prazer da vida mediante o domínio das paixões separando os prazeres que causam dor daqueles que são duradouros. O período Greco-Romano (Século 264 a.C. a V d.C.) caracterizou-se por ser longo mas pouco original nas idéias filosóficas em virtude da difusão do Cristianismo, pela Igreja Católica, que atuou no sentido de dissolver a força da filosofia grega clássica, a qual passou a ser chamada de pagã, influenciando a mentalidade da época. Com a chegada do período Medieval e a Filosofia Cristã (Século V a XVI) que marcou o fim do Império Romano, a Igreja Católica conseguiu manter-se como instituição social pregando a crença incondicional às verdades reveladas por Deus. Com isso, qualquer investigação filosófica não poderia contrariar essas verdades. Na Fase Patrística deste período, Santo Agostinho combinou as idéias de Platão com o Evangelho afirmando que o indivíduo peca porque usa de seu livre-arbítrio para satisfazer sua vontade, mesmo ela sendo pecaminosa sendo que o que pode salvar não é a razão, mas a graça divina. Na Fase Escolástica, em função do surgimento das primeiras universidades e escolas no império de Carlos Magno, houve a busca da harmonização entre a fé cristã e a razão que propiciou o surgimento de uma razão 14 autônoma em relação à teologia, no Século XII. Combinando o Evangelho com as idéias de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino introduziu a idéia do livre-arbítrio, ou seja, a permissão de escolha entre o bem ou o mal, estar com Deus ou não. O período Moderno (Século XV a XVIII) traz novos valores onde, ao invés do teocentrismo (Deus como centro), há uma tendência social antropocêntrica (o homem como centro), levando ao desenvolvimento do racionalismo. Dedicando mais tempo à pesquisas e experimentações, o homem moderno passou a observar a natureza querendo descobrir os mistérios do mundo por meio de uma nova mentalidade racionalista. O movimento cultural que marcou essas transformações de mentalidade foi chamado Renascimento, inspirado no humanismo, movimento de intelectuais que defendiam a cultura greco-romana e o retorno a seus ideais de exaltação do homem e de seus atributos – a razão e a liberdade. Um dos mais importantes filósofos deste período foi Descartes, racionalista convicto, foi considerado o pai da filosofia moderna. Desconfiava das percepções sensoriais que, para ele, levam aos erros. Defendia que o verdadeiro conhecimento só se dá através do trabalho lógico da mente. Com a chegada do período Contemporâneo (Século XVIII a XIX), o império do racionalismo perdeu sua exclusividade com a chegada do movimento cultural denominado Romantismo o qual mostra que o racionalismo era uma ameaça à expressão dos indivíduos tendo em vista que os sentimentos e as emoções eram deixados em segundo plano. Era o nascimento do instinto e da emoção contra a razão. Influenciados por questões como manipulação das pessoas, desigualdade e exclusão social, devastação ambiental, desenvolvimento tecnológico-científico e pela Revolução Francesa; diferentes pensadores buscaram saídas para esses desafios. O romantismo trouxe a devolução do sentimento de plenitude ao homem. Esse movimento cultural desenvolveu ainda o sentimento pátrio com a valorização dos costumes, das tradições nacionais e o anseio de liberdade. Filósofos materialistas como Feuerbach e positivistas como Comte restringem o trabalho da filosofia à síntese dos resultados das diversas ciências particulares, não cabendo ao filósofo teorizar sobre “idéias sem conteúdo”. Partindo dessa premissa, Severino(1992) afirma que no século XIX, assistiu-se ao fecundo desdobramento da ciência e ao surgimento de novas perspectivas filosóficas que lançam as raízes da filosofia contemporânea. Segundo ele, foi no século XIX que ciência e filosofia adquiriram sua autonomia plena e grandes desdobramentos. Assim, pela extensão do 15 uso do método científico aos diversos aspectos da vida dos homens formaram-se as primeiras ciências humanas como a psicologia. Segundo Hegenberg (2004), a moderna filosofia da mente, apesar de não ter data certa de nascimento, surgiu no fim do Século XIX e começo do Século XX. Hegenberg(2004) afirma que o desenvolvimento da filosofia da mente pode ser atribuído a três acontecimentos notáveis: a publicação de Psychologie Vom Empirischen Standpunkt, de Franz Brentano em 1874; A Psicologia Científica, por Wilhelm Wundt em 1879; e a divulgação de Principles Of Psychology de Willian James em 1890. Hegenberg(2004) afirma que, na primeira metade do século XX, várias teorias são formuladas, adotando diversos enfoques. Rudolph Carnap e John Dewey se colocaram como dois importantes marcos do estudo da mente. Enquanto Carnap se preocupava com a metafísica da mente, Dewey abordava os relatos psicológicos em primeira ou terceira pessoa. Segundo Hegenberg(2004), por volta de 1930, com o positivismo lógico, certas mudanças ocorreram. Para merecer o respeito dos cientistas, o estudo da mente precisava submeter-se a condições de verificabilidade, publica e fisicamente testáveis. Essas condições, naturalmente, deveriam ser comportamentais. Era o advento do Behaviorismo que, segundo Silva (2004) predominou durante as décadas de 20 e 40. Hegenberg(2004) afirma ainda que a decadência do Behaviorismo redundou em rejuvenescimento das noções filosóficas e psicológicas da “consciência”. Ele cita Smart que formulou proposta inovadora, contrariando behavioristas afirmando que alguns estados e eventos mentais são genuinamente “interiores” e genuinamente episódicos, não podendo ser equiparados a comportamentos observáveis. O funcionalismo nasce com Putnam, que afirma que os estados mentais se comparam a estados funcionais de um computador. Paralelamente a isso, Hegenberg(2004) aponta para um curioso amálgama interdisciplinar envolvendo filosofia, psicologia, neurologia, lógica, lingüística, computação e inteligência artificial; em 1960. Isso daria início à nova tendência denominada cognistismo, o qual sustenta que para explicar o comportamento, psicólogos devem dar atenção a estados e episódios “interiores” sendo que os seres humanos devem ser encarados como sistemas que processam informações. Entre os cognitistas que se destacaram-se Stillings e Osherson. Segundo Gardner (1996), “Os cientistas cognitivos, novamente como os gregos, conjeturam a respeito dos vários veículos do conhecimento: o que é forma, uma imagem, um 16 conceito, um palavra; e como estes ‘modos de representação’ se relacionam entre si (...)”. Em função desta nova tendência, Hegenberg(2004) cita Pylyshyn, Haughland e Johnson Laird; que focalizaram a idéia de inteligência artificial analisando até que ponto as mentes se aproximam dos computadores e vice-versa. Silva (2004) afirma que uma síntese da nova postura adotada pela filosofia da mente pode ser encontrada na obra de Jerry Fodor. Trata-se da Linguagem do Pensamento onde Fodor argumenta a favor de um veículo que fosse capaz de processar os dados da percepção, raciocinando, aprendendo e ensinando uma língua. Fodor defende que a Linguagem do Pensamento é o meio pelo qual as representações mentais são organizadas em um sistema cognitivo. 1.4.1.2.1 – Contribuição do Autor Analisando tudo o que foi abordado desde a antigüidade até os últimos posicionamentos no que diz respeito ao tratamento filosófico da mentalidade, não fica complexo entender porque a mentalidade atual ainda é tratada com requintes de exagerado racionalismo. Ainda que pertinentes, a influência do racionalismo e da ciência cognitiva são alguns exemplos de como a mente humana está sendo tratada como um mero sistema operacional, o que atesta a relevância do presente estudo no intuito de promover a criatividade e o talento nas organizações sem que estes sejam limitados por qualquer forma de rotina de linguagem. 1.4.1.3 – Abordagem psicológica da mentalidade Segundo Henneman (1996), durante o século XIX, os filósofos haviam discutido a possibilidade de estudar a mente humana pelos métodos científicos de laboratório. Ele atribui a declaração formal do status da psicologia como ciência natural ao advento de três desenvolvimentos: o primeiro diz respeito aos antecedentes intelectuais da psicologia experimental através das teorias filosóficas da mente principalmente no período de 1600 a 1850, o segundo foi o aparecimento do estudo dos órgãos e dos sentidos, nervos e cérebro 17 denominado fisiologia, e o terceiro foi a combinação da indagação filosófica com a investigação experimental que veio a ser conhecida como psicofísica. Isso possibilitou a criação do primeiro laboratório de psicologia por parte de Wilhelm Wundt, na Universidade de Leipzig, na Alemanha, em 1879. Wundt seguiu as doutrinas da filosofia empirista e não as da filosofia racionalista, acreditando que os processos fisiológicos dos órgãos dos sentidos e do cérebro eram acompanhamentos essenciais das atividades mentais. Henneman(1996) explica que no início do século XX, diversas escolas sobre a nova psicologia experimental surgiram, onde a rivalidade dos sistemas teóricos serviram de ponte da psicologia filosófica para a psicologia sofisticada que tratavam também de programas como o racionalismo. Ele explica ainda que a mais lógica tentativa já feita para formular uma ciência da mente é atribuída à Psicologia Estruturalista Americana, proporcionada por Titchener. Baseou-se na tarefa de estudar os fenômenos mentais através de uma minuciosa descrição analítica dos estados de consciência resultantes da estimulação pela energia física. Em seu lugar, surge a Psicologia Funcionalista que, adotando a noção de Darwin, sugeriu que a psicologia podia estudar o contínuo processo de ajustamento do homem ao seu ambiente. Entre 1910 e 1920, os psicólogos funcionalistas encontrariam seu lugar na indústria estudando os efeitos das condições ambientais de trabalho. Nessa época, os funcionalistas começariam a voltar-se para experimentos com animais. Esses experimentos foram um prenúncio do que viria a seguir. O Behaviorismo Americano, fundado por J.B. Watson, pregava que várias funções da mente eram na verdade deduções extraídas da observação do comportamento. Enquanto isso, paralelamente ao Behaviorismo Americano, o russo Ivan P. Pavlov interessavase no estudo do processo de aprendizagem e na dedução da natureza dos processos cerebrais envolvidos no controle de comportamento. Segundo Henneman(1996), foi uma ênfase lógica para os psicólogos que procuravam explicar o comportamento atual do indivíduo em função de suas experiências anteriores. Henneman(1996) atribui essa visão dos psicólogos behavioristas do século XX à influência dos filósofos empiristas do dois séculos precedentes. A Psicologia da Gestalt surge, na década de 20 do século XX, criticando tanto estruturalistas quanto behavioristas. Isso representou o choque entre a filosofia racionalista 18 alemã(gestaltistas) e o empirismo inglês(estrututuralistas e behavioristas). Tendo como lema “o todo é mais do que a soma de suas partes”, os gestaltistas centralizaram-se em programas extensivos de pesquisa sobre percepção e em estudos pioneiros sobre o processo da aprendizagem, considerado como solução de problemas ou raciocínio e não como simples formação de hábitos ou condicionamento. Henneman(1996) cita a escola que ele considera a mais influente da época: a escola freudiana. Ele afirma que, desapontado com a tradicional abordagem médica da neurologia, Sigmund Freud voltou-se para uma abordagem mentalista enfatizando a origem mental de muitos aspectos do comportamento. Segundo Aguiar(2000), Freud acreditava que ser científico não significa necessariamente escolher um fenômeno racional como objeto de estudo e sim aplicar o método científico ao estudo dos fenômenos, independentemente dos estudos destes serem racionais ou irracionais. Por causa dessa premissa, sua teoria da psicanálise foi a mais controvertida das escolas de psicologia do século. Desde aquela época, psicólogos cuja orientação é a do cientista de laboratório tendem a ignorar ou criticar a abordagem psicanalítica. Para Silva(2004), o estudo da mente humana permanecia sem um ponto de apoio para o início de investigação, na metade do século XX, além da tradição introspectiva e do Behaviorismo, o caráter retrospectivo da psicanálise e a impossibilidade de refutação de suas teses não permitiram a constituição de uma disciplina cientificamente estruturada no exame dos procedimentos cognitivos humanos. Silva(2004) afirma que, por conta da criação de máquinas calculadoras para operarem com os grandes números envolvidos na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos deram origem aos primeiros computadores eletrônicos. Segundo Neto(2004), em função do surgimento do conceito de informação, no âmbito da matemática e aplicado na cibernética e nas ciências da computação, este foi transposto para o campo da subjetividade, dando origem à chamada Revolução Cognitiva. Silva(2004) aponta, entre outros, Alan Mathirson Turing que, através de um teste no qual uma máquina era programada tendo sua capacidade de simular o pensamento humano, influenciou decisivamente os cientistas voltados para o estudo cognitivo que, desde então, procuraram descrever com maior precisão o processo mental e o comportamento de um organismo. Partindo desse contexto, Del Nero(1997) cita Jerry Fodor, que supõe que para 19 processar o pensamento deve haver uma estrutura profunda de objetos e relações, o que se caracterizaria em uma linguagem do pensamento. Para Queiroz(1997), as ciências cognitivas vivem um momento de revisão de suas fundações teóricas. Segundo ele, alguns autores denunciam que as novas abordagens têm falhado na constituição de uma nova moldura conceitual devido à persistência de velhos hábitos da inteligência artificial, à dificuldade de implementação das novas idéias e à falta de clareza sobre as implicações teóricas do que vem sendo anunciado pela teoria de sistemas complexos. 1.4.1.3.1 – Contribuição do autor Essa nova abordagem da mentalidade através do contexto psicológico atesta ainda mais como, a partir do advento de algumas escolas citadas aqui denunciam a necessidade de uma revisão sobre o caminho pelo qual o estudo da mentalidade está se dirigindo. 1.4.2 - Racionalismo 1.4.2.1– Definição de racionalismo O significado de racionalismo é trazido por Bueno(2000) como a “maneira de ver as coisas apreciando-as só pela razão, independentemente de autoridade; pura atividade especulativa do espírito; concepção filosófica segundo a qual as idéias universais não resultam das percepções.” Tendo em vista que o racionalismo está também inserido no contexto filosófico, faz-se necessária uma abordagem do que foi escrito sobre o tema sob esse âmbito. 1.4.2.2 - Abordagem filosófica de racionalismo Chaui(2000) explica que, na cultura da chamada sociedade ocidental, a palavra razão origina-se de duas fontes: a palavra latina ratio e a palavra grega logos, que significam 20 pensam e falar ordenadamente, com medida e proporção, com clareza e de modo compreensível para outros. Chaui(2000) diz que a idéia de razão apresentada até o início do século XX sofreu alguns abalos. Chaui(2000) demonstra que a filosofia distingue duas grandes modalidades da atividade racional: a intuição intelectual, sobre o qual ela apresenta o cogito cartesiano de Descartes(“penso, logo existo”), e a razão discursiva, que consiste no fato de que o raciocínio é o conhecimento que existe provas e demonstrações. Chaui(2000) diz que houve conflitos e impasses as teorias sobre o inatismo e o empirismo, bem como o surgimento do ceticismo. Ela cita que Hume, Leibniz, Kant e Hegel ofereceram soluções para esses impasses, no século XIX. Em conseqüência disso, Chaui(2000) afirma que surgiram novas teorias como a fenomenologia, de Edmund Husserl. Diferentemente desta, ela explica que surgiu ainda a Escola de Frankfurt ou Teoria Crítica. Nos anos 60, Chaui(2000) lembra que uma corrente científica chamada estruturalismo surgiria com a idéia de que o mais importante não é a mudança ou a transformação de uma realidade e sim a estrutura ou a forma que ela tem no presente. Chaui(2000) afirma que isso influenciou vários filósofos franceses como Foucault, Jaques Derrida e Gilles Delleuze; que dizem que uma teoria ou uma prática são novas justamente quando rompem as concepções anteriores e as substituem por outras completamente diferentes, não sendo possível falar numa continuidade progressiva entre elas. 1.4.3 - Organização O significado de organização é trazido pelo Dicionário Aurélio(1988) como sendo “associação ou instituição com objetivos definidos”. Segundo Chiavenato(2000), Aristóteles, em seu livro Política, estuda a organização do Estado e suas formas de administração. Ele afirma que, através dos séculos, as normas administrativas e de organização pública foram se transferindo de Estados como Atenas e Roma para instituições da Igreja Católica e organizações militares. Ele considera a ruptura das estruturas corporativas da idade média, o avanço tecnológico e a substituição do tipo artesanal por um tipo industrial de produção; fatores da Revolução Industrial responsáveis 21 pelo nascimento da organização moderna. Ele atribui ainda à influência dos economistas liberais do final do século XVIII a origem do pensamento administrativo dos dias atuais. Chiavenato(2000) conta que, na influência dos pioneiros e empreendedores no século XIX, a preocupação dominante se deslocou para os riscos do crescimento sem uma organização adequada tendo em vista que esta era a tarefa mais difícil que a criação das empresas. Na virada do século XX, estariam criadas as condições para o aparecimento dos grandes organizadores da empresa moderna. 1.4.4 - Limitação O Dicionário Globo(1992) traz a definição de limitação como “ato ou efeito de limitar; confinação; restrição”. Através deste dicionário, tomando-se o verbo limitar e seus sinônimos, encontra-se diversas expressões relevantes para o desenvolvimento do referido estudo. São elas: “determinar os limites de; demarcar; reduzir a determinadas proporções; limitar suas despesas; fixar; estipular; designar; escolher; confinar; pr. consistir unicamente em; não passar de; restringir-se, subordinar-se; circunscrever-se; contentar-se, dar-se por satisfeito”. 1.4.5 - Criatividade Segundo o Dicionário Aurélio(1986), criatividade consiste na capacidade criadora. Conforme Alencar(1993), criatividade “implica a emergência de um produto novo, seja uma idéia ou invenção original, seja a reelaboração e aperfeiçoamento de produtos ou idéias já existentes”. Souza(2004) analisa a criatividade dentro do contexto histórico da antigüidade clássica, onde duas teorias se destacam: a Criatividade Como Origem Divina, quando Platão declarou ser o artista, no momento da criação, agente de um poder superior, perdendo o controle de si mesmo; e a Criatividade Como Loucura que, novamente com Platão, não via a diferença entre o frenesi da visitação divina e o da visitação da insanidade mental. Poetas 22 como Shakespeare, que achava-se à beira da loucura quando escreveu “King Lear”, retomaram essa opinião mais tarde. Na idade moderna, Souza(2004) afirma que surgiram teorias que definem a criatividade como parte da natureza humana e em relação ao universo em geral. São elas: Criatividade Como Gênio Intuitivo, idéia nascida no fim do renascimento quando foi aplicada aos poderes criadores de homens como Kant, no século XVIII, que associaram a criatividade e gênio; Criatividade Como força Vital que, como uma das conseqüências da teoria da evolução de Darwin, foi a noção de ser a criatividade humana uma manifestação da força criadora inerente à vida onde, como expoente desse pensamento, Souza(2004) cita Edmundo Sinnot, que afirma que “a vida é criativa porque se organiza e regula a si mesma e porque está continuamente originando novidades”; e a Criatividade Como Força Cósmica que, segundo Whitehead; consiste no fato de que tudo que existe tem de renovar-se continuamente para poder existir sendo que, dentro deste contexto, a criatividade não apenas mantém o que já existe, mas também produz formas completamente novas. Nos últimos cem anos, Souza(2004) explica que a criatividade passou a ser tratada mais cientificamente, sendo que sua minuciosa investigação tem cabido em grande parte aos psicólogos. As teorias que trataram da criatividade a partir do século XIX foram as seguintes: Associacismo, que, através do Behaviorismo, remonta John Locke tratando da relação entre duas idéias, onde, se uma pessoa é exposta a uma delas, separadamente, a outra vem à tona; Teoria da Gestalt, que consiste no fato de que o criador, ao buscar a solução para um problema, analisa a situação como um todo, buscando estabelecer suas relações(formas) e identificar as estruturas não resolvidas restaurando a harmonia do todo; Psicanálise, que, para Sigmund Freud, consiste na idéia de que a criatividade é originada em um conflito dentro do inconsciente; e a Neopsicanálise, que afirma que o pré-consciente é a fonte da criatividade por causa da liberdade de reunir, comparar e rearranjar as idéias. Para Souza(2004), as teorias mais recentes afirmam que a criatividade, apesar de ser possivelmente redutora de impulso, é também tida como um fim em si mesma. Nessa escola, Souza(2004) destaca os seguintes autores: E.G. Schachtel, que afirma que a criatividade seria a capacidade de permanecer “aberto” ao mundo, sustentando a percepção alocêntrica(centrada no objeto); Carl R. Rogers, que defende a tese de que, mais que abertura à experiência, a criatividade é a auto-realização, motivada pela premência do indivíduo em 23 realizar-se; J. P. Guilford, que explica que a mente contém capacidades cognitivas(de reconhecimento de informação), capacidades produtivas(para gerar novas informações) e capacidades avaliativas (para julgar as informações); Arthur Koestler, o qual defende que todos os processos criadores seguem um padrão comum, por ele chamado de bissociação, que consiste na conexão de níveis de experiência e sistemas de referência. Outras teorias relacionadas à criatividade são: a Criatividade Como Solução de Problemas, que explica que a criatividade só existe, só se exprime, face a um problema real, concreto e, em grande parte das vezes, imediato; o Processo de Criação, que considera passos como saturação ou informação, incubação, iluminação e verificação das idéias; Criatividade Como Inteligência manipulativa onde Erich Fromm afirma que o ser humano possui uma inteligência apta a comportamento criativo condicionada por outra forma de faculdade mental: a racionalidade; e o Papel dos Hemisférios Cerebrais que, segundo Ratz, consiste no fato de que as pessoas altamente criativas, ao fazerem referência a seus atos, discriminam dois aspectos: reestruturação de velhas idéias com alcance de uma nova síntese e a elaboração, confirmação e comunicação da idéia original. 1.4.6 - Talento Talento é definido pelo Dicionário Aurélio(1986) como aptidão natural, entre outras definições. Mota(2002) afirma que Joseph G. Mason alertava para o fato de que há, muitas vezes, confusão entre os termos criatividade e talento. Combinando a definição citada no parágrafo anterior com o exemplo que ele traz de uma criança, tem-se a seguinte elucidação: “se essa criança tem capacidade de tocar uma sonata de Mozart, ela é talentosa. Por outro lado, se ela passa a compor canções agradáveis, ela tem o direito de ser chamada de criativa”. Dentro do contexto organizacional, Mota(2002) afirma que a filosofia do “faça você mesmo” permite interiorizar os pontos fortes e fracos da empresa e aproveitar melhor o potencial e o talento dos profissionais para que eles dêem um retorno maior do que o valor investido neles. 24 1.5 - Metodologia de Pesquisa 1.5.1 – Pesquisa bibliográfica Segundo Martins(2000), pesquisa bibliográfica trata-se de uma abordagem metodológica que procura explicar e discutir um tema ou um problema com base em referências teóricas publicadas em livros, revistas, periódicos, etc. Assim sendo, a presente pesquisa emprega dados bibliográficos com base histórica e contemporânea para auxiliar na interpretação das informações. Esta pesquisa bibliográfica caracteriza-se por uma simples organização coerente de idéias originadas de bibliografia em torno do tema através do conhecimento e da análise das principais contribuições teóricas constituídas principalmente de livros e artigos científicos. 25 2 – Mentalidade Racional A mentalidade racional é um estado da mente cujo modo de operar estabelece, mecanicamente, os modelos aos quais o homem se submete para atingir um objetivo, consciente ou inconscientemente. Segundo Natali(2004), mente racional consiste na parte da mente que analisa, raciocina e aplica conceitos elaborados pelo pensamento. Durante a evolução do ser humano, a mentalidade racional se faz presente em suas próprias ações bem como na prática da sociedade da qual faz parte. Entre um paradigma e outro, lá está a razão, na maioria das vezes, se sobrepondo aos outros atributos do homem, definindo sua forma de pensar, de se relacionar, de obedecer, de delegar, de viver. O presente trabalho desenvolverá abordagens da mentalidade racional sob os aspectos filosófico e psicológico, a fim de demonstrar, através de uma evolução cronológica, sua importância no condicionamento do comportamento humano. 2.1 – Definição de Mentalidade Racional Claret(2002) assim define Mentalidade: Substantivo feminino. 1 - Qualidade de mental. 2 – A capacidade intelectiva; a mente, o pensamento (...). 3 – O conjunto de hábitos intelectuais e psíquicos de um indivíduo, ou de um grupo; estado mental ou psicológico. Considerando que, segundo Bueno(2000), racional é um adjetivo que define 26 aquilo que faz uso da razão, e que esta, por sua vez, é assim definida por Chauí(2001): “A razão é pensar e falar ordenadamente, com medida e proporção, com clareza e de modo compreensível para todos”; conclui-se que mentalidade racional é o exercício das faculdades mentais concebido segundo o ideal da clareza, da ordenação, do rigor e da precisão dos pensamentos e das palavras.. 2.2 – Abordagem Filosófica de Mentalidade Racional A filosofia é um dos veículos pelos quais a razão se faz presente na maneira de agir das pessoas até a presente data. No intuito de disseminar suas teorias aos povos, filósofos fizeram uso da razão através de diversos enfoques como mitos, idéias, religião, natureza, empirismo, entre outros que serão abordados no decorrer deste capítulo. Para Coleman(1988), “o poder da mente não passa de um casamento entre filosofias tradicionais e tecnologias modernas, oferecendo solução genuína e segura aos rigores e ameaças específicos da vida do século vinte.” Considerando que Chauí(2001) afirma que a filosofia se realiza como conhecimento racional da realidade natural e cultural, das coisas e dos seres humanos; fica propícia uma abordagem filosófica da mentalidade racional do ser humano conforme o passar dos anos tendo em vista que a filosofia estabeleceu modelos de comportamento que estão enraizados no modo de agir e pensar do ser humano. O presente trabalho apresenta na seqüência as diversas influências filosóficas de visão começando pelo pensamento mítico. 2.2.1 – A mentalidade Sob A Ótica da Filosofia Mítica Uma das primeiras condicionantes racionais foi o mito. Notórios até os dias atuais, suas personagens principais, os deuses; influenciaram o comportamento do ser humano através da crença e da submissão a figuras e fatos descritos pelos povos antigos. Segundo Fennix(2004), no contexto atual, a palavra mito quer dizer história ou conjunto de histórias que fazem parte da cultura de um povo. Tais histórias tentam explicar fenômenos incompreendidos ou sem resposta comprovada, como a criação do mundo, o 27 sentido da vida, a morte. O conjunto de narrativas desse tipo e o estudo das concepções mitológicas encaradas como um dos elementos integrantes da vida social são denominados mitologia. Fennix(2004) informa ainda que as imagens míticas são na realidade quadros, representações ou figuras espontâneas, provenientes da imaginação do homem, que descreve em linguagem poética as experiências fundamentais e padrões do seu desenvolvimento. A psicologia moderna usa a palavra arquétipo para descrever esses padrões, que são universais e existem em todas as pessoas de todas as civilizações e culturas, em todos os períodos da História. A narração mitológica envolve basicamente acontecimentos supostos, relativos a épocas primordiais, ocorridos antes do surgimento dos homens (história dos deuses) ou com os "primeiros" homens (história ancestral). O verdadeiro objeto do mito, contudo, não são os deuses nem os ancestrais, mas a apresentação de um conjunto de ocorrências fabulosas com que se procura dar sentido ao mundo. Em conseqüência disso, nas religiões monoteístas, as mitologias, sobretudo as teogonias, são geralmente repudiadas como exemplos de ateísmo ou politeísmo, pois representariam uma desvirtuação do Deus único e transcendente, à medida que o relacionam a manifestações ou representações de outras criaturas. No que diz respeito à relação mito e razão, o pensamento mítico é uma constante antropológica, complementar ao pensamento racional. Para demonstrá-lo, pode-se apontar indícios de que o pensamento mítico está em operação em muitas das manifestações culturais contemporâneas (como a arte). Em convivência com a reconhecida tendência à secularização, que "desmitologiza" os símbolos religiosos, morais ou épicos e os equipara a pura "ilusão", existiria uma outra, responsável pela produção de novos mitos ou, mais exatamente, novas formas simbólicas dos temas míticos tradicionais. Conclui-se que o pensamento racional e científico não seria, portanto, um "desmascarador" de mitos e substituto do pensamento mítico, mas pode ser capaz de reconhecer sua atualidade. Enquanto a astronomia, com suas descobertas, esvaziou os céus, antes povoados de deuses, a sociologia e a psicologia descobriram forças que se impõem ao pensamento e à vontade humana, e portanto, atuam e se manifestam de modo autônomo. O motivo para se incluir o tema do mito no presente trabalho visa demonstrar 28 como a submissão a uma força superior, ainda que imaginária, condicionou o comportamento do homem comum até os dias de hoje. A primeira a ser abordada será a mitologia grega, bastante influente no modo de pensar dos povos ocidentais. 2.2.1.1 – Mitologia Grega A mitologia grega desenvolveu-se plenamente por volta do ano 700 a.C. Nessa data já existiam três coleções clássicas de mitos: a Teogonia, do poeta Hesíodo, e a Ilíada e a Odisséia, do poeta Homero. A relação que pode se estabelecer da mitologia grega com a mentalidade racional é a de que através de obras como essas, entre outras influências, houve a geração de práticas e crenças em função desses temas. Essas práticas e crenças variavam amplamente, sem uma estrutura formal, como uma instituição religiosa de governo, nem um código escrito, como um livro sagrado. Como um dos primeiros exemplos de organização, os gregos acreditavam que os deuses tinham escolhido o monte Olimpo, em uma região da Grécia chamada Tessália, como sua residência. No Olimpo, os deuses formavam uma sociedade organizada no que diz respeito a autoridade e poder, movimentavam-se com total liberdade e formavam três grupos que controlavam o universo conhecido: o céu ou firmamento, o mar e a terra. Os doze deuses principais, conhecidos como Olímpicos, eram Zeus, Hera, Hefesto, Atena, Apolo, Ártemis, Ares, Afrodite, Héstia, Hermes, Deméter e Posêidon. A mitologia grega enfatizava o contraste entre as fraquezas dos seres humanos e as grandes e aterradoras forças da natureza. O povo grego reconhecia que suas vidas dependiam completamente da vontade dos deuses. A próxima abordagem diz respeito à mitologia romana que, apesar de assimilar algumas características da mitologia grega, apresenta a primeira mudança de paradigma apresentada neste trabalho. 2.2.1.2– Mitologia Romana A prova de que a mitologia romana pode ser relacionada com a mentalidade 29 racional reside no fato de que os antigos romanos também mantinham ou realizavam crenças, rituais e outras práticas concernentes ao âmbito do sobrenatural desde o período lendário até que a mentalidade do Cristianismo absorvesse definitivamente as religiões do Império Romano no começo da Idade Média. Ao contrário do que ocorreu na mitologia grega, os romanos não consideravam que os deuses agissem como os mortais e, portanto, não deixaram relatos das suas atividades. Apesar disso, as religiões romanas primitivas modificaram-se não só pela incorporação das novas crenças em épocas posteriores, como também pela assimilação de grande parte da mitologia grega. A influência da mentalidade mítica no trabalho apresenta-se na prática das primeiras divindades romanas, que incluíam uma série de deuses, onde cada um dos quais protegia uma atividade humana e tinha seu nome invocado quando tal atividade era exercida. Assim, por exemplo, Jano e Vesta guardavam respectivamente a porta e o lar; os Lares protegiam o campo e a casa; Pales, os rebanhos; Saturno, a semeadura; Ceres, o crescimento dos cereais; Pomona, os frutos; e Consus e Ops, as colheitas. O parágrafo anterior pode ser usado como uma prova contundente da relação entre a mitologia romana e a mentalidade racional tendo em vista que, como nos dias de hoje só que com enfoques diferentes, apresenta o condicionamento das tarefas do ser humano a uma verdade suprema imune a qualquer contestação, fruto da abordagem do presente trabalho. Sem o mesmo rigor da mitologia romana e tratando de forma mais livre suas crenças, o pensamento mítico dos egípcios é a próxima abordagem a ser estudada neste capítulo. 2.2.1.3– Mitologia Egípcia Diferenciando-se dos romanos no que diz respeito ao rigor, os egípcios ao mesmo tempo geraram uma complexidade religiosa que demonstra uma oportuna comparação com a mentalidade racional: a liberdade criativa sem o respaldo da presença, não exagerada, da razão; pode levar ao descontrole do que se concebe. As crenças religiosas dos antigos egípcios tiveram uma influência importante 30 no desenvolvimento da sua cultura, embora nunca tenha existido entre eles uma verdadeira religião, no sentido de um sistema teológico unificado. A fé egípcia baseava-se na acumulação desorganizada de mitos antigos, no culto à natureza e a inumeráveis divindades. No mais influente e famoso desses mitos desenvolveu-se uma hierarquia divina através da qual se explicava a criação do mundo. Desse mito da criação surgiu a concepção da enéade, grupo de nove divindades, e da tríade, formada por um pai, uma mãe e um filho divinos. Cada templo local tinha sua própria enéade e sua própria tríade. A enéade mais importante foi a de Rá com seus filhos e netos. Esse grupo era venerado em Heliópolis, centro do culto ao Sol no mundo egípcio. A origem das deidades locais é obscura; algumas vieram de outras religiões e outras de deuses animais da África pré-histórica. Gradativamente, foram se fundindo em uma complicada estrutura religiosa, ainda que comparativamente poucas divindades locais tivessem chegado a ser importantes em todo o Egito. As divindades importantes incluíam os deuses Amon, Thot, Ptah, Khnemu e Hapi e as deusas Hator, Nut, Neit e Seket. Sua importância aumentou com a ascensão política das localidades onde eram veneradas. Por exemplo: a enéade de Mênfis era encabeçada por uma tríade composta pelo pai Ptah, a mãe Seket e o filho Imhotep. De qualquer modo, durante as dinastias menfitas, Ptah chegou a ser um dos maiores deuses do Egito. De forma semelhante, quando as dinastias tebanas governaram o Egito, a enéade de Tebas adquiriu grande importância, encabeçada pelo pai Amon, a mãe Mut e o filho Khonsu. Conforme a religião foi se desenvolvendo, muitos seres humanos glorificados após sua morte acabaram sendo confundidos com deuses. Assim Imhotep, que originariamente fora o primeiro ministro do governador da III Dinastia Zoser chegou a ser conceituado como um semideus. Durante a V Dinastia, os faraós começaram a atribuir a si mesmos ascendência divina e, desde essa época, foram venerados como filhos de Rá. Já as crenças religiosas no Egito refletem uma das características mais curiosas desta civilização, como a de introduzir, se indispensável, uma nova mentalidade, sem contudo renunciar à velha, embora velha e nova se choquem. Isso pode ser constatado nos dois relatos sobre a velhice de Rá, no qual desfiguram-se dois caracteres: aquele de Hátor, popular deusa vaca cujo nome significa "Casa de Hórus", isto é, o céu; representada também como mulher com coroa e orelhas bovinas, era a divina representante do gentil sexo, deusa alegre do amor, da fecundidade, do prazer; e não se sabe por que justamente ela devesse ser transformada na 31 sanguinária Sekhmet o "mito da destruição". Assim, Segundo Lima(2004), na falta de qualquer dogma que seja do alto, cada um tinha autonomia para ter a "sua" versão dos fatos e forjá-la segundo as tradições religiosas do próprio povoado, mostrando qual a importância de se ter um certo controle racional da situação em equilíbrio com a liberdade para criar. 2.2.1.4 – Conclusão Após a abordagem dos diferentes pensamentos míticos, pode-se ter uma idéia da dimensão da influência dos mitos sobre o ser humano. Tais mitos são cultuados e difundidos até hoje, provando que sua existência está longe de chegar ao fim. 2.2.2 – A mentalidade Sob A Ótica de Tales de Mileto Os gregos, a partir de Tales, propõem uma nova visão de mundo cuja base racional fica evidenciada na mesma medida em que ela é capaz de progredir, ser repensada e substituída. Segundo Pessanha(2004), Tales de Mileto nada deixou escrito, ou melhor, não há certeza de que tenha escrito algum livro. Chauí(1998) conta que, considerado filósofo naturalista e pré-socrático e, também, o "pai da filosofia grega", suas teorias são conhecidas por intermédio de Aristóteles, Diógenes Laércio, Heródoto, Teofrasto e Simplício. Pessanha afirma que um dos aspectos fundamentais da mentalidade científicofilosófica inaugurada por Tales de Mileto consistia na possibilidade de reformulação e correção das teses propostas. Em função disso, teria tido início com Tales a explicação do universo através da causa material. Chauí apresenta, ainda, a associação que Tales de Mileto, citada por Aristóteles, fez entre a água (segundo ele, princípio de todas as coisas) e a alma: “Parece que também Tales considerou a alma como princípio motor, se disse, segundo o que se afirma dele, que o ímã tem uma alma, porque move o ferro”. Em outras palavras, para Tales, se o princípio-água 32 é também "de que" e "em que" subsistem todas as coisas, o sentido de alma teria sua conotação de princípio. Em função disso, Tales acreditava que não só os humanos possuíam alma como também as coisas aparentemente inanimadas. Assim ele explicava a existência das pedras imantadas ou a ocorrência de eletricidade em determinados organismos. A importância desse espaço dedicado a Tales de Mileto baseia-se na ruptura com o modelo mítico vigente promovida através de sua metafísica e caracterizando-se como mais um importante exemplo de mudança de paradigma. Uma nova mudança ocorreria com a chegada de Sócrates, Platão e Aristóteles, pensadores que influenciam até hoje a mentalidade racional da sociedade atual. 2.2.3 - A Mentalidade Sob A Ótica De Sócrates, Platão E Aristóteles Em Sócrates, Platão e Aristóteles se inaugura uma decisão Histórica. A decisão das diferenças que, sendo já em si mesma metafísica, instala o domínio da filosofia em toda a História do Ocidente. Trata-se de uma decisão que vive da perplexidade em raciocinar a identidade como identidade e não como igualdade, isto é, que vive da dificuldade de se encontrar com a identidade no próprio seio das diferenças. 2.2.3.1 - Sócrates Sócrates inaugurou uma mentalidade racional voltada para o íntimo do homem, que fazia com que este fosse induzido a conhecer a si mesmo na busca pelas respostas. Segundo Reale & Antiseri (1990), depois de algum tempo seguindo os ensinos dos naturalistas, Sócrates passou a sentir uma crescente insatisfação com o legado desses filósofos, e passou a se concentrar na questão do que é o homem - ou seja, do grau de conhecimento que o homem pode ter sobre o próprio homem. Enquanto os filósofos préSocráticos, chamados de naturalistas, procuravam responder à questões do tipo: "O que é a natureza ou o fundamento último das coisas?" Sócrates, por sua vez, procurava responder à 33 questão: "O que é a natureza ou a realidade última do homem?" A resposta a que Sócrates chegou é a de que o homem é a sua alma - psyché, por quanto é a sua alma que o distingue de qualquer outra coisa, dando-lhe, em virtude de sua história, uma personalidade única. E por psyché Sócrates entende nossa sede racional, inteligente e eticamente operante, ou ainda, a consciência e a personalidade intelectual e moral. Esta colocação de Sócrates acabou por exercer uma influência profunda em toda a tradição européia posterior, até hoje. Segundo Reale & Antiseri (1990), um dos raciocínios fundamentais feitos por Sócrates para provar essa tese é o seguinte: uma coisa é o instrumento que se usa e a outra é o sujeito que usa o instrumento. Ora, o homem usa o seu corpo como instrumento, o que significa que a essência humana utiliza o instrumento, que é o corpo, não sendo, pois, o próprio corpo. Assim, à pergunta "o que é o homem?", não seria lógico responder que é o seu corpo, mas sim que é "aquilo que se serve do corpo", que é a psyché, a alma. Entre as acusações contra Sócrates estava a de que ele estava introduzindo novos daimonions, novas entidades divinas. Em sua Apologia, Sócrates diz: "A razão (...) são aquelas acusações que muitas vezes e em diversas circunstâncias ouvistes dizer, ou seja, que em mim se verifica algo de divino ou demoníaco (...) uma voz que se faz ouvir dentro de mim desde que eu era menino e que, quando se faz ouvir, sempre me detém de fazer aquilo que é perigoso e que estou a ponto de fazer, mas que nunca me exortou a fazer nada". Ou seja, o daimonion socrático era "uma voz" que lhe vetava determinadas coisas, o que o salvou várias vezes de perigos e experiências negativas (Reale & Antiseri, 1990, p. 95). Ela não lhe revelava nada, apenas vetava algumas coisas que lhe eram perigosas. É imperativo para o presente trabalho citar a maneira como Sócrates fazia as pessoas conhecerem-se a si mesmas, a qual também estava ligada à sua descoberta de que o homem, em sua essência, é a sua psyché. Em seu método, chamado de maiêutica, ele tendia a despojar a pessoa da sua falsa ilusão do saber, fragilizando a sua vaidade e permitindo, assim, que a pessoa estivesse mais livre de falsas crenças e mais susceptível à extrair a verdade lógica que também estava dentro de si. Ele nada ensinava, apenas ajudava as pessoas a tirarem de si mesmas opiniões próprias e limpas de falsos valores, pois o verdadeiro conhecimento tem de 34 vir de dentro, de acordo com a consciência, e que não se pode obter espremendo-se os outros. Dialogar com Sócrates era se submeter a uma "lavagem da alma" e a uma prestação de contas da própria vida. Como disse Platão: "Quem quer que esteja próximo a Sócrates e, em contato com ele, põe-se a raciocinar, qualquer que seja o assunto tratado, é arrastado pelas espirais do diálogo e inevitavelmente é forçado a seguir adiante, até que, surpreendentemente, ver-se a prestar contas de si mesmo e do modo como vive, pensa e viveu". Em seu método, ao iniciar uma conversa, Sócrates sempre adotava a posição de uma pessoa ignorante, que apenas "sabe que nada sabe". E justamente por usar esta afirmativa, ele forçava as pessoas a usarem a razão. Ele entrava de tal forma na conversa, e de tal forma a dominava, que era capaz de aparentar uma maior ignorância ou de mostrar-se mais tolo do que realmente era. Seus discípulos mais fieis já sabiam que quando o opositor caia nesta jogada, logo levaria um tombo tremendo quando o quadro se invertesse. E esta era a principal técnica do método de Sócrates: usar a ironia. Foi assim que ele expôs muito das fraquezas do pensamento ateniense. Um encontro com Sócrates podia significar o risco de expor-se ao ridículo. Mas as pessoas que passaram por isto e conseguiram superar o choque do orgulho ferido, indo até o fim no processo cartático, acabavam por extrair de si mesmo a resposta em tudo lógica e compatível com os problemas expostos, dando-lhe a solução. É muito importante para o presente trabalho mostrar como Sócrates tratava da motivação pessoal na busca pela solução de problemas, postura essa que, após séculos, ainda é bastante útil para a relação empregado e empregador. 2.2.3.2 - Platão A mentalidade racional de Platão colocou o sentimento sensível num patamar abaixo do da inteligência, considerando esta como digna de ser conhecida pelo ser humano. Autor de vasta obra filosófica, Platão preocupou-se com o conhecimento das verdades essenciais que determinam a realidade e, a partir disso, estabeleceu os princípios 35 éticos que devem nortear o mundo social. Dentro desse contexto, segundo Fontes(2004), combateu o relativismo dos valores, defendido pelos sofistas, sustentando que o único dever do homem é procurar o Bem, que identifica com o Belo e o Uno. Para o atingir, a única via possível passa pelo desprendimento dos valores materiais e das necessidades corporais. Teoria das idéias: conhecimento e metafísica. Como primeiro passo para sua metafísica, Platão julgou indispensável elaborar uma teoria do conhecimento. O problema com o qual ele se defrontou foi o problema do ser. Uma vez que os sentidos nos revelam as coisas como múltiplas e mutáveis, ao passo que a inteligência nos revela sua unidade e permanência, procurou uma solução que conciliasse o testemunho dos sentidos e as exigências do conhecimento intelectual. Baseou-se nos conceitos matemáticos e nas noções éticas para demonstrar que a essência real e eterna das coisas existe. Usou como argumento a possibilidade de pensar figuras geométricas puras, que não existem no mundo físico. Da mesma forma, todo homem tem as noções de bem e justiça, por exemplo, que não têm correspondente no mundo sensível. Segundo Hamlyn(2004), Platão acredita que não há possibilidade de transformar crença em conhecimento, como sugeriu em “Mênon”. Temos simplesmente que substituir crença por conhecimento. Platão acredita que o conhecimento é reservado às Formas, porque a Forma F não pode ser outra que F. Pensa, em conseqüência, que não podemos nos enganar a respeito da Forma, e o conhecimento tem a impossibilidade de erro como sua precondição. O erro é possível no caso das coisas sensíveis, de modo que não podemos ter conhecimento das mesmas. Na hierarquia das idéias, situa-se no topo a idéia do bem, da qual participam as demais. Logo abaixo estão as idéias de beleza, verdade e simetria e, em plano inferior, os valores éticos e os conceitos matemáticos. Além disso, cada classe de ser existente no mundo sensível possui sua forma ideal: homem, cachorro, casa etc. A relação entre os diferentes seres que constituem uma classe e seu arquétipo, por exemplo, entre um homem e a idéia de homem, se explica pelo fato de serem os objetos sensíveis cópias ou imitações da idéia perfeita. Segundo Platão, a alma é anterior ao corpo, e antes de aprisionar-se nele, pertenceu ao mundo das idéias. Sua natureza é tripartida: no nível inferior, está a alma sensível, morada dos desejos e das paixões, à qual corresponde a virtude da moderação ou temperança; vem em seguida a alma irascível, que impele à ação e ao valor; sobre elas está a 36 alma racional, que pertence à ordem inteligível e permite ao homem recordar sua existência anterior (teoria da reminiscência) e acender ao mundo das idéias, mediante o cultivo da filosofia. A alma superior é imortal e retornará à esfera das idéias após a morte do corpo. As concepções éticas e políticas de Platão são um prolongamento natural de sua teoria da alma. Uma vez que o homem acende às idéias por meio da razão e que as idéias são presididas pelo bem, o homem sábio será também necessariamente bom. Para isso, contudo, é preciso que a sociedade reproduza a ordem da alma. Considerando que a justiça consiste na relação harmônica entre as partes, sob o cuidado da razão, Platão sugeriu em A República, obra em que expõe suas idéias políticas, filosóficas, estéticas e jurídicas; um estado composto por três classes: (1) os regentes filósofos, sob o predomínio da alma racional; (2) os guerreiros guardiões, defensores do estado e cujos valores residem na alma irascível; (3) e a classe inferior dos produtores, regidos pela alma sensível, controlados mediante a temperança. A referência à Platão é imprescindível para o presente trabalho pois, conforme supra citado, o filósofo coloca a razão acima da sensibilidade, implicando um condicionamento do ser humano diretamente proporcional a influência que este sofre até hoje pelas idéias platônicas. Suas idéias viriam a ser criticadas por Aristóteles, conforme pode se constatar na seqüência. 2.2.3.3 - Aristóteles Aristóteles foi um dos primeiros e o maior crítico da teoria platônica das idéias, com demonstra em muitas obras, principalmente na Metafísica. Aristóteles achava que a idéia não constituía realidade separada. A realidade para ele é de indivíduos concretos, e só neles existe a idéia, a quem chama de forma. Já a idéia, segundo Ribeiro Jr (2004), envolvia conceitos excessivamente abstratos, e não concretos e reais, os quais podem ser percebidos pelos sentidos e analisados em termos de forma, constituição, construção e finalidade. Todas as coisas têm caracteres gerais, que permitem agrupá-las, e caracteres específicos, que as distinguem umas das outras. Segundo Aristóteles, é a razão que controla nossos atos e nela há o raciocínio a 37 partir dos dados dos sentidos. A forma seria aquilo que a matéria faz. O mundo é dividido entre orgânico e inorgânico, sendo o orgânico o que encerra em si uma capacidade de transformação. De fato, em uma obra madura, Ética a Nicômano, temos um exemplo do impasse que se dava na sua alma, entre defender suas próprias idéias e respeitar a amizade à Platão e aos platônicos. Diz Aristóteles em I, 6, 15: "Seria melhor, talvez, considerar o bem universal e discutir a fundo o que se entende por isso, embora tal investigação nos seja dificultada pela amizade que nos une àqueles que introduziram as idéias. No entanto, os mais ajuizados dirão que é preferível e que é mesmo nosso dever destruir o que mais de perto nos toca a fim de salvaguardar a verdade, especialmente por sermos filósofos ou amantes da sabedoria; porque embora ambos nos sejam caros, a piedade exige que honremos a verdade acima de nossos amigos." Ele prossegue observando não ser possível uma idéia comum por cima de todos os bens, como queria Platão, porque bem é usado tanto na categoria de substância quanto na de qualidade e relação. E nas idéias eternas não há prioridade e posterioridade. Por causa disso, Platão não estabeleceu uma idéia que abrange todos os números. A palavra bem é predicada na categoria de substância, quantidade, qualidade, relação, espaço. Então bem não pode ser único e igualmente presente. Assim como o carpinteiro, o olho, o pé e outras coisas tem uma função própria, o homem precisa ter uma função que lhe seja peculiar. A função do homem, observa Aristóteles, não pode ser a vida, pois essa é comum até às plantas, nem a percepção, pois essa é comum aos animais, mas sim a atividade do elemento racional. A função do homem, é pois, uma atividade da alma que "segue ou implica um princípio racional". Daí o fato de ele fazer a famosa afirmação : "o homem é um animal racional". Na definição aristotélica, a alma é todo princípio vital de qualquer organismo. No homem é também a força da Razão. É imortal, puro pensamento, inviolado pela realidade. É independente da memória. A alma, é portanto, enteléquia primeira de um corpo natural e orgânico. A alma intelectiva, diz Aristóteles, parece ser uma espécie diferente de alma. Para melhor definir a alma, ele a dividiu em três tipos: alma vegetativa, alma sensitiva e a alma racional. A alma racional seria exclusiva do homem, a sensitiva, pertenceria também aos animais, e a vegetativa, comum a todos os seres vivos. 38 Nada deve ser em falta ou em excesso, tudo no meio termo, ou moderadamente. A amizade é um auxílio à felicidade, que só encontramos pura em nós e do conhecimento da nossa alma. Aristóteles fala do homem ideal, que não se preocupa em demasiado, mas dá a vida nas grandes crises. Não tem maldade, não gosta de falar, enfim é pouco vaidoso. Na Ética a Nicômano, Aristóteles fornece a seguinte relação de vício e de virtude: 1) a mansidão é o ponto médio entre a iracúndia e a impassibilidade; 2) a coragem é o ponto médio entre a temeridade e a covardia; 3) a verecúndia é o ponto médio entre a imprudência e a timidez; 4) a temperança é o ponto médio entre a intemperança e a insensibilidade; 5) a indignação é o ponto médio entre a inveja e o excesso oposto que não tem nome; 6) a justiça é o ponto médio entre o ganho e a perda; 7) a liberalidade é o ponto médio entre a prodigalidade e a avareza; 8) a veracidade é o ponto médio entre a pretensão e o auto desprezo; 9) a amabilidade é o ponto médio entre a hostilidade e a adulação; 10) a seriedade é o ponto médio entre a complacência e a soberba; 11) a magnanimidade é o ponto médio entre a vaidade e a estreiteza da alma; 12) a magnificência é o ponto médio entre a suntuosidade e a mesquinharia. Segundo Aristóteles, nessas ações, a virtude ética é a justa medida que a razão impõe a sentimentos, ações ou atitudes, que sem o devido controle, tendem para o excesso. Ribeiro Jr (2004) afirma que a contribuição fundamental de Aristóteles à Filosofia foi a criação da lógica formal e da lógica material, métodos que organizam e ordenam o raciocínio e o pensar. Dentre outras importantes contribuições, cita a retórica, estudo da palavra, uma das mais distintivas características do homem; a ética, estudo dos princípios racionais da virtude humana; e a política, estudo do comportamento do homem em comunidade. Aristóteles contribui para o presente trabalho quando alerta para a possibilidade de que haja uma idéia dominante para todas as coisas, o risco de se ter uma forma em excesso, 39 ou em falta, bem como quando estabelece a razão como guia dos atos do ser humano. 2.2.3.4 – Conclusão O mundo não foi mais o mesmo após a passagem de Sócrates, Platão e Aristóteles. Suas idéias influenciaram outros pensadores e outras escolas conforme será mostrado no decorrer do presente trabalho. 2.2.4 – A Mentalidade Sob A Ótica De Epícuro A escola epicurista durou até o IV século d.C onde, através de Epícuro, defendia a tese de que a originalidade deve manifestar-se na vida. Epícuro defende que todo o nosso conhecimento deriva da sensação, ou seja, que é uma complicação de sensações. Estas nos dão o ser, indivíduo material, que constitui a realidade originária. Como a sensação, a evidência sensível é o único critério de verdade no campo teorético, da mesma forma o sentimento (prazer e dor) será o critério supremo de valor no campo prático. Segundo Epícuro, o universo não é concebido como finito e uno, mas infinito e resultante de mundos inúmeros divididos por intermundos, espalhado pelo espaço infindo, sujeitos ao nascimento e à morte. Nesse mundo o homem, sem providência divina, sem alma imortal, deve adaptar-se para viver como melhor puder. Nisto estão toda a sabedoria, a virtude e a moral epicuristas. Em função disso, no que diz respeito à moral epicurista, a finalidade da vida é o prazer sensível; critério único de moralidade é o sentimento. O único bem é o prazer, como o único mal é a dor; nenhum prazer deve ser recusado, a não ser por causa de conseqüências dolorosas, e nenhum sofrimento deve ser aceito, a não ser em vista de um prazer, ou de nenhum sofrimento menor. No epicurismo não se trata, portanto, do prazer imediato, como é desejado pelo homem vulgar; trata-se do prazer refletido e avaliado pela razão, escolhido prudentemente, sabiamente, filosoficamente. Almejava, portanto, dar uma unidade estética e 40 racional à vida, mais do que ao mundo. Portanto, dentro da ótica de Epícuro, a sensibilidade aparece como conseqüência de uma análise racional, contribuindo ainda mais para o condicionamento mecanicista do comportamento do homem, antes do advento do Cristianismo. 2.2.5 – A Mentalidade Sob A Ótica do Cristianismo É difícil imaginar uma mentalidade racional mais influente no comportamento e na maneira de pensar do ser humano do que o Cristianismo. Muitas formas de condutas foram pregadas e advertidas após a difusão do nome de Jesus Cristo entre os homens. Pessoas foram salvas e outras foram torturadas e mortas em nome do Cristianismo, cuja forte presença se revelou determinante na tomada de importantes decisões na vida do ser humano. 2.2.5.1 – Santo Agostinho – Fase Patrística Patrística foi um movimento da filosofia cristã que teve seu apogeu com o padre Santo Agostinho. Desde o surgimento do Cristianismo, tornou-se necessário explicar seus ensinamentos às autoridades romanas e ao povo em geral. Mesmo com o estabelecimento e a consolidação da doutrina cristã, a Igreja católica sabia que esses preceitos não podiam simplesmente ser impostos pela força. Eles tinham de ser apresentados de maneira convincente, mediante um trabalho de conquista espiritual. Foi assim que os primeiros Padres da Igreja se empenharam na elaboração de inúmeros textos sobre a fé e a revelação cristãs. O conjunto desses textos ficou conhecido como patrística, por terem sido escritos principalmente pelos grandes Padres da Igreja. Uma das principais correntes da filosofia patrística, inspirada na filosofia greco-romana, tentou munir a fé de argumentos racionais. Apesar de tentar romper com a filosofia grega clássica, essa fase ficou caracterizada na fé em busca de argumentos racionais a partir de uma matriz platônica. Esse projeto de conciliação entre o cristianismo e o pensamento pagão teve como principal expoente o padre Santo Agostinho. 41 Para Santo Agostinho, o homem é uma alma racional que se serve de um corpo mortal e terrestre; distingue, na alma, dois aspectos: a razão inferior e a razão superior. A razão inferior tem por objetivo o conhecimento da realidade sensível e mutável: é a ciência, conhecimento que permite cobrir as nossas necessidades. A razão superior tem por objeto a sabedoria, isto é, o conhecimento das idéias, do inteligível, para se elevar até Deus. Em função disso, Agostinho possui uma noção exata, ortodoxa, cristã: Deus é poder racional infinito, eterno, imutável, simples, espírito, pessoa, consciência, o que era excluído pelo platonismo. Nesta razão superior dá-se a iluminação de Deus. Inicialmente, ele conquista uma certeza: a certeza da própria existência espiritual; daí tira uma verdade superior, imutável, condição e origem de toda verdade particular. Embora desvalorizando, platonicamente, o conhecimento sensível em relação ao conhecimento intelectual, admite Agostinho que os sentidos, como o intelecto, são fontes de conhecimento. E como para a visão sensível além do olho e da coisa, é necessária a luz física, do mesmo modo, para o conhecimento intelectual, seria necessária uma luz espiritual. Segundo Santo Agostinho: "A certeza dada pela luz da razão divina é maior do que a que é dada pela luz da razão natural". Esta vem de Deus, é a Verdade de Deus, o Verbo de Deus, para o qual são transferidas as idéias platônicas. Para ele, o processo do conhecimento é o seguinte: a razão ajuda o homem a alcançar a fé; de seguida, a fé orienta e ilumina a razão; e esta, por sua vez, contribui para esclarecer os conteúdos da fé. Dentro desta metodologia, não fica difícil concluir que, através do presente trabalho, nem mesmo a fé, atributo tão particular do ser humano, escapou da influência do racionalismo e de seus requintes de lógica e ideologia. 2.2.5.2 – São Tomás de Aquino – Fase Escolástica Tomista A fase escolástica caracterizou-se por ser um conjunto de doutrinas filosóficas e teológicas desenvolvidas em escolas eclesiásticas e universidades da Europa entre o século XI e o Renascimento. Caracteriza-se pela tentativa de conciliar a fé cristã com a razão, representada pelos princípios da filosofia clássica grega, em especial os ensinamentos de 42 Platão e Aristóteles. Desenvolve-se a partir da filosofia patrística (elaborada pelos padres da Igreja Católica), que faz a primeira aproximação entre o cristianismo e uma forma racional de organizar a fé e seus princípios, baseada no platonismo. Com a escolástica, a filosofia medieval continua ligada à religião, uma vez que são as questões teológicas que suscitam a discussão filosófica. Um dos principais pensadores escolásticos é São Tomás de Aquino (1224/25?-1274). No século VIII, Carlos Magno resolveu organizar o ensino por todo o seu império e fundar escolas ligadas às instituições católicas. A cultura greco-romana, guardada nos mosteiros até então, voltou a ser divulgada, passando a ter uma influência mais marcante nas reflexões da época. Era a renascença carolíngia. A fundação dessas escolas e das primeiras universidades do século XI fez surgir uma produção filosófico-teológica denominada escolástica (de escola). A partir do século XIII, o aristotelismo penetrou de forma profunda no pensamento escolástico, marcando-o definitivamente. Isso se deveu à descoberta de muitas obras de Aristóteles, desconhecidas até então, e à tradução para o latim de algumas delas, diretamente do grego. A busca da harmonização entre a fé cristã e a razão manteve-se, no entanto, como problema básico de especulação filosófica. Nesse sentido, o período escolástico pode ser dividido em três fases: • Primeira fase (do século IX ao fim do século XII): caracterizada pela confiança na perfeita harmonia entre fé e razão. • Segunda fase (do século XIII ao princípio do século XIV): caracterizada pela elaboração de grandes sistemas filosóficos, merecendo destaques nas obras de Tomás de Aquino. Nesta fase, considera-se que a harmonização entre fé e razão pôde ser parcialmente obtida. • Terceira fase (do século XIV até o século XVI): decadência da escolástica, caracterizada fundamentais entre fé e razão. pela afirmação das diferenças 43 Para se ter uma idéia de como a mentalidade do cristianismo se referia à filosofia, para um homem do século XIII, na Europa Ocidental, ser filósofo, entre muitas outras coisas, era ser um pagão. Filósofo era um daqueles que, nascidos antes de Cristo, não puderam informar-se a respeito da verdade da Revelação Cristã. Tal era o caso de Platão e Aristóteles. O Filósofo, por excelência, era um pagão. Outros, nascidos depois de Cristo, eram infiéis. Se um teólogo julgasse conveniente recorrer à filosofia nos seus trabalhos teológicos, como foi o caso de S. Tomás de Aquino, não era normalmente chamado "filósofo", e, sim, philosophans theologus (teólogo filosofante), ou, simplesmente, philosophans (um filosofante). A filosofia se apresentava ao espírito de muitos teólogos como uma massa indiferenciada em que se encontrariam as lições de quase todos aqueles que, ou por não estarem ao corrente da verdade cristã, ou por não a terem aceito, tentaram obter uma visão consistente do mundo e do homem com os recursos apenas da razão. Nos anos em que esteve na Itália, de 1259 a 1268, S. Tomás de Aquino teve à sua disposição as traduções de obras de Aristóteles, ou as revisões de traduções, feitas por Guilherme de Moerbeka, e aproveitou-se dessa oportunidade para escrever comentários à doutrina do Filósofo. Tomás não achou útil tornar o aristotelismo mais frontalmente oposto à verdade cristã do que já o era nos trabalhos autênticos do próprio Aristóteles. Tomás removeu de Aristóteles todos os obstáculos à Fé Cristã não evidentes nos escritos dele. Depois de remover tais obstáculos desnecessários, S. Tomás de Aquino encontrou-se em posição bem diferente ao dos demais teólogos. S. Tomás viu, então, até onde poderia ir a filosofia na linha do pensamento. S. Tomás não podia contentar-se com recorrer, em cada caso particular, à filosofia que, naquele ponto preciso, fosse mais facilmente conciliável com o cristianismo. Ele não mais podia contentar-se com um ecletismo filosófico na elaboração de sua teologia, uma vez que compreendera o que é, realmente, uma visão filosófica do mundo. S. Tomás teve de submeter a um exame crítico o ecletismo filosófico de seus predecessores. Como ele não se contentaria, ao discutir problemas teológicos, com recorrer, em cada caso particular, à filosofia que lhe permitisse reconciliar razão e revelação como mínimo esforço possível, teve de eliminar todas as posições teológicas que, aceitáveis embora no ecletismo, eram incompatíveis com a sua própria concepção de filosofia. 44 Há vasta área de especulação racional que, por cooperar com o trabalho da revelação, está também incluído no trabalho de S. Tomás de Aquino. Segundo S. Tomás de Aquino, além da verdade que não se pode conhecer sem a revelação divina, muitas verdades não estão fora do alcance da razão humana, mas foram, não obstante, reveladas por Deus ao homem. É necessário à salvação do homem que estas verdades sejam conhecidas. Considerando que nem todos os homens são capazes de descobrilas através da indagação filosófica, Deus revelou-as a todos. Ainda que reveladas a todos, estas verdades são possíveis de se conhecer racionalmente. Partindo desse fato, toda investigação racional dedicada à investigação daquilo que, muito embora revelado por Deus, é acessível racionalmente, constitui parte da Teologia, tal como a entende S. Tomás de Aquino. Um fato basta para prová-lo. A Summa Contra Gentiles é um tratado puramente teológico. Foi às vezes chamada a "Suma filosófica" porque contém de fato grande proporção de especulação puramente racional. Mas o prólogo mostra, de modo claro, que a intenção do autor, ao escrevê-la, foi puramente religiosa. Reconhece-se aí o Dominicano na Summa Theologiae, quando, no capítulo II da Contra Gentiles, S. Tomás afirma: "Estou consciente de que devo a Deus a principal obrigação de minha vida, que minha palavra e minha inteligência possam falar dele." Além disso, São Tomás diz que, na Contra Gentiles, ele segue a ordem teológica que procede de Deus para a criatura, e não a ordem filosófica que procede da criatura para Deus. Qual é, na Contra Gentiles, a proporção da especulação destinada às verdades reveladas que são inacessíveis à razão sem o auxílio da Fé? Uma quarta parte do todo. O próprio S. Tomás de Aquino o diz. No Prólogo do Lv. IV. 1, 10, S. Tomás assinala a mudança de atitude, de método e de ordem: "No que precede, as coisas divinas foram objetos de exposição na medida em que a razão natural pode obter conhecimento delas pelas criaturas: imperfeitamente, é claro, e conforme à capacidade de nossa inteligência... Agora resta falar daquilo que foi divinamente revelado para nós como algo que se deve acreditar, pois que excede à razão." Portanto, na Summa Contra Gentiles, três partes da obra estudam as verdades acessíveis à razão humana; e ainda assim todas as coisas nela são Teologia. Evidentemente, S. Tomás adotou este plano porque desejava mostrar aos 45 pagãos e infiéis, que não acreditavam nas Escrituras, quão longe a razão humana pode ir sozinha a caminho da revelação cristã, sendo que, procedendo assim, é precisamente o que São Tomás de Aquino chama ensinar Teologia. O centro da noção S. Tomás de Aquino de Teologia conclui-se na afirmação de que, na ciência divina, nada que se conhece é sem importância para Deus, e, na ciência teológica, nada do que nos pode fazer conhecer melhor a Deus é sem importância. Como diz S. Tomás de Aquino na Contra Gentiles, com energia insuperável: muito embora instrua o homem principalmente sobre Deus, a fé cristão faz também do homem, "através da luz da revelação divina, um conhecedor das criaturas" (per lumen divinae revelationis eum criaturaram cognitorem facit), de tal modo que "nasce, então no homem uma espécie de semelhança com a sabedoria divina" (C. G. II, 2, 5). E, realmente, se a Teologia pudesse conhecer as coisas como Deus as conhece, conheceria todas as coisas sob uma só luz, a luz divina. Para ele a integração da Filosofia na Teologia de nenhum modo diminui o valor racional da filosofia. S. Tomas de Aquino contribui para o presente trabalho mostrando o direcionamento pelo qual a filosofia, a partir de uma espécie de cristianização de Aristóteles, seguiu durante muitos séculos, os quais ficaram marcados por atitudes extremas como as Cruzadas e a Inquisição, que repreendiam implacavelmente qualquer manifesto considerado heresia pela Igreja Católica. Apesar dessa forte repressão, o Cristianismo encontraria resistência conforme descrito na seqüência. 2.2.5.3 - Guilherme de Ockham – Fase Escolástica Pós-Tomista A fase escolástica pós-tomista caracterizou-se pela ruptura entre a mentalidade racional e a fé. O papel do clero passa a ser questionado por diversos segmentos da sociedade pós-Idade Média, gerando conseqüências que se refletiram inclusive na filosofia cristã, que perdeu boa parte de sua imunidade. Segundo Cotrim (2000), grandes acontecimentos históricos marcaram a Europa nos séculos XIII e XIV. Entre eles, estão a Guerra dos Cem Anos, entre a França e a Inglaterra, a epidemia da peste bubônica, que matou cerca de três quartos da população 46 européia, o cisma definitivo entre as Igrejas do Ocidente e do Oriente, que entre outros fatores, diminuiu a influência da Igreja Católica Romana sobre o poder temporal ( o Estado ) e sobre a população a criação de novas universidades, que iniciam o desenvolvimento de questões relativas às ciências naturais e a autonomia da filosofia em relação à teologia. Esses são alguns dos fatores que levarão ao questionamento do pensamento escolástico bem como ao fim da Idade Média. Dentro os filósofos que desafiaram o pensamento escolástico destaca-se Guilherme de Ockham( 1280 – 1349 ), que proclamou uma distinção absoluta entre a fé e a razão. Cotrim(2000) afirma que, para Ockham, a filosofia não é serva da teologia, e a teologia não pode sequer ser considerada ciência, pois é tão somente um corpo de proposições mantidas não pela coerência racional, mas pela força da fé. Segundo Ockham: “Os artigos de fé não são princípios de demonstração nem conclusões, não sendo nem mesmo prováveis já que parecem falsos para todos para a maioria ou para os sábios, entendendo por sábios aqueles que se entreguem à razão natural, já que só de tal modo se entende o sábio na ciência e na filosofia”. Pensador empirista e nominalista, Ockham combateu a metafísica tradicional e iniciou o método da pesquisa cientifica moderna. Seu pensamento destacou a perda da concepção unitária da sociedade, que passou a se dividir cada vez mais entre o poder temporal ( Estado ) e o poder espiritual ( Igreja ), essa ruptura entre a fé e a razão, ocasionada pelo nascente desenvolvimento da razão autônoma, que buscou através da investigação empírica o conhecimento dos fenômenos naturais. Esta ruptura entre a fé e a razão preparou o terreno para o racionalismo e de personagens como Descartes e Kant, que também cravaram definitivamente sua influência no comportamento do homem. 2.2.6 – A Mentalidade Sob A Ótica de René Descartes Com a derrocada da fase escolástica e, com isso, a perda da imunidade a 47 questionamentos por parte da sociedade clerical, fixa-se, a partir de então, o advento da filosofia moderna, inaugurada por René Descartes, que levantou a bandeira do racionalismo. Segundo Aranha & Martins(1993), desde o Renascimento, movimento que transformou a mentalidade social européia nos séculos XV e XVI, a religião vinha sofrendo diversos abalos com os questionamentos dirigidos à autoridade papal. O critério da fé, da revelação e do dogmatismo dão lugar ao poder exclusivo da razão de discernir, distinguir e comparar, aliados ao benefício da dúvida. O protestantismo, com sua implacável fragmentação da unidade religiosa, e o antropocentrismo, cujo centro dos interesses e decisões passa a ser homem e não Deus; são algumas das constatações do enfraquecimento da influência religiosa na maneira de pensar do ser humano. Apesar disso, segundo Cotrim(2000), Descartes, temendo ser perseguido pelos religiosos, autocensurou vários trechos de suas obras para evitar tanto a repressão da igreja católica como a reação fanática dos protestantes. A linha básica do pensamento de Descartes era de que, para se conhecer a verdade, é preciso colocar todos os pensamentos em dúvida para que seja criteriosamente analisado para, enfim, se ter certeza da existência de algo. Descartes concluiu que a única verdade livre de dúvida era o pensamento. Vinculando a existência do pensamento com a própria existência do ser pensante. Daí sua célebre conclusão: “Cogito ergo sum” que, em latim, significa: “penso, logo existo”. Aranha & Martins(1993) expõem que, com Descartes, acentua-se o caráter absoluto e universal da razão que, partindo do cogito(pensamento), só com suas próprias forças pode chegar a descobrir todas as verdades possíveis. Daí a importância de um método de pensamento que garanta que as imagens mentais, ou representações da razão, correspondam aos objetos a que se referem e que são exteriores a essa mesma razão. Descartes aconselhava que era preciso desconfiar das percepções sensoriais, ao que responsabiliza pelo freqüentes erros do conhecimento humano. Ele defendia o uso do tipo de conhecimento da matemática, que considerava completo, inteiramente dominado pela inteligência e baseado na ordem e na medida exata. Portanto, através da marcante influência das idéias de Descartes, o racionalismo é elevado à condição de fonte básica do conhecimento, marcando uma geração que difundiu e disseminou a razão de tal maneira que até hoje, se reflete na tomada de decisão por parte do 48 ser humano. 2.2.7 – A Mentalidade Sob A Ótica de Immanuel Kant – Iluminismo Assim como o Renascimento foi o movimento que contribuiu para a difusão das idéias de Descartes, o Iluminismo também foi, entre o século XVIII e XIX, a base para a disseminação das idéias de Immanuel Kant, que tratou da razão de uma forma crítica. Aproveitando-se da liberdade proporcionada pelo Iluminismo, onde o homem, livre de qualquer tutela, estende o uso da razão a todos os domínios (político, econômico, moral e religioso); Kant, segundo Cotrim(2000), sintetizou a possibilidade de o homem se guiar por sua própria razão, sem se deixar enganar pelas crenças, tradições e opiniões alheias. Em função disso, Aranha & Martins(1993) explicam que Kant condena os empiristas, os quais enfatizam o papel da experiência sensível no processo de conhecimento, e os racionalistas, os quais percebem o mundo através de idéias claras e distintas. Para Kant, o conhecimento é constituído de matéria representada pelas próprias coisas, e forma, representada por nós mesmos. Para Kant, o papel da razão é indicar quais são os deveres e normas a serem seguidos de uma forma universal, de maneira que impeça que os indivíduos se deixem levar pelos seus desejos, paixões ou motivos particulares. Partindo desse raciocínio, o conhecimento experimental do homem é um composto do que ele recebe por impressões e do que a sua própria faculdade de conhecer a si mesmo tira por ocasião de tais impressões. Kant contribui para o presente trabalho ao resgatar a importância dos sentidos mesclando com os requintes metódicos da razão, ainda que esta se apresente ainda preponderante. 2.2.8 – A Mentalidade Sob A Ótica de Georg Hegel – Idealismo Alemão Influenciado por Kant, Georg Hegel(1770-1831) foi uma figura importante para 49 o Idealismo Alemão, onde o mundo é a manifestação da idéia. Sua relação com a mentalidade racional consiste no fato de que a manifestação da razão proporciona a história universal. Segundo Aranha & Martins(1993), considerando que todas as coisas morrem, a força destruidora responsável por esta morte é a mesma força que cria, que supera, numa tentativa de Hegel de, segundo Cotrim(2000), conciliar a filosofia com a realidade, atribuindo à racionalidade o papel de principal matéria-prima do real e do pensamento. Portanto, Hegel pensou a realidade como processo alimentado por fatos racionais engendrados seja na vida individual ou na vida social, em detrimento à natureza(a matéria) e à simples ordem de fatos acontecidos no tempo. As idéias de Hegel encontrariam oposição através de Feuerbach, pensador que influenciaria mais tarde a Karl Marx. 2.2.9 – A Mentalidade Segundo A Ótica do Romantismo No final do século XVIII, a filosofia foi influenciada por um movimento cultural chamado romantismo que teve como principal característica a reação do sentimento contra o racionalismo. Segundo Cotrim(2000), o Romantismo resgatou o valor dos sentimentos e das emoções em pleno mundo industrial tomado pela racionalização e pela mecanização. O romantismo consistiu no resgate do instinto e da emoção contra a frieza da razão. Cotrim(2000) afirma que o Romantismo traz a exaltação da natureza como valorização dos costumes. Ele cita Schlegel(1767-1845), Goethe(1749-1832), Novalis(17721801) e Holderlim(1770-1843) como exemplos de pensadores que enveredaram pelas águas do Romantismo. Conforme Cotrim(2000), o Romantismo influenciou até os filósofos de outras correntes como por exemplo Rousseau que, apesar de sua característica iluminista, apresenta sua noção do bom selvagem baseada no ambiente romântico. A defesa da liberdade sentimental personificada pelo romantismo foi de grande valia para a humanidade tendo em vista que, apesar de ter o racionalismo encrostado em sua natureza, traz a oportunidade do homem acessar outros atributos dessa natureza, entre eles, o sentimento pátrio, as tradições nacionais e a linguagem do coração. 50 2.2.10 – A Mentalidade Sob A Ótica de Feuerbach – Materialismo Feuerbach(1804-1872) foi um dos pensadores que levantaram a bandeira da contestação do sistema hegeliano afirmando que seu idealismo não dá o devido tratamento ao ser e às coisas reais. Segundo Cotrim(2000), ao contrário de Hegel, Feuerbach defendeu que a filosofia deveria tomar como ponto de partida o concreto, que abrange o homem natural e social. Apesar de breve, a inclusão da opinião de Feuerbach caracteriza-se por ser de grande importância para o presente trabalho por resgatar a consideração ao comportamento do homem: o fato deste ser levado em conta como um ente social antes de ser analisado com requintes racionais. 2.2.11 – A Mentalidade Sob A Ótica de Augusto Comte – Positivismo Fazendo parte da filosofia contemporânea, no século XIX, Augusto Comte fundou uma linha divergente à abordagem feita por Kant sobre a razão. Comte fundou o Positivismo, uma diretriz filosófica marcada pelo culto da ciência e pelo método científico influenciada pelo progresso do capitalismo capitaneado pela técnica e pela ciência. Segundo Cotrim(2000), Comte atribui à lei dos três estados o desenvolvimento total da inteligência humana. Baseado nessa lei, as concepções principais do homem passam pelos seguintes estados: - Teológico: consideração dos fenômenos produzidos pela ação direta e contínua de agentes sobrenaturais caracterizando-se como ponto de partida da inteligência humana; - Metafísico: caracterizado por ser como uma ponte de transição cujo objetivo é transformar esses agentes sobrenaturais em verdadeiras entidades capazes de engendrar por elas próprias todos os fenômenos observados; 51 - Positivo: que consiste no estágio maduro, fixo e definitivo da evolução racional da humanidade, tendo em vista que se preocupa em descobrir, graças ao uso bem combinado do raciocínio e da observação, suas leis efetivas. O objetivo destes três estados para o Positivismo de Comte era promover uma reorganização completa da sociedade por meio de uma pesquisa das leis gerais que regem os fenômenos naturais os quais o progresso da ciência tende cada vez mais a diminuir. A relação entre o Positivismo de Comte com o presente trabalho reside no fato de que faz um levantamento do papel reservado à razão na busca pelas relações constantes e necessárias entre os fenômenos naturais bem como as leis que os regem. 2.2.12 – A Mentalidade Sob A Ótica de Franz Brentano – Fenomenologia Franz Brentano foi o precursor da Fenomenologia, que consiste na observação e descrição do fenômeno, conforme Cotrim(2000). Brentano definiu a intencionalidade, cujo significado dentro da então recém desenvolvida filosofia da mente significa estar por outra coisa, possuir relacionalidade; em outras palavras, uma distinção definitiva entre o físico e o mental. Segundo Cobra(2004), a teoria de Brentano trata do fenômeno psíquico de tal forma que a mente refere-se aos objetos através de três maneiras: - Por percepção e idealização, incluindo sensação e imagem; - Por julgamento, incluindo atos de reconhecimento, rejeição e recordação; - Por amor e ódio, o que leva em conta desejos, intenções, vontades e sentimentos. Abath(2000) afirma que, para Brentano, não poderia, portanto, o mental ser explicado através do físico, já que estes são distintos. Franz Brentano contribuiria para a tendência humanista da filosofia 52 influenciando mais tarde Edmund Husserl, que formulou as principais linhas de abordagem da fenomenologia. 2.2.13 – A Mentalidade Sob A Ótica de Edmund Husserl – Fenomenologia Conforme mencionado anteriormente, Edmund Husserl foi influenciado por Franz Brentano, procurando repensar os fundamentos do saber e a racionalidade até abordadas. Segundo Aranha & Martins(1993), Husserl opôs-se ao Positivismo questionando a objetividade tendo em vista que o mundo não é percebido a partir de uma regra geral. Husserl dá importância ao sentido, onde o mundo que o homem percebe é um mundo para ele. A Fenomenologia de Husserl faz ainda juízo da relação sujeito-objeto abordada pelo conhecimento cartesiano de Descartes e o Empirismo. Segundo Husserl, o objeto é algo que aparece para uma consciência, um fenômeno, sendo que essa consciência tende para o mundo. A contribuição de Husserl para o presente trabalho é de suma importância a partir do momento em que ele busca analisar como se desenvolve a experiência sem que o sujeito ofereça condicionamento ao fenômeno estudado, resgatando a relevância da manifestação do fenômeno por meio dos sentidos. 2.2.14 – A Mentalidade Sob A Ótica de Wilhelm Wundt – Estruturalismo No final do século XIX, teve início uma corrente que passou a se preocupar com os processos mentais. Conhecido por ter sido o fundador do primeiro laboratório de psicologia experimental em 1879, na Alemanha, Wilhelm Wundt foi também o precursor do Estruturalismo. Estudando a consciência humana, com maior ênfase às experiências sensoriais, Wundt decompôs os processos mentais nos seus elementos mais simples, como sensações e 53 idéias, com o objetivo de descobrir suas combinações e conexões no sistema nervoso e as estruturas que com eles estavam relacionados. É interessante atentar para essa escola de Wundt porque ela traz o prenúncio da ciência cognitiva que viria mais tarde tendo em vista que procura também descobrir as leis que regem os processos de combinação e conexão da mente. 2.2.15 – A Mentalidade Sob A Ótica de Willian James – Funcionalismo Seguindo a linha de Wilhelm Wundt, Willian James encara os processos mentais como funções, criando o funcionalismo, corrente de pensamento cujo objetivo é determinar o modo de funcionamento dos processos mentais. Dentre os métodos aplicados pelos funcionalistas estão a introspecção e os métodos experimentais. Foi a partir do século XX que a psicologia animal registra um grande desenvolvimento. As experiências com animais eram bastante convenientes para os funcionalistas tendo em vista que o comportamento dos animais tem enormes semelhanças com o dos homens, sem contar ainda que tais experiências não levantavam problemas morais para os padrões éticos da época. O funcionalismo apresentou conceitos fundamentais que alimentaram o Behaviorismo de Skinner e Watson mais tarde. 2.2.16 – A Mentalidade Sob A Ótica de Skinner – Behaviorismo Radical Influenciado pelo Positivismo Lógico, cuja essência considera que, apesar de não negar a existência da consciência, afirma não ser possível estudá-la, o Behaviorismo de Skinner trouxe o embasamento em dados objetivos, com medidas e definições claras aliadas ao processo de demonstração e experimentação. Segundo Matos(1995), Behaviorismo é uma palavra que deriva do termo inglês “behavior”(comportamento) e que se refere ao estudo do comportamento. Matos(1995) apresenta quatro fases que refletem a influência filosófica da época para a disseminação do 54 Behaviorismo: - Estudar o comportamento por si mesmo; - Opor-se ao mentalismo; - Aderir ao evolucionismo biológico; - Adotar o determinismo materialístico. Considerando que o objeto do presente capítulo é abordar as diversas influências racionais sobre a mentalidade do ser humano, o posicionamento de Skinner é o de negar radicalmente a existência de algo que, para ele, escapa ao mundo físico, que não tendo uma existência identificável no estado e no tempo, no caso, referindo-se à mente, como prova da oposição ao mentalismo. A opinião de Skinner é a prova de uma época em que, para ganhar o consentimento dos cientistas, uma teoria deveria passar pelo crivo da observação, podendo se identificar o racionalismo através da ciência predominante durante as décadas de 20 e 40. 2.2.17 – A Mentalidade Sob A Ótica de John B. Watson – Behaviorismo Metodológico O Behaviorismo apresenta ainda um escritor popular e persuasivo chamado John Broadus Watson(1878-1958) que, apesar de também contestar a existência da mente e de ser o fundador do Behaviorismo Americano, foi criticado por Skinner por generalizar em suas observações não levando em conta uma base de dados reais. Watson afirmava que a consciência não passava de uma ficção explanatória, defendendo a tese de que toda atividade humana é condicionada e condicionável. Uma prova disso está em uma de suas polêmicas observações: “Gostaria de avançar mais um passo esta noite e dizer: dêem-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas, e um ambiente para criá-las que eu próprio especificarei e eu garanto que, tomando qualquer uma delas ao caso, preparála-ei para tornar-se qualquer tipo de especialista que eu selecione – um médico, 55 advogado, artista comerciante e, sim, até um pedinte ou ladrão, independente de seus talentos, pendores, tendências, aptidões, vocações e raça de seus ancestrais... é favor notar que, quando esse experimento for realizado, estarei autorizado a especificar o modo como elas serão criadas e o tipo de mundo em que terão que viver...”(Apud Marx & Hills, 1976, p.244-5) É imperativo para o presente trabalho colher esta declaração de Watson que exprime o racionalismo de sua mentalidade com relação ao condicionamento do comportamento humano. 2.2.18 – A Mentalidade Sob A Ótica de John Dewey – Pragmatismo John Dewey(1859-1952), juntamente com outros filósofos, fundou o Pragmatismo, corrente filosófica que, influenciada ainda pela independência dos Estados Unidos, valorizava o conhecimento como recurso de aperfeiçoamento do potencial do ser humano para estabelecer um controle sobre as vicissitudes do meio. Cunha(2004) afirma que, com base nos princípios básicos do Pragmatismo, o pensamento e ação formam um grupo cujas idéias somente se tornam efetivas quando colocadas em prática. Segundo Dewey, a filosofia tem a meta de auxiliar o homem a compreender e controlar suas ações e reações diante dos acontecimentos que o cercam. É na relação com o ambiente que surge o conhecimento que traz valores, os quais só podem ser avaliados mediante os resultados que produzem, e não segundo postulações transcendentais previamente estabelecidas. 2.2.19 – A Mentalidade Sob A Ótica de J.C.C. Smart – Estados Mentais Smart defende que o ser humano possui uma consciência direta dos objetos materiais sendo que os estados mentais são diretamente proporcionados aos estados do cérebro que produzem o comportamento. 56 Por isso que Hegenberg(2004) explica que Smart contraria o Behaviorismo quando afirma que alguns eventos da mente não podem ser comparados a uma simples observação do comportamento. Ele julga como “interiores” e dependentes da natureza do episódio os estados e eventos provenientes da mente, dos quais o comportamento parte. Com Smart, a filosofia da mente e o estudo da consciência têm sua importância resgatada graças à oposição a mentalidade dominante como foi o Behaviorismo. 2.2.20 – A Mentalidade Sob A Ótica de Hilary Putnam – Funcionalismo Apesar de influenciado no início pelo Positivismo Lógico e pelo Pragmatismo de Dewey, Hilary Putnam desenvolveu sua filosofia da mente a partir de uma ótica realista. Putnam adotou uma posição funcionalista onde analisa o funcionamento da mente como o de um software de computador. Segundo Richer(2004), os estados mentais analisados por Putnam resumem-se na negação de que estes limitam-se ao físico, aos estados cerebrais, considerando que existem seres com características físicas diferentes, com os mesmos estados mentais, mesmo com cérebros diferentes ou não. Richer(2004) reproduz um exemplo de Putnam sobre como este explicava que os significados não estão apenas na cabeça: “Putnam nos pediu que considerássemos um mundo exatamente como o nosso, exceto que em vez de água, ele contém uma substância com todas as mesmas propriedades totais – é líquido, refrescante, etc. – Mas com uma microconstrução diferente, XYZ, não H2O. Acontece que os habitantes deste mundo também chamam esta substância de água. Agora, imagine que neste mundo há alguém fisicamente idêntico a você sob todos os aspectos. Vocês dois se encontram numa piscina de material líquido e refrescante, e têm o pensamento ‘a água está refrescante’. Vocês pensam a mesma coisa? Putnam argumenta que não, uma vez que o que é pensado é diferente em cada caso. É sobre H2O para você, XYZ para seu gêmeo. Porém, visto que por esta hipótese vocês são fisicamente idênticos, essa diferença não pode ser considerada para qualquer estado interno.” 57 Partindo desse raciocínio, Putnam afirma que há mais a significar do que aquilo que entra na cabeça, então estados funcionais, compreendidos como estados internos do organismo, não podem ser estados mentais. Putnam trata de uma tendência que se tornaria uma realidade no futuro: o cognitivismo. Sua importante contribuição para o presente trabalho resume-se ao fato de que, na sua opinião, a mente não deve ser pensada como um órgão, mas como um “sistema envolvendo capacidades complementares”, pois, para ele, se o homem limitar-se somente ao que é interno, sua visão de mundo, a partir de uma visão funcionalista dos estados mentais, não dá condições de saber como a mente desse homem se conecta com a realidade. 2.2.21 – A Mentalidade Sob A Ótica da Revolução Cognitiva Inspirada pelo advento da criação da primeira máquina calculadora por Alan Turing e do primeiro computador, a filosofia da mente tomou um novo rumo que misturava filosofia, psicologia, neurologia, lógica, lingüística, computação e inteligência artificial. Essa nova ciência foi denominada Cognitivismo. Neto(2004) assim define o movimento: “Longe de ser apenas um movimento interno à própria psicologia, a ‘Revolução Cognitiva’ obedece a um padrão diferenciado por justamente se originar externamente às ciências e saberes ‘psi’, mais notadamente na lógica, na filosofia da mente, na filosofia da linguagem e na engenharia de programação”. Segundo Queiroz(2004), o Cognitivismo é dividido em três teses: - Tese Computacional: que afirma que a cognição é processamento de informação; - Tese Representacional: que afirma que os pensamentos são representações mentais tais como símbolos, regras e imagens; - Tese Semântica: segundo a qual as representações mentais 58 referem-se às coisas do mundo. Conforme o exposto acima, entende-se que a Revolução Cognitiva foi a análise de maneira bastante complexa e sofisticada da problemática da subjetividade. Como exemplo de alguns teóricos da Revolução Cognitiva, será analisada a participação de Jerry Fodor, cujo tratamento da questão da mente foi elaborado em função de linguagens de programação, como as de um computador; e de Horward Gardner, que identificou as inteligências que o ser humano desenvolve durante seu crescimento. 2.2.21.1 – Jerry Fodor – Funcionalismo Computacional Seguindo a linha de raciocínio de Hilary Putnam e do Behaviorismo, Jerry Fodor difundiu a linguagem do pensamento através de uma espécie de funcionalismo computacional nos anos 60, que define que os estados possuem relações causais entre si e respostas comportamentais. Segundo Abath(2000), o funcionalismo computacional de Fodor explica que há impulsos sensoriais que geram reações de comportamento. O que difere essa teoria para com a do Behaviorismo é o fato de que as relações mentais aqui são consideradas, caracterizadas sob a forma de Inputs e Outputs. O processo consiste no recebimento de um input que está em um determinado estado mental, isso implica um output que, por sua vez, gera outro estado mental. O presente trabalho traz, através da teoria do funcionalismo computacional de Fodor, uma prova de como a mente humana é tratada como uma espécie de linguagem do pensamento, sujeita ao racionalismo das funções de ciências exatas. 2.2.21.2 – Howard Gardner – Teoria das Inteligências Múltiplas Calcado na Ciência Cognitiva e, ao mesmo tempo, insatisfeito com as observações unitárias sobre a inteligência e com a idéia de QI(quociente de inteligência) que 59 focalizam sobretudo habilidades importantes, Howard Gardner, professor da Universidade de Harvard, apresenta, em 1983, sua teoria das inteligências múltiplas. Gardner(1996) faz o seguinte comentário sobre a teoria computacional: “A descoberta da influência decisiva das emoções nas tarefas deliberativas dificultou mais ainda o trabalho dos pesquisadores que adotam a teoria computacional como modelo explicativo do funcionamento da mente.” Segundo Lopes(1997), a origem da teoria das inteligências múltiplas provem de um acompanhamento feito por Gardner do desempenho profissional de pessoas que haviam sido alunos fracos. O sucesso obtido por vários deles surpreendeu Gardner, que concluiu que todos nascem com potencial das várias inteligências. Gardner afirma que a partir das relações com o ambiente, somando-se aos estímulos culturais, o ser humano desenvolve mais algumas relações e deixa de aprimorar outras. Em outras palavras, as inteligências são linguagens que todas as pessoas falam e são, em parte, influenciadas pela cultura em que a pessoa nasceu. São recursos para aprendizagem, solução de problemas e criatividade que todos os seres humanos podem usar. Conforme Boeira(2001), as inteligências múltiplas difundidas por Gardner são as seguintes: - Lingüística: que consiste na capacidade de pensar com palavras e de usar a linguagem para expressar e avaliar significados complexos; - Lógico-matemática: que possibilita calcular, quantificar, considerar proposições, hipóteses e realizar operações a capacidade matemáticas complexas; - Espacial: que tridimensionais, instiga percebendo imagens de pensar externas e formas internas, vinculando a própria consciência aos objetos percebidos; - Cinestésico-corporal: que permite à pessoa sintonizar e harmonizar habilidades físicas; - Musical: que possibilita a sensibilidade para a entoação, a melodia, o ritmo e o tom; - Interpessoal: que permite compreender outras pessoas e interagir efetivamente com elas; 60 - Intrapessoal: que é a capacidade de construir uma acurada percepção de si mesmo, além de usar este conhecimento ao planejar e direcionar sua própria vida; - Naturalista: que consiste em observar padrões na natureza, identificando e classificando objetos e compreendendo os sistemas naturais ou construídos. Kátia Cristina Stocco Smole, mestra em matemática do Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática da Universidade de São Paulo(USP), em entrevista concedida à Lopes(1997) afirma: “Sempre envolvemos mais de uma habilidade na solução de problemas, embora existam predominâncias.” Em função disso, a Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner renega a possibilidade de se medir a inteligência através de métodos convencionais como os de QI, tendo em vista que eles medem somente as capacidades lógico-matemática e linguística, deixando de lado as demais. A inclusão da teoria de Gardner contribui em muito para o presente trabalho porque, além de apresentar a mesma proposta de equilíbrio entre os recursos racionais e dos sentidos, alerta através de sua aplicação no ensino, como o ser humano é avaliado, desde a sua infância na escola, através de métodos que valorizam apenas o aluno com maior conhecimento de matemática(inteligência lógico-matemática) e de língua portuguesa (inteligência lingüística), em detrimento às demais inteligências. 2.2.22 – A Mentalidade Sob A Ótica de Daniel Goleman – Inteligência Emocional O escritor, psicólogo e jornalista Daniel Goleman, autor da teoria da Inteligência Emocional, onde, através de uma pesquisa em escolas, empresas e famílias; formulou uma proposta de combinação entre o pensamento racional com o controle e autoconhecimento emocionais. 61 Goleman(2001) considera hiper racional o conceito dos autores da “Revolução Cognitiva” por terem encarnado a idéia de que as emoções não têm vez na inteligência e que apenas confundem nosso esquema de raciocínio. Segundo Goleman(2001), existem dois modos fundamentalmente diferentes de conhecimento que interagem na construção de nossa vida mental: A mente racional e a mente emocional. Goleman(2001) coloca que, às vezes, existem momentos em que há um equilíbrio entre a mente racional que refina e veta e entrada de emoções, assim como a mente emocional, que inunda a racional com sentimentos. O autor afirma que as decisões são mal tomadas por terem perdido acesso ao que foi emocionalmente aprendido. Para ele, os sentimentos têm seu valor para as decisões racionais pois servem de contraponto à lógica fria que aparentemente pode ser a melhor ferramenta em determinado momento. Ele cita o aprendizado emocional que dá subsídios ao homem para a seleção de opções. Em concordância com a proposta do presente trabalho, as idéias de Goleman abordam, entre outras situações, o comportamento racional e emocional das empresas. 2.2.23 – Conclusão Portanto, após essa verdadeira viagem cronológica sobre o que dito e escrito sobre a mentalidade racional, foi possível levantar teorias e opiniões filosóficas que transformaram definitivamente o comportamento do ser humano ao mesmo tempo que proporcionaram um vasto e complexo acervo de informações que ainda vão influenciar a humanidade durante sua existência. 2.3 – Abordagem Psicológica da Mentalidade Tendo analisado a mentalidade e seus aspectos filosóficos, faz-se necessário a partir de agora enfocar o estudo da mente sob a ótica psicológica que, em alguns momentos foi 62 influênciada pela filosofia, traz físicos, observadores, psicólogos, entre outros profissionais que proporcionaram paradigmas ao longo da existência da ciência da mente. Henneman(2002) atribui a três desenvolvimentos ocorridos durante o século XIX a declaração formal do status da psicologia como ciência natural: a influência dos filósofos empiristas, o advento da fisiologia e da Psicofísica. Para melhor entendimento da relação que essas três vertentes com a psicologia, o presente trabalho fará um breve tratamento de ambas conforme a seguir. 2.3.1 – Influência da Filosofia Empirista na Psicologia Considerando que o estudo da mente ainda era um dos assuntos mais preferidos pelos filósofos entre os séculos XVIII e XIX, uma das escolas desenvolvidas no período em questão, o empirismo, fazia oposição ao racionalismo e formou bases para os estudiosos da psicologia que viriam mais tarde. Henneman(2002) explica que a questão da percepção sensorial e do aprendizado no desenvolvimento da mente ocuparam lugar de destaque na filosofia empirista. O autor resgata uma afirmação de John Locke(1632-1704) na qual a percepção é o que preenche a mente do ser humano com idéias, imagens e sensações ao longo do seu crescimento. A partir daí, os empiristas acreditavam que a estimulação do ambiente dá início à percepção dos sentidos, crendo ainda que o “percebedor” exercia pequeno controle sobre sua percepção sensorial(visão, audição, olfato e paladar). As etapas desse processo seriam as seguintes, conforme Henneman(2002): “Os órgãos dos sentidos recebem essa estimulação e o processo fisiológico despertado é transmitido pelos nervos ao cérebro. O resultado final é a percepção consciente dos objetos vistos ou ouvidos. Essa percepção consciente constitui a base do conhecimento humano.” A análise desse processo fez com que os empiristas especulassem o que seria a próxima influência sobre a psicologia: a fisiologia, tendo em vista que estes começaram a dar 63 maior atenção à natureza dos mecanismos e processos fisiológicos acreditando que essa combinação seja a origem dos eventos e estados mentais. 2.3.2 – Influência da Fisiologia Sobre a Psicologia O aparecimento da fisiologia, com seus estudos de órgãos como o cérebro, nervos e sentidos; era uma prova do que os cientistas na época exigiam: dados concretos, que podiam ser extraídos por meio da observação e de experimentos de laboratório. Henneman(2002) explica que, com o progresso da ciência, fruto da mentalidade positivista; conforme foram surgindo métodos apropriados de estudo dos órgãos fisiológicos do ser humano, cada vez mais foi possível efetuar levantamentos sobre a relação dos processos corporais com a percepção que o homem tem do mundo em que vive. Como exemplo disso, relacionando energia luminosa, ondas sonoras ou objetos em contato com a pele, buscou-se estímulo de sentidos como olhos, ouvidos, e reflexos nervosos. Estes experimentos incluíram também o cérebro, através do estudo da fronologia, teoria que afirma que as capacidades e traços da personalidade dependem do tamanho do tecido cerebral conforme a área da cabeça estudada. Henneman(2002) cita, entre outros pioneiros da fisiologia, o físico e fisiológico alemão Hermann Von Helmholtz(1821-1894), respeitado por suas experiências e resultados colhidos na fisiologia da visão e audição. O conhecimento e a metodologia de laboratório dos fisiólogos dos sentidos trouxeram uma base de dados que se baseava ainda nos aspectos mecânicos do ser humano, deixando uma lacuna sobre a questão da mente que viria a ser preenchida com a psicofísica. 2.3.3 – Influência da Psicofísica Sobre a Psicologia Em virtude da mentalidade dominante do século XIX, que primava pelos dados concretos que podiam ser extraídos de experimentos e observação, a psicofísica teve sua base também submetida ao crivo dos cientistas que somente a levariam a sério caso fosse submetida 64 às metodologias científicas de obtenção de informações, com a mesma eficiência do empirismo e da fisiologia. Henneman(2002) traz uma breve abordagem sobre a psicofísica afirmando que ela provem de uma combinação entre a estimulação física e a sensação resultante. O problema era que, para os cientistas, algumas das sensações resultantes da psicofísica não eram acessíveis à investigação experimental da ciência. Para eles, esses experimentos deveriam apresentar alguma coerência com os estímulos em experiência sensorial. Só assim a mente poderia ser estudada cientificamente. Henneman(2002) afirma ainda que a fisiologia e a psicofísica experimentais tornou possível a resolução do dilema do dualismo cartesiano de Descartes pois, através dessa combinação das duas vertentes, pôde-se afirmar que os eventos da mente diferenciam-se dos eventos físicos. Henneman(2002) faz a seguinte analogia sobre essa questão: “Se nossas experiências conscientes de luzes, sons e pesos são dependentes das características da estimulação física e de processos fisiológicos demonstráveis nos órgãos dos sentidos, nervos e cérebro – ambos os quais são eventos mensuráveis no mundo físico da matéria -, então os eventos ‘mentais’ são suscetíveis à investigação de laboratório e, por conseguinte, vem a ser possível uma ciência da mente.” Essa analogia foi suficiente para que Wilhelm Wundt realizasse seu objetivo de fundar o primeiro laboratório de psicologia experimental. 2.3.4 – Wilhelm Wundt: Primeiro Laboratório de Psicologia Wilhelm Wundt(1832-1920) torna-se assistente do fisiólogo Hermann Von Helmholtz em 1858. Oferece um curso de verão denominado “A Psicologia Como Uma Ciência Natural” em 1862. No ano seguinte publica “Lições Sobre A Psicologia Humana E Animal”. Influenciado pelo empirismo inglês, pela fisiologia e pela psicofísica, Wundt publica em 1872, “Princípios da Psicologia Fisiológica”. Em 1875, Wundt deixa Zurique, transferindo-se para a Universidade de Leipzig, na Alemanha, onde funda o primeiro 65 laboratório de psicologia, em 1879, que somente viria a ser reconhecido formalmente pela própria universidade em 1883. A atitude de Wundt desencadearia uma série de novos laboratórios de psicologia espalhados pelo mundo como nos Estados Unidos(1883), Itália(1885), no Canadá(1889), na Rússia(1886), na Bélgica(1891), na Holanda(1893), na Áustria(1894), na Polônia(1897), entre outros. Henneman(2002) afirma que grande parte da pesquisa de Wilhelm Wundt foi constituída de experimentos sobre as relações psicofísicas onde a ênfase na percepção sensorial procurava de certa forma reduzir as percepções complexas a elementos mais simples de sensação e imagem esperando estudar os princípios de associação através dos quais os elementos mentais se combinam e sintetizam para formar experiências complexas. No mesmo ano em que a universidade de Leipzig reconhece formalmente seu laboratório, Wundt estabelece um periódico dedicado à publicação dos resultados das pesquisas desenvolvidas no seu laboratório, o “Philosophische Studien”. A doutrina de Wundt influenciaria outra escola de psicologia que surgiria no século XX: A psicologia estruturalista americana, fundada por um de seus discípulos, Titchener. Portanto, o trabalho de Wundt foi de grande valia para a psicologia tendo em vista que motivou o surgimento de diversas escolas no final do século XIX e início do século XX, ainda que estas apresentassem teorias contrárias às de Wundt. 2.3.5 - Edward B. Titchener – Psicologia Estruturalista Americana Introduzida em 1892, por Edward B. Titchener nos Estados Unidos, o estruturalismo caracterizou-se por ser a tentativa mais racional de se estudar a mente. Os estruturalistas, segundo Henneman(2002), procuraram estudar os fenômenos mentais por meio de uma complexa descrição analítica dos estados de consciência provenientes da estimulação física. Essa complexa descrição consistia na introspecção, ou “olhar para dentro”, cujas tarefas de observação e relato exigiam cuidadoso preparo. A psicologia estruturalista esbarrou no problema da incapacidade de o experimento não conseguir explicar questões sobre a consciência, sendo que Titchener deu 66 mais atenção à ciência pura. Dentre as publicações de Titchener estão: The Postulate Of A Structural Psychology” em 1898, “Manual de Psicologia Experimental” em 1901, “The Schema Of Introspection” em 1912, “Psychology As The Behaviorist Views It” em 1914, este último considerado uma réplica do manifesto behaviorista publicado por John B. Watson. A psicologia estruturalista de Titchener, assim como as idéias de Wundt, foram fortemente criticadas por um movimento que viria a seguir chamado psicologia funcionalista americana, que levaria a mente em consideração em suas observações. 2.3.6 – Psicologia Funcionalista Americana Mais do que uma escola de psicologia como as demais que se apresentaram no início do século XX, o funcionalismo surgiu mais como um protesto à doutrina de Wundt e Titchener. A preocupação principal aqui passava a ser o estudo das atividades e funções da mente. Henneman(2002) explica que, para os funcionalistas, o objeto da psicologia foi descobrir como se dava o funcionamento da mente conforme o indivíduo procura se ajustar a um ambiente de mudanças. Esse caminho escolhido pelos funcionalistas levou a psicologia a voltar sua atenção para problemas práticos de comportamento da vida diária do ser humano, analisando sua educação e ensino, bem como sua preparação para tornar-se cidadão. Foi entre 1910 e 1920 que, em função do novo enfoque trazido pelos funcionalistas, os psicólogos passaram a analisar as condições ambientais das indústrias medindo os níveis de ruído e iluminação na busca por um desempenho mais eficiente por parte dos operários, além de tentar detectar a origem e as formas de erradicação de acidentes de trabalho. Henneman(2002) atribui a essas atitudes o surgimento da psicologia aplicada. Dentre os autores e suas publicações que influenciaram o movimento funcionalista da psicologia estão: - James R. Angell: “Psychology: An Introductory Study Of The Structure And Function Of Human Consciousness” (1904) e “A Província Da Psicologia Funcional” (1907). 67 - John Dewey: “A Nova Psicologia” (1884), “The Ego As Cause” (1894), “O Conceito De Arco Reflexo Na Psicologia” (1896) e “A Natureza Humana E A Conduta” (1922). - James mcKeen Cattel: “The Time Taken Up By Cerebral Operations” (1886), “Testes Mentais E Medidas” (1890), “Psychological Review”, “Psychological Index” e “Psychological Monographs” (1894) - periódicos lançados ao lado de J.M. Baldwin; “Physical And Mental Tests” (1898) – ao lado de Baldwin e Jastrow, “Psychological Bulletin” (1904) – outro periódico lançado ao lado de Baldwin, “American Men Science” (1906) e “Os Testes Militares De Inteligência Colocaram A Psicologia No Mapa Dos Estados Unidos” (1922). - Robert S. Woodworth: “Dinamic Psychology” (1918). A psicologia funcionalista foi um grande exemplo de desafio a uma mentalidade dominante numa época em que imperava o conceito da ciência pura e a opinião de alguns filósofos de que os animais não possuem mente. Os funcionalistas levaram em consideração o estudo das influências sociais sobre o indivíduo, identificando problemas de ajustamento deste ao ambiente direcionando suas pesquisas de laboratório com experimentos com animais. 2.3.7 – Behaviorismo Americano Conforme já abordado pelo presente trabalho, o fundador do Behaviorismo Americano, John B. Watson, contestou a existência da mente desprezando o método introspectivo da psicologia de Titchener. Para Henneman(2002), Watson justificava o enfoque no comportamento porque este provem da observação e da medida de eventos objetivos, o que não existe caso o objeto de pesquisa tiver como base os fenômenos mentais como idéias, imagens e sensações. Henneman(2002) apresenta três pontos de vista que possibilitam o estudo do 68 comportamento: - A aprendizagem de habilidades tais como dançar, nadar, esquiar, entre outros; - Observação dos passos envolvidos para uma pessoa solucionar um problema; - Manifestação de processos fisiológicos perante necessidades básicas como a fome(ato de tremer, entrar em pânico, respirar fundo). Sendo assim, Watson deu ênfase à pesquisa com animais analisando comportamentos e processos fisiológicos por meio de órgãos sensoriais, nervos, músculos e glândulas. Dentre as publicações de Watson estão: “O Manifesto Behaviorista” (1913) e “Reações Emocionais Condicionadas” (1920). Watson escravizou a psicologia à experiência de estímulos observáveis como se o comportamento humano fosse regido por uma regra geral, banindo qualquer possibilidade de estudo da mente propriamente dita. 2.3.8 – Behaviorismo Russo – Reflexo Condicionado Sem qualquer influência de Watson, o fisiólogo Ivan Petrovitch Pavlov(18491936) desenvolvia também, na Rússia, uma teoria que também desconsiderava a mente chamada reflexo condicionado. Segundo Aguiar(2000), Pavlov atribuía a um estímulo sensorial o surgimento de reflexos, reações inatas, imediatas, fixas e não apreendidas. Conforme o fisiólogo, estímulos apropriados, naturais incondicionados geram uma determinada resposta do organismo. Henneman(2002) explica que Pavlov rejeitava qualquer referência à mente ou aos processos mentais enfatizando a visão mecanicista-fisiológica do comportamento animal. Como exemplo do reflexo condicionado, Henneman(2002) traz uma pesquisa realizada por Pavlov com cães: 69 “Enquanto realizava pesquisas com cães, Pavlov observou que a boca do animal ficava cheia de saliva não apenas à vista e cheiro do alimento, mas também do prato de comida vazio ou do serviçal que o alimentava, ou mesmo ao som de passos fora da sala na hora da alimentação. Concluiu que o reflexo salivar (“encher a boca de água”) provocado normalmente pelo alimento na boca podia também ser eliciado pela vista ou por sons que acompanhavam ou precediam imediatamente o alimento. Começou a fazer experimentos para verificar se podia associar o reflexo salivar a vistas e sons que jamais haviam ocorrido junto com o alimento. Foi muito bem sucedido em causar o reflexo salivar com numerosos tipos de estimulação tais como focos de luz, tons produzidos por um diapasão, batidas rítmicas de metrônomo ou vibração de pequenos pontos na pele.” Henneman(2002) faz um paralelo entre a mudança de enfoque ocorrida de funcionalistas para behavioristas. Assim como os funcionalistas promoveram uma mudança de enfoque do conteúdo mental para atividade mental, os behavioristas substituíram as atividades da mente pelas atividades do organismo. Esse posicionamento de Henneman é bastante oportuno pois demonstra exatamente como a ciência mecanicista-fisiológica do comportamento foi soberana no início do século XX. Aguiar(2000) também opina sobre o behaviorismo, afirmando que, a partir do momento em que o comportamento humano é reduzido a um mecanismo estímulo-resposta, a liberdade e a criatividade humana é limitada, comprometendo a autodeterminação do ser humano e, em conseqüência disso, prejudicando o comportamento inovador e espontâneo do ser humano. 2.3.9 – Psicologia da Gestalt Fundada em 1912, na Alemanha, por Max Wertheimer(1820-1943), através da publicação de seu “Estudo Experimental Sobre A Percepção Do Movimento”; a Psicologia da Gestalt surgiu criticando tanto estruturalistas como behavioristas, baseando-se na filosofia racionalista alemã. 70 Henneman(2002) explica que os gestaltistas consideravam a análise de estruturalistas e behavioristas artificiais e sem sentido, tendo em vista que estas atribuíam passividade ao homem, como se este fosse um robô respondendo automaticamente a todo estímulo do ambiente. O lema da escola em questão dizia que “o todo é mais do que a soma de suas partes”. Para explicar esse lema, o autor traz um exemplo de como a melodia era analisada sob o ponto de vista estruturalista, behaviorista e gestaltista: para os dois primeiros, a melodia não passava de uma sucessão de notas musicais; para o terceiro, tratava-se de uma percepção única, identificável. Partindo desse raciocínio, Aguiar(2000) explica que, para a Psicologia da Gestalt, “a vida mental não é somente a soma das partes elementares e sim a interpretação da situação através da percepção das relações dos elementos”. Para Henneman(2002), os gestaltistas preferiam a experiência direta, termo que se refere à consciência coloquial do mundo, o senso comum, que tornava a percepção autêntica e importante. Um nome de peso da Psicologia da Gestalt foi Kurt Lewin (1890-1947) que contribuiu significativamente para a psicologia da criança, para a psicologia social e para a teoria da personalidade. Essa escola também foi difundida por Köhler e Koffka que, juntamente com Weitheimer, criam o periódico “Psychologische Forshung” para dar exposição aos pontos de vista da escola gestaltista, em 1921. No ano seguinte, Kurt Koffka apresenta para o público norte americano, através de artigo publicado no Psychological Bulletin, as proposições básicas da psicologia da Gestalt. Em 1923, Max Weitheimer publica “Leis da Organização nas Formas Perceptuais” e “Gestalt Theory”, em 1924. Kurt Koffka publicaria ainda, em 1935, “Princípios de Psicologia da Gestalt”. Apesar de apresentarem uma certa incoerência, considerando o fato de que, apesar dos gestaltistas representarem a filosofia racionalista alemã sendo que na realidade foram empiristas na verificação de suas teorias com pesquisa experimental; a abordagem da Psicologia da Gestalt trouxe um diferencial ao mesmo tempo que manteve acesa ainda a chama de interesse científico pela mente, desafiando as correntes que se acomodaram na ciência pura da época. 71 2.3.10 – Teoria Psicanalítica Se as estruturas do mundo das escolas da psicologia no início do século XX já estavam sofrendo pequenos tremores com os conflitos entre aqueles que defendiam a ciência pura do comportamento neurológico e fisiológico, e aqueles que levantavam a bandeira da preferência pelo estudo da mente., um abalo de maiores proporções iria sacudir de vez o conceito de psicologia no século XX. A teoria e seu autor atendiam, respectivamente, pelos nomes de Teoria Psicanalítica e de Sigmund Freud(1856-1939). Segundo Henneman(2002), Freud começou como psiquiatra clínico. Entretanto, conforme Aguiar(2000), Freud não seguiu o caminho rígido e oficialmente traçado pelas ciências médicas da época, fundamentadas basicamente na biologia, na histologia e na filosofia. Henneman(2002) conta que, desapontado com a ênfase dada ‘a neurologia e à fisiologia para o tratamento do comportamento humano, Freud escolheu enfocar a origem mental(ou “psíquica”) para explicar os motivos das desordens mentais. Aguiar(2000) afirma que a maior contribuição de Freud para a Psicologia foi o método científico que introduziu na área da irracionalidade onde, para ele, ser científico não significa necessariamente adotar um fenômeno racional como objeto de análise. Confrontando esse ponto de vista de Freud com a mentalidade dominante da época, não é de se surpreender porque ele procurou levar em consideração os instintos, anseios e impulsos que determinam o comportamento individual. A experiência de Freud, conforme Henneman(2002), fez com que ele acreditasse que a ansiedade, conflitos e frustrações perturbam as pessoas seja na vida diária ou na memória, principalmente quando esta denuncia desajustamentos provenientes de problemas da primeira infância. Dentre os conceitos principais desenvolvidos por Freud no início do século XX, aquele que atenderá às proposições do presente trabalho diz respeito ao conceito das subdivisões da personalidade. 72 2.3.10.1 – Subdivisões da Personalidade Segundo Filleux(1997), personalidade “é a resultante psicofísica da interação da hereditariedade com o meio, manifestada através do comportamento, cujas características são peculiares a cada pessoa”. Freud concebeu subdivisões para a estrutura da personalidade as quais denominou Id, Ego e Superego. No que diz respeito ao Id, Aguiar(2000) explica que esta é a parte personalidade que se limita a procurar a satisfação dos desejos, ignorando valores, ética ou moral. Para o Id, não existem leis da lógica ou razão. O Id é regido pelo princípio do prazer. Considerando que o Id não avalia sua racionalidade, ele busca a satisfação imediata não tolerando a frustração. É através do Id que o ser humano procura adaptar-se às exigências e condições impostas pelo meio. Com referência ao Ego, Aguiar(2000) qualifica-o como a parte organizada da personalidade, que, através dele, inibe processos primários como aqueles que levam à alucinação. Para Freud, uma das funções do ego é o controle através do pensamento racional, no intuito de proteger, em primeiro lugar, a vida do indivíduo contra os perigos que surgem no mundo externo. Regido pelo princípio da realidade, o ego dirige a personalidade decidindo se um instinto poderá ser satisfeito ou não. Apesar de também visar a satisfação e evitar a dor, o ego conduz as excitações instintivas para outros canais quando decide que um instinto não poderá ser satisfeito. Entretanto, em caso de uma resposta positiva, ele determina o tempo e as demais circunstâncias para alcançar o objetivo. Em resumo, o Ego caracteriza-se como o momento em que o princípio do prazer é modificado pelo princípio da realidade através do desenvolvimento da razão. Os padrões de conduta ética aparecem na personalidade através do Superego, segundo Aguiar(2000). A autora explica que o Superego representa a moralidade fazendo com que o Ego se sinta culpado quando este quebra uma regra. A recíproca é também existente quando o Ego orgulha-se por alcançar os padrões do Superego. Atendendo aos anseios do presente trabalho, é no Superego que pode se identificar uma explicação para a influência do meio externo na personalidade condicionando-a a fazer uso das mesmas ferramentas para obter a resolução de uma meta. Segundo Filloux(1997): 73 “a proporção que se desenvolve, a criança descobre que certas demandas do meio persistem sob a forma de normas e regras estabelecidas. Desta forma o Ego tem que lidar repetidamente como os mesmos tipos de problemas e aprender a encontrar para estes soluções socialmente aceitáveis. O indivíduo, entretanto, não precisará, indefinidamente, parar para pensar cada vez que isto ocorrer. A decisão far-se-á automaticamente pois as regras e normas impostas pelo mundo exterior vão se incorporar na estrutura psíquica, constituindo o Superego.” Para se ter uma idéia de como funciona a interação entre o Id, Ego e Superego na personalidade do indivíduo, Filloux(1997) traz o seguinte exemplo: “Um empregado de uma loja sentiu-se tentado a roubar um objeto de adorno que o atraía. Diz o Id: ‘quero o objeto porque gosto dele e porque não suporto a tensão do desejo de ter as coisas que não tenho’. O Superego retruca automaticamente: ‘você não deve roubar o objeto’. O Ego então, como bom advogado, aconselha: ‘você poderá ter esse objeto sem precisar roubá-lo’”. Henneman(2002) conta que o fato de Freud ter rejeitado o tratamento neurofisiológico em seus conceitos para explicar as desordens mentais gerou críticas e hostilidades por parte dos neurologistas. A baixa reputação de Freud entre os psicólogos de laboratório implicou a não aceitação da sua teoria da psicanálise junto aos psicólogos acadêmicos, preconceito que perdura em alguns segmentos até a presente data. Foi graças a Freud e a sua controvertida e revolucionária Teoria da Psicanálise que a psicologia não foi a mesma, desafiando a mentalidade excessivamente racional do início do século XX e abrindo às portas para outros estudiosos da mente que surgem até os dias de hoje. 2.3.11 – Psicologia Cognitiva Antes de mergulhar no contexto da ciência cognitiva, é necessário buscar alguns pontos de partida que influenciaram psicólogos e filósofos levando-os a adotar o 74 caminho da Revolução Cognitiva. 2.3.11.1 – Evolução Histórica da Psicologia Cognitiva Em 1936, Alan Mathirson Turing(1912-1954), matemático britânico, publica um jornal chamado “On Computer Numbers”, que introduziria o conceito de um hipotético aparelho computacional conhecido como a “máquina de Turing”. Este conceito, que supõe a resolução de qualquer cálculo matemático pela máquina, foi bastante importante no desenvolvimento do computador digital. Para além disso, Turing dedicou também o seu trabalho ao estudo da inteligência artificial e das formas biológicas. Propôs um método denominado o “teste de Turing” para determinar se as máquinas tinham capacidade de pensar. A demonstração de Turing e o teorema que ele provou foi de extrema importância para pesquisadores que já promoviam encontros de cientistas de orientação cognitiva. Entre esse encontros, destaca-se a realização do Symposium On Information Theory”, organizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts e com a participação de diversos psicólogos e filósofos, os quais trabalharam para incluir as suas teorias numa simulação de processos cognitivos em computador. No mesmo ano, é realizado o “Encontro de Darmouth”, onde é oficialmente declarado o nascimento da inteligência artificial, início da consideração do objeto cognição para o qual diferentes disciplinas vão procurar conteúdos e orientações específicas. Em 1960, J. Bruner e G. Miller fundam, em Harvard, o “Center for Cognitive Studies”, edição da obra “Plans and The Structure of Behavior” de Miller, Glitchell e Galanter; que vem pôr em causa o behaviorismo clássico dos trabalhos psicológicos, propondo a sua substituição pela abordagem cibernética. Em 1967, U. Neisser publica a obra “Cognitive Psychology” defendendo uma nova abordagem psicológica; Newell e Simon afirmam que o computador pode fornecer o modelo dos funcionamentos do espírito humano. Ao longo dos anos 70, houve promoção de centros interdisciplinares, revistas, congressos e trabalhos que deram corpo às ciências cognitivas, estabelecendo uma rede de investigadores e intercâmbios internacionais. 75 2.3.11.2 – Conceito de Psicologia Cognitiva A dúvida inicial que gerou a ciência cognitiva foi encontrar uma resposta para a seguinte pergunta: como diferentes tecnologias intelectuais geram estilos de pensamento distintos? Feltes(2004) traz a definição do termo cognição como sendo aquele que designa os processos de formação e manipulação de estruturas do conhecimento. A autora explica ainda que os seres humanos são dotados de muitos processos cognitivos básicos que são assim divididos: a) A sensação e a percepção, bem como a recepção, reconhecimento e organização da entrada de estímulos; b) Formação e fortalecimento de estruturas de conhecimento, como a conceitualização e a aprendizagem em geral; c) Armazenamento e recuperação de estruturas conceptuais; d) Ativação, arranjo e utilização de estruturas conceptuais. Considerando a exposição acima, Feltes(2004) explica que a resposta para aquela pergunta sobre como os diferentes estilos de pensamento são gerados reside na necessidade de se analisar as diversas articulações do sistema cognitivo com as técnicas de comunicação e armazenamento. A partir daí se justifica o advento da psicologia cognitiva. Dentro do contexto da psicologia cognitiva, Feltes(2004) esclarece que a cognição é identificada como “computação” – um sistema de processamento de informações. Para a autora, o pensamento seria, com isso, computacional. A mente possuiria: a) Uma “arquitetura funcional”, o mecanismo de base do processo de informação, ligado à noção de “estados mentais” (“estados representacionais”); b) “Conteúdos representados do processo de informação”. Seguindo essa linha de raciocínio, a mente seria entendida como um organismo (máquina de exprimir) ou como um computador (máquina de representar). Um dos autores que dominaram as pesquisas sobre arquiteturas mentais foi Jerry Fodor, que defendia a tese da modularidade da mente, que, por sua vez, consiste na 76 existência de mecanismos de processamento de informações de finalidade específica (mecanismos computacionais), molares e moleculares, específicos de uma espécie ou não. Esses mecanismos só processam informação específica através de princípios específicos inconscientemente (são disparados no inconsciente cognitivo). Haveria, então, um mecanismo central responsável pela integração da informação advinda de cada módulo. Os sistemas modulares são ditos de input, porque funcionam no sentido de levar informação aos processadores centrais. Estes têm a função de fazer com que as informações advindas dos diferentes módulos interajam. Sendo assim, a eles cabe representar o mundo de modo a que tais representações sirvam ao pensamento. Há ainda os transdutores, que nada mais são do que sistemas de base neurofisiológica responsáveis pela tradução da estimulação proximal em sinais neurais, promovendo a alteração do formato da informação. Os sistemas de input, portanto, norteiam os outputs dos transdutores e os mecanismos centrais. O conhecimento lingüístico e a visão são exemplos de módulos de input. O psicólogo americano Howard Gardner, autor da teoria das inteligências múltiplas já analisadas anteriormente pelo presente trabalho, apesar de ser contra os testes de Q.I. para se medir a inteligência humana; foi um dos simpatizantes da hipótese da modularidade da mente difundida por Fodor. Portanto, analisando toda essa estrutura de hardware e software da mente proposta por Fodor, pode-se compreender o condicionamento do ser humano que, apesar do mérito de evoluir e não desistir de tentar descobrir os segredos do funcionamento da mente, ainda escraviza suas teorias e pesquisas no racionalismo exagerado. À medida que evolui, o ser humano depara-se com pressões que também evoluem, exigindo o desenvolvimento da sua criatividade para superar as barreiras que lhe são impostas. A partir do momento em que se trata do funcionamento da mente do ser humano de forma generalizada, incorre-se no erro de subestimar o diferencial de cada ser humano, cujo modo desigual de pensar subsidia a evolução da humanidade. 2.3.12 – Inteligência Emocional O psicólogo e jornalista Daniel Goleman revolucionaria as formas de entender a 77 natureza do cérebro, os mecanismos do pensamento e a evolução humana. Assim como Gardner, Goleman admite que os testes de Q.I. medem apenas algumas das funções cerebrais, com ênfase na capacidade de raciocínio lógico. Ele acredita que não se pode desconsiderar o papel das emoções para desenvolver a habilidade de controlar impulsos negativos como a ansiedade, melancolia, ímpetos repressores, ira, timidez, entre outros. Mattos(1997) esclarece que, em termos científicos, a inteligência emocional interliga, no cérebro, o sistema límbico, a sede de emoções, ao neocórtex, sede do raciocínio. Segundo ela, quanto mais ligações entre essas duas partes, mais o cérebro é levado, em termos práticos, a escolher automaticamente as melhores opções bem como lidar melhor com os desejos. O ponto de partida para essa teoria, segundo Mattos(1997), foi um estudo feito por dois cientistas na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, que reuniram crianças de três e quatro anos de idade numa sala, colocando um doce na frente de cada uma. O experimentador avisava que, se quisessem, poderiam comê-lo logo. Mas as que o guardassem para comer depois que ele voltasse, ganhariam outro. Algumas comeram o doce imediatamente. Outras, embora ansiosas, tentavam esperar, pensando na recompensa. Quase 20 anos depois, observou-se que, daquelas crianças, as mais bem-sucedidas, as que vivem em maior harmonia com a família são as que foram capazes de esperar pela gratificação adiada. Salvador e Capriglione(1997) contam que a equipe do professor Joseph LeDoux, do Centro de Ciência Neural da Universidade de Nova York, pegou um ratinho de laboratório e amputou a parte do cérebro do bicho que era responsável pela audição. Então surdo, o rato foi submetido a volumes colossais de som onde, como se esperava, não havia reação por parte do rato. Entretanto, um fato surpreendeu os pesquisadores. O ratinho entrou em pânico quando era exposto a um tom específico. Esse tom era o mesmo que era usado para sinalizar que, dali a segundos, viria um choque elétrico. Com isso, os cientistas passaram a suspeitar que existisse uma outra conexão, ligada ao centro das emoções, o que explicaria a associação entre som e pânico. Essa conexão foi encontrada na amígdala, um estrutura do cérebro que, como já se sabia, disparava as emoções exceto que acreditava-se que o impulso nervoso primeiro passava pelo córtex. Este estando desligado , nenhuma emoção associada a sons deveria ser sentida pelo bicho. Os pesquisadores descobriram então que havia uma ligação direta entre sentidos e amígdala – mais rápida, portanto. Eles concluíram que a 78 amígdala serve para as reações imediatas quando o animal está ameaçado, o que explica o fato de o rato continuar surdo, porém sensível ao tom ameaçador. Com isso, acredita-se que o pânico, a ira ou a ansiedade são primeiramente disparados na amígdala, estrutura já presente no cérebro dos répteis, e mantida nas espécies superiores. Transferindo a análise para as características do homem moderno, Salvador e Capriglione(1997) esclarecem que a amígdala o leva a reações animais como coração disparado, boca seca, músculos retesados, entre outros. Mattos(1997) explica que o ser humano possui uma forma de pensar e sentir que não é apenas sua. Ela é baseada em padrões ensinados e condicionados na infância através da educação, pela família, pela escola, etc. Uma programação feita para o homem quando este não era capaz de pensar por si mesmo. A princípio, esta programação não tem proposta de fazer a pessoa feliz, mas de adequá-la à vida em sociedade. A saída seria alterar esses padrões psicológicos e emocionais tendo em vista que o ser humano pode escolher outra programação e aumentar suas opções de ação. Portanto, conforme já mencionado, o conceito de inteligência emocional vem de encontro à proposta do presente trabalho de se estabelecer um equilíbrio entre a razão e a emoção, capacitando o ser humano a negociar soluções criativas para diferentes problemas, observando em si e no grupo de trabalho os elementos de boa imaginação e criatividade ao contrário do repetitivo e da mente fechada, aprendendo a trabalhar junto com os colegas desenvolvendo o talento próprio e o deles. 79 3 – Abordagem da Organização A partir de agora será estudada a organização no que diz respeito a sua origem e evolução apontando momentos em que o condicionamento racional, influenciado na maioria das vezes pelo contexto histórico, formou as bases do pensamento organizacional. 3.1 – Conceito de Organização Chiavenato(2001) cita Paul R. Lawrence e Jay W. Lorsch para conceituar o termo organização: “Organização é a coordenação de diferentes atividades de contribuintes individuais com a finalidade de efetuar transações planejadas com o ambiente”. Sendo assim, será feita uma análise de como essas diferentes atividades foram geradas e coordenadas, assim como será estudado o ambiente no qual essas transações foram planejadas conforme o contexto histórico. 3.2 – Origem da Organização Chiavenato(2001) conta que as organizações existem desde os tempos dos 80 faraós e dos imperadores da antiga China. Ele cita também a igreja e os exércitos da Antigüidade, que desenvolveram formas de organizações. Pode-se incluir ainda como exemplo as polis atenienses, responsáveis pela organização política da Grécia Antiga. O presente trabalho vai dedicar espaço neste momento para a Idade Média onde reside o embrião da empresa moderna. Souza(1973) afirma que a Idade Média contém o embrião da empresa moderna tendo em vista que era uma época em que se transformava corporações artesanais em negócios de manufatura e comercialização. Inicialmente, com a influência da Igreja Católica no período medieval, o homem entendia que sua salvação espiritual viria de uma atividade econômica cujo objetivo era a vida mesmo, e a agricultura e o artesanato de subsistência atendia a essa premissa. O homem tinha autonomia na produção do seu produto. Na aquela época não havia negócio onde aplicar dinheiro mesmo porque não existia dinheiro, tendo em vista que o comércio era constituído apenas pela troca direta de mercadorias. O marco de separação entre a Idade Média e os tempos modernos se dá no mesmo momento em que o homem é obrigado a se dirigir do campo para as grandes cidades. No sistema feudal, a terra do senhor era dividida em faixas e trabalhada por arrendatários que, além das suas, tratavam também das terras de uso exclusivo do senhor. Assim, durante séculos a fio o camponês trabalhou a terra, geração após geração, nascido e crescido no campo aberto, sob a proteção dos muros e das armas do senhor. Uma nova atitude pode ser considerada de grande importância para a mudança de mentalidade do homem a partir do término da Idade Média: o individualismo renascentista. Influenciado pela Renascença e pela Reforma Católica. A Renascença já foi abordada pelo presente trabalho que mostrou a mudança do Teocentrismo, Deus como centro de tudo, para o Antropocentrismo, o homem como centro de tudo; o que justifica sua influência no individualismo renascentista. Há que se analisar neste instante como a Reforma Católica influenciou esse novo comportamento. Num convento de agostinianos, Martinho Lutero teve suas primeiras desilusões com o clero que, ao lado da nobreza de sangue, foi a classe dominante na Idade Média e a mais rica proprietária de terras. Souza(1973) aponta para um ponto da doutrina de Lutero que reformou o pensamento dos cristãos e que influenciou o pensamento moderno do homem de 81 empresa: a Predestinação. Segundo Lutero, a salvação é um dom que Deus coloca gratuitamente no coração do homem.(...) O homem que tem fé não precisa de cooperação ou do auxílio de nada nem de ninguém para se comunicar(comungar) com Deus. Olhando para si mesmo, procurando a presença de Deus no íntimo do seu coração, o fiel podia desvincular-se dos outros homens e encerrar-se no recluso individualismo espiritual. Esse ponto de vista serviu de base para a Doutrina Calvinista influenciando a filosofia do capitalismo e a mentalidade do homem de negócios. Souza(1973) cita R. H. Tawney que, em “Religion And The Rise Of The Capitalism”, explica que “as raízes da maioria das teorias sociais, não apenas da Idade Média mas também de Lutero, estão na tradicional estratificação Rural”. A Reforma Calvinista começa em 1534, na França, com as pregações de João Calvino. Mais Radical que Lutero, Calvino defende a tese de o homem nascer predestinado à salvação ou à condenação. Considera-o livre de todas as proibições não explicitadas nas escrituras, o que torna as práticas do capitalismo lícitas, em especial a usura, condenada pela Igreja Católica. Segundo Calvino, o homem deve buscar o lucro por meio do trabalho e de uma vida regrada, também consideradas por ele formas de louvar a Deus. Relacionando o novo comportamento sócio-econômico que estava surgindo com a doutrina calvinista, Souza(1973) dá um exemplo de como isso passou a funcionar na mente da recém chegada classe empresarial: “Se na sociedade em que vivo o sucesso econômico é aprovado, admirado e consagrado por todos, deve ser porque sucesso econômico é um feito virtuoso e, portanto, uma obra boa. Se a boa obra é conseqüência natural da graça de Deus, eu e os meus pares no sucesso temos em nós a graça de Deus, isto é, somos nós os eleitos, os poucos escolhidos dentre a multidão dos chamados”. Considerando que o Calvinismo foi um movimento predominantemente urbano, que atingiu produtores e negociantes, ele incorporou a sua moral as suas necessidades de capital, de crédito e de operações bancárias, de comércio e finanças em larga escala. A economia medieval de produção para subsistência, local e agrária, transformava-se rapidamente numa economia mercantil e internacional. A manufatura de utilidades para consumo transformava-se em comércio de mercadorias para negócios, e o centro do poder econômico e político transferia-se do feudo rural para o estabelecimento urbano. 82 Com a doutrina calvinista, agora as terras se fechavam, os produtos da agropecuária subiam de valor e com eles o preço dos arrendamentos, os campos se introvertiam numa nova estrutura fundiária individualista e lucrativa e o trabalhador rural, sem pasto onde criar, sem acesso a sua lavoura, sem dinheiro para arrendar e sem capacidade de se adaptar a um esquema que não entendia, foi sendo impelindo para a cidade. Souza(1973) assim esclarece o motivo do êxodo dos artesãos para os centros urbanos: “Os artesãos eram, geralmente, antigos servos que, libertos de uma pirâmide social que estigmatizava o status e tão rígida que não sabia como qualificar um status novo – o liberto – migravam para os centros urbanos em busca de subsistência e integração num outro esquema que os absorvesse. Embora livres, os artesãos continuavam se associando e cooperando de acordo com normas inflexíveis – normas que lhe restringiam mas que lhe permitiam gozar de estabilidade, segurança e comunicação não agressiva dos homens medievais”. Com o crescimento da cidade devido à chegada dos homens provenientes do feudo é que a produção foi se organizando em pequenas células de manufatura artesanal, células estas que deram origem às “Corporações de Ofício”. Souza(1973) atribui às Corporações de Ofício e aos Monastérios o status de longínquos antepassados da empresa, da produção industrial e do capitalismo. O autor traz um bom exemplo do que seria um condicionamento racional da mão de obra no ambiente de trabalho: “Os monastérios foram núcleos de trabalho organizado, de disciplina e de ritmo ordenado de vida, da divisão do dia em horários e tarefas programadas. (...) Diz Munford que talvez se deva ao mosteiro à invenção do relógio, uma vez que o horário era tão importante a sua disciplina, e acrescenta: ‘não será, portanto, uma distorção dos fatos, afirmar que os monastérios – a um dado momento houve 40.000 monges beneditinos – ajudaram a dar às empresas do homem o ritmo coletivo e regular da máquina; porque o relógio não é apenas um meio de marcar as horas, mas de sincronizar as ações dos homens’”. No que diz respeito às Corporações de Ofício, Souza(1973) afirma que estas 83 tinham como objetivo principal a produção de mercadorias e o seu comércio, desviando-se assim pouco a pouco da economia de consumo e subsistência da Idade Média. O autor faz uma observação relevante que exemplifica o condicionamento mental capitalista proveniente do fim da Idade Média: “Custa-nos crer hoje em dia que se deva produzir uma mercadoria e não procurar colocá-la pelo preço da melhor oferta, que não se deva aproveitar um mercado escasso para vender mais caro e aumentar a margem de lucro, que não se deva estocar um artigo para especular na subida de preços, que é condenável cobrar juro (embora não extorsivo) a quem possa pagá-lo e, sobretudo, custanos crer que ter um grande sucesso econômico, acumular um enorme capital (mesmo por meios lícitos) possa ser condenável”. Isso se torna mais intrigante quando também se faz uma tentativa de se adequar ao que postulou São Tomás de Aquino, em sua “Suma Teológica” que prega que a finalidade da produção e do comércio é exclusivamente a manutenção da família, a assistência aos necessitados e o bem-estar da comunidade, sendo qualquer outro objetivo – principalmente o lucro – espúrio e condenável. Passando longe disso, o único individualismo existente na época era o dos mestres manufatureiros, comerciantes e financistas do fim da Idade Média e início do Renascimento. Estes eram voltados para o seu próprio sucesso, mesmo que às custas do bem comum. Estes indivíduos eram, em estado embrionário, os mesmos empresários do que viria a ser a Revolução Industrial. Enquanto isso, estava sendo gerado um novo drama para o homem que, acostumado com a produção de seu produto de forma artesanal, tinha uma relação mais íntima com este. Com a chegada do individualismo empresarial, o homem, agora subordinado do empresário, passou a se preocupar com a produção industrial de trabalho e dinheiro. 3.3 – Evolução da Organização Racional Com o início da Idade Moderna, a filosofia naturalista e racional era a base para 84 o conhecimento da realidade, a mentalidade da época acreditava que as relações humanas deviam ser governadas por leis humanas, naturais e não divinas; a ordem e a organização das sociedades deviam ser guiadas pela razão e pela natureza e não pelo místico e pelo sobrenatural. E foram realmente sentindo-se iluminados pela razão e fortificados pela ciência que os iluministas convenceram-se de que poderiam organizar racionalmente a sociedade com as normas perfeitas. Além disso, o homem já trazia consigo da Idade Média o mecanicismo e um certo racionalismo proveniente dos monastérios, do exército, das casas de crédito e do clero; sem mencionar ainda o egoísmo individualista pós-Idade Média, que incentivava o desprezo ao mais fraco, alocando o homem como um mero recurso de produção, mais um ativo de produção. Para completar, o Iluminismo chegou embutindo na mente do empresário a liberdade de reorganizar racionalmente a sociedade. 3.3.1 – Revolução Industrial Foi com a mentalidade de reorganizar racionalmente a sociedade que uma série de mudanças marcou definitivamente a ordem econômica, política e social a partir do século XVIII. A um conjunto de acontecimentos convencionou-se chamar de Revolução Industrial, que trouxe avanços através da mecanização, da aplicação de força motriz, do desenvolvimento do sistema fabril e do aperfeiçoamento dos meios de transporte e comunicação. Chiavenato(2001) explica que, com a invenção da máquina a vapor por James Watt(1736-1819) e sua aplicação à produção, uma nova concepção de trabalho viria modificar a estrutura social e comercial da época. Souza(1973) traz fatores que condicionaram o comportamento do empresário conforme abaixo: “O empresário de uma sociedade que cultivava o Positivismo, caminhava a passos largos para o Pragmatismo, na produção industrial, no comércio dos seus artigos, nas finanças que traduziam indústria e comércio para a linguagem sem fronteiras do dinheiro, uma confirmação das doutrinas que abraçava e que 85 glorificavam o positivo, o racional, o concreto, o tangível, o material e viu no negócio, no business que era a força mágica, a mola mestra da produção, do comércio e do dinheiro, a deliciosa extensão do seu ego, a afirmação do seu gênio empreendedor, a consagração esplêndida de suas virtudes pois eram elas as propulsoras do progresso”. Através da passagem acima pode-se interpretar o comportamento do empresário da Revolução Industrial. Este tinha praticamente um sistema que funcionava ao seu favor, uma vez que seu desempenho era justificado pela tendência filosófica e religiosa da época. Este sistema dava-lhe motivação para melhorar mais e mais, mas sempre seguindo aos requintes de virtuosismo individual e racional. 3.3.2 – Administração Científica Foi nesse ambiente empresarial baseado no imediato, no concreto e no racional que surgiu a figura de Frederick W. Taylor(1856-1915), fundador da Administração Científica que se preocupou com as técnicas de racionalização do trabalho do operário. Para Souza(1973), Taylor surgiu numa época em que era necessário aumentar a produtividade para atender à voracidade de uma mercado de consumo que crescia. Chiavenato(2000) conta que Taylor começou suas experiências com os operários do nível de execução, analisando suas tarefas e decompondo tempos e movimentos no ambiente de trabalho. A racionalização do trabalho imposta por Taylor foi muito importante para o desenvolvimento da prática industrial porque, apesar de cravar um condicionamento racional nos costumes do trabalhador, sanou o problema do homem desempenhar sua tarefa sem acompanhamento ao mesmo tempo que chamou atenção para o fator humano da produção, ainda que fosse necessário exaurir o operário física e mentalmente para produzir mais, como pensava Taylor. O problema de Taylor foi acreditar que o operário não tinha capacidade de analisar sua tarefa e seu ambiente para estabelecer qual a maneira mais eficiente de trabalhar. Taylor preocupou-se com o progresso do patrão, iludindo-se que o progresso do operário 86 residia nos altos salários que ganhava em função de sua produção. Chiavenato(2001) cita que um dos princípios de Taylor, o do planejamento, visava substituir o critério individual e a improvisação do operário pelo planejamento científico. Portanto, o homem acostumado com o regime de escravidão de séculos anteriores, sentia-se novamente um servo. Só que desta vez, ao invés de ter de reportar-se para um senhor feudal, obedecia aos critérios de planejamento do método científico, deixando de praticar sua criatividade e reprimindo seu talento perante uma nova ordem de tarefas. 3.3.3 – Teoria Clássica da Administração Com uma visão mais global, visando o todo organizacional, a Teoria Clássica da Administração tinha o mesmo objetivo da Administração Científica: a busca da eficiência na organização. Porém, o foco agora era na estrutura desta, ampliando o ângulo de observação da organização no sentido de harmonizar órgãos e pessoas. Essa teoria teve em Henry Fayol(1841-1925) o seu fundador, cuja visão anatômica e estrutural da organização complementou o estudo específico e concreto de Taylor. Chiavenato(2001) conta que para Fayol seria possível atingir resultados satisfatórios por meio de uma previsão científica e através de métodos adequados de gerência. Souza(1973) explica que Fayol deu destaque no nível da alta gerência, agrupando numa estrutura racional e, ao mesmo tempo, definindo as responsabilidades de gestão de componentes administrativos como por exemplo a manufatura, a comercialização, as finanças e a própria administração. Foi com Fayol que surgiram as funções da administração, primeira mente elencadas como “Prever, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar” para se transformarem como são conhecidas hoje: “Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar”. Apesar do grande avanço que a organização racional das operações significou para a organização, a questão humana ainda era deixada de lado, tendo em vista que a ordem de partida para a análise dos aspectos organizacionais era de cima para baixo, ou seja, do nível da alta gerência para o chão de fábrica. 87 3.3.4 – Teoria das Relações Humanas Com o advento da psicologia como ciência autônoma no século XIX, o fator de produção homem começou a chamar a atenção dos cientistas da recém chegada psicologia aplicada ao trabalho. Elton Mayo deu início a uma abordagem humanística dentro da organização que ficou conhecida como Teoria das Relações Humanas, caracterizando-se também por ser um movimento de reação e de oposição aos métodos racionais e desumanos da Administração Científica e da Teoria Clássica da Administração. Chiavenato(2001) explica que, a partir da década de 1930, nos Estados Unidos, com o desenvolvimento da psicologia e, em particular, a psicologia do trabalho, esta na primeira década do século XX, nasce a Teoria das Relações Humanas. Conta Souza(1973) que, em 1927, George A. Pennock, um engenheiro da Western Eletric que estudava os efeitos da iluminação sobre a produtividade, encontrou-se com o então chefe do Departamento de Pesquisa da Universidade de Harvard Elton Mayo. Esse encontro resultou em uma experiência num bairro de Chicago chamado Hawthorne. Chiavenato(2001) afirma que, na primeira fase da experiência, buscou-se avaliar o efeito da iluminação sobre o rendimento de operários. O autor assim descreve o resultado da experiência: “Um dos fatores descobertos foi o fator psicológico: os operários reagiam à experiência de acordo com suas suposições pessoais, ou seja, eles se julgavam na obrigação de produzir mais quando a intensidade da iluminação aumentava e, o contrário, quando diminuía. Esse fato foi comprovado, trocando-se as lâmpadas por outras da mesma potência, fazendo-se crer aos operários que a intensidade variava. Havia um nível de rendimento proporcional à intensidade da luz sob a qual os operários supunham trabalhar”. Souza(1973) esclarece que o que Mayo descobriu foi que o comportamento dos operários no trabalho não é um fenômeno que resulta da interação destes com o meio físico apenas, mas principalmente, entre eles e as outras pessoas com quem interagem. Uma das conclusões que a experiência de Hawthorne proporcionou foi a sacada de que, ao invés da capacidade física do operário, é a sua capacidade social que determina sua 88 eficiência. Essa capacidade social engloba questões como a preferência pelo trabalho em grupo, respeito e reconhecimento perante o grupo, a existência de grupos informais, que definem regras de comportamento diferentes das estabelecidas pela organização formal, especialização como fator de monotonia e a ênfase nos aspectos emocionais. Elton Mayo passou a acreditar que cada pessoa é motivada pela necessidade de fazer parte de um grupo e ser reconhecida por esse grupo, e que esse sentimento de cooperação humana não é originado pelos métodos racionais de organização defendidos pelas escolas anteriores. Portanto, Elton Mayo dava mais um passo em busca da consideração do ser humano dentro do contexto organizacional. Entretanto, por mais que Mayo tenha mérito por levantar a questão humanística dentro da cena empresarial, um de seus pontos de vista gerou uma crença equivocada de que a administração deve ser dotada de chefes simpáticos e protetores, inaugurando o estigma do paternalismo. Souza(1973) descreve o comportamento que o empresário passou a ter com o empregado que caracterizava o paternalismo: “Passou a cumprimentá-lo diariamente, passou a apertar sua mão em público, passou a fazê-lo sentar-se, de macacão, na cadeira envernizada em frente à escrivaninha. Passou a sorrir para ele e até mesmo agraciá-lo com o símbolo perfeito do apanágio do paternalismo administrativo: o tapinha nas costas. E adotou um slogan que era a panacéia para resolver o conflito entre o homem e a organização: ‘faça-o sentir-se importante’(embora esteja convencido de que ele não o é)”. Em meio a esse ambiente, o homem ainda sentia carência pela falta do trabalho criativo, pela falta da oportunidade de realizar que lhe foi arrancada com o advento da empresa. O homem ainda não havia recuperado os mesmos motivos pessoais que o motivavam a produzir o seu próprio produto, considerando que seu vínculo com este era precioso. A Teoria das Relações Humanas não conseguiu frear o exagero da racionalismo, que passou a reger as relações de trabalho através do Organizacionismo. 89 3.3.5 – Organizacionismo Souza(1973) traz à tona uma questão que envolve a combinação indevida da razão e das relações humanas por parte dos empresários que, após rever, adaptar e condensar a teoria de Elton Mayo; passou a querer organizar racionalmente as relações humanas através de organogramas que delimitam as ações e relações de trabalho. A essa prática Souza(1973) denominou Organizacionismo. A explicação para essa atitude do empresário é a tentativa deste de dar peso e medida para tudo quando o assunto é a relação do trabalhador com a organização. Isso pode ser constatado nos programas de avaliação de desempenho onde se procura medir o esforço mental, a iniciativa e o grau de motivação, sem mencionar o chamado “Brainstorming”, que as empresas promovem para fazer com que a criatividade funcione na marra, na base de um treinamento pré-programado. Souza(1973) justifica esse ponto de vista através da seguinte posição crítica: “E é por essas veredas que o Organizacionismo começa a se confundir. É tentando ser objetivo demais, racional demais, programático demais, que ele começa a fugir da realidade e a se enredar no mundo das diretrizes e normas que acabam por afogá-lo num paradoxo meio gaiato: ‘a força de ser tão objetivo, torna-se teórico e perde a objetividade’”. Portanto, é através desta obsessão pelo regulamento, proveniente do Clero, da Renascença, do Iluminismo, do mecanicismo da Revolução Industrial, da preferência por respostas concretas da ciência do século XIX e, em conseqüência desta, da ênfase nas tarefas, de Taylor, e da estrutura racional, de Fayol, culminando no Organizacionismo que impera até a presente data; que o empresário acaba prejudicando a espontaneidade que é tão criadora. Por sua vez, o empregado se vê tão programado que, como no filme “Tempos Modernos” de Charles Chaplin, se dá conta que seus movimentos são automáticos e instintivos chegando ao ponto de, às vezes, não perceber que já executou determinada tarefa. 90 4– Limitação do Ser Humano no Contexto Social e Organizacional O presente trabalho fará uma abordagem das características externas e internas que limitam o modo de pensar e de agir do ser humano através de uma ênfase no aspecto individual e organizacional, identificando práticas e vícios que empregador e empregado impõem a si mesmos durante a relação interpessoal e intrapessoal. Pinto Jr (2001) conta que desde o início da vida do homem que ele se torna dependente dos outros tendo em vista que estes o alimentam, o sustentam e o orientam. O autor esclarece que a criança, em virtude da sua limitação caracterizada pela dependência, passividade e impotência; possui o paradigma do “você”, reconhecendo a responsabilidade na pessoa dos outros: “você tem de cuidar de mim”. “você fez isso”. “você não fez aquilo”. Outro fator de limitação, só que a um nível acima, trazido pelo autor traz à tona a questão da influência da educação tradicional na criança na escola primária: “A maioria de nós começa a limitar capacidades e buscas por criatividade já nos primeiros anos de vida. Geralmente, isso começa quando entramos na escola primária e nossa criatividade é lentamente dominada pela educação tradicional. Sentamos em fileiras ou grupos com vinte ou trinta outros alunos; e é esperado que obedeçamos a regras e procedimentos rigorosos – muitos dos quais nos limitam o pensamento criativo”. Inclusive, é desse período também que Abreu(2000) traz subsídios para explicar 91 o argumento pragmático do ser humano que, para ele, fundamenta-se na relação de dois acontecimentos sucessivos por meio de um vínculo causal. Em outras palavras, o autor esclarece que muitas pessoas acham que, porque tiveram uma educação rígida, tornaram-se competentes e, por esse motivo, pretendem, quando forem pais; educar seus filhos da mesma maneira. Dando continuidade à trajetória de crescimento do ser humano, Pinto Jr (2001) explica que, com o passar dos anos e com a mudança de valores, começa a brotar a independência do agora então adolescente na medida em que este consegue tomar conta de si, tornando-se mais confiante e seguro. O indivíduo nessa fase desenvolve o paradigma do “eu”: “eu sei”. “eu tenho”. “eu faço”. Apesar disso, este adolescente ainda se encontra num sistema de ensino tradicional, como o colegial e a faculdade, que acaba exercitando cada vez menos sua criatividade natural e atrofiando cada vez mais seu pensamento criativo. Pinto Jr (2001) continua a descrição afirmando que quando esse adolescente se torna um homem maduro, passa a apresentar, entre outras características, a interdependência, explicitada pelo paradigma do “nós”: “nós podemos”. “nós faremos”. “nós falhamos em...”. “nós vencemos”. Numa postura em que não aceita a responsabilidade só para si e sim, dividila com os outros. Esse comportamento pode ser explicado, primeiramente, através de algumas experiências que condicionam o homem quando este se vê a mercê, por exemplo, das primeiras críticas às suas ações. Pinto Jr(2001) explica que, com freqüência, o ser humano vivencia críticas e as assimila como retorno negativo. Ao invés de receber uma crítica como apoio e encorajamento, esse homem a toma como um insulto que o magoa profundamente. Outro exemplo é trazido por Maltz(1981) quando o homem faz uma tentativa, erra, e carrega consigo a memória do erro como experiência negativa do passado. O autor explica que essa memória de fracasso do homem gera uma crítica constante de si mesmo, afetando negativamente suas realizações no presente fazendo-o pensar que, se falhou no passado, falhará hoje também. Aguiar(2000) lembra que Freud, em sua Teoria da Psicanálise, explica que certas distorções em alguns aspectos do pensamento constituem uma forma de atenuar a ansiedade gerando mecanismos de defesa. Como exemplos de mecanismos de defesa pode-se citar Pinto Jr (2001) que, concluindo seu raciocínio sobre a reação do homem à crítica, explica 92 que este decide que é mais seguro preservar-se e não expressar sua criatividade novamente, ao invés de expor-se ao ridículo ou sofrer constrangimentos gerados por frustrações. Outro mecanismo de defesa que é trazido por Pinto Jr (2001) é o desejo incontido do homem de proclamar sua inocência, procurando se esquivar de qualquer culpa por determinado problema. Abreu(2000) explica que, na sociedade em que vive o homem, este é moldado por uma infinidade de discursos. Como principal deles, o autor destaca o do senso comum, que norteia todas as classes sociais, originando a opinião pública. Abreu(2000) aponta que esse discurso dá sentido à vida cotidiana através da manutenção do “status quo” que vigora, o que acaba sendo, na maioria das vezes, retrógrado e obsoleto. Esse domínio do senso comum pode ser explicado através da influência dos modelos mentais abordados por Senge(2004), o qual conceitua modelos mentais como sendo imagens internas profundamente arraigadas sobre o funcionamento do mundo, imagens que limitam o homem a formas bem conhecidas de pensar e agir. O autor alerta que a forma como esses modelos mentais moldam as percepções do homem também tem grande importância no mundo dos negócios. Como exemplo de como funcionam esses modelos mentais, o presente trabalho reproduz dois fragmentos de Abreu(2000): “Muitas vezes, temos medo do poder do outro e por isso nos retraímos. Muitas pessoas temem o poder de seus chefes, de pessoas de nível social mais elevado, às vezes de seus próprios pais, maridos e esposas.. A primeira grande verdade que temos de aprender é que nós aturamos os déspotas que nós queremos aturar. O poder que alguém tem sobre mim é uma concessão minha!” “(...) muitas pessoas se queixam de que, nas reuniões da empresa, suas boas idéias são respostas a perguntas que elas fizeram a si mesmas, dentro de suas cabeças. Ora, de nada adianta lançar uma idéia para um grupo que não conhece a pergunta. É preciso primeiro fazer a pergunta ao grupo. Quando todos estiverem procurando uma solução, aí sim, é o momento de lançar a idéia, como se lança uma semente em um campo previamente adubado”. São relevantes as passagens supra citadas porque elas espelham dois exemplos de modelos mentais sob a ótica dos subordinados(primeira passagem) e dos 93 superiores(segunda passagem), englobando o contexto social e o contexto organizacional. Portanto, Senge(2004) explica que os modelos mentais impedem a aprendizagem – escravizando empresas e setores em práticas obsoletas fazendo com que seja imperativo que, ao mesmo tempo que os empregados mais acomodados deixem de tomar suas decisões no momento em que é possível saber qual é a tendência da maioria a ser seguida; os gerentes passem aprender a refletir sobre seus atuais modelos mentais sincronizando-os a padrões mais flexíveis. É através de conceitos e exemplos como os que foram citados neste capítulo que o presente trabalho defende o equilíbrio entre a mentalidade racional e a criatividade, que é fruto da mentalidade emocional, justificando a importância que se tem dado atualmente ao conceito de Inteligência Emocional, que pode ser de grande valia para todos os níveis de uma organização. 94 5 – Estudo Histórico da Criatividade O presente trabalho desenvolverá a partir de agora um levantamento filosófico e científico do que foi mencionado sobre a criatividade, citando autores e teorias, bem como especialistas do presente cotidiano; que tentaram explicar o funcionamento da capacidade de criar. 5.1 – Abordagem Filosófica da Criatividade Ao longo da história da humanidade, a curiosidade de filósofos sobre o fenômeno da criatividade foi despertada gerando uma sucessão de prismas relacionados à questão. 5.1.1 – Criatividade Como Origem Divina Proveniente da Antigüidade Clássica, a teoria da criatividade como inspiração divina encontrou em Platão sua forma de expressão. Platão defendia que o espírito do homem é possuído por Deus, que gera novas idéias exercendo seu poder superior de controle. Souza(2001) reproduz um fragmento de Hallman e Kneller para expressar uma 95 das primeiras concepções sobre o fenômeno da criatividade nos tempos antigos: “E por essa razão Deus arrebata o espírito desses homens(poetas) e usa-os como seus ministros, da mesma forma que com os adivinhos e videntes, a fim de que os que os ouvem saibam que não são eles que proferem as palavras de tanto valor quando se encontram fora de si, mas que é o próprio que fala e se dirige por meio deles”. Portanto, Platão excluía qualquer possibilidade de o homem transmissor de novas idéias possuir controle na geração destas, fazendo papel de mero intermediário entre o plano superior e o plano material humano. 5.1.2 – Criatividade Como Loucura Platão ainda daria origem a outra teoria nos tempos antigos que se baseia na criatividade como um acesso de loucura do homem, situação em que este se encontra beirando a insanidade mental. Considerando que Platão estudou diversas atividades da alma, tornando-se um dos primeiros a usar a expressão psicologia, não fica difícil entender porque ele deu início a essa teoria sobre a criatividade. Mais tarde, essa teoria influenciaria alguns estudiosos científicos como Freud, que explicava a manifestação de criatividade dos artistas como um meio de exprimir conflitos exteriores e interiores que, de outra maneira, se manifestaria como neuroses. Com isso, ao mesmo tempo que Platão atribui ao homem criativo um estado de espontaneidade, ele também credita esse estado de espírito à irracionalidade, novamente excluindo qualquer possibilidade de controle humano na concepção da criatividade. 5.1.3 – Criatividade Como Gênio Intuitivo Adentrando agora nos tempos modernos, as novas teorias sobre a criatividade 96 procuram defini-la como parte da natureza humana em relação ao universo em geral. Essa visão tinha como base o contexto histórico do antropocentrismo, que define a criatividade como uma forma saudável e perfeitamente desenvolvida da intuição independentemente da influência divina. Estudiosos dessa época, como Kant, entendiam que a criatividade não pode ser educada devido ao seu caráter imprevisível, não racional e digno de poucas pessoas. Souza(2001) traz um fragmento de Kant e Kneller, que exprime esse ponto de vista: “Entendeu ser a criatividade um processo natural, que criava as suas próprias regras, também sustentou que uma obra de criação obedece a leis próprias, imprevisíveis; e daí concluiu que a criatividade não pode ser ensinada formalmente”. Portanto, a intuição foi um dos atributos do homem que serviu de base para os intelectuais renascentistas tentarem desvendar o mistério da criatividade levando em conta seus princípios humanistas do período moderno. 5.1.4 – Criatividade Como Força Vital Fazendo parte do período moderno, a influência da Teoria da Evolução das Espécies, fundada pelo naturalista inglês Charles Darwin(1809-1882), publicada em 1859 no livro “A Origem Das Espécies”; culminou, dentro do contexto filosófico da criatividade, no advento da Teoria da Criatividade Como Força vital. Conforme a teoria da evolução das espécies de Darwin, o meio ambiente seleciona os seres mais aptos e elimina os menos dotados. A analogia que pode ser feita a partir desta teoria de Darwin é que, assim como um ser vivo cria um sistema organizado, que é seu próprio corpo, a partir do alimento retirado do meio, também de dados desorganizados o homem cria uma obra de arte ou a ciência. Com referência ao assunto, Souza(2001) cita Edmundo Sinnot, conforme abaixo: “a vida é criativa porque se organiza e regula a si mesmo e porque está constantemente originando novidades. Na natureza: transformação da genética 97 e modificações no meio. No homem: capacidade de encontrar ordem e sentido num amontado de particulares, impor padrões, etc”. Assim, a Criatividade Como Força Vital foi concebida pela ótica do Naturalismo, que considera o comportamento humano como resultado da influência da hereditariedade e do meio ambiente. 5.1.5 – Criatividade Como Força Cósmica A Teoria da Criatividade Como Força Cósmica caracterizou-se por ser uma corrente que pregava a existência da expressão de uma criatividade universal permanente a tudo que existe. Em outras palavras, seria um ininterrupto avanço para o novo, onde a criatividade produz constantemente entes, experiências e situações sem precedentes a fim de manter tudo o que existe como é, desde que observada a contínua substituição de seus componentes. O precursor dessa teoria foi o matemático e filósofo inglês Alfred North Whitehead(1861-1947) que, contrário ao cientificismo, mecanicismo e subjetivismo, desenvolveu uma imagem orgânico-platônica do universo, defendendo a tese de que não há substâncias duradouras. Em função disso, para ele, entidades reais nascem, vivem e, mesmo quando morrem, produzem novidades. Através dessa teoria, Whitehead abordou a educação da criança, pregando o desenvolvimento da imaginação, o convite à descoberta, acreditando que a criança deve recombinar por seus próprios meios aquilo que aprende. 5.2 – Abordagem Científica da Criatividade Com o estabelecimento do status da psicologia como ciência a partir do século XIX, a criatividade não escapou de ser avaliada sob a ótica dos cientistas, principalmente dos psicólogos, que, através do Associacionismo, da teoria da Gestalt, da Teoria da Psicanálise e 98 da Neopsicanálise; investigaram minuciosamente a capacidade de criar do ser humano. 5.2.1 – A Criatividade Sob a Ótica da Teoria do Associacionismo Apesar de ter surgido no século XX, o Associacionismo foi influenciado pelas idéias iluministas de John Locke(1632-1704), que foi um dos pensadores que defendiam o predomínio da razão sobre a fé. Com requintes do Behaviorismo do início do século XX, o Associacionismo defendia a teoria de que numa relação entre duas idéias, a exposição a uma delas dá origem à outra, ou seja, quanto mais situações familiares, mais idéias virão à tona, gerando criatividade. Souza(2001) apresenta uma passagem de Locke onde ele discorre sobre o princípio do Associacionismo: “O pensamento consiste em associar idéias, derivadas das experiências, segundo as leis da freqüência, da recência e da vivacidade. Quanto mais freqüentemente, recentemente e vividamente relacionadas duas idéias, mais provável se torna que, ao apresentar-se uma delas à mente, a outra a acompanha”. Pois é nesse ponto que o presente trabalho tem seu principal objetivo de existir. O uso de idéias já estabelecidas não faz com o indivíduo gere novos paradigmas, ficando preso a conceitos estabelecidos. A simples associação de fatos conhecidos mantém o ser humano na mesma linha de raciocínio mecânico e metódico, onde a inversão da ordem de aplicação das idéias dominantes o mantém dentro de fatores de limitações que não condizem com o contexto no qual o homem está inserido. Mais cedo ou mais tarde, ele acordará e descobrirá que está usando ferramentas obsoletas, depois de já ter explorado todas as inversões de ordem possíveis. 99 5.2.2 – A Criatividade Sob a Ótica da Teoria da Gestalt Iniciada também no século XX, a Teoria da Gestalt, conforme já abordado pelo presente trabalho, visava descobrir a relação entre as partes que formam um todo. Aguiar(2000) esclarece que, na Teoria da Gestalt, o pensamento está estritamente ligado à compreensão do todo, e não às partes separadas. No que diz respeito à criatividade, Souza(2001) cita Wertheimer e Kneller que expõem que a forma de pensar criadora se trata de um reagrupamento de um todo estruturalmente deficiente. O autor explica que, no início do processo de criação, ocorre uma configuração problemática que, apesar de incompleta, ao invés de comprometer a visão sistêmica do criador, pelo contrário, serve de ponto de partida para este desenvolver sua visão sistêmica de criador. Wertheimer tem suas palavras reproduzidas por Souza(2001) no que diz respeito ao processo de funcionamento da criatividade conforme segue: “O processo todo é uma linha consciente de pensamento. Não é uma adição de operações díspares, agregadas. Nenhum passo é arbitrário, de função conhecida. Pelo contrário, cada um deles é dado com visão de toda a situação”. Portanto, a teoria da Gestalt relacionou a percepção e o pensamento do homem considerando que, no momento em que ocorre o fenômeno da criatividade, há uma reorganização do sistema perceptivo do ser humano. 5.2.3 – A Criatividade Sob a Ótica da Teoria Psicanalítica Tratando-se de outra teoria já abordada pelo presente trabalho, a teoria psicanalítica traz como influenciadora da criatividade a relação entre o Id e o Ego. Assim como foi mencionado na teoria da Criatividade Como Loucura, Freud entendia que as forças motivadoras da criatividade no indivíduo são provenientes de impulsos reprimidos que podem gerar tanto idéias criativas quanto neurose. Para explicar melhor como procede esse ponto de vista, Souza(2001) reproduz 100 um fragmento da visão psicanalítica de Freud sobre o relacionamento entre Ego e o Id(aqui representado pelo inconsciente): “No doente mental, o Ego tende a ser tão estrito que barra todos, ou praticamente todos os impulsos inconscientes, ou tão fraco que é freqüentemente posto de lado. Essa pessoa exerce excessivo ou deficientíssimo controle; seu comportamento é altamente estereotipado e intelectualizado, ou espontâneo e estranho. Se o comportamento se alterna entre tais extremos, nunca se integra como o de alguém mentalmente são. É sempre rígido e habitual o comportamento produzido apenas pelo Ego, sem influência do inconsciente criador. (...) Por outro lado, sempre que os impulsos criadores contornam inteiramente o ego, seus produtos, como nos sonhos e nas alucinações, podem ser altamente originais, mas sem muita relação com a realidade. Sua criatividade é inútil(...)”. Sendo assim, se o Id produz uma solução para o conflito do homem sob a supervisão do Ego, a criatividade útil está gerada. Caso contrário, se o Ego tomar conta inteiramente, a solução do Id será reprimida, gerando a neurose. Portanto, a Teoria Psicanalítica traz à tona o conflito do indivíduo criativo cujas conseqüências têm como o fato de que, se o Ego assume o domínio completo, esse indivíduo fica neurótico e metódico. Entretanto, se o Id imperar, esse ser humano pode viver num mundo distante da realidade, recheado de fantasias e alucinações. Cabe, neste contexto, reforçar a importância da proposta do presente trabalho que visa estabelecer um equilíbrio entre razão e emoção ou, respectivamente, Id e Ego. 5.2.4 – A Criatividade Sob a Ótica da Teoria Neo-Psicanalítica Sem sair dos princípios psicanalíticos freudianos, a Teoria Neo-Psicanalítica trouxe a idéia de uma nova psicanálise mais eficiente, eficaz e abrangente calcada na metodologia da psicanálise ortodoxa. Essa teoria trata da criatividade como um produto de outra entidade chamada Pré-Consciente, a qual possui atributos inconscientes como os Id diferenciando-se deste pelo fato de possuir a liberdade de ação proporcionada pelo Ego. 101 Aguiar(2000) esclarece as características do Pré-Consciente conforme a seguir: “É um sistema do aparelho psíquico nitidamente distinto do sistema inconsciente(...) os conteúdos(conhecimentos e recordações não atualizados, etc)(...) distinguem-se dos conteúdos do sistema inconsciente (Id) à medida que permanecem de direito acessíveis à consciência(Ego). O sistema Pré-Consciente rege-se pelo processo secundário. Está separado do sistema inconsciente pela censura, que não permite que os conteúdos e os processos inconscientes passem para o Pré-Consciente sem sofrerem transformações”. Trazendo essa linha de raciocínio para o contexto da criatividade, conclui-se que a criatividade não é uma conseqüência da ação do Id. A criatividade seria uma expressão do Pré-Consciente que tem o aval do Ego para, além de se manifestar, também inundar o cérebro do indivíduo com idéias. Com isso, pessoa criativa, segundo a teoria neopsicanalítica, é aquela que pode recorrer ao seu Pré-Consciente de maneira mais livre do que outras. 5.2.5 – A Reação ao Freudianismo no Estudo da Criatividade Abandonando a questão de que a criatividade é um meio de reduzir a tensão proveniente de um conflito, novos autores descobriram que a relação do homem com o meio ambiente e, além disso, que a necessidade do homem se auto-realizar são muito importantes para a criatividade, fazendo com que ela se torne um fim em si mesma. Dois autores se destacaram nesse novo paradigma: E. G. Schachtel e Carl R. Rogers. 5.2.5.1 – E. G. Schachtel Schachtel entendia que o homem sente a necessidade de ser criativo para se relacionar com o meio ambiente em que vive. Para ele, a criatividade seria um dado momento em que o homem é capaz de permanecer “aberto” ao mundo, com ênfase na sua percepção alocêntrica, ou seja, focada no objeto; no lugar da percepção autocêntrica, focada em si 102 mesma. 5.2.5.2 – Carl R. Rogers No que diz respeito à criatividade, Rogers desenvolveu dois parâmetros de análise: o estrito, que estabelece a forma de comportamento em função da intuição e da espontaneidade, e o amplo, cuja abrangência é mais global, tendendo para a auto-realização, tendo em vista que o ser humano é motivado pela possibilidade de realizar suas potencialidades perante a sua raça. Com forte atuação na área educacional, Rogers(1974) assim esclarece essa idéia: “Quando a autocrítica e a auto-avaliação são facilitadas, e a avaliação de outrem se torna secundária, a independência, a criatividade e a auto-realização do aluno tornam-se possíveis”. 5.2.6 – A Criatividade Sob a Ótica da Teoria da Análise Fatorial Essa teoria foi iniciada na década de 1960 com análises de J. P. Guilford, que propôs a divisão da mente e do intelecto em capacidades de memória cognitivas, produtivas e avaliativas; e Arthur Koestler, que procurou integrar várias disciplinas num única teoria de criatividade. 5.2.6.1 – J.P. Guilford O psicólogo norte-americano J. P. Guilford entendia que a mente contém 120 diferentes capacidades, das quais são conhecidas apenas 50. Compondo estas que são conhecidas, estão as capacidades de memória e as capacidades de pensamento. Estas últimas são subdividas em capacidades cognitivas, que referem-se ao reconhecimento da informação, capacidades produtivas, encarregadas de gerar novas informações; e as capacidades 103 avaliativas, que julgam as informações. As que se relacionam com a criatividade são as capacidades produtivas, que podem formar pensamentos convergentes ou divergentes. A criatividade entra em ação quando não há um meio para resolver um problema, sendo requisitado nesse momento o pensamento convergente, que apresenta doze fatores: 1. Fluência Vocabular: capacidade de produzir rapidamente palavras que preenchem exigências simbólicas específicas; 2. Fluência Ideativa: capacidade de trazer à tona muitas idéias numa situação relativamente livre de restrições, em que não é importante a qualidade da resposta; 3. Flexibilidade Semântica Espontânea: capacidade ou disposição de produzir idéias variadas, quando é livre o indivíduo para assim proceder; 4. Flexibilidade Figurativa Espontânea: tendência para perceber rápidas alternâncias em figuras visualmente percebidas; 5. Fluência Associativa: capacidade de produzir palavras a partir de uma área restrita de significado; 6. Fluência Expressionista: capacidade de abandonar uma organização de linhas percebidas para ver outra; 7. Flexibilidade Simbólica Adaptativa: capacidade de, quando se trata com material simbólico, reestruturar um problema, ou uma situação, quando necessário; 8. Originalidade: capacidade ou disposição de produzir respostas raras, inteligentes e remotamente associadas; 9. Elaboração: capacidade de fornecer pormenores para completar um dado esboço ou esqueleto de alguma forma; 10. Redefinição Simbólica: capacidade de reorganizar unidades em termos das respectivas propriedades simbólicas, dando novos usos aos elementos; 11. Redefinição Semântica: capacidade de alterar a função de um objeto, ou parte dele, usando-a depois de maneira diversa; 104 12. Sensibilidade a Problemas: capacidade de reconhecer que existe um problema. Pode se perceber a influência da Revolução Cognitiva neste emaranhado de fatores gerados por J. P. Guilford, como se a mente humana não passasse de uma mera estrutura de um programa de computador. 5.2.6.2 – Arthur Koestler Para Koestler, cada idéia faz parte do padrão de pensamento ou comportamento do interior do inconsciente denominado por ele de “matriz de pensamento”. Essa matriz, segundo Koestler, é baseada na construção formada pela história social, cultural e pela experiência pessoal pela qual o indivíduo passou proporcionando-lhe uma idéia central aliada a suas conotações, associações e possibilidades. Nesse processo, a criatividade segue um padrão comum, chamado bissociação. Souza(2001) esclarece essa abordagem de Koestler conforme a seguir: “Koestler(1964) and Kneller(1978) apresenta uma teoria da criatividade que tenta integrar todas as suas expressões-ciências, arte e humor. Sua fundamentação lança recursos da psicologia, da neurologia, da fisiologia, da genética e diversas ciências na proposição de um padrão comum – a bissociação -, que consiste na conexão de níveis de experiência ou sistemas de referências. Koestler argumenta que, no pensamento comum, a pessoa segue rotineiramente em um mesmo plano de experiências, enquanto, no criador, pensa simultaneamente em mais de um sistema de referências”. Através desta teoria, conclui-se que, considerando o estágio das disciplinas englobadas pela bissociação, uma descoberta pode estar a frente de sua época estando o homem dessa época despreparado para vive-la. Com isso, ela acaba desaparecendo e só voltando tempos depois, nos quais um outro criador a descobre e trabalha ela num momento em que a humanidade possa entendê-la. 105 5.2.7 – Criatividade Como Solução de Problemas Outro paradigma sobre a criatividade atribuía sua existência condicionada à existência de problemas. O problema seria o ponto de partida, a razão de existência da criatividade. Conforme essa teoria, o problema é um componente ativo que não varia. O ângulo de visão ou o ponto de referência para a criatividade não diz respeito ao surgimento de uma obra espontânea e sim no problema que ela veio a solucionar proveniente da consciência(Ego) ou da inconsciência(Id). Trata-se de uma teoria intrigante pois a inspiração fica desconsiderada nesse contexto. Muitas vezes, a criatividade surge de uma situação em que não existe um problema real, concreto e imediato. A criatividade pode surgir para dar mais opções sem depreciar a situação anterior. 5.2.8 – Criatividade Como Processo de Criação No final do século XIX, época em que a psicologia começava a ser tratada como ciência, o físico e fisiológico alemão Hermann Von Helmholtz não só contribuiria para o advento do primeiro laboratório de psicologia como também par investigações quanto ao processo de criatividade. Helmholtz colaborou para a descoberta de quatro passos para o processo de criação: - Saturação ou Informação: Thomas Edison acreditava que quando queria descobrir alguma coisa, primeiramente procurava recolher informações sobre experiências e estudos sobre o assunto. Na medida em que o Ego saturou-se de informações, é confiado ao Id a tarefa de encontrar uma solução. - Incubação: momento em que, enquanto o indivíduo fica tranqüilo, relaxa e não pensa no problema; o Id trabalha convertendo as informações coletadas. Helmholtz dizia que tinha melhores idéias 106 durante a subida de uma montanha num dia ensolarado. Outros acreditavam que a melhor maneira para deixar o Id trabalhar é ouvindo música, por exemplo. - Iluminação: momento em que ocorre o estalo de inspiração criativa vindo do Id durante o processo de incubação. Neste momento não se deve fazer um julgamento crítico das idéias por mais banais, ridículas ou absurdas que pareçam ser. Deve-se deixar um canal aberto para que as idéias possam fluir. É nesse momento em que as idéias começam a surgir que se deve registrá-los o mais rápido possível sob a pena de perdê-las por causa da memória. - Verificação: Este é o passo em que as idéias são validadas conforme sua viabilidade em relação à situação. É aqui que se descobre que um pensamento aparentemente absurdo pode conter uma sugestão para uma observação inédita para um problema. As idéias são lapidadas onde algumas são desconsideradas e outras adotadas. Apesar de ter surgido numa época em que a psicologia ainda se encontrava no estado embrionário, limitando-se à ótica da fisiologia, psicofísica e empirismo; a teoria do Processo de Criação traz aspectos, como os da incubação, que são atuais, como os encontrados na teoria do “Ócio Criativo” de Domenico de Masi, a ser abordada mais adiante pelo presente trabalho. 5.2.9 – Criatividade Como Inteligência Manipulativa Essa teoria é apresentada por Erich Fromm em seu livro “Psicanálise da Sociedade Contemporânea”, através do qual aponta diferenças entre os homens e os animais. O autor explica que os animais têm inteligência para resolver problemas imediatos do seu meio. Já o homem tem o diferencial da racionalidade que lhe confere valores mais complexos devido às considerações que ele tem de fazer como, por exemplo, levar em consideração questões filosóficas e científicas para abordar um assunto. 107 Para melhor compreender, explicar e interpretar o mundo, o homem faz uso da inteligência manipulativa para chegar nos estágios qualitativamente superiores. Portanto, o homem possui uma inteligência apta ao comportamento criativo igual a dos animais. Entretanto, possui o diferencial da racionalidade para resolver seus problemas e para atingir seus objetivos. 5.2.10 – O Papel dos Hemisférios Cerebrais Essa teoria propõe que os hemisférios cerebrais esquerdo e direito são providos de funções totalmente diferentes, sendo que, para que haja criatividade, é necessário saber combinar ambos, tendo em vista que são complementares. Souza(2001) traz um fragmento de Alencar(1993) sobre o assunto conforme abaixo: “O que tem sido proposto é que cada hemisfério cerebral teria sua especialidade: o esquerdo seria mais eficiente nos processos de pensamento descritos como verbais, lógicos e analíticos; enquanto o hemisfério direito seria especializado em padrões de pensamento que enfatizam percepção, síntese e o rearranjo geral de idéias”. Sendo assim, a atividade do hemisfério cerebral direito seria especialmente relevante para a criatividade musical e artística, facilitando o uso de metáforas, intuição e outros processos geralmente associados à criatividade. Ribeiro(2004) discorre sobre o uso dos hemisférios cerebrais no dia-a-dia do indivíduo conforme fragmentos a seguir: “Agora pense nas pessoas que vivem mais com o lado esquerdo do cérebro. Tudo na vida delas é arrumadinho, detalhado e certinho. Cada par de meias ocupa sempre o mesmo lugar na gaveta. Tudo é organizado. Tão organizado que essas pessoas não enxergam o mundo ao seu redor. Enxergam cada detalhe da árvore. Mas são incapazes de ver a floresta”. 108 “Por outro lado, existem aquelas pessoas que passam o dia todo sentadas ao redor de barraquinhas de bijuterias, nas feiras hippies. Elas são sonhadoras têm preocupações sociais, lêem grandes filósofos, mas, muitas vezes, não tem nem casa para morar. Elas desenvolveram apenas o lado direito do cérebro: vêem a floresta, mas não conseguem ver a árvore”. “Isso mostra que, para ser bem-sucedido na vida, é preciso trabalhar com os dois hemisférios cerebrais: o esquerdo e o direito. Mas as pessoas, de modo geral, costumam sair da escola trabalhando muito com um único hemisfério cerebral: ou são muito metódicas e pouco criativas, ou têm muita criatividade e nenhum sentido prático”. Estas passagens de Lair Ribeiro são mais um exemplo do ponto de referência no qual reside a proposta do presente trabalho de combinar a razão e a emoção para geração de criatividade, fazendo com que o ser humano liberte-se do exagero racional a fim de tornar sua vida social e profissional mais preparada para eventuais mudanças. 5.2.11 – A Criatividade Sob a Ótica da Teoria do Ócio Criativo O sociólogo italiano Domenico de Masi defende, através dessa teoria, a idéia de que é chegado o momento de cultivar-se o ócio criativo, que se baseia numa simultaneidade entre trabalho, estudo e lazer. O sociólogo, através de Pires(2004), afirma que o ser humano vive em uma sociedade que ele chama de pós-industrial, onde o homem é apenas mais um elemento produtivo, cuja obsessão consumista faz do homem um autômato sem tempo para desenvolver-se como um todo. Ele acredita que é necessário aprender que o trabalho não é tudo na vida e que existem outros grandes valores como o estudo para produzir saber. A diversão para produzir alegria; o sexo para produzir prazer; a família para produzir solidariedade; etc. Nesta mesma entrevista, Pires(2004) consegue de Domenico de Masi a seguinte opinião: 109 “A maioria das pessoas que concorda com as minhas idéias sente uma real necessidade de modificar o modelo de vida imposto ao ocidente americanizado sob o impulso do pensamento empresarial: competitividade cruel, stress existencial, prevalência da esfera racional sobre a esfera emocional”. Rezende(2004), também em entrevista com o sociólogo, obtém a seguinte observação: “(...) as melhores sacadas podem brotar na hora em que não têm absolutamente nada para fazer – a não ser deixar a mente viajar. Não é preciso forçar esse estado de letargia. Ele vem naturalmente, quando a pessoa consegue relaxar – coisa rara na era do consumismo e da informação”. Para chegar a essas conclusões, o sociólogo explica para Rezende(2004) que estudou primeiramente o trabalho dos operários; depois o trabalho dos empregadores. Com o aumento do trabalho intelectual no sistema produtivo, De Masi notou que praticamente não havia distinção entre trabalho e criatividade. Portanto, a teoria de Domenico de Masi vem justificar a proposta do presente trabalho de fazer com que o homem crie a partir de atributos como espontaneidade, e não apenas com a sua mente racional. De fato, muitas idéias importantes surgem em reuniões informais entre membros de uma empresa podendo-se trazer como exemplo o tradicional intervalo para café. 5.3 – Conclusão Conforme o tempo passou, a criatividade ganhou novos conceitos, novas teorias e novos estudiosos que contribuíram para que a evolução da análise desta capacidade criar do ser humano; descobrindo quais são as suas forças impulsionadoras. Infelizmente, apesar de muito estudada e muito mencionada, percebe-se que muito pouco espaço é dado a ela, trazendo a sensação de que o homem possui um poderoso recurso criativo do qual não sabe fazer uso ainda. 110 6 – Breve Abordagem Sobre o Talento O autor do presente trabalho vai tratar da questão do talento sob o ponto de vista de um outro termo que vem sendo muito usado no contexto organizacional: a competência, que reúne alguns requisitos que formam a aptidão natural do ser humano para colocar em prática uma determinada atividade. Fernandes, Luft e Guimarães(1992) definem talento como “capacidade”, entre outras definições. No mesmo dicionário, os autores trazem o conceito de competência como sendo a “capacidade para apreciar e resolver determinado assunto”, o que leva a uma abordagem do talento como base para desenvolvimento da competência. Pinto Jr (2001) esclarece que competente é quem agrega valor a um negócio com os conhecimentos e habilidades que possui. Pinto Jr (2001) afirma que o passado deu mais valor a dois eixos de competências: - Conhecimentos técnicos: privilegiando conhecimento sobre finanças, marketing, engenharia, processos de produção, gestão de recursos humanos, etc; - Habilidades interpessoais: privilegiando a habilidade de trabalhar em equipe bem como saber liderar subordinados. O autor explica que, apesar desses atributos tradicionais continuarem sendo necessários, não são mais suficientes. Ele aponta três novos eixos de competências que são 111 requeridos: - Eixo negocial: capacidade de conhecer o negócio da empresa, da estrutura de competitividade do setor, dos clientes, fornecedores e de fatores críticos para a geração de lucro; - Eixo empreendedor: capacidade de raciocínio estratégico, orientação para resultados, aptidão para criar novos negócios, multifuncionalidade, autonomia em liderança, tolerância a riscos, capacidade de sonhar e transformar sonhos em realidade, inventando as regras do jogo, em lugar de simplesmente seguí-las, capacidade de mobilizar recursos, foco no usuário, agilidade, flexibilidade e criatividade. - Eixo cidadania: capacidade de conciliar seu trabalho com outras dimensões da vida, como você gerencia sua saúde, estresse e qualidade de vida, sua cidadania comunitária, seu grau de conectividade interno e externo, inteligência emocional, capacidade de criar condições para que a genialidade dos outros se manifeste, etc. Pinto Jr (2001) traz ainda uma abordagem individual a respeito de algumas das competências conforme a seguir: - Assertividade: capacidade de respeitar os valores próprios e de outrem; - Autonomia: capacidade de independência administrativa; - Comunicativa: a maneira como a pessoa se comunica consigo mesma e como se expressa para os outros, como resultado da comunicação interior; - Criatividade: conforme já abordado pelo presente trabalho; - Flexibilidade: saber adotar novos paradigmas; - Foco no cliente e no fornecedor: capacidade de pensar mais no lado de fora da empresa; 112 - Idioma: capacidade de domínio do idioma local, inglês e de um terceiro, como alemão, francês, italiano ou espanhol; - Liderança: capacidade de desenvolver e manter um sólido relacionamento com outras pessoas, oferecendo uma visão orientadora, empolgando-as; - Motivação: encontrar e oferecer motivos para fazer mais e melhor aquilo que se deseja fazer; - Negociação: capacidade de estar atento para as formas de argumentação bem como para o plano de ação para uma rodada de negociações; - Orientação para resultados: capacidade de estar alinhado à necessidade e aos objetivos propostos; - Relacionamento interpessoal: capacidade de perceber o estado de espírito, o temperamento, as motivações e as intenções de terceiros; - Trabalho em equipe: capacidade de se comprometer com o objetivo do grupo a ser alcançado; - Visão Estratégica: Poder e profundidade de uma visão do futuro. Pinto Jr (2001) afirma que “a matéria mais cobiçada nesse novo ambiente empresarial é o talento humano que seja capaz de agregar valor e aumentar a competitividade das empresas”. No que diz respeito ao tema do presente estudo, apesar da posição demonstrada pela passagem anterior, existem empresas cujas práticas neutralizam determinadas competências de seus funcionários, sem perceber que, com isso, estão limitando seu próprio leque de capacidades. Essas práticas são abordadas no Capítulo 7. Os funcionários, por sua vez, ainda não se deram conta de que o terceiro milênio demanda de profissionais possuidores das competências supracitadas. Deixando-se levar por algumas limitações, conforme demonstrado no Capítulo 4, menos ainda serão notados. Se o funcionário suprime seu talento, ao mesmo tempo estará esgotando todas as possibilidades de ser considerado dentro da empresa. Aqueles que puderem perceber isso, obterão reconhecimento e serão absorvidos por 113 um mercado de trabalho promissor sob o aspecto da realização profissional. 114 7– Como a Mentalidade Racional das Organizações Limita a Criatividade e o Talento O presente trabalho irá abordar, a partir deste momento, algumas ações praticadas pela empresas atualmente que relacionam-se com tema. Práticas essas que justificam o advento do presente trabalho e servem de alerta para muitos administradores que conduzem suas organizações com predominância de ferramentas racionais, deixando o emocional de lado para atingir seus objetivos. 7.1 – Maior preocupação com práticas tradicionais Conforme a seguir serão apresentados exemplos de como as organizações insistem em fazer uso de meios tradicionais deixando de lado práticas inovadoras. Hamel(2000) afirma que a era do progresso acabou, tendo em vista que “nasceu do Renascimento, chegou à exuberante adolescência durante o Iluminismo, alcançou a maturidade na era industrial e morreu na alvorada do século 21”. O autor explica como a era do progresso influenciou no condicionamento das empresas fazendo com que estas adotassem ações que se tornaram tradicionais, conforme a seguir: “A era do progresso produziu um mundo de gigantes setoriais: Mitsubishi, ABB, Citigroup, General Eletric, Daimler Chrysler, Dupont e seus pares. Essas 115 empresas exploraram as disciplinas do progresso: planejamento rigoroso, melhoria contínua, controle estatístico dos processos, Seis Sigma, Reengenharia e Enterprise Resource Planning(ERP). Década após década, o foco se concentrou obstinadamente na melhoria. Se por acaso as empresas se atrasavam em relação a alguma mudança no ambiente, havia muito tempo para alcançar os concorrentes. As vantagens de titularidade – distribuição global, marcas respeitadas, grande pool de talento, disponibilidade de caixa – concedia-lhes o privilégio do tempo”. O autor alerta para os perigos desta prática conforme abaixo: “Mas, num mundo de mudanças descontínuas, a empresa que se perde numa curva crucial da estrada talvez nunca recobre o tempo perdido. (...) Em algum lugar por aí, há uma arma apontada contra a sua empresa. Algures, não se sabe onde, um concorrente desconhecido, ainda por nascer, tornará sua estratégia obsoleta. É impossível esquivar-se da bala – é preciso atirar primeiro. É necessário ser mais observador do que os inovadores. Quem ainda depender de espada morrerá com um tiro”. Diniz(2001) afirma que poucas são as empresas que conseguem obter resultados concretos das tentativas de transformar executivos em desenvolvedores de pessoas. A razão que ela aponta é a de que, apesar de tudo o que se fala sobre a importância que se deve dar às pessoas, muitas organizações ainda estão mais preocupadas com processos e controle. A autora afirma que é muito difícil convencer um executivo a parar e analisar o desempenho do subordinado. Normalmente, o executivo alega falta de tempo que, para ela, significa ausência de prioridade e disposição para aprender e exercitar dia-a-dia a capacidade de perceber o outro, ouvir, diagnosticar as falhas e planejar o crescimento. Fazendo um paralelo com o costume de do filósofo grego Sócrates, Diniz(2001) afirma que o momento sagrado para o filósofo era o de estar com os discípulos para discutir as questões da existência. Neste contexto, ela explica que existem superiores que, além de não se reunirem com funcionários, se irritam com funcionários inexperientes, preferindo terminar o trabalho sozinhos usando expressões como “deixa que eu faço”. 116 Diniz(2001) traz um alerta sobre o assunto de Saionara Barbosa de Assis, gerente de negócios da Fundação Dom Cabral, de Belo Horizonte, um dos principais centros de treinamento e aconselhamento de executivos dos país: “As empresas não encontram profissionais prontos no mercado. É preciso lapidar os talentos e moldar os futuros sucessores – aqueles que vão levar a empresa no futuro. E isso toma tempo”. Hamel(2003) traz à tona ainda a questão de como as organizações estão presas à estratégias tradicionais conforme a seguir: “Quase se fala em inovação, cortar custos talvez seja o desafio mais terrível de todos. A maior parte das empresas chegou a um estágio em que as estratégias tradicionais de redução de custos acabaram por reduzir seus retornos. Nesse caso, a exemplo de muitos outros, precisamos de uma mentalidade radicalmente avançada. É preciso que fique claro: as empresas estão certas em se preocupar com a eficiência. O problema é que falta a elas criatividade para pensar o processo da eficiência”. É aqui que a falta de desenvolvimento das pessoas compromete a organização pois se o executivo deixa de estabelecer um contato mais sólido com o funcionário, ele acaba defrontando-se com um resultado não esperado, na maioria das vezes, negativo. O autor questiona ainda o fato de as organizações ainda priorizarem a perpetuação do seu sistema dominante em detrimento à inovação: “Eles parecem dispostos a aceitar que suas organizações foram idealizadas para privilegiar sempre a perpetuação, e não a inovação. Controle, Hierarquia, Eficiência, Qualidade – herdamos essas virtudes da era industrial. Contudo, em um mundo descontínuo, o peso da perpetuação tem de ser reavaliado.” “Um terceira crença fatal é a idéia de que a empresa detém o modelo mais bem acabado de fazer negócios em seu setor. Quando as pessoas deixam de desafiar de modo positivo a definição de modelo de negócios da empresa no dia-a-dia, é sinal de que a deterioração já começou”. Eis aqui um exemplo de uma empresa com visão fechada, que olha somente 117 para si. É difícil imaginar que isso existe ainda depois de tudo o que foi dito sobre a necessidade de a empresa não estar somente focada em si, mas no seu ambiente externo. Correa(2001), através de entrevista com Eliyahu Goldratt, autor dos livros “A Meta” e “Necessário, Mas Não Suficiente”, colhe uma opinião sobre essa questão: “É comum que os líderes não enxerguem as soluções. Veja o caso da indústria de software. A solução para o seu problema de crescimento está fora da indústria de programas de computador. Mas eles estão acostumados a olhar apenas par si mesmos”. Muitas vezes, a empresa focada apenas no seu ambiente interno, acaba engessando-se, conforme Blecher(2003) conta, quando a empresa dá origem a uma complexidade que se torna um problema para a organização, conforme a seguir: “Intuitivamente, Constantino Júnior, Presidente da Gol, aponta para um problema que começa a preocupar os estudiosos do mundo dos negócios: o custo da complexidade – a antítese da simplicidade – para as corporações. O excesso de níveis hierárquicos, a centralização rígida, o inchaço do centro de comando e o afastamento da linha de frente costumam traduzir-se em falhas de comunicação, decisões equivocadas e escorregões estratégicos. Assim, quanto mais complicada for uma empresa, maiores serão os prejuízos”. Essa complexidade pode levar, além dos problemas supracitados, ao excesso de burocracia, outro fator que trava a empresa. Rosenburg(2003) tece o seguinte comentário no que diz respeito à questão da burocracia da empresa: “Esse talvez seja um dos itens mais unânimes entre executivos e também um dos mais difíceis de implementar. Os autores acreditam que não haja nada de errado com a burocracia por si só. A questão é quando procedimento e protocolos – necessários em qualquer empresa – assumem proporções asfixiantes”. Outra questão importante dentro do contexto organizacional diz respeito ao processo de aprendizado, o qual é desprezado dentro da empresa através de uma série de vícios racionais. Um deles diz respeito ao Planejamento Estratégico. Cohen(2004), numa entrevista com Henry Mintzberg, aborda a importância do aprendizado para esse processo: 118 “A definição mais popular de estratégia é de um plano deliberado, trabalhado, calculado. Isso ignora o outro lado da estratégia, que é o de um processo de aprendizado, de padrões que se desenvolvem a partir do comportamento das pessoas, em que elas mais ou menos aprendem o caminho. O processo estratégico tem os dois lados, mas a parte emergente tem sido ignorada”. Trata-se de uma declaração de extrema relevância pois esclarece a relação entre Planejamento Estratégico e comportamento de mudança cujo fruto referente ao tema do presente trabalho é justificado pela necessidade de aprendizado constante. 7.2 – Busca das mesmas soluções para diferentes problemas Nesta parte, o presente trabalho apresentará exemplos de como impera a racionalidade no processo de tomada de decisão dentro da empresa e, em especial, dentro da alta gerência, que busca resolver diversos problemas com as mesmas ferramentas do passado, contaminando seus funcionários com o mal condicionamento racional exagerado. Finkelstein(2003) traça um perfil do Chief Executive Officer(Chefe Executivo normalmente conhecido como CEO) cuja caraterística centralizadora o condiciona a fazer uso das mesmas ferramentas para se garantir ou para sobreviver: “É praticamente impossível para o indivíduo em posição de comando perceber o momento em que um empreendimento de proporções colossais começa a fugir a seu controle. A maior parte dos líderes quer reconhecimento por sua determinação e por sua persistência. Muitos CEO’s, em sua caminhada para o fracasso absoluto, aceleram a derrocada da empresa ao lançar mão daquilo que consideram testado e aprovado em sua experiência anterior. Na tentativa de obter o máximo rendimento possível do que acreditam ser seus pontos fortes apegam-se a um modelo estático de negócios. Insistem em fornecer um produto para um mercado que não existe mais, ou deixam de levar em conta as inovações de áreas diferentes daquelas que fizeram da empresa um sucesso. Em vez de avaliar uma série de opções adequadas às novas circunstâncias, recorrem 119 a seu currículo como único ponto de referência, reproduzindo modelos que deram certo no passado”. Cohen(2001) contribui para o presente trabalho não somente discorrendo sobre a questão como também explicando a origem desse hábito: “Os executivos não enxergam o problema, eles propõem uma solução. Tanto na observação de rotina de executivos quanto em experiência em que lhes apresentava casos para resolver. O professor Michel Fiol, da École Des Hautes Études Commerciales (HEC), uma das mais renomadas escolas de administração da França, observou que eles raciocinam primeiramente em termos de solução e só então é que tratam de encontrar um ‘problema’ em que ela se encaixe. ‘Os executivos diagnosticam o problema. Mas quando fazem isso, é porque já têm a solução’”. O autor aconselha àqueles que são vítimas do que ele chama de vícios de pensamento conforme a seguir: “Para lidar com todas as armadilhas no processo de tomada de decisão, não há outro meio a não ser ficar atento e tentar compensar a tendência de incorrer em vícios de pensamento. A começar, talvez, pela sua personalidade. ‘Cada pessoa inicia o processo de decisão por um ponto diferentes’, diz João Mendes de Almeida, da Consultoria de Recursos Humanos DBM. ‘Um tipo afetivo sempre pensa primeiro no impacto da decisão sobre as pessoas. O reflexivo analisa o quadro geral antes de mais nada. O racional tenta dar conta de dados objetivos. Um pragmático tende a ir direto para a implementação. É importante a pessoa conhecer suas características, para compensar o viés que naturalmente tem para olhar um problema’”. Esta declaração atesta ainda mais a necessidade de haver um equilíbrio entre a personalidade racional com as demais, dando mais propriedade não só ao executivo de uma organização, mas também para o funcionário quando este se depara com um problema a ser solucionado. Outra explicação para o efeito da racionalização que faz com que o ser humano 120 use as mesmas soluções é trazido por Chase e Dasu(2001), que explicam o comportamento do homem conforme a seguir: “Queremos desesperadamente que as coisas façam sentido. Quando não há nenhuma explicação disponível para um evento inesperado, simplesmente inventamos uma. (...) Tentamos interpretar um fato acontecido porque queremos uma explicação clara para esse evento. Mentalmente, procuramos apontar as possíveis eventualidades: ‘Se pelo menos isso não tivesse acontecido, as coisas seriam diferentes’. (...) Em primeiro lugar, a causa provável é entendida como algo discreto, não como um processo contínuo cujas etapas se entrelaçam. Por exemplo, quando perdemos o avião, atribuímos a culpa ao ‘congestionamento dentro do túnel’, e não a uma série de acontecimentos que – juntos – foram responsáveis pelo atraso’”. Partindo desse raciocínio, fazendo uma abordagem do contexto organizacional, o presente trabalho traz um fragmento de Cohen(2002) onde este cita Thomas Wood, consultor e professor de estratégia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, o qual discorre sobre como o estabelecimento de metas pode iludir o estrategista: “‘O estabelecimento de metas supõe a empresa como uma máquina racional’, diz Thomas Wood, consultor e professor de estratégia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. ‘Para mim, as metas atendem à função de prover racionalidade a um mundo que não é racional. Você trabalha com a aparência de racionalidade, porque as pessoas querem estar num lugar que faça sentido’”. Dentro desse contexto, a preparação para constante mudanças pode complementar a aparência de racionalidade, tornando o estabelecimento de metas mais seguro quando exposto aos riscos de um mundo não racional. Outra explicação para a resistência à adoção de uma nova solução é trazida por Mano(2003), em entrevista com Donald Sull, professor-assistente da Harvard Business School, conforme a seguir: “Quanto mais bem sucedida é a fórmula, mais difícil será convencer as pessoas a mudá-la quando isso for necessário. Mesmo porque, com o sucesso, as pessoas 121 tendem a se tornar pouco questionadoras. Os processos viram rotina. Os valores se tornam dogmas, mesmo que deixem de fazer sentido. (...) Muitas vezes o momento mais fácil de mudar é quando já existe uma crise e as pessoas reconhecem facilmente que persistir na fórmula antiga não trará mais resultado. Por outro lado, em meio a uma crise, você terá menos energia para reagir”. 7.3 – Crença de que se deve estar sempre certo O medo de errar e de perder é um dos fatores racionais que limitam o ser humano na hora de criar e colocar em prática o seu talento, fazendo com que a estagnação impere e o condicionamento dite as regras assim por diante. Blecher(2004) comenta o assunto ao citar o ganhador do prêmio Nobel de Economia conforme abaixo: “O psicólogo americano Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia ao demonstrar que as pessoas são muito mais sensíveis à perspectiva de perder do que à de ganhar. O risco de perder o que se tem atormenta muito mais os executivos do que a excitação de ganhar algo novo”. Abordando a mesma questão, Finkelstein(2003) também contribui com o presente trabalho conforme a seguinte opinião sobre o comportamentos de alguns Chief Executive Officers em relação à exposição de sua característica falível em relação a alguns stakeholders: “Alguns sentem uma necessidade enorme de acertar sempre em todas as decisões importantes que tomam, em parte porque se julgam responsáveis pelo sucesso da empresa. Reconhecer que não são infalíveis seria o mesmo que colocar em risco sua posição de CEO. Empregados, jornalistas da área econômica e a comunidade de investidores querem que a empresa seja dirigida por alguém com uma habilidade quase mágica de acertar o tempo todo. No momento em que o profissional admite ter errado numa decisão importante, sempre haverá quem diga que ele não era a pessoa talhada para a função”. 122 O autor comenta ainda como o Cheif Executive Officer reage a essas expectativas que surgem do seu raciocínio precipitado: “Todas essas expectativas irreais dificultam tremendamente para o CEO qualquer mudança de rumo. Além disso, se a única opção disponível é persistir na mesma direção, conclui-se que a única resposta possível a um determinado obstáculo será sempre ignorá-lo cada vez mais”. Portanto, esse comportamento é originado pelo fato de o executivo se deixar levar por influências que, indevidamente, acabam pesando no seu raciocínio, levando-o a adotar uma prática mais conservadora baseada nos princípios racionais convencionais, deixando de lado qualquer possibilidade de criatividade e de adoção de um caminho um pouco mais arriscado. 7.4 – Travas mentais que inibem a criatividade Neste espaço, o presente trabalho trará exemplos de como algumas organizações inibem sua própria criatividade através de algumas “travas mentais”, deixando de praticar sua habilidade criativa. Hamel(2000) comenta como uma mentalidade dominante contamina alguns setores: “Em quase todos os setores, as estratégias tendem a aglomerar-se em torno de alguma ‘tendência central’ da ortodoxia. As estratégias convergem porque as fórmulas de sucesso são imitadas em profusão. Mas com muita freqüência o modelo de negócio bem-sucedido se transforma no modelo de negócio de empresas pouco criativas para inventar o seu próprio”. A mentalidade travada em virtude do senso comum de alguns executivos é exemplificada por Hamel(2003) conforme abaixo: 123 “Muitos executivos me perguntam com freqüência: ‘sei que é preciso inovar, mas por que já? Estou tentando equilibrar as contas do próximo trimestre. A hora é de voltar ao básico’. Não tenho nada contra voltar ao básico. Toda empresa tem de fazer as receitas crescer e cortar custos. No entanto, a maior parte das companhias hoje não conseguirá fazer crescer o bolo de receitas se continuar oferecendo a mesma coisa de sempre aos mesmos clientes de longa data pelos mesmos canais desgastados e pelas mesmas técnicas surradas”. Christensen e Raynor(2003) descrevem o condicionamento de um gerente cuja mentalidade perante um sistema que está atrelado à expressão “não mexer em time que está ganhando”: “Os gerentes de nível médio geralmente hesitam em comprometer-se com novos conceitos de produtos cujo mercado não esteja garantido. Se o mercado não se concretizar, a empresa terá desperdiçado milhões de dólares. O sistema, portanto, impõe que esses gerentes respaldem suas propostas com dados confiáveis sobre o tamanho e o potencial de crescimento do mercado almeja pela nova idéia”. Eis um exemplo de como a criatividade é escrava de normas e regras racionais de um sistema que promove a segurança acima de qualquer inovação. 7.5 – A importância do equilíbrio entre racionalismo e criatividade Caracterizando-se por ser base da proposta do presente trabalho, o equilíbrio entre racionalismo e criatividade é de suma importância para organização considerando que a ênfase exagerada em qualquer um deles, isoladamente, não garante o sucesso ou a sobrevivência da empresa. Alguns exemplos serão trazidos conforme se segue. Cohen(2004) afirma que a inovação por si só não garante o sucesso, trazendo um exemplo da empresa Apple, que atua no ramo de computadores e programas de informática: “O exemplo mais claro de descompasso entre criatividade e resultado 124 financeiro é a Apple, uma das organizações mais inovadoras do planeta, que controla apenas 2% dos 180 bilhões de dólares do mercado de PC’s”. “Estratégia não é tudo intuição. Gerentes eficientes obtendo informações de todo lugar, falando com pessoas, interagindo, participando de reuniões, discutindo, falando com clientes, analisando dados ... Há todo tipo de coisa, não é só sentar e sonhar com a estratégia. Você tem de sonhar conectado, sabendo o que acontece”. Cohen(2001) comenta sobre o equilíbrio defendido neste espaço conforme o seguinte: “Mesmo a mais pura das intuições tem de se basear em informações racionais”. “As duas formas de entender o processo de decisão – avaliação de conseqüências ou construção de identidade – exigem diferentes habilidades. ‘Uma põe ênfase na antecipação do futuro e na formação de expectativas. A outra requer o aprendizado de experiências passadas e a formação de identidades úteis’, diz March. Mas as duas perspectivas não são excludentes. Ao contrário, é difícil entender o processo de decisão sem o auxílio de ambas”. Portanto, essas foram algumas das opiniões que concordam com a proposta do presente trabalho de aliar o pensamento racional e o criativo, fazendo com que tanto o funcionário como o executivo “sonhem sem tirar os pés do chão”. 7.6 – Comprometimento do ambiente de trabalho Como conseqüência da limitação da criatividade e do talento do trabalhador, o ambiente de trabalho fica prejudicado por causa de uma série de ocorrências as quais serão exemplificadas neste espaço. A primeira delas é trazida por alguns fragmentos de Cohen(2004) sobre o problema da centralização das decisões para o líder conforme segue: 125 “Nos primeiros estágios de uma empresa ou de um projeto, o líder é a pessoa que mais sabe, e é normal que suas decisões sejam impostas aos outros. O problema é que em pouco tempo as pessoas em volta ficam treinadas a não pensar por si mesmas e, quando mais precisar de ajuda, o líder estará sozinho”. “O problema é que, nos estágios iniciais da empresa, o líder provavelmente sabe mais mesmo. E depois ele rapidamente treina sua equipe para acreditar que ele sempre sabe mais. Uma das maldições dos fortes é que eles treinam todos em volta a não ser fortes”. “Acredito que autonomia não é algo que se possa dar, é algo que as pessoas têm de tomar”. O autor demonstra ainda como ocorre o comportamento passivo do subordinado dentro desse contexto conforme abaixo: “Os subordinados se arrastam quando você lhes pede para fazer algo. Nas reuniões, eles não dão idéias, apenas respondem. Eles não defendem com força as suas crenças. Tornam-se passivos, do tipo ‘diga-me o que é para fazer e eu faço’, o que significa que você está obtendo apenas uma fração pequena de seu talento”. Nóbrega(2002) critica o sistema que limita o talento das pessoas conforme a seguir: “As pessoas nunca foram realmente importantes na equação econômica. Elas são consideradas custos, não recursos. É o sistema que é importante – o one best way(termo em inglês para ‘a melhor maneira’) de Frederick Taylor, a linha de montagem da Ford, a qualidade total de Deming. O sistema é rei porque tem permitido a trabalhadores sem talento e sem preparo se saírem bem. Um operário de linha de montagem não pode ser melhor que a média. Tem de ser medíocre. Atrapalha a produção se não se conformar ao padrão”. Nessa mesma linha crítica, Tom Peters, através de entrevista para Reingel(2003), descreve como as pessoas são deixadas de lado no contexto organizacional: 126 “Esse pessoal que tanto fala de estratégia – Porter, Clayton Christensen – tem idéias maravilhosas, mas deixa de lado aquela parte extremamente tediosa chamada gente. (...) As organizações só mudarão se forem capazes de descobrir aqueles indivíduos à margem da empresa, pouco notados, que estão sempre em busca de algo novo. Essas pessoas devem ser estimuladas”. Larry Farrel, consultor americano que lançou o livro “The Entrepreneural Age”(“A Era do Empreendedorismo”) responde a Rosenburg(2002) como aconselha executivos de grandes empresas a lidar com seus gerentes de maneira que estes sejam mais empreendedores: “Uma cultura favorável ao empreendedorismo. A alta direção tem de aceitar a idéia de que é bom ter funcionários mais independentes e inovadores”. Comentado sobre a mesma questão, Vassalo(2004) opina sobre como a questão da inclusão das pessoas no meio empresarial não passa de moda para algumas empresas: “Na última década, falar em pessoas como o centro da estratégia das empresas tornou-se uma espécie de modismo. E para muitas organizações não passa disso – um modismo”. Cohen(2004) explica ainda como o modismo pode ser uma armadilha também para as pessoas sob uma ótica mais generalista: “A razão de eu ser contra modismos é que eles fazem as pessoas pararem de pensar. Isso não significa que você não possa usar as idéias que surgem, significa que você deve usá-las inteligentemente, adequando-as ao seu caso” Partindo dessa linha de raciocínio, Pinchot(2003) opina sobre o intraempreendedorismo, termo que ele usa para identificar o empreendedor de dentro da empresa: “Sempre houve intra-empreendedores nas companhias dando idéias e implementando novos processos, novos serviços. Mas estar alerta para eles ajuda a influenciar a cultura que favorece sua atuação. (...) Se a cultura não for favorável a eles, há menos chance de surgir as mudanças necessárias à sustentação do negócio”. Um exemplo de uma cultura que ajuda os funcionários a explorarem seu potencial é trazida por Mano(2001), em sua resenha sobre o então lançamento do livro 127 “Empresa Em Movimento” de Benoit Grouard e Francis Meston, conforme a seguir: “Trata-se de criar uma dinâmica para a mudança entre os funcionários: deixar claro o papel que cada um desempenhará e estimulá-los a participar. ‘O objetivo é transformar esse grupo em defensores proativos e entusiastas da mudança’, dizem os autores. ‘Nenhuma empresa conseguirá explorar bem sequer a metade, um quarto ou até menos do potencial das pessoas limitando-as às suas funções originais”. Portanto, através das opiniões colhidas neste espaço pode-se ter uma idéia de como foi o papel das pessoas dentro do contexto organizacional: passivo e , por falta de espaço, carente de uma participação mais ativa no ramo de atividade de sua empresa. 128 8 – Conclusões Considerando as abordagens trazidas pelo presente trabalho, que destacou as condições pelas quais o ser humano transformou o meio em que vive, influenciando a sociedade sob o ponto de vista global, descobrindo diferentes caminhos para explicar seu comportamento racional e criativo; conclui-se que, ainda que se tenha escrito e mencionado muita coisa sobre a importância de haver um equilíbrio entre a forma de pensar racional e emocional, empregadores e empregados muito pouco foi feito para tomar esse caminho. O mundo ainda vive ainda a euforia das descobertas da computação e dos sistemas de informação, voltando seu foco para o processamento das informações de uma forma rígida onde a flexibilidade ainda não faz parte do vocabulário organizacional. As ferramentas de gestão difundidas por muitos pensadores vão sendo incorporadas à mentalidade excessivamente racional da sistemática, onde o tão defendido pensamento sistêmico abrange quase todos os pontos a serem considerados, deixando o mais importante deles para trás: as pessoas. Isso fica evidente atualmente ao prestar-se atenção na maneira com que os executivos dirigem suas empresas no dia-a-dia. Agindo como se tudo se resumisse numa verdadeira questão de vestibular, os executivos gastam maior parte do seu tempo tentando resolver essa equação buscando combinar sua experiência bem sucedida no passado com todos os seus recursos tangíveis disponíveis no momento, esquecendo-se do recurso intangível que é o humano, capaz de trazer respostas criativas para diferentes problemas em diferentes 129 ocasiões. A partir do momento em que o executivo dedicar mais atenção aos seus colaboradores, não importando a camada funcional ocupada por estes, o leque de soluções para sanar um problema ou adotar um novo produto abrir-se-á mais ainda sem mencionar ainda na contribuição para o bom relacionamento entre ambos tendo em vista que esse sinal de consideração diminuirá a distância entre as camadas funcionais ocupada pelo empregador e seu funcionário. Por sua vez, o funcionário contribui para a continuidade desse cenário deixando de se impor, escolhendo a passividade como forma mais segura de não se expor ao que considera ridículo. Conforme abordado pelo presente trabalho, o homem foi condicionado a obedecer ao seu superior durante séculos. É chegada a hora dele despir-se desse fardo e superar a barreira que o separa do contato mais íntimo com o seu produto ou serviço. Não basta que somente o executivo da empresa mude sua mentalidade. O funcionário também tem de impor a sua posição de colaborador, contribuindo realmente para o aperfeiçoamento do objeto do negócio, sentindo-se realizado pela participação no sucesso do negócio ou entendendo racionalmente e emocionalmente porque sua idéia não foi adotada perante uma justificativa apresentada pelo seu superior. Por fim, o presente trabalho conclui que, apesar de a humanidade ter evoluído consideravelmente sua tecnologia e seu modo de pensar e agir com normas e regras diferentes, o homem persiste ainda em ser escravo delas, acomodando a si próprio e ao seu próximo. Este trabalho espera conscientizar tanto o executivo quanto o funcionário a repensarem seus papéis dentro da organização, ao mesmo tempo em que busquem uma reorganização de suas vidas pessoais através da atenção ao modo como o relacionamento interpessoal e intrapessoal está sendo conduzindo, bem como até que ponto estão sendo muito racionais ou muito emocionais em determinados momentos. 130 Referências Bibliográficas 1.1 - Livros ABREU, Antônio Suarez. A Arte De Argumentar Gerenciando Razão E Emoção. 2.ed. Cotia: Ateliê Editorial, 2000. AGUIAR, Maria Aparecida Ferreira de. Psicologia Aplicada à Administração. 2.ed. São Paulo: Excellus, 2000. ALENCAR, Eunice Soriano de. Criatividade. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1993. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. & MARTINS, Maria Helena. O Pensamento Mítico. São Paulo: Moderna, 1992. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. & MARTINS, Maria Helena. Filosofando – Introdução à Filosofia. 2.ed. São Paulo: Moderna, 1993. BUENO, Silveira. Minidicionário Da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 2000. CHAUÍ, Marilena. Introdução à História da Filosofia. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1998 CHAUI, Marilena. Convite À Filosofia. São Paulo: Ática, 2000. CHAUI, Marilena. Introdução da Filosofia – Dos Pré-Socráticos A Aristóteles. São Paulo: Schwarcz, 2003. 131 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução À Teoria Geral Da Administração. São Paulo: Campus, 2001. CLARET, Martin. Mente Criativa. São Paulo: Martin Claret, 2002. COLEMAN, Vernon. O Poder Da Mente. Rio de Janeiro: Imago, 1988. COTRIM, Gilberto. Fundamentos Da Filosofia: História E Grandes Temas – 2 Grau. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2000. FERNANDES, Francisco, LUFT, Celso Pedro, GUIMARÃES, F. Marques. Dicionário Brasileiro Globo. 24.ed. São Paulo: Globo, 1992. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário Aurélio. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 1988. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio Da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. GARDNER, Howard. A Nova Ciência Da Mente. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996. GOLEMAN, Daniel. Inteligência Emocional. 1.ed. São Paulo: Objetiva, 2001. HENNEMAN, Richard H. O Que É Psicologia. São Paulo: Olympio, 1996. PINTO JR, Benedito. Paradigmas Para O Século XXI. São Paulo: Nobel, 2001. MALTZ, Maxwell. Liberte Sua Personalidade. São Paulo: Summus Editorial, 1981. MARTINS, Gilberto de Andrade. & LINTZ, Alexandre. Guia Para Elaboração De Monografias E Trabalhos De Conclusão De Curso. 1.ed. São Paulo: Atlas, 2000. REALE, Giovanni, ANTISERI, Dário. História Da Filosofia. São Paulo: Paulus, 1990 ROGERS, Carl. A Terapia Centrada No Paciente. Lisboa: Moraes Editores, 1974. SENGE, Peter M. A Quinta Disciplina. 16 ed. São Paulo: Best Seller, 2004. SEVERINO, Antônio José. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1992. SOUZA, Roberto Antônio De Mello e. Desenvolvimento De Liderança Na Empresa. São Paulo: Duas Cidades, 1973. 132 2 – Sites BOEIRA, Sérgio Luís. Múltiplas Inteligências E Razão Aberta: Sustentabilidade Como Resistência. http://www.sj.univali.br/agenda21/contribuicoes-internas/as-multiplas-inteligencias-e-arazao-aberta.html Pesquisa realizada em 20/08/2001 CHAUÍ, Marilena. Os Vários Sentidos Da Palavra Razão. http://www.internewwws.eti.br/coluna/filosofia/0007.shtml Pesquisa realizada em 21/08/2004 COBRA, Rubem Queiroz. Brentano. http://www.cobra.pages.nom.br/ecp-brentano.html Pesquisa realizada em 13/09/2004 CUNHA, Marcus V. John Dewey – Quem É?. http://www.cefa.org.br/gtpragmatismo/gt.asp?CodGT=11 Pesquisa realizada em 17/08/2004 FELTES, Heloísa Pedroso De Moraes. Arquiteturas Mentais E Concepções De Consciência Na Ciberarte. http://www.artecno.ucs.br/proj_tecnicos/sub5.htm 23/08/2004 FONTES, Carlos. Filosofia De Platão – Análise E Obras De Platão. http://afilosofia.no.sapo.pt/PLATAO.htm Pesquisa realizada em 13/08/2004 HAMLYN, D. W. Uma História da Filosofia Ocidental. http://geocities.yahoo.com.br/mcrost09/uma_historia_da_filosofia_ocidental_04.htm Pesquisa realizada em 29/07/2004 HEGENBERG, Leônidas. Corpo – Mente: Nova fase. http://www.criticanarede.com/fil_corpomente.html Pesquisa realizada em 30/04/2004 133 RIBEIRO JR, Wilson A. O Pensamento de Aristóteles http://warj.med.br/fil/fil06.asp Pesquisa realizada em 19/08/2004 LIMA, Rodrigo Polotto. A Religião Popular. http://www.egipciosantigos.hpg.ig.com.br/religiaopopular.htm Pesquisa realizada em 20/07/2004 MATOS, Maria Amélia. Behaviorismo Metodológico e Behaviorismo Radical. Pesquisa realizada em 05/09/2004 MOTA, Gustavo. Marketing Com Criatividade e Orçamento Limitado. http://www.portaldomarketing.com.br/artigos/marketing%20com%20criatividade%20e%20 orc%20lim.htm Pesquisa realizada em 03/05/2004 NETO, João Cabral de Melo. É Mineral A Linha Do Horizonte, Nossos Nomes, Essas Coisas Feitas. http://www2.uerj.br/~labore/computadores_jose_mauro_meio.htm Pesquisa realizada em 20/04/2004 PIRES, Luiz Carlos. Entrevista: Especial Domenico de Masi. http://www.nova-e.inf.br/exclusivas/domenicodemasi.htm Pesquisa realizada em 03/10/2004 PESSANHA, José Américo Motta. Comentários Sobre A Vida e Obra Dos Pré-Socráticos. www.cfh.ufsc.br/~evandro/talesdemileto.htm Pesquisa realizada em 02/09/2004 QUEIROZ, João Novos Modelos De Cognição Encorporada, Situada e Contextualizada Em Ciências Cognitivas. http://www.marilia.unesp.br/atividades/extensao/revista/v2/artigo5.htm Pesquisa realizada em 20/04/2004 RESENDE, Juliana. Domenico De Masi Adverte: “Escola É Inimiga Do Ócio Criativo”. http://www.educacional.com.br/entrevistas/entrevista0019.asp Pesquisa realizada em 21/10/2004 134 RIBEIRO, Lair. O Que Faz A Diferença?. http://www.motivaonline.com.br/smu_vmat.php?s=441&vm_idmat=32869 Pesquisa realizada em 16/10/2004 RICHER, Jack. Quem É Hilary Putnam. http://www.cefa.org.br/jornal/noticias/detalhe.asp?CodNoticia=120 Pesquisa realizada em 13/09/2004 SILVA, Antônio Rogério da. A História Da Ciência Cognitiva. http://www.geocities.com/discursus/textos/000406.html Pesquisa realizada em 20/04/2004 SOUZA, Bruno Carvalho Castro. Teorias Da Criatividade. http://www.criativ.pro.br/html/faq.htm Pesquisa realizada em 03/05/2004 3 – Revistas BLECHER, Nelson. Faça Simples. Revista Exame. Número 6. Edição 788. Seção Especial. P. 39, 40, 43, 44, 47 e 48. São Paulo: Abril, 26 de março de 2003. BLECHER, Nelson. Decisões – Chame O Dr. Freud. Revista Exame. Número 11. Edição 819. Seção Gestão & Idéias. P. 96. São Paulo: Abril, 09 de junho de 2004. CHASE, Richard B., DASU, Sriram. Você Sabe O Que Seu Cliente Está Sentindo – Efeitos Da Racionalização. Revista Exame. Número 15. Edição 745. Seção Marketing. P. 91. São Paulo: Abril, 25 de julho de 2001. COHEN, David. Você Sabe Tomar Decisão? Revista Exame. Número 16. Edição 746. Seção Reportagem De Capa. P. 41, 42, 444, 46, 47, 50 e 52. São Paulo: Abril, 08 de agosto de 2001. COHEN, David. Metas: Dá Para Chegar Lá? Revista Exame. Número 19. Edição 775. Seção Reportagem De Capa. P. 47, 48, 49, 50 e 51. São Paulo: Abril, 18 de setembro de 2002. COHEN, David. Não Faça Planos, Trabalhe. Revista Exame. Número 1. Edição 809. 135 Seção Idéias Henry Mintzberg. P. 51 e 52. São Paulo: Abril, 21 de janeiro de 2004. COHEN, David. Nunca Abuse Do Poder. Revista Exame. Número 05. Edição 813. Seção Entrevista. P. 62, 63 e 64. São Paulo: Abril, 17 de março de 2004. COHEN, David. O Ranking Da Inovação. Revista Exame. Número 12. Edição 820. Seção: Especial Empresas. P. 108. São Paulo: Abril, 23 de junho de 2004. CORREA, Cristiane. Os Líderes Estão Cegos. Revista Exame. Número 20. Edição 750. Seção Entrevista. P. 98. São Paulo: Abril, 03 de outubro de 2001. CHRISTENSEN, Clayton, RAYNOR, Michael. O Imperativo Do Crescimento. Revista Exame. Número 22. Edição 804. Seção Idéias. São Paulo: Abril, 29 de outubro de 2003. DEL NERO, Henrique Schützer. Ciência Cognitiva E A Nova Mente. São Paulo: Collegium Cognitio, p.217, 1997 DINIZ, Daniela. Ao Discípulo Com Carinho. Revista Exame. Número 23. Edição 753. Seção Liderança. P. 136, 137, 138, 139 e 140. São Paulo: Abril, 14 de novembro de 2001. FILLOUX, J. C. A Personalidade. Revista Veja – Coluna “Saber Atual”. Número 58. São Paulo: Abril, 1997. FINKELSTEIN, Sidney. Como Quebrar Uma Empresa. Revista Exame. Número 16. Edição 798. Seção Reportagem De Capa. P. 46, 48, 49, 51 e 52. HAMEL, Gary. Liderando A Revolução. Revista Você S. A. Edição 29. Seção Livro do Mês. Ano 3. P. 86, 88, 89, 90, 91 e 92. São Paulo: Abril, novembro/2000. HAMEL, Gary. Inovação Já. Revista Exame. Número 3. Edição 785. Seção Gestão. P. 62 a 65. São Paulo: Abril, 12 de fevereiro de 2003. LOPES, Josiane. Matemática – Uma Proposta de Ensino A Partir Da teoria Das Inteligências Múltiplas. Revista Nova Escola. Número 101. Editora Fundação Victor Civita. Abril, 1997. MANO, Cristiane. Começar De Novo. Revista Exame. Número 22. Edição 752. Seção Gestão Esperta. P. 120. São Paulo: Abril, 31 de outubro de 2001. MANO, Cristiane. Porque Boas Empresas falham? Revista Exame. Número 14. Edição 796. Seção Entrevista Donald Sull. P. 94, 95 e 96. São Paulo: Abril, 09 de julho de 2003. MATTOS, Lúcia Cassalto. Inteligência Emocional. Revista Saúde. São Paulo: Abril, 05 de abril de 1997. 136 NÓBREGA, Clemente. O Inventor Da Administração E O Desafio Brasileiro. Revista Exame. Número 10. Edição 766. Seção Inovação Gestão. P. 89. São Paulo: Abril, 15 de maio de 2002. PINCHOT, Gifford. Quem Inova Renova. Revista Exame. Número 20. Edição 802. Seção Em Primeiro Lugar. P. 22. São Paulo: Abril, 01 de outubro de 2003. REINGEL, Jennifer. A Volta Do Bruxo. Revista Exame. Número 23. Edição 805. Seção Especial Tom Peters. P. 96. São Paulo: Abril, 12 de novembro de 2003. ROSENBURG, Cynthia. Os Novos Heróis. Revista Exame. Número 15. Edição 771. Seção Gestão Esperta. P. 100, 101 e 102. São Paulo: Abril, 24 de julho de 2002. SALVADOR, Arlete, CAPRIGLIONE, Laura. Quando A Emoção É Inteligência. Revista Veja. Edição 1478. Número 2. Ano 30. São Paulo: Abril, 15 de janeiro de 1997. VASSALO, Cláudia. Um Negócio Bom Para Os Dois. Revista Exame. Número 18. Seção Capa Empresas. P. 29 e 30. São Paulo: Abril, 15 de setembro de 2004. 4 - Monografias ABATH, André Joffily. Intencionalidade e Naturalismo - Monografia de Conclusão do curso apresentada para Universidade Federal da Paraíba . João Pessoa: Centro de Ciências Humanas Letras e Artes - Departamento de Filosofia, 2000. SOUZA, Bruno Carvalho Castro. Criatividade: Uma Arquitetura Cognitiva - Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Em Engenharia de Produção Da Universidade Federal De Santa Catarina. Florianópolis, 2001. 5 - E-mails GARITA, Rosaly Mara Senapeschi. A História da Filosofia. [email protected] Observação: material de aula sem rigor científico. 2001 137 FENNIX. Informações Sobre A Filosofia Mítica. [email protected] Observação: material sem rigor científico. 2004 NATALI, Marco. Inteligência Emocional – Estratégias De Alfabetização Emocional Do Transformacionalismo – Segundo Dr. Marco Natali [email protected] Observação: material enviado via e-mail pela orientadora em 15/09/2004
Download