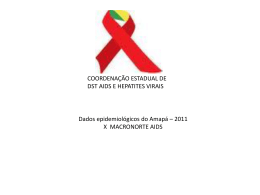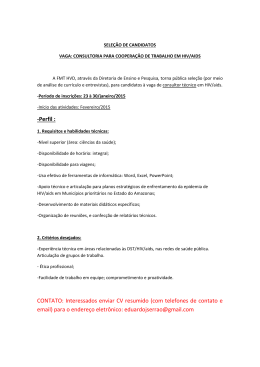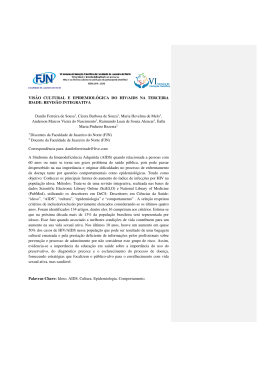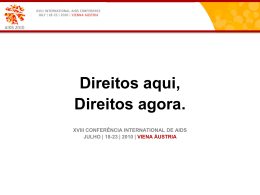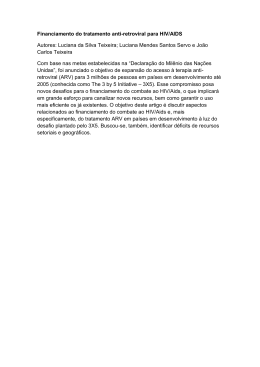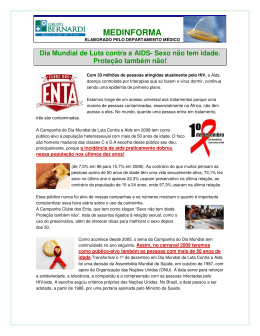De que lado está a Antropologia? Embates disciplinares numa pesquisa etnográfica entre especialistas da AIDS na África do Sul Guillermo Vega Sanabria Departamento de Ciências Sociais Universidade Federal de Viçosa Viçosa, MG – Brasil (+55 31) 3899 3445 [email protected] Resumo O texto relata minha experiência enquanto pesquisava o “debate da AIDS” na África do Sul. Em particular, exploro as críticas de alguns de meus interlocutores contra o suposto “relativismo” e a postura inconveniente dos antropólogos face à controvérsia. Em meio a constantes apelos morais, desconfiança e mesmo aberto rechaço ao pensamento antropológico, analiso minha inserção no campo à luz das conflitantes relações que historicamente a antropologia feita na África do Sul tem travado com o conhecimento oficial. A dificuldade habitual da pesquisa etnográfica é atualizada neste caso, mas ele também coloca um novo desafio: como pode o conhecimento antropológico contribuir para uma melhor compreensão de disputas, sobretudo quando, do ponto de vista “nativo”, tais disputas parecem insuperáveis? PALAVRAS-CHAVE: HIV/AIDS & África do Sul; controvérsias científicas – sociologia moral. HIV/AIDS & antropologia; De que lado está a Antropologia? Embates disciplinares numa pesquisa etnográfica entre especialistas da AIDS na África do Sul1 Guillermo Vega Sanabria Permitam-me começar esta apresentação falando de uma outra apresentação. Trata-se de uma conferência ministrada em 2014 pelo antropólogo Chris Colvin na Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul. O título da apresentação de Chris era Forget Anthropology! At Play in the Fields of Public Health. A expressão At play introduz certa ambigüidade, pois, numa tradução bem literal, sugere alguma coisa relacionada a brincadeira (play), mas, ao mesmo tempo, a expressão at play é usada em inglês para falar de algo que é colocado em causa, que está em questão, em disputa, que se põe em jogo. Numa tradução duvidosa, mas levando em conta essa ambiguidade, o título da palestra de Chris Colvin poderia ser em português: “Esqueça a Antropologia! Brincando no campo da Saúde Pública” ou, mais razoavelmente, “Esqueça a Antropologia! O que está em questão na Saúde Pública”. Além do doutorado em Antropologia, Chris tem mestrado em Epidemiologia. Tive a oportunidade de conhecê-lo em 2011, durante minha pesquisa de campo na África do Sul. Ele trabalha na Escola de Saúde Pública e Medicina da Família da Universidade da Cidade do Cabo sendo, conforme suas próprias palavras, o “cara das ciências sociais” numa unidade de doenças infecciosas. Com um pé em cada campo, Chris tratava na sua palestra da relação entre a Antropologia e a Saúde Pública. Mais exatamente, da relação hierárquica que existe entre esses dois campos. Ele recorria, para tanto, à metáfora da handmaid –da criada, da serva, hoje diríamos a empregada doméstica–, sendo que caberia à Antropologia o papel da pessoa, tipicamente da mulher, que se coloca ao serviço ou às ordens de outrem. Chris se utilizou de outras metáforas para ilustrar ainda mais esta ideia, como mostra a seguinte tabela: 1 Comunicação apresentada no Simpósio 07: Epistemologias e moralidades contestadas: as ciências sociais em diálogos interdisciplinares, IV Congresso Latino Americano de Antropologia, México D.F., 07 a 10 de outubro de 2015. Uma versão ligeiramente modificada deste texto foi apresentada no VII Congresso Latino Americano de História da Ciência e da Tecnologia, realizado em 2014 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 2 Tomado de Colver, Ch. (2014). Chamo a atenção apenas para uns poucos elementos aí colocados. Por exemplo: enquanto os antropólogos são vistos como “contadores de histórias fofas” [fluffy storytellers] e “narradores não confiáveis” [unreliable narrators], as pessoas da Saúde Pública são descritas como sendo pragmáticas, realistas, pé-no-chão, técnicos determinados, etc. [hard-nosed e clear-eyed technicians]. Enquanto os antropólogos são referidos como “outsiders críticos” [critical outsiders], as pessoas da Saúde Pública seriam “positivistas que cumprem com objetivos” [positivist wish fulfillers]. Antropólogos são exploradores, desbravadores [pioneers] e, afinal, “colonos” ou “colonizadores” [settlers] enquanto as pessoas da Saúde Pública acabam se tornando nossos “nativos” [indigenous]. Evidentemente, a maior parte dessas metáforas parecem negativas. Elas não sugerem um relacionamento igualitário, nem produtivo e satisfatório para ambas as partes. Pelo contrario, tais metáforas falam de inversão, de oposição e mesmo de aberta hostilidade. E, como na imagem da empregada doméstica, algumas delas são embasadas no gênero e na raça de 3 formas bem concretas. O que me interessa destacar na provocação do meu colega Chris Colvin na África do Sul é como essa oposição entre o campo da Antropologia e o da Saúde Pública lança luz sobre uma relação enquadrada em termos de diferença, conflito, hierarquia e, em última análise, falta de hospitalidade. A reoflexão de Chris chamou minha atenção porque ela ecoa minha própria experiência enquanto pesquisava na África do Sul. Vou me referir em seguida a dois assuntos, a propósito dos desafios que encontrei ao fazer etnografia num contexto submetido a tensões similares como as descritas por Chris Colvin. O primeiro é a relevância do conhecimento antropológico no contexto da Saúde Pública. O segundo são as formas de engajamento possíveis num campo altamente problemático como é o do chamado debate da AIDS na África do Sul. O debate da AIDS na África do Sul Conforme o UNAIDS, a África do Sul se encontra em meio a uma epidemia de HIV, com mais de cinco milhões de pessoas soropositivas2. Em 2000, com quase 80.000 recém-nascidos HIV positivos por ano no país, o uso de um antirretroviral chamado nevirapina oferecia a possibilidade de reduzir a transmissão do vírus de 30.000 a 40.000 crianças por ano. O medicamento fora oferecido de graça pelo fabricante ao governo sul-africano por cinco anos, mas este recusou anunciando que introduziria um programa abrangente para prevenir a transmissão do HIV de mãe para filho. O programa incluía dois projetos-piloto em cada uma das nove províncias sul-africanas, onde seria oferecida a nevirapina, aconselhamento e fórmulas infantis como alternativa ao leite materno durante dois anos; após esse período uma avaliação deveria ser feita. A razão dada pelo governo para este acesso limitado ao medicamento era a necessidade de “ter uma melhor compreensão dos desafios operacionais de um programa de intervenção em larga escala”, além de avaliar a eficácia e segurança da nevirapina. Em abril desse mesmo ano o então presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, enviou uma carta a vários líderes mundiais expressando suas dúvidas a respeito de que o HIV fosse a causa exclusiva da AIDS. Na carta ele ressaltava as “causas sócio-econômicas” da doença e convidava cientistas que compartilhavam esse ponto de vista a formarem um painel internacional que, junto a cientistas da corrente “ortodoxa” −aqueles que afirmam que o HIV 2 Ver http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/southafrica/ (acesso em 29 de janeiro de 2013). 4 é a causa da AIDS−, assessorasse seu governo nas respostas à epidemia na África do Sul. O presidente Mbeki lembrava no texto a ordem dada no ano anterior a sua Ministra de Saúde, Manto Shabalala-Msimang, de “pesquisar sobre as diversas controvérsias que estão acontecendo entre cientistas que estudam o HIV/AIDS”, no intuito de “reunir um painel internacional de cientistas que discutisse todas estas questões num ambiente tão transparente quanto possível”. Em julho daquele mesmo ano, no discurso de abertura da XIII Conferência Internacional da AIDS, realizada em Durban, Mbeki evitou qualquer alusão ao HIV e, em seu lugar, focalizou de novo a pobreza como poderoso cofator da AIDS. No discurso o presidente também defendeu os grupos que contestavam o HIV como causa da AIDS. Em resposta, mais de cinco mil cientistas assinaram a chamada declaração de Durban, na qual asseveravam categoricamente que o HIV é a causa da AIDS e que afirmar o contrário causaria muitas mortes. Desde então o presidente foi alvo de intensas críticas e seu governo acusado de oferecer uma resposta inadequada à epidemia na África do Sul. Após muitas tentativas de convencer à Ministra da Saúde da urgência de ampliar o programa de prevenção da transmissão de HIV de mãe para filho, a Treatment Action Campaign (TAC), que se tornaria a mais prestigiosa ONG da AIDS nesse país, contestou a constitucionalidade das medidas tomadas pelo governo, alegou a violação do direito aos serviços de saúde das mães que não tinham acesso aos projetos-piloto e instaurou uma ação judicial no Supremo Tribunal de Pretória exigindo a distribuição do medicamento em todo o país. O juiz Chris Botha se pronunciou em dezembro de 2001 a favor da TAC, ordenando ao governo: 1) disponibilizar a nevirapina para as mães HIV positivas que dariam à luz em instituições de saúde públicas; e 2) apresentar ao Tribunal um plano para ampliar a provisão do medicamento no setor de saúde pública em todo o país. O governo recorreu desta decisão na Corte Constitucional e o juiz Botha concedeu à TAC uma liminar enquanto o recurso era apreciado. A Corte aceitou se pronunciar neste caso admitindo que a disputa envolvia um assunto de cunho constitucional, mas rejeitou o recurso do governo. Como o governo não apresentou nenhum argumento convincente acerca das razões pelas quais não poderia cumprir a ordem do Supremo Tribunal, a Corte Constitucional ordenou ampliar a provisão de nevirapina, dispor conselheiros e tomar medidas razoáveis para aumentar o número de locais de aconselhamento e testagem para HIV em todo o setor da saúde pública. 5 O litígio judicial pelo acesso à nevirapina e pela prevenção da transmissão do HIV de mãe para filho constituiu o momento inaugural do que ficaria conhecido como o “debate da AIDS” na África do Sul. Neste debate se enfrentaram, por um lado, os defensores do consenso científico acerca de que o HIV causa AIDS e de que os antirretrovirais são o melhor tratamento disponível e, por outro, os defensores de explicações chamadas de “dissidentes” ou “negacionistas”. Os “negacionistas” são um grupo minoritário, mas ao mesmo tempo bastante heterogêneo; têm em comum o fato de defender que a AIDS não existe ou que tem outras causas como o uso de drogas, uma nutrição deficiente e outros fatores socioeconômicos, notadamente a pobreza e a marginalidade. Eles também contestam a segurança e a efetividade dos antirretrovirais e alguns afirmam que é precisamente a alta toxicidade destes medicamentos a verdadeira causa da AIDS. Muitos dos negacionistas também denunciam os interesses econômicos das companhias farmacêuticas. Na gestão da Ministra da Saúde Nkosazana Dlamini-Zuma, na presidência de Nelson Mandela (1994 a 1999), parecia existir cooperação entre a TAC e o Departamento de Saúde sulafricano. Nessa época, a TAC evitou pressionar o governo para que fornecesse antirretrovirais cujo custo, de fato, os tornava inacessíveis. Quando em 1997 o Parlamento sul-africano reformou o Medicines Act para permitir a produção local de versões genéricas, 39 companhias farmacêuticas instauraram uma demanda contra o governo por infringir a lei de patentes. A TAC se juntou então ao governo e ajudou a exercer a pressão que levaria às farmacêuticas a desistir do processo. A organização também se mostrou bem sucedida no lobby e na campanha pública para reduzir os preços dos medicamentos. As divergências entre a TAC e o governo só começariam a se revelar no final de 1999. Conforme Heywood (2003), quando a TAC instaurou sua ação legal pelo acesso à nevirapina em 2001, já na gestão do Presidente Thabo Mbeki e da Ministra Manto Shabalala-Msimang, nenhuma das declarações do governo aludia aos argumentos dos “dissidentes” ou “negacionistas” sobre antirretrovirais, nem questionava o HIV como causa da AIDS, para justificar sua falha na implementação de um programa pré-natal para prevenir a transmissão do HIV. Porém, de modo mais ou menos oculto, a relação do então Presidente Mbeki com os “negacionistas” da AIDS parecia ser a principal razão para os atrasos e as interferências do governo, como têm apontado repetidamente vários autores (Berger & Kapczynski, 2009; Cameron, 2005; Fassin, 2007; 6 Geffen, 2010; Gevisser, 2009; Hertwitz, 2006; Heywood, 2004; Myburgh, 2007; Nattrass, 2007; Sitze, 2004)3. Desde então as discrepâncias entre “ortodoxos” e “dissidentes” ou “negacionistas” da AIDS na África do Sul passaram a ser descritas como “uma luta entre ativistas, cientistas e trabalhadores da saúde, por um lado, e uma estranha aliança de dissidentes, charlatões e líderes políticos, pelo outro” (Geffen, 2010, contracapa). Neste molde, o debate tem sido objeto de um número crescente de análises, as quais privilegiam a economia política da epidemia no país e o drama humanitário causado pelo apoio do governo Mbeki aos “negacionistas” da AIDS4. Num ambiente onde tem imperado uma linguagem de acusação e de denúncia, os apelos à “governança científica da medicina”, à “medicina baseada em evidências”, à tomada de posição e ao “combate ao negacionismo” feitos pelos defensores do consenso científico sobre a AIDS levantam até hoje questões atinentes às formas de produção de sensibilidades e de regulação moral que reforçam a compreensão da AIDS como um problema social e a configuram como uma causa pública. A AIDS na África do Sul: um campo minado Cheguei à Cidade do Cabo em dezembro de 2010 para iniciar o trabalho de campo do meu doutorado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (Museu Nacional) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O título do meu projeto de pesquisa era, à época, Políticas da verdade na controvérsia sul-africana sobre as causas e tratamentos da AIDS. A partir daqui vou me deter especificamente nas críticas feitas por alguns de meus interlocutores 3 Apesar de que mesmo autores engajados no debate como Cameron (2005, 117) reconhecessem que o Presidente Mbeki “has never publicly stated that his view is that HIV does not cause AIDS” ou que seu biógrafo (Gevisser, 2009, 276) afirme que “[u]nlike some of the more radical AIDS dissidents, Mbeki never denied there was an AIDS epidemic, although he did believed its scale was overexaggereted”, Fassin (2007, 54-57) observa: “não é necessário se envolver em uma exegese sutil dos textos de Mbeki, nem dissecar suas declarações sobre a AIDS, como a imprensa sul-africana fez: sua posição é claramente influenciada pelas teses dissidentes, em particular aquelas que rejeitam o papel do vírus e invocam em seu lugar a mal nutrição crônica e infecções múltiplas”. 4 Um estudo da Universidade de Harvard recorrentemente citado calcula em mais de 300,000 as mortes desnecessárias causadas pelas políticas da AIDS do Ex-Presidente Mbeki (Chigwedere et al., 2008). Dados similares são oferecidos por Nattrass (2008). Sobre a cobertura dada pela imprensa internacional a estes dados veja-se, por exemplo, Study Cites Toll of AIDS Policy in South Africa (The New York Times em 25 de novembro de 2008) e Mbeki Aids denial ‘caused 300,000 deaths’ (The Guardian, 26 de novembro de 2008). O tema também foi objeto de discussão no HIV Denialism, Mistrust, and Stigma Symposium, organizado pelo Harvard Center for AIDS Research em 19 de outubro de 2009. 7 contra o alegado relativismo dos antropólogos e ao que, ao ver desses críticos, constituía sua inconveniente postura face à controvérsia entre “ortodoxos” e “negacionistas”. Procurarei analisar minha experiência em campo à luz das conflitantes relações que historicamente a antropologia feita na África do Sul tem travado com o conhecimento oficial. A dificuldade habitual da pesquisa etnográfica é atualizada nesta experiência particular, mas ela também coloca um novo desafio: como pode o conhecimento antropológico contribuir para uma melhor compreensão de disputas, sobretudo quando, do ponto de vista “nativo”, tais disputas inexistem ou parecem insuperáveis? Após uma afável conversa com uma antropóloga acerca dos primeiros meses do meu trabalho de campo na Cidade do Cabo, fui apresentado por ela a um de seus colegas, também professor de antropologia numa universidade local. Minha anfitriã contou-lhe rapidamente sobre as ásperas reações que minha pesquisa tinha suscitado até então entre algumas pessoas. Ele, um senhor de certa idade, se juntou espirituosamente ao diálogo me chamando de “mais um negacionista da AIDS”. Os dois coincidiam em afirmar ironicamente que para algumas pessoas envolvidas nas discussões sobre a epidemia de HIV na África do Sul, os antropólogos eram os “novos negacionistas”. Minha interlocutora havia me dito antes que, depois dos “negacionistas” da década de 2000, o “novo inimigo são os antropólogos. Os negacionistas já são coisa do passado, agora o problema para estas pessoas somos os antropólogos”. Ser chamado de “negacionista” da AIDS na África do Sul é decerto uma acusação terrível. Porém, entendia que a intenção dos meus colegas era, sobretudo, retórica. Eles falavam nesses termos justamente para enfatizar a gravidade das críticas feitas contra os antropólogos. Foi a partir desse diálogo que comecei a entender qual era minha própria situação em campo. Desde meus primeiros contatos com algumas pessoas vinculadas à Universidade da Cidade do Cabo (UCT, pela sigla em inglês) e à Treatment Action Campaign (TAC), vinha experimentado sérias dificuldades para travar qualquer diálogo. Ao dizer que estava pesquisando o “debate da AIDS” essas pessoas me olhavam com receio, me advertindo categoricamente que não existia nenhum “debate” sobre a AIDS. Pior ainda, nas palavras de uma de minhas interlocutoras, “to pretend that it is what happened is to play right into the agenda of the denialists”. Meu plano de pesquisa baseava-se até então nas informações e na bibliografia de que dispunha no Brasil e que vinha coletando desde 2006. Porém, após quase seis meses na 8 Cidade do Cabo, as críticas à minha pesquisa se tornavam cada vez mais fortes e o diálogo com meus críticos parecia impossível. De fato, um de meus potenciais interlocutores-chave na TAC se negou durante todo o tempo que estive na África do Sul a falar comigo, sem que minha insistência e várias tentativas de explicações conseguissem mudar sua posição. No início pensava que o problema era de comunicação, que se explicasse melhor, se elaborasse mais meu projeto, se ajustasse os termos e adequasse minha linguagem ou se melhorasse meu inglês, haveria alguma possibilidade de entendimento. Além de fazer revisar por falantes nativos competentes os correios eletrônicos que escrevia, comecei a contemplar a possibilidade de contratar um tradutor para que me acompanhasse durante alguns encontros! Só depois da conversa com aqueles dois antropólogos comecei a imaginar qual podia ser a causa de minhas dificuldades. Havia mesmo um forte rechaço de alguns de meus interlocutores ao que eles julgavam como mero relativismo antropológico. A seu ver, a postura dos antropólogos era inconveniente, inapropriada, impertinente e irresponsável, haja vista a proporção da epidemia de HIV na África do Sul e terrível impacto dos “negacionistas” na política de saúde pública durante o governo Mbeki – “O HIV causa AIDS, afirmar outra coisa causa mortes”, era dito amiúde. Agora sabia o que estes dois professores tinham me explicado: que algumas pessoas na universidade onde nos encontrávamos associavam antropólogos a “novos negacionistas” ou viam eles como defensores dos “negacionistas”. Numa conversa com a pessoa que tinha se mostrado mais dura nas críticas à minha pesquisa, estava decidido a saber se definitivamente o diálogo com ela era possível. O que estava em jogo, afinal, era a viabilidade de meu trabalho de campo. Falei do meu embaraço após nossa último encontro e suas últimas mensagens; confessei minha surpresa por sua exaltação, o tom com que tinha falado e o quanto seus comentários me preocupavam. Encontrava-me numa situação no mínimo curiosa: ela reagia com ríspidos questionamentos a meu projeto, olhava com suspeita e preferia que trocássemos ideias apenas via correio eletrônico, mas os dois “negacionistas” que tinha tentado contatar até então na África do Sul tampouco queriam falar comigo. Em ambos os casos, tinha sérias dificuldades para travar algum diálogo. Ela justificou sua reação como sendo parte de seu estilo pessoal, mas eu não devia me preocupar. Falou de novo dos antropólogos. Segundo ela, todos esses raciocínios antropológicos sobre cultura, conhecimentos tradicionais e medicina ocidental, etc. nada mais faziam que racionalizar e justificar a postura de Mebki e os “negacionistas” da AIDS. E isso tinha um custo em vidas. Para ela era difícil ficar tranquila, impassível, diante da perda de vidas. Era 9 por isso que ela não queria ouvir falar em “simetrias”, “sistemas de conhecimento”, “pluralismo epistemológico” ou coisas assim. Pessoas como esta interlocutora na África do Sul são categóricas em afirmar que não houve qualquer “debate científico” sobre a AIDS, mas um “impasse”. Curiosamente, um dos primeiros problemas com que me deparei em campo foi precisamente esse: saber se existia ou se existiu um debate sobre a AIDS e, em caso afirmativo, em que consistia. Aos poucos, à força e dolorosamente, percebi que a resposta a essa questão dependia das posições adotadas na controvérsia: afirmar ou negar a existência de qualquer debate sobre a AIDS no país significava justamente assumir uma posição dentro do debate já travado. Depois entenderia que quando pessoas como essa interlocutora negavam a existência do debate faziam-no com o propósito de minimizar retoricamente a posição dos “dissidentes” e do governo Mbeki. Afinal, aceitar a existência de um debate também implica em reconhecer a existência das partes enfrentadas. Do ponto de vista “nativo”, dizer que há ou que não há controvérsia já é assumir uma postura dentro dela. Enquanto me ocupava com problemas como estes, quis saber como haviam agido outros antropólogos que se interessaram antes que eu por este assunto. Então fui à procura do livro de Didier Fassin (2007), When Bodies Remember: Experiences and Politics of AIDS in South África. Soube deste trabalho quando ainda estava no Brasil, mas também me foi indicado na África do Sul como “a referência antropológica na área”. Foi me recomendado assim, aliás, por uma pessoa que até hoje permanece crítica do meu trabalho, mas nesse momento mal percebi o verdadeiro alcance da expressão “a referência antropológica na área”. A primeira surpresa foi ler que, transcorridos um pouco mais de dez anos da pesquisa de campo de Fassin na África do Sul, eu experimentava situações muitos similares às narradas por ele em sua etnografia. Notadamente os constantes apelos morais diante dos milhares de mortes pela AIDS e a pressão para se posicionar contra o “negacionismo” e o governo Mbeki. Nas palavras de Fassin (2007, 76): ...[A] paisagem intelectual da epidemia de AIDS [sic] tem sido reduzida a termos simples: por um lado, a medicina e a ciência, pessoas de boa vontade e bom senso, eficácia e verdade; por outro, um presidente e uns quantos dissidentes, políticos corruptos e cientistas charlatões, incompetência e erro. Em outras palavras: aqui, uma teoria consensualmente estabelecida, ditando escolhas coerentes em termos de soluções para a AIDS e limitada apenas pela falta de recursos financeiros ou de vontade política; lá, teorias infundadas atraindo uns quantos personagens marginais que parecem orientados por uma perigosa paranoia e cuja inconsistência representa um risco para a população. Os primeiros sabem, os segundos acreditam. Esta dicotomia afeta até a forma dos discursos. Quando falam da comunidade dos ortodoxos, seus vírus e medicinas, os observadores usam um tom calmo, argumentos sólidos e oferecem declarações objetivas. Quando falam do universo dos dissidentes, suas interpretações de cunho social e a luta contra a 10 pobreza, a indignação apenas perde para ironia, e a subjetividade toma conta de cada linha que escrevem. A posição ortodoxa é apresentada seriamente; a posição dissidente é descrita com irritação e mofa. Ao leitor ou ouvinte desta analise resta-lhe se juntar ao partido da verdade, a menos que deseje ser visto como um descrente. O antropólogo ou sociólogo que queira explorar um pouco mais sobre este assunto, ficará exposto à acusação duplamente desqualificadora de relativismo negacionista e de irresponsabilidade criminal. A segunda surpresa foram os irados comentários e as expressões de indignação que o trabalho de Fassin provocava entre meus interlocutores mais engajados. Evitarei repetir tais comentários feitos em conversas informais e apenas citarei alguns trechos da resenha do livro feita por Glenda Gray (2007), reconhecida pesquisadora e diretora da Perinatal HIV Research Unit da Universidade de Witwatersrand, em Johanesburgo: Alguns de seus relatos são profundamente acurados, outros são ligeiramente menos factuais e alguns são bizarros. Ele é generoso diante das opiniões dos dissidentes e negacionistas, mesmo que ele não duvide da causa viral da AIDS. Como outros, Fassin fica intrigado com a posição de Mbeki sobre o HIV, no entanto, suas tentativas de compreender, explicar e mesmo justificar e reivindicar os pontos de vista do presidente são complacentes [patronazing]. Em contraste, ele é excepcionalmente antagônico em relação ao ativistas, cientistas e médicos que apóiam a visão ortodoxa do HIV e da AIDS na África do Sul [...] Ele tenta compreender o mundo social da África do Sul à luz de sua história. Mas ele comete um erro crucial: por confiar excessivamente em artigos de jornal e em discussões de corredor e de jantares, faltamlhe algumas das meadas fundamentais dos fatos conforme aconteceram na África do Sul, tais como aqueles envolvendo a prevenção da transmissão do HIV de mãe para filho [...] [Fassin] torna-se um mero apologista dos líderes do país [...] Como observa Jonny Steinberg em sua resenha deste livro (Business Day, 5 de junho de 2007), “O que significa escrever uma antropologia tão generosa e leniente de um erro tão grande? Afinal quem é que está errado?” Por falar em livros de antropólogos, lidando com estes problemas deparei-me na biblioteca da UCT com South African Keywords. The Uses & Abuses of Political Concepts. Trata-se de um pequeno livro editado em 1988 por Emile Boonzaier e John Sharp, dois antropólogos então nessa Universidade. Publicado ainda durante o tempo do apartheid, Prof. Sharp titula a introdução do livro Making the Social Reality e nela afirma: Este livro é um exame crítico das crenças convencionais sobre a natureza da sociedade sul-africana. Para muitos sul-africanos é auto-evidente, questão de senso comum, que a sociedade consiste de diferentes grupos étnicos e raciais, cada um dos quais forma uma comunidade separada, com suas próprias culturas e tradições. Acredita-se que tais grupos de fato existem objetivamente no mundo real e que ninguém pode fazer nada para mudar isto. Nós tratamos com esta noção, argumentando que todos esses grupos e as bases sobre as quais supostamente estão constituídos, são construções sociais e culturais. São representações, mais do que características do mundo real. São parte das formas através das quais uma parte da sociedade sul-africana tenta se definir a si mesma e aos outros, aquilo que o mundo é. Em outras palavras, são uma interpretação, em vez de uma mera descrição da realidade. Toda interpretação depende da identidade, crenças, conhecimento e interesses das pessoas que fazem tal interpretação, tanto quanto das características dos objetos que estão sendo interpretados. Portanto, as diferentes raças e diferentes grupos étnicos, culturas e tradições únicas, não existem em nenhum sentido definitivo na África do Sul; eles são reais somente na medida em que são produto de uma particular visão de mundo. Como chegamos nesta heresia?, pergunta com ironia Prof. Sharp. Em meio aos argumentos racialistas dos volkekundiges (os apologistas do apartheid), o construtivismo social destes 11 antropólogos era uma heresia na África do Sul de 30 anos atrás, como apontado por Sharp. Contudo, um observador contemporâneo, situado no “pós-apartheid”, poderia ver eles, certamente, como sendo “progressistas”. Eu me perguntava então: em que momento esta espécie de “relativismo antropológico” perdeu o poder contestador que parecia ter durante o apartheid? Por que o mesmo pensamento que, 30 anos antes, desafiava o conhecimento oficial e de senso comum sobre a sociedade sul-africana parece suscitar hoje em dia desconfiança e até rechaço? A antropologia e conceitos a ela ligados historicamente como o de cultura, de fato, parecem não estar mais na moda. Na política –mas não exclusivamente nela–, o extremismo na forma de nacionalismos exacerbados e xenofobia, são legitimado por líderes que tentam convencer todo mundo de que “o multiculturalismo tem fracassado completamente”5. Hoje, como outrora, o trabalho dos antropólogos suscita irritações, suspeitas, quando não aberto rechaço. Isto parece especialmente certo agora, quando seu renovado interesse na produção do conhecimento científico os obriga também a ter que dar conta da natureza e do alcance do conhecimento antropológico. E, nesse sentido, como apontava Eduardo Viveiros de Castro: O fato de que sempre temos definido a antropologia, oficialmente ou oficiosamente, como a ciência da não-ciência impregna o recente interesse numa “antropologia da ciência” com um sabor [piquancy] reflexivo próprio. O desconforto provocado pela ideia de uma descrição antropológica da atividade científica –um mal-estar sentido não apenas pelos praticantes das hard sciences, mas também por muitos antropólogos– sugere que somos vistos, e talvez também nos vemos a nós mesmos, como uma raça maldita de anti-Midas, capazes de transformar tudo o que tocamos em erro, ideologia, mito e ilusão. Então o perigo se aproxima quando a ciência do reformador vira seu olhar para a ciência em geral: esta parece existir para ser denunciada como apenas mais um tipo de superstição. Foi assim que a chamada Guerra das Ciências ou Guerra das Culturas explodiu; nela os antropólogos surgiram entre os principais suspeitos –com base, como de costume, em evidências um pouco fabricadas– acusados de possuir armas de destruição em massa. Ou melhor dizendo, de desconstrução em massa. As críticas aventadas contra a antropologia neste caso nada tem a ver com que o suposto apoio dos antropólogos ao “negacionismo da AIDS” –pelo que me consta, isso nunca aconteceu–. Tampouco tem a ver com que as explicações sociológicas da epidemia possam soar, para alguns, parecidos com os argumentos de cunho socioeconômico de Mbeki e os “negacionistas”. Menos ainda com um improvável prurido descontrucionista ou relativizador dos meus colegas na África do Sul. Ao meu ver, tais críticas dependem, sobretudo, de o que e 5 Angela Merkel Declares Death of German Multiculturalism, The Guardian, matéria publicada em 17 de outubro de 2010 (disponível em http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/17/angela-merkel-germanymulticulturalism-failures. Acesso em 17 de outubro de 2010); State Multiculturalism has Failed, says David Cameron, BBC News, matéria publicada em 05 de fevereiro de 2011 (http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics12371994. Acesso em 12 de março de 2011). 12 de a quem o conhecimento antropológico vem representar objetivamente na disputa de interpretações da epidemia e na disputa de projetos de Estado nacional que concorrem na África do Sul em tempos do “pós-apartheid”. Tais questionamentos, em todo caso, nada mais fazem do que atualizar tensões seculares experimentadas pela antropologia na encruzilhada das relações coloniais e de dominação que têm marcado boa parte da história do continente africano. De fato, muitíssimo antes da controvérsia da AIDS na África do Sul, os antropólogos têm sido alvo de acusações como a de romantizarem os modos de vida indígenas e de obstaculizarem o progresso ou, mais recentemente, de desconfiarem das “evidências científicas” em nome dos “conhecimentos tradicionais”. A hostilidade contra a antropologia, como adverte Benoît de L’Estoile (1997, 910) a propósito da atitude das elites escolarizadas africanas no período 1930-1950, “não é somente produto de um ‘mal-entendido’, da incompreensão dos objetivos dos antropólogos (mesmo se isso pudesse ter tido algum papel em nível local); trata-se, mais propriamente dito, de uma situação estrutural de concorrência objetiva. O que torna tão crucial o conflito em torno da verdade é que ele é, ao mesmo tempo, um conflito sobre o poder”. Em suma, é possível considerar a controvérsia da AIDS na África do Sul não somente como um conflito entre diversas interpretações da epidemia, mas também, voltando à ideia colocada acima, como um conflito sobre a “capacidade de representar”. Notadamente, o que e a quem representam os cientistas sociais, os cientistas naturais, os médicos e outros profissionais da Saúde Pública, os ativistas e membros de organizações sociais, os políticos, os advogados e juízes, etc. em disputas como estas. Isto é especialmente evidente se consideramos que ideias acerca do Estado, a nação e a sociedade sul-africana também são confrontadas no debate sobre a AIDS. Por outra parte, em se tratando da controvérsia sul-africana da AIDS, ela nada mais teria feito do que atualizar tensões históricas no campo intelectual da epidemia. Em particular, a oposição entre abordagens biomédicas e sociológicas da epidemia. A AIDS é um fenômeno peculiar porque ela se encontra na interseção das ciências naturais e humanas, embora elas possuam quadros de referência conceituais e metodológicos tão diferentes. É possível considerar a controvérsia sul-africana em termos de conflitos disciplinares sobre qual campo é mais científico, eficaz ou útil em se tratando de lidar com “problemas sociais” como a AIDS. De um ponto de vista mais geral, as críticas contra a antropologia poderiam ser compreendidas à luz da hegemonia que a “visão naturalista do mundo” impõe em polêmicas 13 que, como o debate da AIDS, se situam “na fronteira do naturalismo moderno”, como propõe Duarte (2004). Segundo este autor, tais polêmicas trazem à tona os “reducionismos naturalistas contemporâneos” como reiteração do ideal iluminista da ciência. O debate da AIDS na África do Sul exprimiria exemplarmente a “tensão instituinte” entre o iluminismo e o romantismo na formação do pensamento ocidental moderno e apontaria para uma discussão da configuração epistemológica da “cosmologia nativa do Ocidente”. Na década de 1980, quando a AIDS começava a ganhar destaque midiático e mal chamava a atenção de alguns governos, antropólogos e outros cientistas sociais já refletiam acerca da nova epidemia não apenas como um problema de saúde pública, mas como um fenômeno de múltiplas dimensões, uma vez que envolvia assuntos tão variados e complexos como estilos de vida, conhecimento médico, organizações científicas, dilemas éticos, economia e segurança nacional, políticas imigratórias, relações internacionais, direitos humanos e processos de construção de estados nacionais, etc. A AIDS exigia, assim, abordagens tanto biomédicas quanto históricas e morais. Desde então houve consenso em que o interesse acadêmico na questão ultrapassava os limites dos subcampos disciplinares e apelos permanentes têm sido feitos para que os cientistas se comprometam politicamente na busca de respostas à epidemia. Negar isto seria injusto. Eu cheguei à África do Sul procurando por cientistas e “dissidentes” da AIDS, mas fui compelido a prestar atenção ao papel dos antropólogos em meio à controvérsia, a começar pela minha própria situação em campo. Então pensei que quiçá a melhor maneira de responder às críticas seria refletindo mais sistematicamente e fazendo um levantamento das contribuições feitas pela antropologia neste contexto. No entanto, mais importante do que isso, percebi que também seria necessário alargar a perspectiva e extrapolar os limites impostos à controvérsia da AIDS, especialmente quando descrita pelos próprios participantes. Alguns problemas exigiriam ser explorados mais detidamente neste caso, no intuito de expandir nosso conhecimento tanto da controvérsia em si, quanto da epidemia de HIV nesse país. O problema de insistir tão inflexivelmente na oposição entre “dissidentes” ou “negacionistas” e “ortodoxos” é que ela se torna uma generalização tão efetiva que qualquer outra postura é forçada a argumentar nos mesmos termos antagônicos. Para alguns, toda discussão sobre a AIDS na África do Sul se torna uma discussão sobre o “negacionismo” e a única coisa que se espera do outro é que venha a “combatê-lo”. Nestas condições, como observara Foucault (1984), a polêmica se torna uma figura parasita da discussão, um 14 obstáculo para apurar nosso conhecimento e inviabiliza a mais mínima possibilidade de entendimento. Referências bibliográficas Berger, Jonathan M. & Kapczynski, Amy, (2009), “The Story of the TAC Case: The Potential and Limits of Socio-Economic Rights Litigation in South Africa”, em Deena R. Hurwitz & Margaret L. Satterthwaite (Eds.). Human Rights Advocacy Stories. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1323522> e <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1323522>. Acesso em: 23 nov. 2011. Boonzaier, Emile & Sharp, John (Eds.), (1988), South African Keywords. The Uses & Abuses of Political Concepts, David Philip, Cape Town. Cameron, Edwin, (2005), Witness to AIDS, I.B. Tauris, New York. Colvin, Christopher, (2014), Forget Anthropology! At Play in the Fields of Public Health, Lecture delivered at HUMA seminar, University of Cape Town. Chigwedere, Pride; Seage, George R.; Gruskin, Sofia; Lee, Tun-Hou & Essex, M., (2008), “Estimating the Lost Benefits of Antiretroviral Drug Use in South África”, em Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 49 (4), p. 410-415. Duarte, Luis Fernando Dias, (2004), “A pulsão romântica e as ciências humanas no Ocidente”, em Revista Brasileira de Ciências Sociais, 19 (55), p. 5-19. Fassin, Didier, (2007), When Bodies Remember: Experiences and Politics of AIDS in South África, Tr. Amy Jacobs & Gabrielle Varro, University of California Press, Berkeley. Foucault, Michel, (1984), Polemics, Politics and Problematizations, Interview by Paul Rabinow in May 1984, Translation by Lydia Davis, volume 1 “Ethics” of “Essential Works of Foucault”. Disponível em: <http://foucault.info/foucault/interview.html>. Acesso em: 02 mai. 2012. Geffen, Nathan, (2010), Debunking Delusions: The Inside Story of the Treatment Action Campaign, Jacana Media, Auckland Park. Gevisser, Mark, (2009), Thabo Mbeki: The Dream Deferred (Updated International Edition), Jonathan Ball, Johanesburg & Cape Town. Gray, Glenda, (2007), “Review of Didier Fassin, 2007, When Bodies Remember: Experiences and Politics of AIDS in South África”, em New England Journal of Medicine, 357 (17), p. 1783-1784. Herwitz, Daniel, (2006), “Sida, savoir et réinvention de la société civile en Afrique du Sud”, em Politique Africaine, 3 (103), p. 46-60. Heywood, Mark, (2003), “Preventing Mother-to-Child HIV Transmission in South Africa: Background, Strategies and Out-comes of the Treatment Action Campaign Case Against The Minister of Health”, em South African Journal of Human Rights, 19, p. 278-315. 15 Heywood, Mark, (2004), “The Price of Denial”, em Interfund Development Update, 5 (3), p. 93-122. Nattrass, Nicoli, (2008), “AIDS and the Scientific Governance of Medicine in Post-Apartheid South África”, em African Affairs, 107 (427): 157-176. Nattrass, Nicoli. (2007). Mortal Combat. AIDS Denialism and the Struggle for Antiretrovirals in South Africa. University of KwaZulu-Natal Press, Scottsville. L’Estoile, Benoît de, (1997), “Au nom des «vrais Africains ». Les élites scolarisées de l’Afrique coloniale face à l’anthropologie (1930-1950)”, em Terrain, 28: 1-15. Sitze, Adam, (2004), “Denialism”, em The South Atlantic Quarterly, 103 (4), p. 769-811. Viveiros de Castro, Eduardo, (2003), “(Anthropology) AND (Science)”, After-dinner speech given at Anthropology and Science, The 5th Decennial Conference of the Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth. University of Manchester, Manchester. 16
Download