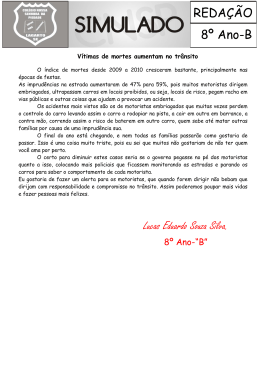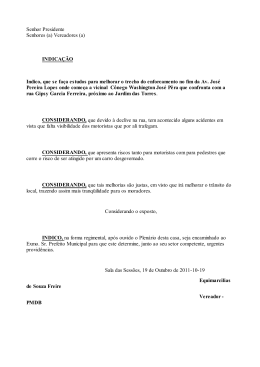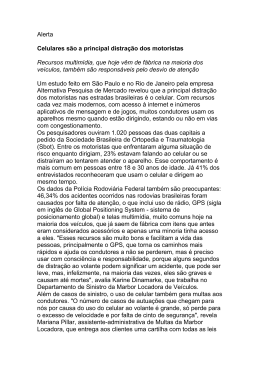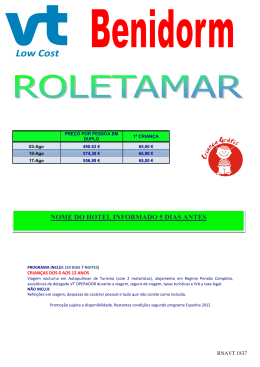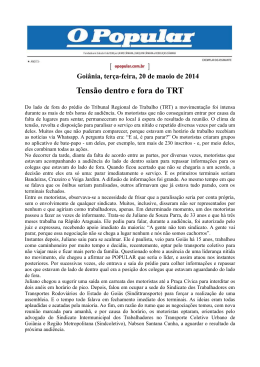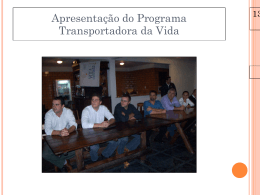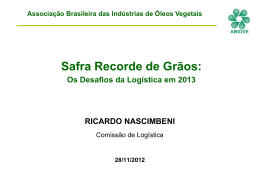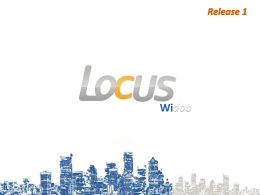Artigo Original Avaliação nutricional e fatores de risco cardiovascular em motoristas de transporte coletivo urbano Nutritional assessment and cardiovascular risk factors of urban public bus drivers Geisa Neutzling de Moraes1, Ana Paula Trussardi Fayh2 Resumo Motoristas de transporte coletivo deveriam gozar de boa saúde e possuir baixo risco para doenças cardiovasculares (DCV) para transportar passageiros em segurança. O objetivo deste estudo foi avaliar o estado nutricional e o risco para DCV em motoristas de transporte coletivo de Porto Alegre. Foram avaliados 201 motoristas do sexo masculino, os quais responderam um questionário semiestruturado com perguntas sobre hábitos de vida, doenças pré-existentes e consumo alimentar. O estado nutricional foi classificado pelo índice de massa corporal (IMC), e o risco para DCV foi avaliado pela circunferência abdominal (CA), conforme as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A amostra apresentou idade média de 40,2±9 anos e 9,5±8,9 anos de profissão. Do total, 44,3% apresentavam sobrepeso, 27,4% eram obesos e 69,7% possuíam CA representativa de risco para DCV. A maioria não consumia adequadamente frutas (83,6%) e vegetais (82,6%), e 48,8% tinha alto consumo de frituras. Ainda, 65,2% assumiram sedentarismo e 18,9% eram tabagistas. Conclui-se que os profissionais avaliados apresentaram alta prevalência de excesso de peso, inadequação alimentar e alto risco para DCV. Palavras-chave: doenças cardiovasculares; dieta para diabéticos; obesidade; exame para habilitação de motoristas. Abstract Drivers of public transport should be in good health and have low risk for cardiovascular diseases (CVD) to transport passengers safely. The aim of this study was to evaluate the nutritional status and CVD risk among drivers of public transportation in Porto Alegre. We evaluated 201 male drivers, who answered a semi-structured questionnaire with questions on lifestyle, preexisting diseases and food intake. Nutritional status was classified by body mass index (BMI), and CVD risk was assessed by waist circumference (WC) according to the recommendations of the Brazilian Society of Cardiology. The sample had a mean age of 40.2±9 years and 9.5±8.9 years of occupation. Of the total, 44.3% were overweight, 27.4% were obese and 69.7% had a WC representative CVD risk. Most do not adequately consumed fruits (83.6%) and vegetables (82.6%), and 48.8% had high consumption of fried food. Still, 65.2% were sedentary and 18.9% smokers. We conclude that professionals evaluated showed a high prevalence of overweight, inadequate food and high CVD risk. Keywords: cardiovascular diseases; diabetic diet; obesity; automobile drivers examination. Trabalho realizado no Centro Universitário Metodista do Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista (IPA) – Porto Alegre (RS), Brasil. 1 Graduanda do Curso de Nutrição do Centro Universitário Metodista do IPA – Porto Alegre (RS), Brasil. 2 Mestre em Ciências do Movimento Humano; Docente do Curso de Nutrição do Centro Universitário Metodista do IPA – Porto Alegre (RS), Brasil. Endereço para correspondência: Ana Paula Trussardi Fayh – Avenida Coronel Joaquim Pedro Salgado, 80 – Rio Branco – CEP 90420-060 – Porto Alegre (RS), Brasil – E-mail: [email protected] Fonte de financiamento: nenhuma Conflito de interesses: nada a declarar. 334 Cad. Saúde Colet., 2011, Rio de Janeiro, 19 (3): 334-40 Risco cardiovascular em motoristas de ônibus INTRODUÇÃO Atualmente, estudos buscam avaliar o estado de saúde1-4, os fatores psicológicos5-7 e o risco cardiovascular8-13 em motoristas de transporte coletivo, devido ao fato de que esta profissão possui situações específicas de trabalho, as quais modificam o estado nutricional, a frequência alimentar14 e aumentam a exposição a problemas de saúde, como as doenças cardiovasculares (DCV). Entre as doenças identificadas, citam-se o estresse psicológico, obesidade, dislipidemia, síndrome metabólica, doenças gastrointestinais e, principalmente, as DCV, como hipertensão arterial sistêmica, aterosclerose e infarto agudo do miocárdio1-15. A rotina desses profissionais é bastante desgastante devido ao estresse do trânsito, aos horários de trabalho, aos locais e horários inadequados para refeições, às trocas de turnos de trabalho, à necessidade de cumprir as voltas no tempo determinado, à relação com os passageiros e ao sedentarismo da função4,7,16 Em Porto Alegre, os motoristas são responsáveis por transportar diariamente em torno de um milhão de pessoas17. No ano de 2009, foram registrados 1.915 acidentes de trânsito envolvendo ônibus na cidade de Porto Alegre, sendo que 36 destes culminaram em óbito de um ou mais passageiro18. Infelizmente, não existe um registro oficial para determinar se alguns destes acidentes foram ocasionados devido a problemas de saúde do condutor. Tendo conhecimento da responsabilidade inerente à profissão de motorista de transporte coletivo, que conduz diariamente milhares de indivíduos a diversos locais, tornase relevante realizar avaliações periódicas do estado de saúde e do risco de DCV nesta população. Uma das particularidades desta profissão é o seu ambiente de trabalho, que é móvel, aberto e sem a proteção de uma construção civil. Os lugares mais frequentados por estes profissionais durante suas poucas paradas entre um trajeto e outro, quando estão dentro do tempo previsto, são bares e lancherias, sendo ali estabelecidas suas relações interpessoais19. Esses estabelecimentos, por comercializarem habitualmente alimentos não saudáveis, podem contribuir para o desenvolvimento de obesidade nestes profissionais. Com isso, o objetivo deste estudo foi avaliar o estado nutricional e os fatores de risco para DCV em motoristas de transporte coletivo de Porto Alegre (RS). MÉTODOS O estudo trata-se de uma pesquisa observacional descritiva de caráter transversal. Participaram voluntariamente desta pesquisa motoristas de transporte coletivo empregados em duas empresas privadas de Porto Alegre (RS), com idade entre 20 e 60 anos. A coleta dos dados foi realizada entre os meses de novembro de 2009 e fevereiro de 2010. Em um primeiro momento, os indivíduos responderam a um questionário semiestruturado com informações referentes ao seu trabalho e ao seu estado de saúde e autorreferiram a presença de doenças crônicas não transmissíveis (diabetes, hipertensão, dislipidemia), conforme validação em estudo anterior20. Em um segundo momento, foi realizada a medida da pressão arterial desses indivíduos e as medidas antropométricas. A medida da pressão arterial foi realizada com os indivíduos em repouso de, pelo menos, cinco minutos, e utilizada apenas para descrição da amostra, não sendo considerada para o diagnóstico de hipertensão. As variáveis antropométricas medidas foram: massa corporal, estatura e circunferência abdominal (CA). O estado nutricional foi classificado pelo índice de massa corporal (IMC), conforme os pontos de corte propostos pela Organização Mundial da Saúde (OMS)21. A CA foi medida com uma trena de fibra de vidro com trava, da marca Sanny®, entre o último arco costal e a crista do ílio no quadril. A obesidade abdominal foi classificada segundo os pontos de corte propostos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) na IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – Departamento de Aterosclerose22. Os procedimentos para aferição de peso e altura seguiram as orientações do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN)23. Para a avaliação do consumo alimentar, utilizou-se um questionário de frequência alimentar não validado, baseado no estudo de Vinholes et al.24. A classificação da adequação nutricional foi realizada utilizando-se as recomendações do Ministério da Saúde (MS), publicadas no “Guia Alimentar para a População Brasileira”25, contendo os “Dez Passos para uma Alimentação Saudável”. Para a classificação do fracionamento das refeições, considerou-se adequado aqueles indivíduos que realizavam, no mínimo, quatro refeições por dia, incluindo o desjejum. A classificação de atividade física seguiu os critérios do treinamento físico para a prevenção ou a reabilitação de aterosclerose da SBC proposto na IV Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – Departamento de Aterosclerose22 e “Guia Alimentar da População Brasileira”25, que determina a prática de exercícios aeróbios, como caminhadas, corridas leves, ciclismo e natação, de três a seis vezes por semana, por 30 a 60 minutos. Para a análise dos dados, foi utilizada a estatística descritiva, e os resultados foram expressos em frequências absolutas (médias, desvios-padrão, valores mínimos e máCad. Saúde Colet., 2011, Rio de Janeiro, 19 (3): 334-40 335 Geisa Neutzling de Moraes, Ana Paula Trussardi Fayh ximos) e relativas (percentuais e intervalo de confiança de 95%), com o auxílio do software estatístico SPSS versão 17.0 para Windows. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Metodista do IPA (protocolo 290/2009) e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. RESULTADOS A amostra foi composta por 201 funcionários pertencentes a duas empresas privadas de transporte coletivo da cidade. Todos os indivíduos eram do sexo masculino. A maioria dos indivíduos avaliados (39,6%) referiu ter o ensino fundamental incompleto e 25,2% possuem o ensino fundamental completo. Ainda, 6,4% referiram possuir o ensino médio incompleto e 28,2% o ensino médio completo. Apenas um funcionário afirmou estar cursando o ensino superior. Os dados de caracterização da amostra estão expressos na Tabela 1. A Tabela 2 mostra os dados do estado nutricional e o consumo alimentar dos indivíduos avaliados. Mais da metade dos funcionários apresentava excesso de peso (71,7%), alertando para possível risco cardiovascular para esses indivíduos. A maioria dos indivíduos realizava menos do que quatro refeições por dia, e o grupo alimentar com melhor percentual de adequação foi o das carnes. Um achado interessante foi o baixo relato de consumo de guloseimas, aliado a um baixo fracionamento das refeições diárias. Esses dados sugerem que os indivíduos possuem risco de apresentar uma hipoglicemia no seu turno de trabalho. O alto consumo de frituras, relatado como, pelo menos, uma vez por dia, por 33,4% dos indivíduos, aumenta o risco cardiovascular da amostra. Entre os indivíduos com baixo fracionamento das refeições, 43,3% afirmaram não realizar diariamente o desjejum. Quanto ao consumo de saladas e legumes, 9,5% dos indivíduos informaram nunca consumir esse tipo de alimento, 13,4% relataram nunca comer produtos lácteos e, ainda, 14,4% dos indivíduos consomem menos de uma porção diária de carne. Em relação ao consumo de álcool, três funcionários (1,5%) admitiram consumir bebidas alcoólicas todos os dias e 17 (8,5%) afirmaram consumir semanalmente. A prevalência dos fatores de risco para o desenvolvimento de DCV avaliados no presente estudo está descrita na Tabela 3. A maioria dos funcionários era sedentária e possuía a CA acima dos valores preconizados para a prevenção de DCV. O diagnóstico de doenças mais relatadas entre os funcionários foi hipertensão arterial, seguido de dislipidemia e diabetes. DISCUSSÃO Os resultados apontam uma grande prevalência de sobrepeso e obesidade na amostra avaliada, assim como hábitos alimentares inadequados e prevalência de sedentarismo. Essas características aumentam o risco de desenvolvimento de DCV nestes indivíduos, sendo que uma pequena parcela relatou já ter recebido do seu médico o diagnóstico de algumas delas. Mesmo que os dados do presente estudo não correspondam à totalidade de motoristas da cidade, essa parcela significativa de indivíduos avaliados alerta para a necessidade de ações de promoção à saúde nessa população. A média de idade dos condutores do presente estudo foi bastante semelhante a de outros estudos no Brasil1,10,13 e em outros países15,26, assim como o tempo médio de serviço1. Bigert et al.9 verificaram um maior risco de infarto agudo do miocárdio nos motoristas com mais de 10 anos de profissão quando comparados a motoristas com menos tempo de atividade. Como o tempo médio de profissão dos condutores do presente estudo foi muito próximo a esse valor, presumese que estes possam apresentar risco semelhante. Os achados apontam uma amostra com alta prevalência de sobrepeso e obesidade, com o valor médio de IMC dos condutores (27,7 kg/m2) apontando para o diagnóstico de sobrepeso. Esse mesmo resultado foi encontrado em outros estudos nacionais e internacionais disponíveis na Tabela 1. Descrição da amostra estudada (n=201) Descrição Idade (anos) Tempo de profissão (anos) Peso (Kg) Estatura (m) Índice de massa corporal (kg/m2) Circunferência abdominal (cm) Pressão arterial sistólica (mmHg)* Pressão arterial adiastólica (mmHg)* *valores medidos após repouso mínimo do indivíduo 336 Cad. Saúde Colet., 2011, Rio de Janeiro, 19 (3): 334-40 Média 40,45 9,20 83,54 1,74 27,72 98,50 136,19 86,55 Desvio-padrão 9,02 7,75 14,46 0,07 4,39 10,86 17,33 13,55 Valor Mínimo 21 0 53,20 1,60 17,33 69 91 48 Valor Máximo 60 36 136,00 2,00 45,57 136 206 122 Risco cardiovascular em motoristas de ônibus literatura12,13,15, reforçando a hipótese de que a profissão favorece o aumento de peso nesses funcionários. Faria et al.14 verificaram um aumento na prevalência de excesso de peso autorrelatado (incluindo sobrepeso e obesidade) em 55 condutores de ônibus na cidade de Florianópolis após o início da profissão. Segundo os autorrelatos dos motoristas sobre valores de peso e estatura atuais e anteriores ao início da profissão, o excesso de peso passou de 30,9% para 67,3%. Ainda, Cavagioni et al.12 verificaram que motoristas de caminhão apresentavam maior prevalência de sobrepeso (46%) e obesidade (36%) do que os encontrados nos estudos com condutores de transporte coletivo. Esse achado, provavelmente, ocorre porque esses profissionais não possuem carga horária definida para trabalhar, ao contrário dos condutores de transporte coletivo. Para obterem maiores rendimentos financeiros, os motoristas de caminhão dirigem ininterruptamente por mais tempo, fato que aumenta o sedentarismo desses profissionais e dificulta o acesso a alimentos saudáveis. Esses dados são relevantes para o adequado diagnóstico nutricional dessa população, mas é Tabela 2. Estado nutricional e adequação do hábito alimentar dos motoristas de transporte coletivo (n=201) Estado Nutricional Baixo peso Eutrófico Sobrepeso Obesidade Hábito Alimentar Fracionamento das refeições Consumo de frutas Consumo de vegetais Consumo de carnes Consumo de produtos lácteos Consumo de frituras Consumo de doces Consumo de álcool % (IC95%) 0,5 (0,2-0,7) 27,9 (26,2-28,9) 44,3 (42,1-46) 27,4 (25,8-29) Adequação Nutricional % (IC95%) 16,4 (13,5-19,2) 13,9 (9,0-16,1) 18,4 (16,3-20,8) 85,6 (82,9-88,2) 23,9 (21,5-25,2) 51,2 (48,7-53,4) 80,6 (78,4-82,9) 90 (86,1-93,8) importante ressaltar que, além destes profissionais, observase um crescente aumento nas taxas de sobrepeso e de obesidade na população em geral. Dados da última Pesquisa de Orçamento Familiar27 apontam uma prevalência de excesso de peso para os homens no Brasil de 41% e na região Sul de 46% para o mesmo sexo. Gus et al.28 pesquisaram o excesso de peso em 1.063 moradores de 19 cidades do Rio Grande do Su, e constataram uma prevalência de 56,3%. O consumo alimentar dos condutores, de uma forma geral, foi considerado inadequado devido ao baixo consumo de frutas, vegetais e produtos lácteos, além de um fracionamento diário de refeições abaixo do recomendado. A qualidade e a quantidade dos alimentos interferem significativamente no desenvolvimento de DCV10. A SBC22 recomenda uma dieta rica em frutas e verduras, que são fontes de antioxidantes, para prevenção e tratamento de DCV. Em uma meta análise de nove estudos de coorte sobre o consumo de frutas e/ou vegetais em diferentes populações, seis indicaram uma associação estatística entre um maior consumo desses alimentos com a diminuição do risco para DCV29. Nothlings et al.30 cruzaram informações sobre o consumo dos mesmos alimentos em uma grande população diabética de dez países da Europa, com a incidência de DCV. Ficou evidente que os indivíduos que consumiram mais frutas, legumes e vegetais sofreram menos eventos cardiovasculares. Outros estudos que avaliaram o consumo alimentar de motoristas trazem resultados controversos. French et al.31 analisaram a frequência alimentar de 1.092 funcionários de cinco empresas da área de transporte coletivo, sendo 72% motoristas de ônibus. Dos participantes, 42% ingeriam cinco ou mais porções de frutas e vegetais ao dia, consumo maior do que o observado no presente estudo. Já Chaves et al.13, observaram um consumo elevado de alimentos ricos em lipídios e sal, porém, relataram satisfatória a ingestão de frutas (70,0%) e vegetais (60,5%). Outro estudo, com o objetivo de avaliar os hábitos alimentares de uma amostra de 700 indivíduos do sexo masculino, observou uma dieta aterogênica Tabela 3. Presença de fatores de risco cardiovascular dos motoristas de transporte coletivo (n=201) Fatores de risco cardiovascular Sedentários Tabagistas IMC Obesos* CA elevada** Diagnóstico informado Hipertensos*** Diabéticos*** Dislipidêmicos*** Sim 15,9(14,7-17,1) 3(2,6-3,3) 8(6,9-9,2) % (IC95%) 65,2(63,5-66,9) 18,9(17,1-20,3) 27,4(25,0-29,2) 69,7(68,2-70,9) Não 81,1(80,0-82,3) 95(93,9-96,1) 85(83,2-86,7) Desconhece 3(2,5-3,6) 2(1,6-2,4) 7(5,8-8,1) *ÍMC: índice de massa corporal ≥30 kg/m2;**CA: circunferência abdominal ≥80cm para mulheres e ≥94cm para homens; ***diagnóstico informado pelo paciente, sem confirmação por diagnóstico médico Cad. Saúde Colet., 2011, Rio de Janeiro, 19 (3): 334-40 337 Geisa Neutzling de Moraes, Ana Paula Trussardi Fayh nesses indivíduos, com alto consumo de feijoada, carnes gordas, ovos, bebidas alcoólicas e sal, consequentemente, apresentando baixo consumo de frutas e vegetais32. Como a amostra do presente estudo foi composta exclusivamente por homens, o padrão alimentar observado foi bastante semelhante ao do estudo anteriormente citado, mesmo com atividades diferentes. Foi verificado um baixo consumo de guloseimas, mas é conhecido que os indivíduos podem subestimar o seu consumo de doces e frituras33,34. Um baixo consumo de guloseimas, associado a um baixo fracionamento da dieta, poderia aumentar o risco de hipoglicemia durante o turno de trabalho desses condutores. Embora não se tenha investigado o local das refeições da amostra neste estudo, sabe-se que, na maioria das vezes, este não é adequado. Dependendo do trânsito e de outros imprevistos, o tempo disponível para intervalo das refeições pode variar, levando-os a comer em lanchonetes ou no próprio ônibus16. Embora o etanol, em pequenas quantidades, tenha efeito protetor para DCV22,35,36, o consumo relatado de bebidas alcoólicas pelos condutores do presente estudo deve ser analisado com cautela. Não foi questionado em que momento do dia esses indivíduos ingeriam estas bebidas, mas ressaltase a informação de que o consumo destas bebidas em alta quantidade pode aumentar os níveis pressóricos36 , e caso seja ingerida durante o horário de trabalho, é considerada infração de lei e aumenta a exposição dos passageiros a acidentes de trânsito. Em relação ao diagnóstico prévio de DCV, os condutores relataram uma baixa prevalência dessas doenças. No entanto, pode-se perceber, durante esse questionamento, pela própria expressão dos indivíduos e não incluídas no protocolo de estudo, um grande desconhecimento sobre essas doenças e uma baixa adesão a exames preventivos de doenças crônicas. A doença mais relatada pelos condutores foi a hipertensão arterial sistêmica (15,8%), mas ainda pode ser considerada baixa quando comparado com o estudo como o de Benvegnú et al.11, que observaram uma prevalência de 22,4% de hipertensão em 214 motoristas de Santa Maria. Da mesma maneira, Matos et al.37 observaram uma maior prevalência (18,2%) em 970 trabalhadores da Petrobrás. É importante salientar que a medida de pressão arterial realizada no presente estudo não teve como objetivo realizar diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, mas apenas descrever os níveis pressóricos desses indivíduos em uma situação casual, ou seja, sem observar as recomendações da SBC36. A CA é um parâmetro recomendado para avaliar o risco de DCV devido ao baixo investimento e fácil manejo21. Além disso, o risco de infarto do miocárdio e acidente vascular 338 Cad. Saúde Colet., 2011, Rio de Janeiro, 19 (3): 334-40 cerebral (AVC) está mais associado com o acúmulo de gordura na região do abdômen do que com o IMC10. Os dados do presente estudo mostram que mais da metade dos condutores apresentaram CA acima dos valores preconizados. Tal achado também foi observado no estudo de Cavagioni et al.12, que avaliaram 258 caminhoneiros e observaram que 58% apresentaram CA acima do preconizado. Mais recentemente, Chen et al.15 observaram menores valores de CA para 184 motoristas de ônibus em Taiwan, com média de 90 cm. No entanto, vale ressaltar que a cultura asiática, com hábitos de vida mais saudáveis, poderia contribuir para esse resultado. O elevado percentual de sedentarismo do presente estudo, importante fator de risco para doenças crônicas como as DCV, pode ser associado com a atividade profissional. Esses funcionários permanecem em posição sentada durante várias horas, possuem horários irregulares e turnos diferenciados de trabalho, prejudicando a pratica de atividade física em locais ao ar livre ou em academias. Outras pesquisas corroboram os resultados do presente estudo, que apontaram uma prevalência de sedentarismo em mais da metade dos motoristas avaliados nas cidades de Santa Maria11, Belo Horizonte e São Paulo1 e Fortaleza13. No estudo que avaliou motoristas de ônibus de Taiwan15, 66,8% dos avaliados alegaram realizar exercícios em periodicidade inferior a uma vez por semana. No entanto, em uma amostra dos Estados Unidos, 90% dos motoristas afirmaram praticar atividade física regularmente31. O presente estudo demonstrou a menor prevalência de tabagismo quando comparado com outros estudos disponíveis na literatura1,9,10,12. Quanto mais os trabalhadores se informaram sobre nutrição, atividade física e hábitos saudáveis, melhor é a prevenção das DCV3. A alimentação saudável, a redução do tabagismo e do etilismo, aliados à prática de exercícios, diminui os indicadores de doenças crônicas25,38. Ainda, o exercício possui a capacidade de diminuir os níveis de glicose e lipídios plasmáticos, assim como os níveis pressóricos21. Em conclusão, observou-se uma alta prevalência de excesso de peso entre os condutores avaliados, assim como hábitos alimentares inadequados e diversos fatores de risco para DCV. Esses dados apontam para a necessidade de traçar estratégias para a promoção da saúde e a prevenção de doenças crônicas nessa população, visando a uma melhoria na qualidade de vida e à diminuição do risco de acidentes de trânsito envolvendo a saúde desses profissionais. A modificação do estilo de vida, incluindo a redução do peso e a prática de exercícios, seriam orientações importantes para a redução do risco de DCV dessa população. Risco cardiovascular em motoristas de ônibus Referências 1. Costa LB, Koyama MAH, Minuci EG, Fisher FM. Morbidade declarada e condições de trabalho: o caso dos motoristas de São Paulo e Belo Horizonte. São Paulo Perspect. 2003;17(2):54-67. 17. Empresa Pública de Transportes Circulação de Porto Alegre. O sistema, 2009. [cited 2010 Mar 02] Available from: http://www2. portoalegre.rs.gov.br/eptc/default.php?reg=1&p_secao=152 2. Santos EHR, Mello MT, Hallinan MP, Luchesi L, Pires MLN, Tufik. Sleep and sleepiness among brazilian shift-working bus drivers. Chronobiol Int. 2004;21(6):881-8. 18. Empresa Pública de Transportes Circulação de Porto Alegre. Estatísticas, 2010. [cited 2010 Mar 02]. Available from: http://www2. portoalegre.rs.gov.br/eptc/default.php?p_secao=182 3. Neri M, Soares WL, Soares C. Condições de saúde no setor de transporte rodoviário de cargas e de passageiros: um estudo baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Cad Saúde Pública. 2005;21(4):1107-23. 19. Paes-Machado E, Levenstein C. Assaltantes a bordo: violência, insegurança e saúde no trabalho em transporte coletivo de Salvador (BA), Brasil. Cad Saúde Pública. 2002;18(5):1215-27. 4. Battiston M, Cruz RM, Hoffmann MH. Condições de trabalho e saúde de motoristas de transporte coletivo urbano. Estud psicol (Natal). 2006;11(3):333-43. 5. Aronsson G, Rissler A. Psychophysiological stress reactions in female and male urban bus drivers. J Occup Health Psychol. 1998;3(2):122-29. 6. Evans GW, Johansson G. Urban bus driving: an international arena for the study of occupational health psychology. J Occup Health Psychol. 1998;3(2):99-108. 7. Biggs HC, Dingsdag DP, Stenson N. Fatigue factors affecting metropolitan bus drivers: a qualitative investigation. Work: A J Prevention, Assessment, and Rehabilitation. 2009;32(1):5-10. 8. Hedberg GE, Wikstrom-Frisén L, Janert U. Comparison between two programmes for reducing the levels of risk indicators of heart disease among male professional drives. Occup Environ Med. 1998;55:554-61. 9. Bigert C, Gustavsson P, Hallqvist J, Hogstedt C, Lewné M, Plato N et al. Myocardial infarction among professional drivers. Epidemiology. 2003;14(3):333-39. 10. Landim MBP, Victor EG. Escore de Framingham em motoristas de transportes coletivos urbanos de Teresina, Piauí. Arq Bras Cardiol. 2006;87(3):315-20. 11. Benvegnú LA, Fassa AG, Facchini LA, Breitenbach F. Prevalência de hipertensão arterial entre motoristas de ônibus em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rev Bras Saúde Ocup. 2008;33(118):32-9. 12. Cavagioni LC, Bensenõr IM, Halpern A, Pierin AMG. Síndrome metabólica em motoristas profissionais de transporte de cargas da rodovia BR-116 no trecho Paulista-Régis Bittencourt. Arq Bras Endocrinol Metab. 2008;52(6):1015-23. 13. Chaves DBR, Costa AGS, Oliveira ARS, Oliveira TC, Araujo TL, Lopes MVO. Fatores de risco para hipertensão arterial: investigação em motoristas e cobradores de ônibus. Rev Enferm UERJ. 2008;16(3): 370-76. 14. Faria BK, Amorin G, Vancea MD. Perfil alimentar e antropométrico dos motoristas de ônibus da empresa de transportes coletivo Jotur Palhoça (SC). Rev Bras Obes Nutr Emag. 2007;1(1):11-20. 15. Chen CC, Shiu LJ, Li YL, Tung KY, Chan KY, Yeh CJ et al. Shift work and arteriosclerosis risk in professional bus drivers. Ann Epidemiol. 2010;20(1):60-6. 16. Fundação Sistema Estadual de Análise de dados. Diagnóstico das condições de saúde e segurança dos motoristas de veículos automotores de transporte coletivo urbano na região metropolitana de Belo Horizonte. São Paulo: Fundação Seade 2002,1-39. [cited 2002 May 10]. Available from: http://www.higieneocupacional.com.br/download/condicoesmotoristas.pdf 20. Chrestani MAD, Santos IS, Matijasevich AM. Hipertensão arterial sistêmica auto-referida: validação diagnóstica em estudo de base populacional. Cad Saúde Pública. 2009;25(11):2395-406. 21. Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização PanAmericana da Saúde. Doenças crônico-degenerativas e obesidade: estratégia mundial sobre alimentação saudável, atividade física e saúde. Brasília, 2003. [cited 2009 May 02]. Available from: http://www.opas.org. br/sistema/arquivos/d_cronic.pdf 22. Sociedade Brasileira de Cardiologia. IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose. Arq Bras de Cardiol. 2007;88(1):1-18. 23. Ministério da Saúde (BR). Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan: orientações básicas para a coleta, processamento, análise de dados e informação em serviços de saúde. Brasília; 2004. [cited 2009 Jun 5]. Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ orientacoes_basicas_sisvan.pdf 24. Vinholes DB, Assuncao MCF, Neutzling MB. Freqüência de hábitos saudáveis de alimentação medidos a partir dos 10 Passos da Alimentação Saudável do Ministério da Saúde: Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Cad Saúde Pública. 2009;25(4):791-99. 25. Ministério da Saúde (Brasil). Guia Alimentar para a População Brasileira: Promovendo a Alimentação Saudável. Brasília; 2006. [cited 2009 Jun 7]. Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf 26. Alvarez TS, Zanella MT. Impacto de dois programas de educação nutricional sobre o risco cardiovascular em pacientes hipertensos e com excesso de peso. Rev Nutr. 2009;22(1):71-80. 27. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003. [cited 2010 May 10]. Available from: http:// www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_ noticia=278 28. Gus I, Fischmann A, Medina C. Prevalência dos Fatores de Risco da Doença Arterial Coronariana no Estado do Rio Grande do Sul. Arq Bras Cardiol. 2002;78(5):478-83. 29. Dauchet L, Amouyel P, Hercberg S, Dallongeville J. Fruit and vegetable consumption and risk of coronary heart diseases: A metaanalysis of cohort studies. J Nutr. 2006;136(10):2588-93. 30. Nothlings U, Schulze MB, Weikert C, Boeing H, Schouw YT. van der, Bamia C et al. Intake of vegetables, legumes, and fruit, and risk for all-cause, cardiovascular, and cancer mortality in a european diabetic population. J Nutr. 2008;138(4):775-81. 31. French SA, Harnack LJ, Toomey TL, Hannan PJ. Association between body weight, physical activity and food choices among metropolitan transit workers. Int J Behav Nutr Phys Act. 2007;52(4):1-12. Cad. Saúde Colet., 2011, Rio de Janeiro, 19 (3): 334-40 339 Geisa Neutzling de Moraes, Ana Paula Trussardi Fayh 32. Neumann AICP, Martins IS, Marcopito LF, Araujo EAC. Padrões alimentares associados a fatores de risco para doenças cardiovasculares entre residentes de um município brasileiro. Rev Panam Salud Publica. 2007;22(5):329-39. 33. Schoeller DA. Limitations in the assessment of dietary energy intake by self-report. Metabolism. 1995;44(2):18-22. 34. Heitmann BL, Lissner L, Osler M. Do we eat less fat, or just report so? Int J Obes Relat Metab Disord. 2000;24(4):435-42. 35. Vasdev S, Gill V, Singal PK. Beneficial effect of low ethanol intake on the cardiovascular system: possible biochemical mechanisms. Vasc Health Risk Manag. 2006;2(3):263-76. 340 Cad. Saúde Colet., 2011, Rio de Janeiro, 19 (3): 334-40 36. SBC. Sociedade Brasileira de Cardiologia. V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Arq Bras Cardiol. 2007;89(3):24-79. 37. Maria FDM, Nelson ASS, Armando JMP, Antonio JLAC. Prevalência dos fatores de risco para doença cardiovascular em funcionários do centro de pesquisas da Petrobras. Arq Bras Cardiol. 2004;1(82):1-4. 38. Ministério da Saúde (BR). A vigilância, o controle e a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT): no contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005. [cited 2009 May 17]. Available from: http://bvsms.saude. gov.br/bvs/publicacoes/DCNT.pdf Recebido em: 19/08/2010 Aprovado em: 09/09/2011
Download