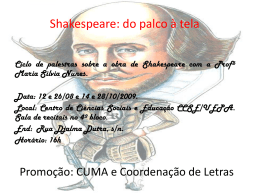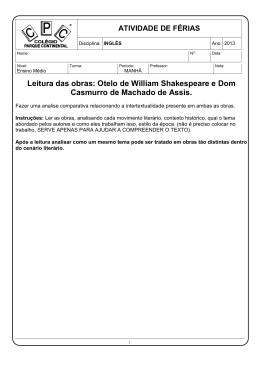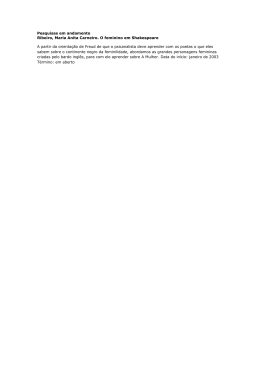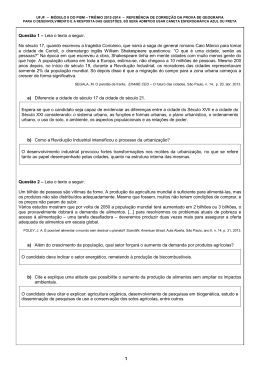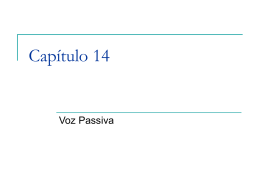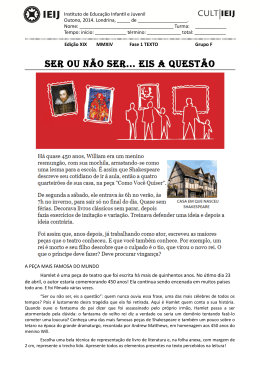Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 1 2 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 SCRIPTA UNIANDRADE NÚMERO 7 ANO 2009 ISSN 1679-5520 Publicação Anual da Pós-Graduação em Letras UNIANDRADE Reitor: Prof. José Campos de Andrade Vice-Reitora: Prof. Maria Campos de Andrade Pró-Reitora Financeira: Prof. Lázara Campos de Andrade Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão: Prof. M.Sc. José Campos de Andrade Filho Pró-Reitora de Planejamento: Prof. Alice Campos de Andrade Lima Pró-Reitora de Graduação: Prof. M.Sc. Mari Elen Campos de Andrade Pró-Reitor Administrativo: Prof. M.Sc. Anderson José Campos de Andrade Editoras: Brunilda T. Reichmann e Anna Stegh Camati CONSELHO EDITORIAL Anna Stegh Camati, Brunilda T. Reichmann, Sigrid Renaux., Mail Marques de Azevedo, Cristiane Busato Smith CONSELHO CONSULTIVO Prof. Dr. Maria Sílvia Betti (USP), Prof. Dr. Anelise Corseuil (UFSC), Prof. Dr. Carlos Dahglian (UNESP), Prof. Dr. Laura Izarra (USP), Prof. Dr. Clarissa Menezes Jordão (UFPR), Prof. Dr. Munira Mutran (USP), Prof. Dr. Miguel Sanches Neto (UEPG), Prof. Dr. Thaïs Flores Nogueira Diniz (UFMG), Prof. Dr. Beatriz Kopschitz Xavier (USP), Prof. Dr. Graham Huggan (Leeds University), Prof. Dr. Solange Ribeiro de Oliveira (UFMG), Prof. Dr. Hans Ulrich Gumbrecht (Stanford University), Prof. Dr. Aimara da Cunha Resende (UFMG), Prof. Dr. Célia Arns de Miranda (UFPR), Prof. Dr. Simone Regina Dias (UNIVALI), Prof. Dr. Claus Clüver (Indiana University). Projeto gráfico, capa e diagramação eletrônica: Brunilda T. Reichmann Revisão: Anna S. Camati, Sigrid Renaux, Mail Marques de Azevedo, Brunilda T. Reichmann Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 3 Soneto LIX Tradução de Barbara Heliodora Se nada é novo, e o que hoje existe Sempre foi, porque falha a nossa mente E, se esforçando por criar, insiste, Parindo o mesmo filho novamente! Que do passado houvesse uma mensagem, Já com mais de quinhentas translações, Mostrando em livro antigo a sua imagem Quando a escrita mal tinha convenções! Pr’eu ver o que então diria o mundo Da maravilha dessa sua forma; Se nós ou eles vamos mais ao fundo, Ou se a revolução nada reforma. Estou certo que os sábios do passado A alvo bem pior tenham louvado. (1564-1616) Scripta Uniandrade / Brunilda T. Reichmann / Anna Stegh Camati – n. 7 - . – Curitiba: UNIANDRADE, 2009. Publicação anual ISSN 1679-5520 1. Lingüística, Letras e Artes – Periódicos I. Centro Universitário Campos de Andrade – UNIANDRADE – Programa de Pós-Graduação em Letras 4 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 SUMÁRIO Apresentação 07 DOSSIÊ TEMÁTICO: RELEITURAS CONTEMPORÂNEAS DE SHAKESPEARE Shakespeare: lírico dramático, dramaturgo lírico 11 Solange Ribeiro de Oliveira Relações transtextuais: reconceptualizações do conceito de blason nos sonetos CXXX de Shakespeare e XX de Neruda 37 Sigrid Renaux O discurso do poder matriarcal na comédia shakespeariana 51 Marlene Soares dos Santos Apropriações/adaptações de Shakespeare: o Hamlet intermidiático de Robert Lepage 73 Thaïs Flores Nogueira Diniz As três faces da rainha: estudo comparativo do papel de Gertrudes nas três versões de Hamlet 81 José Roberto O’Shea Fabrício Mateus Coêlho Hamlet e as performances femininas: das primeiras aventuras no teatro ao filme de Asta Nielsen 95 Liana de Camargo Leão Mail Marques de Azevedo Um estudo sobre Hamlet: morte – causa e consequência 121 Verônica Daniel Kobs O verso de Manuel Bandeira em sua tradução de Macbeth 133 Marcia A. P. Martins Paulo Henriques Britto Um olhar oriental sobre Shakespeare: Trono manchado de sangue de Akira Kurosawa Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 151 Célia Arns de Miranda Suzana Tamae Inokuchi 5 “Cruel are the times”: an analysis of scene 2, act 4 in three productions of Macbeth 181 Dolores Aronovich Aguero Bloody heath and bloody chambers in Macbeth, by Roman Polanski 195 Brunilda T. Reichmann Mulheres sem pecado: discurso misógino e a tragédia do feminino em Otelo, de William Shakespeare 205 Ana Claudia de Lemos Monteiro Fernanda Teixeira de Medeiros O entre-lugar de Shakespeare na televisão brasileira: uma análise da minissérie Otelo de Oliveira 217 Cristiane Busato Smith A dramaturgia da misturada: A história do amor de Romeu e Julieta, de Ariano Suassuna 229 Paulo Roberto Pellissari As contradições de Frei Lourenço nos filmes de Wise, Zeffirelli e Luhrmann 247 Luciana Ribeiro Guerra Anna Stegh Camati Reescrevendo A tempestade: personagens shakespearianas em Indigo, de Marina Warner 261 Maria Clara Versiani Galery Shakespeare´s The Winter´s Tale adapted to a made-for-tv film 275 Aline de Mello Sanfelici José Roberto O’Shea Reflexões sobre as linguagens cênicas de Shakespeare: o duplo travestimento em O mercador de Veneza 289 Anna Stegh Camati Narrativa gráfica e metaficção: as releituras de Sonho de uma noite de verão e A tempestade em Sandman, de Neil Gaiman 301 Enéias Farias Tavares Resenha Dossiês dos próximos números Normas da revista 6 325 Luiz Roberto Zanotti 331 333 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Apresentação A abertura, maleabilidade e plasticidade quase infinita dos textos de Shakespeare proporcionam inúmeras possibilidades de reflexão crítica e renovação criativa. Ao longo dos séculos, suas peças foram inúmeras vezes levadas à cena, relidas, traduzidas, apropriadas, adaptadas e reinventadas em novos contextos históricos, geográficos e culturais nas mais variadas mídias e linguagens, privilegiando certos aspectos e minimizando outros. O dossiê temático da sétima edição da Revista Scripta Uniandrade – Releituras contemporâneas de Shakespeare – mostra a permanente atualidade da obra do dramaturo e poeta, inserido em um processo cultural em constante mutação. O ensaio de abertura deste volume examina os traços dramáticos da criação lírica shakespeariana e o lirismo de sua produção dramática. Solange Ribeiro de Oliveira, em “Shakespeare: lírico dramático, dramaturgo lírico”, analisa algumas canções e passagens líricas nas peças, e mostra que o pendor narrativo do bardo se manifesta também na série de 154 sonetos que apresentam temas semelhantes àqueles explorados em alguns textos dramáticos como Antony and Cleopatra, Twelfth Night e The Merchant of Venice. O soneto CXXX, por sua vez, é discutido em um artigo de caráter comparativista por Sigrid Renaux que encontrou, no soneto XX de Neruda, elementos semelhantes aos utilizados por Shakespeare. Em “Relações transtextuais: reconceptualizações do conceito de blason nos sonetos CXXX de Shakespeare e XX de Neruda”, a pesquisadora realiza uma análise formal e temática minuciosa para mostrar como o conceito de blason aparece modificado no poema do poeta hispânico. As abordagens desenvolvidas pela crítica feminista e materialista cultural fundamentam o ensaio de Marlene Soares dos Santos, “O discurso do poder matriarcal da comédia shakespeariana”, no qual a autora argumenta que muitas personagens femininas assumem o papel de protagonistas nas comédias de Shakespeare por dominarem o universo da comicidade, fazendo repercutir, em uma época de poder patriarcal, o discurso do poder matriarcal no teatro. O ensaio seguinte, de Thaïs F. N. Diniz, inaugura uma série de artigos que versam sobre a peça e o personagem mais textualizados do cânone shakespeariano. Em “Adaptações/apropriações de Shakespeare: o Hamlet intermidiático de Robert Lepage”, a autora se debruça sobre os processos criativos do encenador canadense na transcriação intitulada Elsinore, um espetáculo totalmente intermidiático que combina a arte performática com as novas tecnologias. Na sequência, em “As três faces da rainha: estudo comparativo do papel de Gertrudes nas três versões de Hamlet”, José Roberto O’Shea e Fabrício Mateus Coelho objetivam iluminar a caracterização da rainha Gertrudes em três versões de A tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Os autores demonstram que a personagem é ambígua, sobretudo em relação ao seu conhecimento prévio ou não do regicídio, no Q2 (Segundo In-Quarto) e no F (Folio), Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 7 e que ela apresenta maior transparência, sendo dócil, carismática e solidária com o filho, no Q1 (Primeiro In-Quarto). Em “Hamlet e as performances femininas: das primeiras aventuras no teatro ao filme de Asta Nielsen”, Liana de Camargo Leão e Mail Marques de Azevedo examinam a construção do personagem-título por mulheres a partir de três perspectivas críticas principais: a inclusão de traços femininos na caracterização do protagonista no próprio texto; a tradição da representação do personagem por mulheres, a partir do século XVIII; e o impacto da performance de duas grandes atrizes, Sarah Bernhardt e Asta Nielsen no cinema mudo. O artigo “Um estudo sobre Hamlet: morte – causa e consequência” investiga o conflito existencial vivido por Hamlet. Verônica Daniel Kobs aborda o trágico no texto de Shakespeare a partir de raízes gregas e reflete sobre o filme Hamlett: vingança e tragédia, de Michael Almereyda, com base nas considerações teóricas de Claus Clüver, Júlio Plaza e Patrice Pavis. Após uma breve apresentação das treze traduções brasileiras da peça mais curta de Shakespeare, Marcia A. P. Martins e Paulo Henriques Britto discutem o processo tradutório em “O verso de Manuel Bandeira em sua tradução de Macbeth”. As estratégias formais empregadas pelo poeta brasileiro para recriar em português a métrica da poesia dramática shakespeariana são mapeadas e problematizadas pelos autores. No artigo seguinte, intitulado “Um olhar oriental sobre Shakespeare: Trono manchado de sangue de Akira Kurosawa”, Célia Arns de Miranda e Suzana Tamae Inokuchi analisam a passagem do texto shakespeariano Macbeth para a grande tela, a partir de considerações teóricas propostas por Patrice Pavis, adaptadas e aplicadas para o estudo da produção fílmica do cineasta japonês. As teorias da adaptação fílmica, como abordagem teórica, são utilizadas em mais dois artigos sobre transescrituras. Em “Cruel are the times: an analysis of scene 2, act 4 in three productions of Macbeth”, Dolores Aronovich Aguero argumenta que a filmagem da cena mencionada no título do seu artigo varia de acordo com as intenções de cada uma das produções analisadas, dentre elas Macbeth, o filme feito para a TV em 1979, baseado na aclamada montagem de Trevor Nunn, com Judi Dench e Ian McKellen, o filme de 1971, Macbeth, dirigido por Roman Polanski, e Homens de respeito (1991), de William Reilly. O estudo de Brunilda T. Reichmann, “Bloody heath and bloody chambers in Macbeth, by Roman Polanski”, mostra como o cineasta traduz o rico subtexto de Shakespeare em imagens em seu filme. As três interpolações, inseridas na cena de abertura, no episódio do assassinato do rei Duncan, e no final do filme, intensificam a atmosfera lúgubre e ampliam o âmbito do questionamento do bardo sobre a natureza e o destino humanos. A tragédia Otelo foi revisitada por Cristiane Busato Smith. A partir do enfoque dos estudos culturais, em “O entre-lugar de Shakespeare na televisão brasileira: uma análise da minissérie Otelo de Oliveira”, a autora focaliza as inquietações da época pós-ditadura inseridas na transposição da tragédia shakespeariana para o universo da favela e do carnaval. 8 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 O ensaio de Paulo Roberto Pellissari, “A dramaturgia da misturada: A história do amor de Romeu e Julieta, de Ariano Suassuna”, examina a criação artística do poeta e dramaturgo, mostrando como a narrativa do casal de amantes ganha nova feição no processo de transculturação no nordeste brasileiro. O autor salienta que essa recriação dramática assume importantes funções sociais no contexto da cultura-alvo, dentre elas o estabelecimento de uma arte erudita brasileira a partir das raízes de manifestações artísticas populares. Em “As contradições de Frei Lourenço nos filmes de Wise, Zeffirelli e Luhrmann”, Luciana Ribeiro Guerra e Anna Stegh Camati lançam luz sobre Frei Lourenço, uma personagem que aparece modificada em cada uma das adaptações fílmicas discutidas devido às flutuações do Zeitgeist. Privilegiando abordagens pós-coloniais e feministas, em “Reescrevendo A tempestade: personagens shakespearianas em Indigo, de Marina Warner”, Maria Clara Versiani Galery traça a trajetória de personagens inspirados no texto shakespeariano, principalmente Miranda e Calibán. A reescritura de Warner oferece uma alternativa ao contexto patriarcal da Tempestade, resgatando vozes silenciadas na peça de Shakespeare. Aline de Mello Sanfelici e José Roberto O’Shea realizam um estudo sobre a peça The Winter’s Tale adaptada para a mídia televisiva pela BBC, em “Shakespeare’s The Winter’s Tale adapted to a made-for-tv-film”. Os autores objetivam demonstrar como o texto se concretiza sonora e visualmente por meio de estratégias relacionadas a gestos, expressão facial e corporal, vestuário, marcação e outros elementos ausentes no texto shakespeariano. A transformação da convenção dramática do travestimento em “arma subversiva” por Shakespeare, para questionar as noções de gênero e as relações de poder na sociedade elisabetana-jaimesca, é problematizada por Anna Stegh Camati em “Reflexões sobre as linguagens cênicas de Shakespeare: o duplo travestimento em O mercador de Veneza”. Nessa comédia, o uso criativo do duplo disfarce esclarece os mecanismos de construção dos comportamentos sociais. As narrativas gráficas ou histórias em quadrinhos têm revisitado a biografia e a obra de Shakespeare. Em “Narrativa gráfica e metaficção: as releituras de Sonho de uma noite de verão e A tempestade em Sandman, de Neil Gaiman, Enéias Farias Tavares busca elucidar os processos de construtividade do autor inglês que se apropria de Shakespeare e sua obra como elementos intertextuais e para refletir sobre a criação artística. Na resenha intitulada “Shakespeare, novas veredas sob múltiplos olhares e abordagens” que tece reflexões sobre o livro “Shakespeare sob múltiplos olhares” (organizado pelas professoras Anna Stegh Camati e Célia Arns de Miranda), Luiz Roberto Zanotti, no parágrafo introdutório, compara o conteúdo da coletânea com a diversidade de rizomas em Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa. A metáfora do sertão roseano também é válida para as releituras contemporâneas de Shakespeare, publicadas neste volume, visto que abrem um leque de considerações críticas que oferecem ao público leitor uma visão aprofundada sobre a poética de Shakespeare. As editoras Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 9 10 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 SHAKESPEARE: LÍRICO DRAMÁTICO, DRAMATURGO LÍRICO Solange Ribeiro de Oliveira [email protected] If music be the food of love, play on. Shakespeare, Twelfth Night. RESUMO: Estudo da criação lírica shakespeariana, examinada sob a perspectiva de seu entrelaçamento com a obra dramática. Como representações do lírico, analisam-se algumas canções e textos encontrados nas peças e nos Sonetos, sendo estes últimos vistos também como veículos do entrelaçamento entre o lírico e o dramático. Para a investigação dos traços assim associados, o ensaio discute a função de canções encontradas em Hamlet. Por outro lado, aponta-se a existência de uma narrativa e de personagens implícitos nos 154 sonetos, bem como sua relação com os temas do racismo e do homoerotismo explorados em algumas peças, especialmente Antony and Cleopatra, Twelfth Night e The Merchant of Venice. Essa relação temática é considerada um dado adicional que ilustra a impossibilidade de uma separação radical entre os gêneros lírico e o dramático na obra de Shakespeare. ABSTRACT: The paper discusses Shakespeare´s lyricism, examined from the perspective of its connection with his drama. As representatives of Shakespearean lyricism, the essay examines some songs and fragments found in the plays and also in the 154 Sonnets, the latter being seen as a meeting point for the lyrical and dramatic elements involved. For the investigation of the features thus interconnected, the text discusses the function of some songs found in Hamlet. On the other hand, the paper underlines the existence of characters and of a narrative implicit in the Sonnets, as well as their relationship with the themes of racism and homoeroticism also explored in some plays, especially Antony and Cleopatra, Twelfth Night and The Merchant of Venice. This thematic relationship is taken as additional evidence of the impossibility of a radical separation between the lyric and the dramatic in Shakespeare´s works. PALAVRAS-CHAVE: Shakespeare. Obra dramática. Sonetos e canções. KEY WORDS: Shakespeare. Drama. Sonnets and songs. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 11 Reconhecendo o caráter protéico da lírica, a crítica literária contemporânea tem proclamado a virtual impossibilidade de estabelecer uma distinção precisa entre esse e outros gêneros literários1. A constatação é amplamente confirmada pela obra shakespeariana. Considerando-a em seu conjunto, forçosamente concluiremos pela inexistência de uma separação radical entre criação lírica e produção dramática. A propósito dessa imbricação, começo por lembrar que as canções shakespearianas, sua mais clara manifestação lírica, não são composições autônomas. Existem no contexto das peças, como partes integrantes delas, contribuindo para a construção da atmosfera ou para a caracterização das personagens. Também em seus Sonetos (Sonnets, 1609), ao lado da linguagem rebuscada e do cerebralismo barroco, irrompe um extravasamento emotivo com inegáveis elementos líricos. Embora de forma diversa da encontrada nas canções, a sequência shakespeariana imbrica-se igualmente com a produção dramática. Pela criação de personagens e de uma conflituosa narrativa implícita – a história de amor e traição, triangulada pelo eu lírico, sua amada e seu amigo – bem como pelo entrelaçamento com dados associados ao homoerotismo e ao racismo, a série de 154 sonetos pode ser vista como uma recapitulação condensada de elementos encontrados em peças anteriores. Na celebrada dark lady – a silenciosa ouvinte do eu lírico – reverberam ecos da protagonista de Antônio e Cleópatra (Antony and Cleopatra, 1607), criada dois anos antes. Como a rainha egípcia, a dama simultaneamente adorada e execrada pelo sonetista implícito deve parte de seu fascínio a uma personalidade enigmática e imprevisível. Do mesmo modo, o tema da homossexualidade, pertinente para a leitura dos sonetos, evoca personagens criados anteriormente, como os dois Antônios, o de Noite de Reis (Twelfth Night, 1602) e o de Mercador de Veneza (The Merchant of Venice, 1596-1598). Na última peça, tal qual o autor implícito dos sonetos, o melancólico amigo de Bassânio perde para uma mulher o amor de um homem, pelo qual mostra-se pronto a sacrificar a própria vida. Resumindo: se, descontadas as especificidades de cada gênero, canções e sonetos apontam para algumas peças, a recíproca é verdadeira: em certos momentos a dramaturgia shakespeariana reveste-se de lirismo. Nas tragédias e comédias saltam à vista textos que, excetuada sua forma estrita e sua articulação com a trama dramática, poderiam ser lidos como fragmentos líricos, por sua musicalidade e pela expressão de sentimentos, percepções e reflexões de subjetividades dominadas por intensa emoção2. Essa interação entre o lírico e o dramático, presente em toda a criação shakespeariana, contribui crucialmente para a articulação de seu esplêndido conjunto. 12 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Para uma reflexão menos genérica, tomemos inicialmente as canções incrustadas na produção dramática. A elas, no sentido estrito, o lirismo shakespeariano remete em primeiro lugar. Conforme lembra a etimologia, a poesia lírica vem do grego lyra, designação de poemas musicados, recitados nos tempos clássicos ao som da lira. A associação de palavras e acompanhamento musical caracterizou a poesia lírica de inúmeras literaturas, dos tempos mais remotos até os inícios da cultura impressa na Renascença. No ocidente, atingiu o apogeu em formas como a chanson e a pastorela, cantadas por trovadores provençais. Na esteira dessa tradição, o equivalente à poesia lírica original é a canção, sua herdeira natural, encontrada em todas as culturas até os tempos modernos. Inseridas nessa tradição, mas acompanhadas por instrumentos elisabetanos e integradas com a trama dramática, as canções shakespearianas são poemas cantados, que fundem elementos verbais e acompanhamento musical. Nas peças, Shakespeare embutiu mais de cinquenta dessas composições, além de centenas de rubricas solicitando a presença da música. O recurso pode ser explicado de várias formas. Dada sua popularidade na época, a arte musical constituía um atrativo adicional para os vários grupos sociais presentes na heterogênea platéia elisabetana. Para os menos cultos, as canções também facilitavam a compreensão de aspectos do enredo ou da linguagem poética. Contribuíam ainda para sugerir a atmosfera adequada à ação, além de complementar a caracterização das personagens. Nem sempre a autoria das canções pode ser atribuída a Shakespeare. Sabe-se que ele frequentemente adaptou e citou (não raro, com alterações) a letra de baladas conhecidas e de poemas compostos por outros (como nas canções de Ofélia em Hamlet). O poeta apropriou-se também de títulos e fragmentos de numerosas baladas populares, todas conhecidas de seu público, por tradição oral ou por partituras de baladas, impressas em livretos (chapbooks), cantadas e comercializadas nas ruas, ou, no campo, por vendedores como o Autolycus de The Winter´s Tale. São desse tipo duas baladas cantadas em Hamlet bem como, mencionada na mesma peça, “Bonny Sweet Robin”, cuja letra não sobreviveu. Também não se pode com certeza atribuir ao dramaturgo a letra de “O mistress mine”, hoje uma das canções shakespearianas mais conhecidas, nem afirmar que a melodia seja a que foi originalmente cantada. Entre as canções mais conhecidas, “Full fathom Five” e Where the bee sucks”, de Robert Johnson, foram provavelmente compostas para a encenação original de The Tempest 3. Não é fácil saber como soariam as canções. As primeiras edições das peças incluem suas letras, mas não as partituras das melodias. Algumas canções Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 13 acompanhadas da letra e da música sobrevivem em textos contemporâneos de Shakespeare ou publicados pouco depois, mas as palavras raramente coincidem perfeitamente com as encontradas nas peças. Em geral os manuscritos originais só aludem vagamente a composições não documentadas. Em certos casos, canções publicadas muito mais tarde, nos anos 1650 e 1660, podem ser atribuídas a compositores atuantes meio século antes (como as duas canções de Ariel em The Tempest). Texto e melodia de baladas e canções populares raramente sobrevivem juntos e têm de ser acoplados com base em outras fontes. As melodias são muitas vezes encontradas em partituras para instrumentos de corda ou teclado de fins do século XVI ou início do século XVII. Estudiosos nossos contemporâneos tentam recuperar o conjunto para proporcionar a audição mais próxima possível da execução original. Esse esforço é ilustrado, entre outros, pelo trabalho do pesquisador e músico Ross W. Duffin, Shakespeare’s Songbook 4. Este cancioneiro contém 160 canções das peças, muitas delas com textos musicados para encenações originais. Para recuperar melodias e letras menos conhecidas, Duffin consultou manuscritos e fólios, procurando, dentro do possível, as interpretações mais autênticas.5 Além de diversão e ornamento, as canções desempenham um papel importante nas peças. Em The Tempest, por exemplo, as entoadas por Ariel atuam como agentes catalisadores da ação, impulsionando e direcionando os acontecimentos. Podem também substituir solilóquios, como pistas para o acesso à consciência das personagens. Em Hamlet essa função evidencia-se nos fragmentos cantados por Ofélia, a jovem inicialmente cortejada e depois abandonada pelo príncipe. Desconhecemos as melodias, que indubitavelmente integrariam o lirismo do conjunto. Isso não impede que, tendo sobrevivido as letras, elas penetrem a subjetividade da personagem. As palavras refletem sua angústia em face da dupla perda, a do pai e a do homem amado. Ao mesmo tempo, oferecem elementos para esclarecer um dos pontos obscuros da trama, o relacionamento de Ofélia com Hamlet. As canções situam-se no ato IV, cena v, quando, exibindo sinais de loucura, a jovem surge cantando perante o rei Cláudio e a rainha Gertrudes. As letras envolvem temas de morte e de amor não correspondido, condizentes com o enredo. Mais especificamente, uma das canções menciona um amante que, após seduzir a amada, recusa-se a desposá-la. Teria sido essa a experiência de Ofélia, submetida à intensa opressão da sociedade patriarcal? Teria ela desconsiderado os conselhos do pai e do irmão, e tido com o príncipe uma intimidade não permitida pela ideologia da época? Há quem responda afirmativamente, ou mesmo acredite que, abandonada, Ofélia estivesse grávida. No repressivo contexto da época, 14 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 agregado à dor pela perda do pai e ao sentimento de culpa por lhe ter desobedecido, tanto bastaria para explicar o colapso nervoso da personagem.6 Nesse sentido, a letra das canções é mais do que sugestiva. Uma delas menciona a dificuldade feminina de penetrar nos sentimentos de um homem. Através da canção, Ofélia parece expressar sua dúvida a respeito do amor de Hamlet. Teria algum dia sido realmente amada por ele? A personagem canta: How should I your true love know From another one? By his cockle hat and staff, And his sandle shoon. (Act IV Sc. V, 23-26) Como distinguir de todos O meu amante fiel? Pelo bordão e a sandália; Pela concha do chapéu. A letra de outra canção menciona um encontro matinal de namorados no dia de São Valentim, protetor dos amantes fiéis. Parece assim sugerir a fé inicial de uma donzela no amor do namorado: To-morrow is Saint Valentine’s Day, All in the morning betime, And I a maid at your window, To be your Valentine. Amanhã é São Valentino E bem cedo, eu, donzela Para ser tua Valentina Estarei em tua janela. Entretanto, o tema da jovem abandonada após a perda da virgindade logo emerge da voz que canta: Then up he rose, and donn’ed his clothes, and dupp’d the chamber-door; let in the maid, that out a maid never departed more. (Act IV Sc. V, 48-54) E ele acorda e se veste E abre o quarto para ela. Se vê a donzela entrando Não se vê sair donzela. O tema retorna nos versos seguintes: By Gis and by Saint Charity, Alack, and fie for shame! Young men will do’t, if they come to’t; By cock, they are to blame. Quoth she, before you tumbled me, You promised me to wed. So would I ha’ done, by yonder sun, An thou hadst not come to my bed. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Por Jesus e Santa Caridade Vão pro diabo os pecados Os rapazes fazem o que podem Mas como eles são malhados! Disse ela:”Antes de me atracar, Você prometer casar”. “Pelo sol, eu o tinha feito Se não fosses ao meu leito”. 15 Teria sido essa a história de Ofélia e Hamlet? Teria ele descumprido uma promessa de casamento? A canção sugere que sim, indicando uma razão plausível para a loucura da personagem. Outra razão seria a morte do pai, também mencionada na canção de Ofélia: They bore him barefaced on the bier; Hey non nonny, nonny, hey nonny; And in his grave rain’d many a tear:— Fare you well, my dove! O puseram no caixão com o rosto descoberto. olelê, olelê, olelê. Caíram chuvas de lágrimas na campa, Vai em paz, meu pombinho! (. . .) And will he not come again? And will he not come again? No, no, he is dead: Go to thy death-bed: He never will come again. His beard was as white as snow, All flaxen was his poll: He is gone, he is gone, And we cast away moan: God ha’ mercy on his soul! And of all Christian souls, I pray God. God be wi’ ye. E ele não voltará mais? E ele não voltará mais? Não, não, ele está morto Em leito de paz e conforto Não voltará nunca mais. Tinha a barba branca como a neve Tinha a cabeça tão leve Foi embora, foi embora, É inútil nosso pranto. Que Deus o proteja, agora E para todas as almas cristãs, eu peço a Deus-7 Deus esteja convosco Nas palavras de Laertes, aqui temos “ thoughts and remembrance fitted”, “pensamentos e recordações se harmonizam”: reunidos, os fragmentos cantados por Ofélia desvendam a história de sua loucura, dando aos outros personagens e ao próprio público acesso a sua subjetividade. A propósito, a revelação da subjetividade sempre foi associada à poesia lírica. Segundo a persistente concepção romântica, o poema lírico dá voz a um eu solitário, entregue à meditação ou à comunicação com um ouvinte não identificado. A associação entre letra e melodia persiste mesmo quando, a partir de 1400, poesia e música passam a distanciar-se cada vez mais. Na Inglaterra, surgem 16 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 formas predominantemente melódicas como o madrigal, e diferentes tipos de cânone, entre as quais o glee, o catch e o round, que submetiam à música o elemento verbal. Após a Renascença, malgrado os esforços de autores relativamente recentes como Hopkins (1844- 1889), Swinburne (1837-1909) e Yeats (1865- 1939), a lírica preservou apenas o elemento verbal, tornando mero vestígio sua origem melódica. O rompimento do vínculo entre palavra e música resultou numa nova forma dupla, a poesia lírica nossa conhecida: ela combina as palavras de modo a tornar inseparáveis sua forma oral e escrita. O que então chamamos de musicalidade reduz-se à combinação eufônica do estrato sonoro, que, de qualquer forma, é inseparável da linguagem verbal8. Na obra de Shakespeare, a expressão da subjetividade lírica conduz inevitavelmente a seu ciclo de 154 Sonnets, a respeito dos quais não custa lembrar alguns dados históricos. A série, publicada em 1609 pelo editor Thomas Thorpe — talvez sem permissão do autor— congrega, em miniatura, um traço muito típico de toda a obra de Shakespeare: responde a uma moda contemporânea, mas, ao fazê-lo, remete a temas caros ao poeta, também desenvolvidos nas peças, embora, como um todo, o estilo dos poemas aproximese mais dos primeiros textos dramáticos do que dos de sua maturidade. Como algumas peças, vários sonetos abordam, além de questões étnicas, a problemática de gênero, envolvida na subjetividade gay. A respeito, o pré- rafaelita Dante Gabriel Rossetti sugeriu em 1882 uma alteração na forma de publicação dos sonetos: o de número CXXVI deveria ser seguido das palavras “Fim da Primeira Parte”. O CXXVII iniciaria a “Segunda Parte”, que terminaria no CLII, restando para os dois últimos o subtítulo “Epílogo à Segunda Parte”. A divisão proposta parece-me perfeita, justificada, do meu ponto de vista, também por coincidir com o tratamento das questões racial e de gênero. Os sonetos I a CXXVI ( a “Primeira Parte” de Rossetti) envolvem a temática homoerótica: a paixão idealizada do autor implícito por um belo cavalheiro. Os da “Segunda Parte” implicam a questão racial, pois detêm-se numa obsessão lasciva por uma jovem morena, apresentada como “negra” em razão de características físicas e morais. Nos dias atuais, a sonoridade melódica dos sonetos é atestada pelas gravações de muitos deles, musicados9. Neste texto, contudo, pretendo apenas focalizar aspectos temáticos que os relacionam com as peças. Em 1609, quando surgiu em letra de forma o ciclo shakespeariano, já declinara a moda de soneteering, representada pelas grandes sequências anteriores, como Astrophel and Stella de Sir Philip Sidney (1580) e os Amoretti de Edmund Spenser (1595). Ao embarcar, um tanto tardiamente, na onda sonetista, Shakespeare talvez cortejasse a respeitabilidade literária, já que, para seus contemporâneos, tal como acontece com as atuais novelas de televisão, Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 17 criações dramáticas (mesmo a sua, no auge do gênio e da popularidade), não eram consideradas literatura. Isso explica o fato de o dramaturgo, ao contrário do que ocorreu com a produção dramática, ter-se empenhado na publicação de seus poemas narrativos, Vênus e Adonis (Venus and Adonis, 1593) e O Estupro de Lucrécia (The Rape of Lucrece, 1594). Da perspectiva formal, pode-se dizer que Shakespeare também não inovou, pois adotou o já tradicional soneto inglês, também intitulado shakespeariano. Este diverge do modelo petrarquiano. Em vez de formar dois quartetos e dois tercetos, os quatorze versos do soneto shakespeariano (decassílabos iâmbicos) distribuem-se por três quartetos de rimas cruzadas, arrematados por um dístico, sem intervalo entre as linhas. Do ponto de vista temático, a voz lírica exprime sua subjetividade abordando conflitos amorosos e reflexões sobre a brevidade da vida e da beleza, em oposição à perenidade da arte. Esgotada a edição de 1609, os sonetos voltaram a circular em 1640, republicados por Ben Jonson. Esse outro poeta-dramaturgo, admirador e rival do Bardo, sabia o que fazia. Os Sonetos, quase tanto quanto as peças, desafiam o tempo. Apesar do maneirismo datado, propiciam ainda uma leitura instigante. À sua óbvia beleza e musicalidade, acrescentam a atração de múltiplos enigmas. A quem se dirigem os de número I a CXXVI? A um jovem nobre, patrono de Shakespeare, Henry Wriothesley, terceiro conde de Southampton? A William Herbert, terceiro conde de Pembroke, último protetor do poeta? E os poetas rivais, mencionados nos sonetos LXXVIII a LXXXVI? Referem-se a contemporâneos? Nesse caso, quem seriam? Outras interrogações continuam sem resposta. Os dezessete poemas iniciais – que estimulam o jovem a casar-se, para que sua beleza se perpetue nos descendentes – representariam uma reação protestante contra o celibato imposto aos padres católicos? Por outro lado, quem se esconderia sob a face da mulher celebrada nos sonetos CXXVII a CXLII? Uma amante de carne e osso, traiçoeira e imprevisível? Uma figura histórica, Lady Penelope Rich ou Anne Hathaway, esposa do poeta? Mary Fitton, dama de honra de Elizabeth I, ou Penelope Devereux, outra dama da rainha? Ou ainda, pelo contrário, não passaria a amada misteriosa, apelidada pela crítica de dark lady, de mera criação literária? Por essa misteriosa dama, a subjetividade lírica manifesta uma paixão com todos os vezos de verdadeira, em seu desencanto cruel. Pois, como explicitam vários dos poemas, a decantada mulher morena, irresistível sem ser bela, está longe de ser fiel, ou mesmo moralmente aceitável. Falsa e 18 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 promíscua, inclui entre os amantes o rapaz amado pelo eu lírico, objeto dos protestos e louvores contidos nos cento e vinte e seis sonetos iniciais. Arma-se assim uma dupla traição, pela amada e pelo amigo. No soneto XLII, à guisa de consolo, o eu lírico elabora um sofisma delicado, muito próprio da sofisticada filigrana barroca: a traição dupla resultaria do próprio amor que amada e amigo dedicariam a seu cantor: unindo-se, eles amariam um no outro a imagem ali deixada pelo adorador de ambos. Essa triangulação amorosa associa-se à hipótese da homossexualidade, ou bi-sexualidade, da persona poética, e, através dela, do próprio autor empírico, o homem Shakespeare. Será dele a voz que murmura sob o soneto CXLII? Arrisco uma tradução: That thou hast her it is not all my grief, And yet it may be said I loved her dearly; That she hath thee is of my wailing chief, A loss in love that touches me more nearly. Loving offenders thus I will excuse ye: Thou dost love her, because thou know’st I love her; And for my sake even so doth she abuse me, Suffering my friend for my sake to approve her. If I lose thee, my loss is my love’s gain, And losing her, my friend hath found that loss; Both find each other, and I lose both twain, And both for my sake lay on me this cross: But here’s the joy; my friend and I are one; Sweet flattery! then she loves but me alone. Não dói só que tu tenhas minha amada Mesmo amando eu a ela com ternura; Dói mais ter ela a ti. A ti ligada, Inflige ela a mim perda mais dura. A dupla traição, entanto, aceito, Pois sei que a amas por amá-la eu, E ela a ti, por ter-te eu no peito; Foi só por mim que a ti ela se deu. Se te perco, ela te ganha a ti. Se a perco, o ganho é todo teu. Um tem ao outro, e eu os dois perdi. Dupla cruz, que o duplo amor me deu. Mas sendo o amado e eu uma só chama, Doce consolo! É a mim que ela ama. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 19 Seleciono esse soneto como uma amostra do elemento dramático latente na sequência. Além das habituais efusões amorosas, dos avanços, recuos, súplicas, queixumes, louvores e censuras típicos do lirismo petrarquiano, os sonetos, ao mesmo tempo que vão se tornando sintaticamente mais complexos, deixam entrever, protagonizado pelos três personagens – o autor implícito, seu amigo e sua amada – um enredo, uma história de amor e ódio, atração e repulsa, pontuada de contradições. O eu lírico dilacera-se entre dois amores problemáticos: a paixão homossexual pelo amigo, representado como súmula de dotes incomparáveis, e o desejo mórbido, não menos poderoso, por uma mulher nada admirável. Nem ao menos sendo bela, a dark lady arrasta o amante para um rodamoinho de duvidosos prazeres. No conjunto, mesmo descartada a hipótese da possível referência autobiográfica, os conflitos inscritos na sequência traem o exercício de uma sensibilidade exacerbada, que confere profundidade aos personagens do triângulo amoroso. Nesse processo, coloca-se um conflito entre orientações sexuais divergentes, debatidas em nossos dias como parte da problemática de gênero. Não cessa aí a relevância dos sonetos para as temáticas atuais. O culto à dama negra, a black mistress do eu lírico, também desencadeia uma discussão sobre o problema racial, já presente na Inglaterra renascentista. Com essa dupla temática, a da homoerotismo e a do racismo, os sonetos podem ser lidos como um eixo irradiador, que remete a outras peças, compostas quase nos mesmos anos e perpassadas pelas mesmas questões. Refiro-me especificamente à já mencionada Antônio e Cleópatra (Antony and Cleopatra, 1607), além de O Mercador de Veneza (The Merchant of Venice, 1596-1598), Noite de Reis (Twelfth Night, 1602 ) e Otelo (Othello,1603). Nos sonetos, surpreende também algo que só se torna frequente na arte pop do século XX: a celebração do prosaico, do cotidiano, da imagem que não é privilégio dos bafejados pela fortuna ou pela fama. Nesse sentido, é típico o Soneto CXXX, que traduzo livremente: My mistress´eyes are nothing like the sun; Coral is far more red than her lips´red; If snow be white why then her breasts are dun; If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damasked, red and white, But no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes there is more delight Than in the breath that from my mistress reeks. . I love to hear her speak, yet well I know That music hath a far more pleasing sound; I grant I never saw a goddess go; And yet, by heaven, I think my love as rare As any she belied with false compare. 20 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Não briha como o sol o olhar da amada; Mais que seus lábios, é rubro o coral; Tem seios que não lembram neve em nada Negros cabelos, de arame, em espiral. Branca ou rubra, a rosa adamascada Não vejo florescer em sua face. E quisera que a brisa almiscarada Seu hálito de fato perfumasse! Amo ouvi-la falar. Contudo, sei Os sons de sua voz canto não são. O andar das deusas não presenciei; Mas a amada, bem vi, pisa no chão. Todavia, por Deus, ela supera Muita musa que bela se quisera. Outro soneto, o CXLI, retoma a mesma temática: também nega à amada os atributos cantados pela lírica renascentista. A dama não se mostra agradável aos olhos do eu lírico, que notam nela “mil defeitos” (a thousand errors ). Ela também repele a seus outros sentidos. Nem por isso deixa o amante de “amar o que os olhos desprezam” (loves what they despise)”, flagelo” (plague) para o “pecado” (sin) de um “coração desavisado” (foolish heart). Em minha tradução livre: In faith I do not love thee with mine eyes, For they in thee a thousand errors note; But ’tis my heart that loves what they despise, Who, in despite of view, is pleased to dote. Nor are mine ears with thy tongue’s tune delighted; Nor tender feeling, to base touches prone, Nor taste, nor smell, desire to be invited To any sensual feast with thee alone: But my five wits nor my five senses can Dissuade one foolish heart from serving thee, Who leaves unswayed the likeness of a man, Thy proud heart’s slave and vassal wretch to be: Only my plague thus far I count my gain, That she that makes me sin awards me pain. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 21 Em teu rosto meus olhos não se enlevam Por ver ali, patentes, faltas mil; O coração é que ama o que desprezam Os olhos, e idolatra o que é vil. Tua voz não me encanta quando ouvida; Teu sentimento só ao mal se inclina, Teu cheiro e paladar, nada convida À festa sensual. É minha sina Ver que, mesmo frustrados, meus sentidos Não me fazem deixar de te servir Teu escravo e vassalo, inamovidos, Prosseguem neste jugo sem porvir. Como prêmio, só tenho este contigo: Se me fazes pecar, dás o castigo. O soneto evoca um amor conflituoso, inexplicável, por uma mulher desprovida dos encantos celebrados pelos sonneteers. Ademais, como o CXXX, o CXLI assume um cunho metalinguístico. Refugando a fórmula habitual, de irrestrito louvor à beleza física e espiritual da amada, o texto satiriza a gasta lírica renascentista, com suas símiles convencionais, antíteses paralelas e paradoxos forçados. O soneto sugere, enfim, a necessidade de renovação poética, na verdade pouco surpreendente: Já na peça Dois Cavalheiros de Verona (Two Gentlemen of Verona), datada de vários anos antes (1598), Shakespeare zomba dos sonetistas e de seus “sonetos lamentosos”. Não é demais repetir: com sua referência a uma mulher comum, de pele escura e cabeleira emaranhada, o soneto CXXX contrasta em tudo com a dama cantada na poesia isabelina: a pudica “fair lady”, de cândidos olhos azuis, nívea pele e cabelos dourados. Encontra-se aí uma temática que os sonetos partilham com Othello e The Merchant of Venice: a questão racial. Sem ser propriamente negra, a black mistress diverge da beleza nórdica, encarnada na fair lady. Diversamente desta, recebe um tratamento nada lisonjeiro por parte do eu lírico, embora este se confesse dominado por incontrolável paixão. Parcialmente debitada a seu tipo moreno, a falta de beleza da dama é constantemente repisada— a começar pelo soneto CXXVII, primeiro da série a ela dedicada. O poema deixa transparecer a ancestral repulsa européia à pele escura. O soneto CXXXI acrescenta que a dama nem sequer é bela, embora possa parecê-lo a olhos equivocados. Traduzo quatro versos: 22 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 For well thou know’st to my dear doting heart Thou art the fairest and most precious jewel. Yet, in good faith, some say that thee behold, Thy face hath not the power to make love groan; Bem sabes, meu olhar apaixonado Te vê qual bela jóia preciosa Mas para outros que te têm olhado Tua face de tal poder não gosa. Não que o louvor à mulher morena fosse totalmente estranho à arte renascentista. Subsidiariamente ao culto da dama loura, despontava em poemas isolados certa fascinação pela beleza trigueira. Isso não impedia conotações racistas, que associavam insinuações negativas, de natureza moral, à descrição da pele, dos olhos e do cabelo escuros. Vale lembrar a afirmação de Derrida: “o racismo é inseparável da linguagem. (...) atos de violência racial (...) têm de corresponder a palavras. [O racismo] institui, declara, escreve, inscreve, prescreve”. 10 Com o vocabulário dos sonetos, a língua inglesa ratifica exemplarmente essa afirmação. Os de número CXXVII a CLII, dedicados à amada morena, jogam todo o tempo com os pares de antônimos, fair e black, fair e dark, fair e foul, traduzíveis como branco, claro, louro, em contraste com preto, escuro, moreno, que descrevem o físico da amada. Os pares de opostos embutem conotações morais. Além de claro e louro, fair tinha o sentido de limpo, puro, imaculado. O antônimo, foul, significando sujo, impuro, imoral, detestável, harmonizava-se com a denotação pejorativa também latente em dark e black. A dubiedade de sentido desses pares de antônimos aflora em vários sonetos. Enxertados de inúmeros trocadilhos, os adjetivos contrastantes sugerem os conflitos do eu lírico, dividido entre seus dois amores. Ao belo jovem cantado nos sonetos I a CXXVI, atribuem-se todas as virtudes, além da beleza física. Justifica-se assim a adoração homoerótica. Pelo contrário, a atração pela black lady inspira sentimentos de culpa, atribuíveis à perversidade, que o eu lírico liga aos traços negróides da amada. O autor implícito acusa a dama de ser falsa, mentirosa, sádica, chantagista, imprevisível, e também de traí-lo sem cessar, e não apenas com o jovem louro. A black mistress chega a encorajar atenções de outros amantes na presença de seu adorador, que, em contrapartida, mistura a seus queixumes repetidas referências à pele escura da traidora. A brancura do jovem louro, pelo contrário, é enfaticamente ligada a uma suposta superioridade moral. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 23 Julgue o leitor as ressonâncias racistas do soneto CXLIV, que, na tradução de Ivo Barroso, compara os dois seres amados pela persona lírica: Two loves I have of comfort and despair, Which like two spirits do suggest me still: The better angel is a man right fair, The worser spirit a woman coloured ill. To win me soon to hell, my female evil, Tempteth my better angel from my side, And would corrupt my saint to be a devil, Wooing his purity with her foul pride. And whether that my angel be turned fiend, Suspect I may, yet not directly tell; But being both from me, both to each friend, I I guess one angel in another’s hell: Yet this shall I ne’er know, but live in doubt, Till my bad angel fire my good one out. Dois amores -- de paz e desespero Eu tenho que me inspiram noite e dia: Meu anjo bom é um homem puro e vero; O mau, uma mulher de tez sombria. Para levar a tentação a cabo, O feminino atrai meu anjo e vive A querer transformá-lo em diabo, Tentando-lhe a pureza com a lascívia. Se há de meu anjo corromper-se em demo Suspeito apenas, sem dizer que seja; Mas sendo ambos tão meus, e amigos, temo Que o anjo no fogo já do outro esteja. Nunca sabê-lo, embora desconfie, Até que o meu anjo contagie. Reverberam aqui ecos da tradição misógina e racista que atribui à mulher morena maior sensualidade, e, portanto, maior capacidade de sedução, paralela à superior potência sexual creditada ao homem negro por ideologia semelhante. Insinua-se também uma referência velada ao mito da insaciabilidade sexual da mulher. Comum nas sociedades patriarcais, o mito se atrela ao temor de que a sexualidade feminina constitua uma ameaça à ordem estabelecida: em função de um insaciável apetite, toda mulher seria uma devoradora do homem, ansiaria por mantê-lo sob seu jugo, qual Ulisses retido por Circe em sua ilha. O feixe de associações negativas explica os termos nada lisonjeiros dirigidos à dama no soneto CXXXV, pontilhado de trocadilhos obscenos em 24 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 torno de vários sentidos do termo Will. A palavra pode ser o diminutivo de William (primeiro nome de Shakespeare), mas também, na gíria da época, significa “vagina”, “pênis” ou simplesmente “desejo sexual”. O soneto exorta a dama a não invejar outras mulheres. Ela deveria contentar-se com sua nefasta atração, que garantiria, mais que a qualquer outra, a satisfação de sua luxúria. Embutindo os trocadilhos centrados em “Will”, os versos iniciais, traduzidos por mim, bastam para indicar o tom do texto: Whoever hath her wish, thou has thy Will And will to boot, and Will in over-plus Se outras têm desejo, tu tens Will Will e mais Will, e Will em abundância... Na mesma linha, o soneto CXXXVII praticamente equipara a dark lady a uma prostituta: refere-se a ela como enseada (bay) ou espaço público (common) accessível a todos os homens. Numa época impregnada pela associação entre sexualidade e pecado, a paixão por tal mulher certamente bastaria para inspirar no eu lírico o sentimento de culpa tantas vezes reiterado. Entretanto, a postura racista é salientada pelo fato de que, embora fruto de uma atração homoerótica, já estigmatizada na Renascença cristã, o amor do eu lírico pelo jovem não parece inspirar remorso – provavelmente por ser ele claro, louro, ou fair, que também significava puro, virtuoso. A luta entre os dois amores torna-se uma guerra entre o céu e o inferno, o espírito e a carne – com o triunfo da última, nos sonetos CXXX e CLI. Em outras palavras, a adoração ao jovem louro equivale a “amor verdadeiro”. A atração pela mulher morena não passa de “lascívia pecaminosa”. O tom de condenação moral é explicitado em CXLVII, com o trocadilho que nem tento traduzir, centrado na palavra fair: I have sworn thee fair, and thought thee bright Who art as black as hell, as dark as night. Jurei que eras bela, achei-te até pura, Tu, negra como inferno, e, como a noite, escura. Apesar dos paradoxos e sofismas que algumas vezes matizam esse julgamento, o eu lírico, sob o efeito de uma paixão doentia (comparada a uma febre no soneto CXLVII) raramente deixa de condenar a amada. Uma exceção é o soneto XXXII, que inverte o julgamento negativo. O jogo de paradoxos, habitual na poesia eufuística, serve à atribuição do adjetivo fair ( pura, branca), à dama negra, tornando-se foul (vis) os que não têm a sua cor. Traduzo: Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 25 Then will I swear beauty herself is black And all they foul that thy complexion lack. A própria beleza negra se fez São vis os que não têm a tua tez. No louvor à beleza negra, esse soneto destoa de todos os demais. Contudo, de certa forma, ele reitera a caracterização da protagonista de Antônio e Cleópatra. Como sucede com a dama dos sonetos, a rainha egípcia é na peça tão sedutora quanto traiçoeira e imprevisível – sendo essa a fonte paradoxal de seu inexcedível encanto. Tais contradições não se aplicam ao jovem louro. Virtualmente todos os sonetos da primeira parte da sequência cantam-lhe as virtudes, além da beleza. Por outro lado, a emoção patente, as referências a incidentes amorosos, a dores por ausências e infidelidades mútuas, evidenciam o caráter homoerótico dos versos. Shakespeare não foge, pois, ao tratamento da questão gay, só abertamente debatida após as revoluções culturais do século XX. Ao leitor, fica a pergunta: como podem os sonetos expressar emoção tão eloquente, sem uma base real? Tratar-se-ia de uma atração platônica, não consumada? As barreiras (impediments) mencionadas no soneto CXVI referemse apenas à interdição social contra a homossexualidade? Ou, como querem alguns, o autor simplesmente versaria um tema convencional na poesia da época? Volto a traduzir livremente: Let me not to the marriage of true minds Admit impediments. Love is not love Which alters when it alteration finds Or bends with the remover to remove: O, no! it is an ever-fixed mark, That looks on tempests and is never shaken; Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks Within his bending sickle’s compass come; It is the star to every wandering bark, Whose worth’s unknown, although his height be taken. Love alters not with his brief hours and weeks, But bears it out even to the edge of doom. If this be error and upon me proved, I never writ, nor no man ever loved. 26 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Que não haja barreiras à união De almas fiéis. Não é amor o amor Que as mudanças e o tempo alterarão Ou, na luta, se curva ao opressor. Oh, não! É um alvo eterno, inamovível Que enfrenta tempestades sem tremer. Foge à foice do tempo, muito embora Este roube a beleza à face rubra; Estrela- guia na procela horrível Lá no alto, conserva seu poder. Não se prende o amor à breve hora Até que chegue a morte e o descubra. Se estou errado, e isso for provado, Nunca escrevi, nem ningúem foi amado. A leitura tradicional desse soneto – como hino de louvor a um amor ideal e eterno – pode ser ampliada, ou mesmo questionada. Na verdade, os sonetos próximos do CXVI insistem em deplorar as infidelidades de ambos os amantes, bem como as ciladas armadas para os olhos do corpo e da alma. Nesse contexto, o amor se projeta como uma estrela-guia para a superação de todos os obstáculos, inclusive, suponho, os enfrentados por amantes do mesmo sexo. A esse respeito, o XX dissipa todas as dúvidas. Claramente misógino e homoerótico, não poderia ser mais explícito: proclama que a natureza, prodigalizando ao amado a beleza da mulher, poupou-lhe os defeitos do caráter feminino. Tão belo resultou o objeto criado, que despertou a paixão de sua criadora. Para consumar esse amor, a natureza, apresentada como mulher, dotou sua criatura de certo detalhe anatômico. Sendo assim, só mulheres podem usufruir plenamente do físico do amado. Ao eu lírico, que é homem, resta valorizar o amor espiritual e contentar-se com ele. Não custa conferir o texto, confrontando minha tradução e o original: A woman’s face with nature’s own hand painted, Hast thou, the master mistress of my passion; A woman’s gentle heart, but not acquainted With shifting change, as is false women’s fashion: An eye more bright than theirs, less false in rolling Gilding the object whereupon it gazeth; A man in hue all hues in his controlling, Which steals men’s eyes and women’s souls amazeth. And for a woman wert thou first created; Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting, And by addition me of thee defeated, By adding one thing to my purpose nothing. But since she prick’d thee out for women’s pleasure, Mine be thy love and thy love’s use their treasure. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 27 Tens de mulher o rosto, obra prima Da natureza, meu senhor/senhora; Da mulher, deu-te a ternura fina Sem o vício que nela se deplora. Teus olhos brilham mais, e mentem menos Ao pousar, puro ouro, em outro olhar. Homem nos atos, mesmo os mais pequenos, Sabes mulher e homem fascinar. Ao te criar mulher, a natureza Por ti se apaixonou, e acrescentou A teu corpo um detalhe, com certeza Útil a ela, mas que a mim frustrou. Às mulheres, portanto, dás prazer. Quanto a mim, basta o amor que me hás de ter. Clara declaração de paixão de um homem por outro, o poema reitera o louvor a um amor alegadamente altruísta, que, em sua renúncia, beira ao masoquismo. Pode-se questionar a natureza autobiográfica desses versos. Mas seria difícil negar que seu homoerotismo, como o racismo latente, repete-se na criação dramática, da qual seleciono e traduzo pequenos trechos abaixo. Nesse sentido, os Sonetos podem ser lidos como ponte entre o lirismo de Shakespeare e suas peças. Destaco aqui O Mercador de Veneza que simultaneamente evidencia a dramatização tanto do homoerotismo quanto do racismo. O primeiro verso do texto contém a famosa declaração de Antônio: In sooth I know not why I am so sad. A misteriosa tristeza proclamada pela personagem pode ser atribuída à frustração de ver o idolatrado amigo Bassanio prestes a disputar a mão da bela e rica Pórcia. Na verdade, Bassânio parece retribuir o amor de Antônio, pois, já casado, afirma amá-lo tanto quanto à esposa e à própria vida. Traduzo suas palavras em IV, I, 279-82: Antonio, I am married to a wife Which is as dear to me as life itself; But life itself, my wife, and all the world, Are not with me esteem’d above thy life: Antonio, desposei uma mulher A quem amo como à própria vida; Mas vida, esposa, o mundo inteiro Não valem para mim mais que tu mesmo…12 28 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Além de sua discreta representação do homoerotismo13 – a peça se destaca como uma contundente dramatização de racismo. Traduzo a queixa do usurário Shylock a respeito dos insultos gratuitos recebidos pela simples razão de sua condição de judeu: You call me misbeliever, cut-throat dog, And spit upon my Jewish gaberdine, Chamam-me de infiel, cão circuncidado, Escarram sobre os meus trajes judeus ( I, iii) O racismo aflora também na velada repulsa de Pórcia pelo príncipe de Marrocos. Em palavras dirigidas a sua dama de companhia, a herdeira se regozija ao ver que, não tendo acertado na escolha do cofre contendo seu retrato, o pretendente negro fica obrigado a renunciar à pretensão de desposá-la. Eis o comentário da jovem: Let all of his complexion choose me so. Que todos da sua cor façam a mesma escolha! (II vii ) Seria fácil ampliar esta discussão sobre o racismo, que lembra a caracterização da dama negra dos Sonetos. Poderíamos também passar à análise do mesmo tema em Otelo, o que, contudo, estenderia este ensaio além do razoável. Da copiosa bibliografia sobre o assunto, limito-me a destacar dois trabalhos, indicados na bibliografia abaixo. Para finalizar, gostaria de retomar observações feitas ao longo deste texto: no triângulo amoroso que articula os Sonetos é possível detectar elementos dramáticos. Em contrapartida, as peças não raro apresentam textos onde o lírico rivaliza com o dramático. É ainda em O Mercador de Veneza que encontro uma ilustração bastante clara. Em V, i., vencidas as dificuldades para a realização de seu casamento interracial, a judia Jéssica mantém um terno diálogo com Lorenzo, seu marido cristão. O local não poderia ser mais propício ao lirismo: o jardim enluarado em frente à casa de Pórcia, no reino encantado de Belmont. Em suas falas, os recém-casados recapitulam as histórias de pares de amantes da literatura clássica: Troilus e Créssida, Píramo e Tisbe, Eneas e Dido, Jasão e Medéa. Encerrando o diálogo, entrecortado de ternos gracejos, o casal rememora o desfecho feliz de seu próprio trajeto amoroso. Traduzo: Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 29 LORENZO. In such a night Did Jessica steal from the wealthy Jew, And with an unthrift love did run from Venice As far as Belmont. JESSICA. In such a night Did young Lorenzo swear he lov’d her well, Stealing her soul with many vows of faith, And ne’er a true one. LORENZO. In such a night Did pretty Jessica, like a little shrew, Slander her love, and he forgave it her. LORENZO.Numa noite assim Jéssica deixou furtivamente o rico judeu E com um amor perdulário fugiu de Veneza Para Belmont. JESSICA. Numa noite assim O jovem Lorenzo jurou que a amava muito, Seduzindo-a com juras de fiel amor, Todas elas falsas. LORENZO. Numa noite assim Tal qual uma bruxinha, a linda Jéssica, Caluniou seu amor, e ele a perdoou. Interrompido pela chegada do criado Stéfano, o breve duelo verbal basta para tingir de lirismo essa cena, já impregnada de infalíveis imagens poéticas, o jardim perfumado e o brilho do luar. A platéia é conduzida à subjetividade dos amorosos, para reviver com eles sua história de amor. Por seu incomparável lirismo destaco também a fala do protagonista de Rei Lear (King Lear) em V, iii. Perdida a batalha que poderia devolver-lhe o trono, o rei é condenado à prisão juntamente com sua caçula, a piedosa Cordélia, antes injustiçada pelo pai. Ao lado da filha, Lear não lamenta a condição de prisioneiro. Pelo contrário, sonha com o cárcere como espaço abençoado onde ele e Cordélia poderão gozar dos prazeres simples, esquecidos nos palácios. Da senilidade, o velho rei exibe apenas uma espécie de meninice, transfigurada em poesia. Em seu devaneio, vê-se outra vez menino, amante de contos antigos. Imagina-se criança, correndo “atrás das asas ligeiras” de borboletas coloridas, como a persona poética de nosso Casimiro de Abreu, cantor da infância.14 Poucos textos, na poesia ou no drama, parecem-me rivalizar em lirismo com este extravasamento emotivo do velho rei, que traduzo: 30 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Come, let’s away to prison: We two alone will sing like birds i’ the cage: When thou dost ask me blessing, I’ll kneel down, And ask of thee forgiveness: so we’ll live, And pray, and sing, and tell old tales, and laugh At gilded butterflies, and hear poor rogues Talk of court news; and we’ll talk with them too, Who loses and who wins; who’s in, who’s out; And take upon’s the mystery of things, As if we were God’s spies: and we’ll wear out, In a wall’d prison, packs and sects of great ones, That ebb and flow by the moon. Vem, vamos embora para a prisão. A sós, cantaremos como pássaros na gaiola. Quando me pedires a benção, por-me-ei de joelhos E te pedirei perdão; assim vamos viver, E orar, e cantar, e contar velhas histórias, sorrir Às borboletas douradas, e ouvir essa gente boba Dar notícias da corte; conversaremos com eles Sobre quem vence ou é vencido; goza ou perde favores; Assumiremos o mistério das coisas, Como espiões de Deus; e, lá dentro da prisão Sobreviveremos às turbas e grupos de poderosos, Que vem e vão como a maré ao luar. Nesse momento, Lear parece encarnar toda a humanidade, que, a seus olhos, precisa re-aprender a rezar, e, como a criança, aconchegar-se na intimidade do amor. Longe dos jogos de poder, na abençoada prisão imaginada pelo rei, há espaço e tempo para o comércio com o divino e a reflexão sobre o “mistério das coisas”. Um lirismo igualmente tocante reveste a fala de Gertrude em Hamlet IV, vii, quando a rainha narra a Laerte a morte de sua irmã Ofélia. Na tradução de Millôr Fernandes: Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 31 There is a willow grows aslant a brook, That shows his hoar leaves in the glassy stream; There with fantastic garlands did she come Of crow-flowers, nettles, daisies, and long purples That liberal shepherds give a grosser name, But our cold maids do dead men’s fingers call them: There, on the pendent boughs her coronet weeds Clambering to hang, an envious sliver broke; When down her weedy trophies and herself Fell in the weeping brook. Her clothes spread wide; And, mermaid-like, awhile they bore her up: Which time she chanted snatches of old tunes; As one incapable of her own distress, Or like a creature native and indued Unto that element: but long it could not be Till that her garments, heavy with their drink, Pull’d the poor wretch from her melodious lay To muddy death. Há um salgueiro que cresce inclinado no riacho Refletindo suas folhas de prata no espelho das águas; Ela foi até lá com estranhas grinaldas De botões-de-ouro, urtigas, margaridas, E compridas orquídeas encarnadas, Que nossas castas donzelas chamam dedos de defuntos, E a que pastores, vulgares, dão nome mais grosseiro. Quando ela tentava subir nos galhos inclinados, Para ir pendurar as coroas de flores, Um ramo invejoso se quebrou; Ela e seus troféus floridos, ambos, Despencaram juntos no arroio soluçante. Suas roupas inflaram e, como sereia, A mantiveram boiando certo tempo; Enquanto isso ela cantava fragmentos de velhas canções, Inconsciente da própria desgraça Como criatura nativa desse meio Criada pra viver nesse elemento. Mas não demoraria pra que suas roupas Pesadas pela água que a encharcava, Arrastassem a infortunada do seu canto suave À morte lamacenta. (p. 115-116) 32 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 A musicalidade do texto é testemunhada por sua utilização em letras de canções, como na gravação acessada por mim em 27/02/2009, no www.youtube.15 Incrustado num diálogo, o texto shakespeariano é simultaneamente descritivo e narrativo, lembrando a interação de gêneros mencionada por David Lindley, citada na nota 1, acima. A fala de Gertrude inclui elementos geralmente associados ao lirismo: sonoridade melodiosa, riqueza de expressividade sensória e de efusão emotiva16. Pontilhada de ricas imagens visuais, que inspiraram obras de arte como a Ophelia (1851-52) de John Everett Millais, a descrição revela uma terna empatia com a jovem morta, e, indiretamente, a subjetividade compassiva da rainha. Contribui, assim, para a caracterização da mãe de Hamlet e para redimi-la das faltas que, propositadamente ou não, cometeu contra o filho e o marido assassinado. Uma vez mais, a criação shakespeariana celebra um enlace feliz entre lirismo e criação dramática. Relembra, assim a imbricação de gêneros hoje apontada como típica da criação pós-moderna. Por isso, como pela fusão do erudito e do popular, testemunhada, entre outros traços, por certas canções em suas peças, não será demais concluir que a criação shakespeariana projeta-se como sempre já pós-moderna. Notas 1 A propósito da dificuldade de definição da poesia lírica, e de sua interação com outros gêneros, ver LINDLEY, 1985, p. 13 e 23. No caso de Shakespeare, o autor considera a presença do lírico em Romeu e Julieta, III, v, sob a forma da aubade. 2 A propósito, resumo a definição de poema lírico encontrada no dicionário de termos literários de M. H. Abrams: poema que expressa os sentimentos, percepções e pensamentos de uma persona poética, de modo intensamente pessoal, emocional ou subjetivo (ABRAMS, 1993, p. 123). 3 A propósito, ver Songs and Dances from Shakespeare. The Broadside Band. Saydisc Records, England, 1995. 4 DUFFIN, Ross D. Shakespeare’s Songbook. New York: D. D. Norton & Company, 2004. A edição, anotada e complementada por CD , inclui gravações muito variadas, com baladas, canções de amor, cânones, canções báquicas (“drinking songs”), entre os quais “Hold Thy Peace”, “It Was a Lover and His Lass”, “Jog On”, “There Dwelt a Man in Babylon”, “You Spotted Snakes”. Outro estudo interessante é Songs from Shakespeare´s Plays and Popular Songs of Shakespeare Time, organizado por Tom Kines em 2007. Cf também o CD Songs and Dances from Shakespeare. The Broadside Band. Director Jeremy Barlow, Deborah Roberts (soprano) e John Potter (tenor). 5 A propósito, ver http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId= 1847184. Acesso: 07 mar. 2009. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 33 6 A propósito, ver DUNN, Leslie C e Nancy A. Jones, 1994, p. 50-64. As traduções das letras de canções cantadas por Ofélia são de Millor Fernandes, 1999, p. 101-103, 106-107. 8 Para a dupla caracterização da poesia lírica – a representação da subjetividade e a ênfase no elemento sonoro – ver dois textos assinados por Marjorie Perloff e Craig Dworkin, publicados na revista PMLA de maio de 2008. Perloff contempla o aspecto fônico da semântica poética, Dworkin, as reverberações semânticas do estrato sonoro. Ao destacar a estruturação sonora inerente à poesia, Perloff lembra que, nessa arte, o nexo interno entre som e sentido, presente em toda linguagem verbal, manifesta-se mais clara e insistentemente. Deixa de ser apenas latente para tornar-se manifesto (p.749). Segundo a autora, o aspecto sonoro da criação poética é relegado a segundo plano pela crítica atual, mais centrada no sentido do que na organização fonêmicomorfêmica dos poemas analisados (p.750). Perloff acrescenta que essa postura tem sido estimulada pela persistente concepção romântica da poesia lírica. A propósito, a pesquisadora observa que a coleção de ensaios denominada “The New Lyric Studies”, incluída na revista PMLA de janeiro de 2008, continua aceitando a premissa de que o domínio da lírica é a subjetividade, por mais irônica ou descentrada que possa apresentar-se na poesia de nossos dias. 9 A propósito, cf. a gravação do soneto XVIII, musicado. Disponível em: http:// www.youtube.com/watch?v=m2j3x5hWOrY&NR= Acesso: 1 fev 2009. 10 DERRIDA, 1985, p. 329-38, especialmente p. 331. Tradução da autora. 11 A propósito do racismo implícito nesses sonetos, cf. também meu trabalho “Shakespeare´s Sonnets: A Case of Non-Translation”, 2002. 12 Tradução da autora.Sobre a questão da homosexualidade em The Merchant of Venice e outros textos, ver BAKER, Deborah and KAMPS, Ivo. 1995, History, p. 1-21. Também, na mesma obra, BELSEY, Catherine. Love in Venice, p. 196-213. Sobre o homoerotismo entre Antonio e Sebastian, ver PEQUIGNEY, Joseph, 1995, p. 178195. 13 O laço homossexual parece ainda mais claro no relacionamento de Sebastian com outro Antonio, em Twelfth Night (Noite de Reis). 14 Para o leitor brasileiro, a fala de Lear soa como um prenúncio dos versos de Casimiro de Abreu em “Meus oito anos”: Livre filho das montanhas, Eu ia bem satisfeito, Da camisa aberta o peito, — Pés descalços, braços nus — Correndo pelas campinas A roda das cachoeiras, Atrás das asas ligeiras Das borboletas azuis! 7 34 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 REFERÊNCIAS ABRAMS, M. H. A Glossary of Literary Terms. 6th edition. Fort Worth: Harcourt Brace College Pub., 1993. BAKER, Deobrah and KAMPS, Ivo. Shakespeare and Gender: An Introduction. BARKER, Debora E. and KAMPS, Ivo( eds). Shakespeare and Gender. A History. London and New York: Verso, 1995, p. 1-21. BARROSO, Ivo. William Shakespeare. 30 Sonetos. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1991, edição revisada. BELSEY, Catherine. Love in Venice. BARKER, Debora E. and KAMPS, Ivo( eds). Shakespeare and Gender. A History. London and New York: Verso, 1995, p. 196-213. DERRIDA, Jacques. Racism´s Last Word. GATES JR., Henry Louis (ed). Race, Writing and Difference. Univ. of Chicago Press, 1985, p. 329-38. DUFFIN, Ross D. Shakespeare's Songbook. New York: D. D. Norton & Company, 2004. DUNN, Leslie C e Nancy A. Jones(orgs). Ophelia´s Songs in Hamlet: Music, Madness, and the Feminine. Embodied Voices: Representing Female Vocality in Western Culture. New Perspectives in Music History and Criticism. Cambridge University Press, 1994, p. 50-64. DWORKIN, Craig .The Sound of Poetry. PMLA, May 2008, vol 123 Number 3, p. 755- 761. HONAN, Park. Shakespeare. Uma vida. Trad. Sônia Monteiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. KINES, Tom( ed), Songs from Shakespeare´s Plays and Popular Songs of Shakespeare time, Oak Archives, 2007. LINDLEY, David. Lyric. The Critical Idiom. London and New York: Methuen, 1985. NEELY, Caro. Circumscription and Unhousedness: Othello in the Borderlands . Shakespeare and Gender, London and New York: Verso, 1995, p. 302-311. OLIVEIRA, Solange Ribeiro de. Shakespeare´s Sonnets: A Case of Non-Translation. RESENDE, Aimara da Cunha (org). Foreign Accents. Brazilian Readings of Shakespeare. Newark: University of Delaware Press. London: Associated University Presses, 2002, p. 55-61. PEQUIGNEY, Joseph. The two Antonios and Same-Sex Love in Twelfth Night and The Merchant of Venice. BARKER, Debora E. and KAMPS, Ivo( eds). Shakespeare and Gender. A History. London and New York: Verso, 1995, p. 178-195. PERLOFF, Marjorie Forum. The Poetry of Sound. PMLA, May 2008, vol 123 Number 3. New York: Publications of the Modern Language Association of America, p. 749754. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 35 SHAKESPEARE, William. Hamlet.Trad. Millôr Fernandes. Porto Alegre: L & PM, 1999. WELLS, Stanley; TAYLOR, Gary (editors). William Shakespeare. The Complete Works. Compact Edition. Clarendon Press, Oxford University Press, 1991. www.youtube. Anne-Sofie von Otter sings Songs to Words by William Shakespeare Op 31. Acesso: fev 2009: http://www.youtube.com/watch?v=m2j3x5hWOrY&NR=1, soneto XVIII, musicado. Acesso: fev. 2009. CD – Songs and Dances from Shakespeare. The Broadside Band. Director Jeremy Barlow, Deborah Roberts (soprano) e John Potter (tenor). Artigo recebido em 19 de dezembro de 2008. Artigo aceito em 29 de maio de 2009. Solange Ribeiro de Oliveira Professora Emérita da UFMG. Livre-docente da Universidade de Londres. Docente aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de Ouro Preto. 36 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 RELAÇÕES TRANSTEXTUAIS: RECONCEPTUALIZAÇÕES DO CONCEITO DO BLASON NOS SONETOS CXXX DE SHAKESPEARE E XX DE NERUDA1 Sigrid Renaux [email protected] RESUMO: A partir do conceito do blason, este artigo apresenta, através de uma abordagem transtextual, uma releitura deste conceito em dois sonetos de amor: como hipotexto, no soneto CXXX de Shakespeare, no qual o poeta parodia as convenções dos sonetos corteses de sua época e a “falsa comparação” da beleza idealizada da mulher amada com imagens da natureza; como hipertexto, no soneto XX de Neruda, no qual o poeta retoma e reescreve não só o conceito já parodiado por Shakespeare para descrever sua amada Matilde Urrutia, mas também as imperfeições físicas que caracterizam a “Dark Lady” de Shakespeare. As similaridades formais, textuais e temáticas entre ambos os sonetos projetam como o texto nerudiano dialoga com o shakespeareano e como o conceito do blason adquire novo alento em Neruda. ABSTRACT: Starting from the blazon conceit, this article presents, by way of a transtextual approach, a re-reading of this concept in two love sonnets: as hipotext, in Shakespeare’s Sonnet CXXX, in which he parodies the conventions of the courtly sonnets of his time and the “false comparison” of the idealized beauty of the beloved mistress with Nature images; as hypertext, in Neruda’s Sonnet XX, in which he retakes and rewrites not only the conceit already parodied by Shakespeare to describe his beloved Matilde Urrutia, but also the physical imperfections which characterize Shakespeare’s “Dark Lady”. The formal, textual and thematic similarities between both sonnets project how the Nerudian text enters into dialogue with the Shakespearean and how the blazon conceit acquires new life in Neruda. PALAVRAS-CHAVE: Blason. Soneto. Shakespeare. Neruda. KEY WORDS: Blazon. Sonnet. Shakespeare. Neruda. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 37 O leitor shakespeareano que se depara com os Cien sonetos de amor de Pablo Neruda não pode deixar de ficar impressionado pelas relações formais, textuais e temáticas que podem ser estabelecidas, já à primeira vista, entre o soneto XX de Neruda e o soneto CXXX de Shakespeare. Entretanto, como essas relações são auto-evidentes – “a transtextualidade, ou transcendência textual do texto”, que Genette define como “tudo que o coloca em relação, manifesta ou secreta com outros textos”(GENETTE, 2005, p.7) –, a percepção das mesmas necessita ser mais explorada a fim de projetar não apenas a significância da transcendência textual do texto de Neruda em relação ao de Shakespeare, mas simultaneamente reavaliar o matiz lúdico que colore o soneto de Shakespeare, ao ele parodiar as convenções do soneto de amor petrarquiano e da forma do blason em voga em sua época. Como elemento arquitextual, o soneto (de sonetto> pequeno som ou canção), como é de notório saber, originou-se na Itália no século XIII. Apesar de a forma ter sido usada através da Idade Média tardia por todos os poetas líricos italianos para poemas de amor e, particularmente, para aquela devoção semi-platônica e semi-religiosa à dama ou Donna que subsequentemente tornouse um clichê da poesia amorosa, foi na realidade Petrarca que estabeleceu o soneto como uma das formas poéticas mais importantes: um poema de catorze linhas dividido em uma oitava apresentando o tema ou problema e rimando abbaabba, e um sexteto solucionando-o, geralmente rimando cdecde. Quando Sir Thomas Wyatt e o Earl of Surrey importaram a forma petrarquiana para a Inglaterra nos inícios do século XVI, o esquema de rimas foi modificado por Surrey para abab, cdcd, efef, gg, devido à maior dificuldade de rimar em inglês e foi esta forma, com variações – como a forma do soneto spenseriano –, a mais usada na Inglaterra no final do século XVI e portanto também por Shakespeare: novamente com variações sutís no pentâmetro jâmbico e nos padrões de rimas e, especialmente, na divisão do pensamento em três quartetos e um dístico concludente (CUDDON, 1992, p.702 e 895-6). É de consenso geral que os 154 sonetos de Shakespeare foram escritos entre 1593 e 1598, os primeiros 126 dedicados a um jovem elegante, nobre e louro, enquanto os outros, de 127 a 152, são meditações sobre as relações do poeta com uma misteriosa “Dark Lady” – não apenas “dark-skinned, darkeyed and dark-haired”(VIOLI, 1965, p.12), mas também “wanton, perverse, and alluring”(SAMPSON, 1961, p. 272) –, da qual Shakespeare aparentemente estava profundamente enamorado. Sua identidade, como a do rapaz, tem sido conjeturada mas nunca completamente estabelecida pelos estudiosos de Shakespeare. Entretanto, mesmo que o soneto CXXX de Shakespeare 38 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 My mistress’ eyes are nothing like the sun; Coral is far more red than her lips’ red; If snow be white, why then her breasts are dun; If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damask’d, red and white, But no such roses see I in her cheeks; And in some perfumes is there more delight Than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know That music hath a far more pleasing sound; I grant I never saw a goddess go; My mistress, when she walks, treads on the ground: And yet, by heaven, I think my love as rare As any she belied with false compare. (SHAKESPEARE, 1952, p. 74) já tenha sido exaustivamente comentado como paródia das convenções dos sonetos corteses de sua época e sua “falsa comparação” da beleza idealizada da amada com imagens da natureza concretizadas no conceito do blason, é preciso recordar suas características principais a fim de ver como o hipertexto shakespeareano, como exemplo do que Genette chama hipertextualidade – “toda relação que une um texto B (hipertexto) a um texto anterior A (hipotexto) do qual ele brota, de uma forma que não é a do comentário”(GENETTE, 2005, p. 19) – , servirá por sua vez como hipotexto para o uso que Neruda fará do mesmo conceito. Pois, como Genette salienta adiante, “a hipertextualidade (...) também é evidentemente um aspecto universal (...) da literariedade: é próprio da obra literária que, em algum grau e segundo as leituras, evoque alguma outra e, nesse sentido, todas as obras são hipertextuais” (GENETTE, 2005, p. 29). O conceito, como termo literário, veio a denotar um procedimento figurativo bastante elaborado que muitas vezes incorpora a metáfora, a comparação, a hipérbole ou o oxímoro, destinado a surpreender e deleitar por seu espírito e engenhosidade. Como os conceitos dos sonetistas estavam entre os mais comuns e os compositores de sonetos de amor possuíam um grande número de conceitos convencionais dos quais podiam fazer uso (CUDDON, 1992, p. 177-8), estes já tinham se tornado um lugar-comum na época de Shakespeare, pois “sequences of sonnets about love, real or assumed, became an irresistible poetical fashion during the decade from 1590 to 1600” (SAMPSON, 1961, p. 271). O soneto CXXX, portanto, satiriza especificamente a convenção do conceito do blason – usado pelos seguidores do petrarquismo para descrever versos que se ocupavam em detalhar as várias partes do corpo da mulher (CUDDON, 1992, p. 97-8): a amada de Shakespeare, em vez de Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 39 ser “divine, holy, and the ideal of beauty: white-skinned, rosy-cheeked, lilyhanded, blonde”(VIOLI, 1965, p.15), como no Epithalamion (1595) de Spenser Her goodly eyes like sapphires shining bright, Her forehead ivory white, Her cheeks like apples which the sun hath rudded, Her lips like cherries charming men to bite, Her breast like to a bowl of cream uncrudded, Her paps like lilies budded, Her snowy neck like to a marble tower, And all her body like a palace fair. (KERMODE & HOLLANDER, 1973, p. 827-8) ou no soneto 39 Fidessa (1596) de Bartholomew Griffin, entre outros, tem seu catálogo de atributos físicos subvertidos num contreblason. No primeiro quarteto, “My mistress’ eyes are nothing like the sun:” já anula a comparação tradicional dos olhos da amada com as estrelas brilhantes e com o sol, como no verso “her eyes the brightest stars the heavens hold” de Griffin, ou no soneto XLIX de Shakespeare “Against that time when thou shalt strangely pass/ and scarcely greet me with that sun, thine eye” (SHAKESPEARE, 1952, p. 33) e, portanto, também anula o simbolismo implícito do olho com o sol – “the beauteous eye of heaven” – associado com esta imagem. Consequentemente, as outras conotações favoráveis do sol pertinentes neste contexto – luz, esplendor, céu, paraíso, juventude (de VRIES, 1974, p.170 e 447-8)1 – também são implicitamente retirados dos olhos de sua amada, deste modo aprofundando as implicações negativas da comparação negada. A falta de brilho nos olhos de sua amada é então ainda mais enfatizada pela falta de cor nos lábios: “Coral is far more red, than her lips red”. A comparação dos lábios a coral vermelho é obviamente outro lugar-comum, como no verso IV de Spenser, ou no verso “her pretty lips of red vermilion dye”, de Griffin, nos quais os lábios, como zona erógena diretamente relacionada com sexualidade, representam a amada (como pars pro toto) e são tradicionalmente relacionados com coral e cerejas. Pelo fato de o coral vermelho, além de ser apreciado para fins ornamentais e ser classificado entre pedras preciosas, estar também relacionado pela cor ao sangue, saúde, amor e ser um epíteto consagrado dos lábios, enquanto a cor vermelha é, similarmente, simbólica de fogo, amor, paixão, como também a cor do ruborizar e corresponder ao coral, as imagens na comparação shakespeareana – lábios/ coral/vermelho – sobrepõem-se simbolicamente, pois o coral equivale ao 40 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 amor e aos lábios, e o vermelho equivale ao amor. Toda esta carga simbólica é assim novamente removida dos lábios da amada, que perdem seu poder de atrair o amante através da ausência da cor vermelha e portanto seu potencial de incitar nele a paixão. Ao descermos o olhar do rosto para os seios, o “catalogue verse” paródico de Shakespeare continua a reforçar pela elaboração (CUDDON, 1992, p. 123) as várias partes do corpo da amada: “if snow be white, why then her breasts are dun”. Se a comparação tradicional dos seios com neve, marfim e brancura, como nos versos de Spenser, já suscita sugestões de pureza, castidade e santidade, essas associaçãos são ainda mais realçadas pelo simbolismo dos seios como feminilidade madura, local de adoração e fonte de inspiração poética, deste modo projetando o poder dessa imagem como evocada pelos poetas. Mesmo se a pele natural nunca é tão branca como a neve, a introdução repentina do qualificativo “dun” causa então um impacto, pois esta cor parda ou castanho- acinzentada – Kermode traduz “dun” como “tan” (KERMODE & HOLLANDER, 1973, p. 963), o que a faz parecer menos impactante – novamente iria retirar as associações positivas da neve e da brancura em relação aos seios. Erguendo o olhar novamente para os cabelos da amada – “If hairs be wires, black wires grow on her head”– devemos nos lembrar que a comparação dos cabelos com arame era comum na época elizabetana, pois na Renascença os arames eram usados em jóias e bordados como também para montar penteados, estando portanto associados com beleza e trato. O que está sendo contrastado com o ideal invisível de beleza feminina é na realidade o fato de que os “arames” são negros, em vez de dourados, como no verso de Griffin “My lady’s hair is threads of beaten gold” ou no quadro “Flora” de Bartolomeo Veneto (ECO, 2007, p. 176). Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 41 Deste modo, mesmo que o simbolismo dos cabelos seja mantido no verso, como poder mágico e espiritual, fertilidade e amor, sua relação com o fogo e os raios solares e portanto com o crescimento de forças primitivas é retirado dos arames negros. São apenas os cabelos dourados, simbolizando raios de sol, que retêm esta qualidade, enquanto os cabelos negros ou castanhos escuros estão relacionados com as forças ctônicas. Assim, o brilho e a luz emanando dos cabelos dourados da amada idealizada está novamente ausente, acrescentando uma outra qualidade “negativa” à sua aparência física, se levarmos em consideração o lugar-comum de “dourado”. O movimento negativo progressivo do blason continua no segundo quarteto, já que “I have seen roses damask’d, red and white,/ But no such roses see I in her cheeks”, em contraste com o verso “Her cheeks, red roses, such as seld have been”, de Griffin, comenta a ausência de tais rosas nas faces da amada. As associações da rosa damascada com uma jovem enrubescida – branca e rubra – como também as associações de faces rosadas com juventude, ambas derivando do simbolismo da rosa (como princípio feminino, amor físico, primavera, beleza; a rosa vermelha associada ao fogo e à caridade; a rosa branca à virtude e virgindade), são retiradas das faces da amada, deixando-a pálida e sem encantos. A rosa também nos prepara, por meio do aroma implícito, a passar das imagens visuais acima às imagens olfativas em “And in some perfumes is there more delight/ Than in the breath that from my mistress reeks”. A controvérsia crítica sobre o significado de “reeks” – interpretado como “emanates”, sem nenhum sentido de “stinks” (KERMODE & HOLLANDER, 1992, p. 936) – não impede a comparação negativa de produzir efeito na descrição da amada. Pois, mesmo que “reek” provavelmente não tenha sido tão sugestivo de odores fétidos como hoje em dia, a hipérbole paródica ainda contrasta agudamente com o prazer que os perfumes trazem a um amante, como no verso de Griffin “Her smiles and favours, sweet as honey be”, lembrando-nos que no mundo tradicional dos sonetistas o hálito da amada sempre tinha um odor mais doce que perfume. Considerando o simbolismo implícito no cheiro (se agradável, como ponte para o céu, enquanto o mau cheiro está relacionado ao pecado) como derivado das associações contidas em incenso – palavra coletiva para qualquer perfume, especialmente a fragrância de árvores e flores; homenagem a uma deidade; inspiração – enquanto o hálito é equivalente ao ar e ao vento, torna-se claro que, apesar do exagero jocoso, o hálito da amada não conduz à inspiração, como o perfume faria. Deste modo, assim como o brilho, a luz e a cor, relacionados à visão, são 42 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 negados, agora o perfume, relacionado ao cheiro, é negado através de seu antônimo. No terceiro quarteto, o poeta usa uma imagem auditiva para declarar que a voz da amada não é muito agradável: “I love to hear her speak, yet well I know/ That music hath a far more pleasing sound”. Mesmo assim, apesar de não ser tão eficaz como a música – associada à religião como indutora de êxtase e também à cura, fertilidade e criação, como no soneto de Petrarca à Laura “(...) and when she spoke/ More than an earthly voice it was that sang”– o som da voz da amada continua a exercer seu poder sobre o poeta, já que escutar a amada, mais do que vê-la, implica em que agora não é seu aspecto físico mas sua voz – como existência imaterial – que o mantém em transe, fazendo a progressão, mesmo se paródica, tornar-se mais espiritual. O catálogo das “imperfeições encantadoras” da amada se encerra com a introdução de uma imagem cinestética juntamente com uma visual: “I grant I never saw a goddess go;/ My mistress, when she walks, treads on the ground”. O uso de três verbos de movimento simultaneamente paraleliza o movimento no soneto da descrição do rosto e corpo da amada, a seu hálito e voz, à descrição seguinte de seu caminhar, assim também resumindo os conceitos apresentados nos versos anteriores: primeiro as partes de uma mulher (olhos, lábios, seios, cabelos, faces, hálito, voz) e agora a mulher completa – e não uma deusa – pisando na terra. Consequentemente, a convenção dos sonetistas de afirmar que a deusa adorada tinha somente qualidades divinas também é ridicularizada por Shakespeare, ao retirar da amada todas as associações positivas entre movimento, leveza e divindade, como concretizados nos versos de Petrarca “The way she walked was not the way of mortals/ But of angelic forms (...)”. Além disso, a sobreposição dos significados de go/ walk/tread amplia as associações simbólicas do modo de caminhar da pessoa como expressando sua condição social ou disposição de ânimo: neste caso, pisando na terra, acentuando desta maneira novamente a materialidade e peso dos passos da amada. Juntamente com a “stepped progression toward the closing couplet” (PREMINGER & BROGAN, 1993, p.1167-8), progressão esta expressa literalmente no movimento da amada nos versos 11-12, todo o conceito do blason é agora subitamente interrompido com a palavra “ground”, com suas sugestões de que a realidade foi alcançada. A amada, sempre em contraste com uma mulher idealizada invisível ou uma deusa, teve todas as conotações simbólicas positivas das imagens da Natureza, concretizadas no conceito, removidas nas comparações: a luz e o esplendor dos olhos, a cor e a paixão dos lábios, o ouro e o brilho dos cabelos, a coradura e a beleza das Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 43 faces, o perfume e a inspiração do hálito, a música, como indutora de êxtase, da voz e a leveza, semelhante a de uma deusa, dos passos. Mesmo assim, a conjunção adversativa “entretanto”, que introduz o dístico concludente, traz uma outra mudança de direção ao soneto, no sentido de que as comparações realísticas e/ou hiperbólicas no contreblason não afetam seu amor pela amada: “and yet, by heaven, I think my love as rare/ As any she belied with false compare”. A asseveração “by heaven”, ao recuperar o conceito de “goddess”, ergue os olhos do leitor novamente da imagem do solo no qual a amada pisa, deste modo acrescentando uma solenidade extra à declaração de que o que segue é verdade: que o amor do poeta pela amada é tão “raro” – incomum, raramente encontrado, extraordinário, precioso, de uma qualidade fora do comum – quanto o de qualquer mulher retratada ou poeticizada pelo amante com comparações falsas e insinceras. A sobreposição dos significados de “belied” e “false compare” enfatizam pela redundância o poder negativo do clichê do blason, com seus epítetos e suas metáforas fixas usadas pelos sonetistas menores. Assim, com esta conclusão , Shakespeare está julgando não o soneto de amor petrarquiano em si mesmo – como hipotexto – mas o que seus seguidores na Inglaterra estavam fazendo, pois, se “to write a love sonnet after Petrarch is to petrarchize (...) as much is true of any poet who casts his poetry, or simply his verse, in a mould already in use, yet no one refuses to acknowledge his originality if he produces a personal impression in the form which another has invented”(LEGOUIS & CAZAMIAN, 1961, p. 306). Ao nos voltarmos para o soneto XX de Neruda, como hipertexto ao hipotexto shakespeareano, Mi fea eres una castaña despeinada, mi bella, eres hermosa como el viento, mi fea, de tu boca se pueden hacer dos, mi bella, son tus besos frescos como sandías. Mi fea, dónde están escondidos tus senos? Son mínimos como dos copas de trigo. Me gustaría verte dos lunas en el pecho: las gigantescas torres de tu soberanía. Mi fea, el mar no tiene tus uñas en su tienda, mi bella, flor a flor, estrella por estrella, ola por ola, amor, he contado tu cuerpo: 44 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 mi fea, te amo por tu cintura de oro, mi bella, te amo por una arruga en tu frente, amor, te amo por clara y por oscura. (NERUDA, 1956, p. 134) tornam-se imediatamente visíveis as relações transtextuais entre os dois sonetos, através de paralelismos de similaridade e contraste. Apesar de ambos os poetas empregarem a forma do soneto, Neruda usa a divisão original petrarquiana em vez da shakespeareana. Assim, a apresentação do tema continua até o final do primeiro terceto, para então ser resolvido no segundo terceto. Além disso, o soneto de Neruda está escrito em versos não rimados, em contraste com o de Shakespeare – uma escolha estilística que ele justifica na dedicatória dos Cien Sonetos de Amor a Matilde Urrutia: Señora mía muy amada, gran padecimiento tuve al escribirte estos mal llamados sonetos y harto me dolieron y costaron, pero la alegría de ofrecértelos es mayor que una pradera. Al proponérmelo bien sabía que al costado de cada uno, por aficción electiva y elegancia, los poetas de todo tiempo dispusieron de rimas que sonaron como platería cristal o cañonazo. Yo con mucha humildad hice estos sonetos de madera, les di el sonido de esta opaca y pura substancia y así deben llegar a tus oidos. Tú y yo caminando por bosques y arenales, por lagos perdidos, por cenicientas latitudes, recogimos fragmentos de palo puro, de maderos sometidos al vaivén del agua y la intemperie. De tales suavizadísimos vestigios construí con hacha, cuchillo, cortaplumas, estas madererías de amor y edifiqué pequeñas casas de catorce tablas para que en ellas vivan tus ojos que adoro y canto. Así establecidas mis razones de amor te entrego esta centuria: sonetos de madera que sólo se levantaron porque tú les diste vida. (NERUDA,1956, p.111112, minha ênfase). Perfeitamente ciente de que os poetas de todos os tempos usaram rimas que soavam como jóias de cristal ou como uma disparo de canhão e, portanto, fazendo uso do soneto como arquitexto, Neruda em sua modéstia chamou suas linhas não rimadas de “sonetos de madera” e deu-lhes um som de madeira, confirmando assim novamente que “matters of relationship between form and content are (...) susceptible of considerable control in the hands of a skilled poet, and the ultimate solution in any given instance may override theoretical considerations in the interests of artistic integrity”(PREMINGER & BROGAN, 1992, p. 1167-8). Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 45 Em contraste com a amada, mas misteriosa, “Dark Lady” de Shakespeare, a quem estão dedicados os sonetos 127 a 152, os Cien sonetos de amor de Neruda, como visto, são todos ostensivamente dedicados a Matilda Urrutia, seu “amor de outoño” e terceira e definitiva esposa. Os elementos paratextuais que em Shakespeare estão limitados ao título “Sonnets”, deste modo adquirem uma importância muito maior em Neruda, pois a dedicatória ajuda a identificar não apenas a dama a quem os sonetos são ofertados mas também a maneira como eles foram compostos. Como ele ademais afirma em Confieso que he vivido, “al hablar para ella le he dicho todo en mis cien sonetos de amor. Talvez estos versos definen lo que ella significa para mí”(NERUDA, 1985, p. 124). Enquanto, em Shakespeare, a descrição das “imperfeições” físicas da amada é apresentada na terceira pessoa, em contrapartida à beleza feminina idealizada na tradição petrarquiana, Neruda se dirige diretamente a sua amada, chamando-a alternativamente “mi fea” – termo de carinho em espanhol – e “mi bella”, ao descrever suas características físicas, deste modo ressaltando a concretude e proximidade de sua amada Matilda. Apesar de ambos os poetas reconceptualizarem o conceito do blason, cada linha do soneto de Neruda precisa ser contrastada com o soneto de Shakespeare, a fim de melhor projetar as relações que podem ser estabelecidas entre os dois textos. Por esta razão, mesmo que à primeira vista a descrição dos cabelos da amada em “Mi fea eres una castaña despeinada” como cabelos castanhos despenteados parece ser uma imperfeição, lembrando os “black wires” de Shakespeare, em Neruda a imperfeição não está na cor dos cabelos de Matilda – castanhos, com conotações simbólicas de sensualidade, voluptuosidade e mágica, além de nos lembrar da cor castanho-avermelhada da castanheira –, mas no fato de que estão despenteados. Entretanto, suas implicações negativas – relacionadas com as deidades do mundo subterrâneo e com Medusa (como Matilda foi apelidada na Itália) – são anuladas pelo fato de que estão associadas com o cabelos crespos de Matilda, e portanto uma imagem de naturalidade, em contraste com os cabelos bem-penteados, artificialmente belos, em moda naquela época. Mesmo o nome da residência de Neruda, “La Chascona” alude aos cabelos emaranhados de Matilda, que são ainda mais “celebrados” no soneto XIV de Neruda e que também foram retratados por Diego Rivera num quadro da casa: 46 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 A linha 2, “mi bella, eres hermosa como el viento”, aparentemente apresenta outra mulher, como mencionado acima: o conceito de beleza feminina, como aquela qualidade que incita prazer e admiração, está associada aqui com o vento, acrescentando assim às conotações simbólicas de beleza – nobreza, virtude e imortalidade – as do vento como espírito criativo, liberdade, indutor de inspiração poética e força vital, todos eles sugerindo o poder que a beleza dela exerce sobre Neruda e que o inspira. Concomitantemente, a comparação nos lembra, por meio dos conceitos de leveza e vaporosidade, da mulher idealizada nos sonetos elizabetanos, pairando sobre o chão e, assim, em contraste com a amada de Shakespeare, que “pisa no chão”. Em contraste com o verso 2, que é mais retórico, o tom coloquial do verso 1 é retomado em “mi fea, de tu boca se pueden hacer dos”, ao referirse o poeta à boca da amada como grande demais para ser bela. A sugestão humorística, que retém mesmo assim as associações da boca com o poder da fala e com as forças vitais, enquanto seu tamanho está relacionado com o poder de auto-afirmação – além de nos lembrar da depreciação jocosa de Shakespeare de que os lábios de sua amada não eram suficientemente rubros – é, mesmo assim, redimida em “mi bella, son tus besos frescos como sandías”. Ao comparar os beijos da amada à frescura das melancias, a significância do beijo, como sinal de afeição, é assim ainda mais enriquecida pela imagem gustativa, através das associações da melancia com a suculência das frutas, como também com fertilidade e desejos carnais, desta maneira anulando a referência hiperbólica negativa à boca da amada. No segundo quarteto, Neruda passa, como Shakespeare, do rosto aos seios. O que está sendo comparado parodicamente, entretanto, não é a cor mas o tamanho, pois enquanto na época elizabetana os seios estavam associados à brancura da neve, como visto, o conceito nerudiano de uma Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 47 linda mulher parece incluir seios grandes – os signos externos de seu “poder”. Mas os seios de “mi fea” são tão minúsculos como duas conchas de trigo, a hipérbole negativa deste modo retirando as associações positivas dos seios com feminilidade, fertilidade, lugar de adoração, bem como as associações semelhantes do trigo com fertilidade. Por esta razão, o poeta gostaria de vê-la com “duas luas” no peito que, como imagens de plenitude relacionadas com o feminino e com fecundidade, iriam consequentemente resgatar o poder simbólico dos seios. Além disso, ao metaforizar os seios como “as gigantescas torres de sua soberania”, ele está simultaneamente projetando a posição e autoridade da amada como uma rainha, resgatando a imagem tradicional da mulher idealizada como deusa e, conseqüentemente, da “anti-deusa” shakespeariana. Ao continuar desenvolvendo o conceito do blason no primeiro terceto, Neruda enfatiza, em “Mi fea, el mar no tiene tus uñas en su tienda” a pequenez de suas unhas que, em contraste com unhas longas – atributos das sedutoras ou de mulheres aristocráticas, como signo de ócio – não seriam consideradas “preciosas” o suficiente para serem guardadas no fundo do mar, como o colecionador de imensos tesouros afundados. Por outro lado, após chamá-la novamente de “mi bella”, Neruda detém-se nas várias partes do corpo da amada, metaforizando seus atributos físicos como flores, estrelas e ondas, relacionando-a assim à terra, ao céu e ao mar: a flor, simbolizando beleza e amor feminino; as estrelas, luz celestial, pureza, ideal inalcançável; e as ondas, o feminino, em virtude de suas linhas curvas. E, ao explicitamente dizer “he contado tu cuerpo”, Neruda está simultaneamente usando metalinguagem, desta maneira chamando a atenção ao conceito do blason que ele está reconceptualizando, do mesmo modo como Shakespeare, mencionando a “falsa comparação”, está também usando metalinguagem, mas por razões diferentes, como visto. Como a palavra ‘cuerpo” vem seguida de uma vírgula, o último terceto por conseguinte introduz uma nova série de atributos da mulher amada, mas com valores invertidos, pois agora ele ama a “mi fea” pela sua cintura de ouro, e a “mi bella” pela ruga na testa, estabelecendo através deste procedimento um paralelo com o amor “raro” de Shakespeare pela sua amada. Mas, ao repentinamente percebermos que essas oposições pertencem à mesma mulher, também percebemos que, ao contrário de Shakespeare que ama sua “senhora” apesar das imperfeições, Neruda ama a sua exatamente por causa delas. Se ele a ama pela sua cintura de ouro – e, portanto, como metal precioso, associado ao sol, fogo, fertilidade e divindade, enquanto também nos lembra dos cabelos dourados da mulher idealizada elizabetana – o louvar da ruga na testa, por 48 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 outro lado, sugere não apenas que sua pele não é mais tão macia como a de uma mulher jovem, mas também, por meio da expressão “arrugar uno la frente”, que ele ama igualmente suas expressões de rancor e preocupação. A última linha –”amor, te amo por clara y por oscura” – esclarece o conceito completo, ao Neruda se dirigir novamente a ela como “amor” e declarar que a ama por ser simultaneamente “clara” – transparente, brilhante, sem ambiguidades – e “oscura” – morena, ininteligível, misteriosa – destarte reconceptualizando o conceito do blason por apontar, como Shakespeare, para um conceito de beleza e amor que fica além de meros atributos físicos. Portanto, apesar de terem sido compostos em línguas, lugares e épocas diferentes, as similaridades formais, textuais e temáticas entre os dois sonetos, projetados através de relações transtextuais, enfatizam não apenas a maneira como um texto trava diálogo com o outro por meio do conceito do blason, ao ambos os poetas incorporarem a metáfora, a comparação e a hipérbole a este expediente figurativo, e a maneira como o conceito do blason, já parodiado por Shakespeare, adquire vida nova em Neruda; elas igualmente realçam o modo como ambos os poetas mantêm sua integridade artística, ao controlarem a relação entre forma e conteúdo e entre convenção e inovação. Acima dessas considerações, entretanto, está o fato de que ambos ampliaram as concepções limitadas de beleza de suas épocas: apesar de cada época histórica ter seus próprios padrões culturais, em última análise a beleza está no olhar de quem a contempla e aqueles atributos que pareciam ser anti-estéticos nos contextos culturais de Shakespeare e de Neruda são irrelevantes ante o conceito de beleza que ambos os poetas revelaram e diante do conceito de amor que ambos expressaram. Nota 1 Todas as outras associações simbólicas usadas são desta obra. REFERÊNCIAS CUDDON, J. A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. 3rd. ed. London: Penguin Books, 1992. ECO, Umberto (org.). História da Beleza. Trad. Eliana Aguiar. Rio: Record, 2007. GENETTE, Gérard. Palimpsestes: La Littérature au Second Degré. Paris: Seuil, 1982. KERMODE, Frank & HOLLANDER, John (eds.) The Oxford Anthology of English Literature. Vol. I. New York: Oxford University Press, 1973. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 49 LEGOUIS, Émile & CAZAMIAN, Louis. A History of English Literature. London: Dent, 1961. NERUDA, Pablo. Confieso que he vivido. Barcelona : Seix Barral, 1985. ________. Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Cien sonetos de amor. Buenos Aires: Losada, 1956. PREMINGER, Alex & BROGAN, T.V.F., eds. The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton: Princeton University Press, 1993. SAMPSON, George. The Concise Cambridge History of English Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1961. SHAKESPEARE, William. The Complete Sonnets, Songs and Poems of William Shakespeare. Henry W. Simon, ed. New York: Pocket Books, 1952. VIOLI, Unicio. Shakespeare’s The Sonnets. New York: Monarch Press, 1965. VRIES, Ad de. Dictionary of Symbols and Imagery. Amsterdam: North-Holland, 1974. Artigo recebido em 28 de novembro de 2008. Artigo aceito em 27 de março de 2009. Sigrid Renaux Pós-Doutora em Literatura Inglesa e Norte-Americana pela Universidade de Chicago, EUA. Doutora em Língua Inglesa, Literatura Inglesa e Literatura Norte-Americana pela USP. Professora Titular de Literatura Inglesa e Norte-Americana do Curso de Letras da UNIANDRADE. Professora do Mestrado em Teoria Literária da UNIANDRADE. Professora Titular de Literaturas de Língua Inglesa da UFPR (aposentada). 50 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 O DISCURSO DO PODER MATRIARCAL NA COMÉDIA SHAKESPEARIANA Marlene Soares dos Santos [email protected] Nosso namoro não é qual peça antiga: João fica sem Maria. Sem sua rédea, Senhoras, teríamos u’a comédia. Trabalhos de amor perdidos.V.2 Perdoa-me, querida. De agora em diante, você pode fazer o que bem entender. As alegres matronas de Windsor. IV.4 RESUMO: O espetáculo era um dos pilares do poder monárquico na era elisabetana, tendo a rainha como a sua maior estrela. As performances reais e as pompas das cerimônias eram duplicadas no teatro que, concomitantemente, reproduzia outros discursos do poder, o patriarcal e o seu próprio. Este podia propagar e reforçar as ideologias dominantes ou apresentar as emergentes e deslanchar ideias potencialmente subversivas. Este artigo discute como o poder matriarcal, um dos discursos de menor circulação na época, penetra no teatro shakespeariano e repercute nas comédias. Nestas, muitas personagens femininas assumem o papel de protagonistas por dominarem o universo da comicidade, principalmente em Trabalhos de amor perdidos e As alegres comadres de Windsor. ABSTRACT: Spectacle was one of the pillars of the monarchical power in the Elizabethan era, having the queen as its biggest star. The royal performances and their pomp and circumstance were duplicated in the theatre which, at the same time, reproduced other power discourses, the patriarchal one and its own. This could propagate and reinforce dominant ideologies or present emergent ones and give rise to potentially subversive ideas. This article discusses how the matriarchal power, one of the least circulating discourses at the time, finds its way into the Shakespearean theatre, and echoes in the comedies. In these, many feminine characters assume the role of protagonists for their dominance of the comic universe, chiefly in Love’s Labour’s Lost and The Merry Wives of Windsor. PALAVRAS-CHAVE: Shakespeare. Discurso. Poder matriarcal. Comédia. KEY WORDS: Shakespeare. Discourse. Matriarchal power. Comedy. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 51 Introdução O poder era muito desigualmente distribuído na era elisabetana (15581603). A maior parte era reservada ao Estado, centralizado na corte, onde era redistribuído de acordo com as necessidades e interesses políticos. O resto da sociedade era bem menos aquinhoado, devendo-se levar em conta que, em uma cultura tradicionalmente hierarquizada, os diversos discursos do poder eram subordinados ao grau de prestígio das instituições e/ou pessoas que os faziam circular. O teatro era uma das instituições que competia com outras – a Igreja, por exemplo – para se fazer ouvir, enquanto o homem, independentemente da sua posição na hierarquia, era ouvido sempre em contraposição à mulher, por encontrar abrigo no sistema patriarcal da época. O teatro, em geral, e o shakespeariano, em particular, veiculava os vários discursos circulantes na sociedade na medida do que lhes era permitido, dando até vez à mulher, revelando vestígios do poder matriarcal apreendidos na época. Este artigo argumenta que a voz feminina é particularmente ouvida nas comédias de Shakespeare, especialmente em Trabalhos de amor perdidos e As alegres matronas de Windsor, onde as mulheres assumem o papel de protagonistas ao dominarem o universo da comicidade, fazendo valer a força do discurso matriarcal. O poder da monarquia O poder estatal era centrado na figura de Elisabete I, que o exercia com o maior absolutismo, alicerçado na sua popularidade. Esta se desenvolvera graças a um contexto sócio-político-cultural favorável em que a Inglaterra se afirmava como nação na Europa e ao carisma da rainha, consciente de se ver, “no mínimo, uma persona ficta e o seu mundo como um teatro. Ela acreditava, piamente – a ponto de ser uma convicção religiosa – em exibição, solenidade e protocolo, todo o aparato teatral do poder real” (GREENBLATT, 1993, p. 167). Segundo um dos seus mais famosos biógrafos, ela teria dito, uma vez, aos membros do Parlamento que “nós, monarcas, estamos colocados em um palco, à vista do mundo inteiro” (NEALE, 1934/1957, p. 287). Desde cedo, devido à sua posição social como uma possível herdeira do trono, colocandoa sempre em evidência, Elisabete teve que aprender a se apresentar ao público e aprimorar a sua vocação histriônica como relata um outro biógrafo: Elisabete era uma atriz nata. E a arte havia aperfeiçoado a natureza. A sua educação enfatizara a retórica: isto é, o uso da linguagem como um veículo 52 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 para comunicar pensamentos e sentimentos e, no mínimo, igualmente, para escondê-los. Elisabete tinha-se tornado senhora de todos os seus mistérios: ela podia, não só representar um roteiro, como podia escrevê-lo e dirigi-lo, também. (STARKEY, 2001, p. 89) A espetaculosidade do poder real se fazia presente em várias ocasiões: desfiles, paradas e recepções a governantes estrangeiros em que a rainha era a maior atração; ela marcava presença ora em uma carruagem, precedida e seguida por cortesãos ou em uma liteira, carregada nos ombros dos nobres, ora a cavalo ou em sua barcaça no rio Tâmisa. Os londrinos eram privilegiados com as exibições do poder real, mas Elisabete percebia que, em uma época deficiente em meios de comunicação de massa, ela precisava viajar pelo resto do país para que houvesse uma interação maior entre soberana e súditos. Suas viagens eram realizadas no verão e programadas para que ela atingisse os lugares mais longínquos; e ela as fazia com “a intenção deliberada de transformar a monarquia, de uma entidade remota e sem rosto, em uma entidade viva” (SOMERSET, 1997, p. 474). E isso ela conseguia, se movimentando de uma cidade à outra, levando consigo a pompa da corte com um séquito impressionante, fingindo ter prazer em ouvir longos discursos e ver espetáculos tediosos especialmente preparados para ela, mas sinceramente se regozijando com as demonstrações de amor do seu povo. Tais peregrinações, guardadas as devidas proporções, se assemelhavam às turnês teatrais das companhias londrinas que levavam a sua arte aos mais diversos e distantes lugares da Inglaterra. Além das performances reais e das viagens, Elisabete estimulou o cultivo do mito da Rainha Virgem, que, no início do seu reinado, disfarçava a preocupante intenção da rainha de não se casar e, assim, deixar o trono vago com a sua morte. A(s) Guerra(s) das Rosas entre as famílias de Lancaster e York pela coroa inglesa culminando com a ascensão dos Tudors ao trono, ainda pairava(m) no cenário político como uma ameaça de uma nova disputa pelo poder real. Na verdade, com a grande perspicácia política de que era possuidora, a rainha percebia os perigos que um casamento seu poderia originar. A Inglaterra, após mais de duas décadas de rompimento com a Igreja Católica, ainda se encontrava dividida em matéria de fé cristã. Desde o estabelecimento da religião anglicana por seu pai, Henrique VIII, que se tornara o Chefe da Igreja em 1533, a população se via desnorteada com as diferentes crenças religiosas dos seus sucessores: o protestantismo de Eduardo VI (1547-1553), a volta ao catolicismo com Maria I (1553 -1558) e a retomada do anglicanismo por Elisabete em 1558. Casando-se com um dos membros da sua aristocracia, Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 53 dependendo de sua fé, ela iria desagradar a outros. Se desposasse um príncipe/ rei estrangeiro, mesmo que fosse protestante, ela poderia ser acusada de ser politicamente influenciada pelo marido como já vira acontecer com a sua antecessora, a sua meio-irmã Maria, casada com Filipe II da Espanha. Não restava a Elisabete senão se contentar em ser “casada com o seu povo”, e através de atos políticos, panfletos propagandísticos e textos poéticos, propiciar a criação de uma mitologia secular: o culto de Gloriana, a Rainha Virgem, também chamada de Astraia, Cíntia e Diana, personagens mitológicas caracterizadas por sua castidade. Além de tornar aceitável a sua decisão de permanecer solteira, ela utilizou a construção do mito para outros fins: O culto de Gloriana foi habilmente construído para reforçar a ordem pública e, mais ainda, para deliberadamente substituir as exterioridades da religião antes da Reforma – o culto da Virgem e dos santos com suas respectivas imagens, procissões, solenidades e júbilo secular. Assim, ao invés dos diferentes aspectos do culto a Nossa Senhora, temos os “diversos amores” da Rainha Virgem; ao invés dos rituais e festividades de Corpus Christi, Páscoa e Ascensão, temos as novas festas do dia da elevação de Elisabete ao trono e do seu aniversário. (STRONG, 1999, p.16) Assim, mesmo não se tratando de cerimônias solenes, em que o povo era meramente espectador, a presença da rainha pairava sobre as festividades mais populares que permitiam que ele fosse participante. As aparições públicas na capital, as visitas a outras cidades e o culto à sua figura mitificada criavam uma grande autoridade invisível, sendo Elisabete “um governante sem um exército permanente, sem uma burocracia altamente desenvolvida, sem uma extensa força policial, um governante cujo poder é constituído por celebrações teatrais da glória real e violência teatral desferida sobre os inimigos daquela glória” (GREENBLATT, 1985, p.44). A espetaculosidade do poder real, como nos alerta a citação acima, também tinha o seu lado sombrio: a teatralidade das punições. Segundo Michael Foucault “o soberano de maneira direta ou indireta, exige, resolve e manda matar, executar os castigos, na medida que ele, através da lei, é atingido pelo crime. Em toda a infração há um crimen majestatis, e no menor dos criminosos um pequeno regicida em potencial” (FOUCAULT, 1984, p. 50). Enquanto algumas ofensas menores eram punidas na própria prisão, outras podiam ser punidas com chicotadas e horas em um pelourinho em praça pública; já as maiores, como homicídios, eram castigadas pela morte na forca. Havia mais de mil enforcamentos por ano na Inglaterra e no País de Gales (PRITCHARD, 1999, p. 204), que se constituíam em verdadeiros espetáculos a começar pelo 54 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 cadafalso, lembrando um palco, em que se erguia a forca – um temporariamente armado no pátio da famosa Catedral de São Paulo, um dos lugares mais frequentados de Londres – e o ritual que ali se desenrolava, com um público de centenas de pessoas, dependendo da enormidade ou popularidade do crime. E quem atravessasse a ponte de Londres estava sujeito a observar a cena macabra das cabeças dos traidores da coroa fincadas nas duas extremidades como um aviso do que aconteceria àqueles que ousassem desafiar o Estado. O poder no teatro e o poder do teatro O teatro elisabetano floresceu em uma época teatral por excelência, não só no sentido de performance da realeza, como, também, no sentido do extraordinário desenvolvimento da arte de representar, que originou o surgimento de várias casas de espetáculo nos subúrbios de Londres – “the Liberties”. Deve-se ressaltar a proximidade de Elisabete com o teatro, do qual ela era uma ardente entusiasta que o defendia dos seus inimigos, principalmente os puritanos do Conselho Administrativo da Cidade. Impedidos de se estabelecerem dentro dos limites de Londres, cercada por antigas muralhas e pelo rio Tâmisa, os atores conseguiam sobreviver graças à estratégia de terem que “ensaiar” para poderem representar para a soberana, quando chamados ao palácio durante festas e comemorações. A corte controlava o teatro através da censura prévia das peças exercida pelo Mestre de Cerimônias, que, acreditase, era bem mais rigoroso em se tratando de temas sensíveis ao Estado. O poder real era reproduzido no teatro, principalmente nas peças históricas shakespearianas, tendo como protagonistas monarcas ingleses, apresentando alguns deles como atores consumados, como são os casos de Ricardo III e o príncipe Hal, o futuro Henrique V. As festivas exibições de poder com música, discursos, carros alegóricos, pequenas representações e tableaux vivants, também eram duplicadas no teatro: “estas cerimônias populares eram o principal espetáculo nas vidas dos cidadãos que ocupavam a maior parte dos lugares nos teatros públicos. Era fácil para os dramaturgos duplicarem sobre o enorme palco do Globe, Rose ou Swan tais procissões que, na vida real, atraíam uma multidão de espectadores para as ruas, para as janelas e até para os tetos das casas” (GRIFFIN, 1951, p. 13). O poder do teatro era considerável em uma época sem outros meios de comunicação, informação e distração, que eram oferecidas nos palcos. Entretanto, como a profissão de ator não era reconhecida, os homens de teatro tinham que se valer do patrocínio de aristocratas que lhes dava o direito Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 55 de usarem a sua libré e de serem (re)conhecidos como seus “servos” para não infringirem a Lei de Punição de Vagabundos, Patifes e Pedintes Inveterados que datava de 1572. O patronato dos nobres lhes assegurava proteção, um lugar na hierarquia social e o direito de exercer a profissão, mas não lhes oferecia apoio financeiro. Para conseguir este, os atores tinham que lançar mão de um outro patronato: o dos espectadores, que lhes garantia o dinheiro necessário para a sobrevivência. O que significa que o poder do teatro estava limitado por três outros: o da rainha, o da nobreza e o do público, pois “o teatro não era simplesmente uma extensão do poder monárquico. O palco tinha que ter sucesso no mercado do mesmo modo como tinha que prestar contas à censura da corte. Seus espetáculos eram mercadorias que o público pagava para ver e sobre as quais, consequentemente, exercia um certo controle” (HOWARD, 1994, p. 4-5). Além de informar e distrair, o teatro possuía uma função ambígua na sociedade elisabetana, ambiguidade esta presente na sua própria localização: parte da cidade de Londres, entretanto, fora dela, nos subúrbios para além das suas fronteiras; e, também, na sua situação: tendo de agradar a três patronos. Ele podia reproduzir e reforçar o discurso das ideologias dominantes ou apresentar outros de novas maneiras de ver/pensar e semear/deslanchar idéias potencialmente subversivas ou, ainda, colocar dois discursos opostos, lado a lado, concomitantemente. Os defensores do teatro alegavam que ele inculcava nos espectadores o respeito à moral, à tradição e à autoridade vigentes; os seus detratores o consideravam pernicioso por questionar os valores, os costumes e a hierarquia da sociedade. Estes não deixavam de ter razão nas suas diatribes contra o teatro, que circulavam em vários panfletos, pois, apesar das limitações impostas pelos seus três patrocinadores, ele ainda era muito poderoso, desafiando a ordem social de várias maneiras. A própria insistência em resistir aos puritanos do Conselho Administrativo de Londres que lhe proibiram de existir dentro da cidade já era um ato de desafio. Um outro era o desrespeito à Lei do Vestiário que determinava que cada cidadão ou cidadã se vestisse de acordo com a sua classe social, estipulando tipos de tecidos e cores pertencentes a cada uma. Os atores procediam, em sua grande maioria, das camadas menos privilegiadas da população; ao interpretarem personagens oriundos da nobreza, eles teriam que se vestir como tais, o que ia de encontro ao que era proibido fora do teatro; e, o que era ainda mais desafiador era o fato de os rapazes terem que usar roupas femininas, visto que não existiam atrizes na época. Acrescentemse a isso não só os discursos questionadores e potencialmente subversivos das cenas que se desenrolavam no palco como, também, o que acontecia na platéia: 56 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 as consequências ideológicas da presença do público. Dentro do prédio, a sociedade altamente hierarquizada e segregada da época se desarticulava, pois os espectadores provinham de diversos segmentos sociais, e as prioridades de título e de status cediam à do dinheiro para conseguir os melhores lugares. As mulheres, que o sistema patriarcal insistia em cercear-lhes a liberdade e segregálas em casa, ignoravam conselhos e ordens, e iam ao teatro. E a presença feminina se estabelecia como parte importante dos lucros, como atesta Shakespeare no epílogo da segunda parte de Henrique IV: “Todas as fidalgas aqui presentes me perdoaram; e se os fidalgos não o fizerem, os fidalgos não estarão de acordo com as fidalgas, coisa que nunca se viu em uma assembléia igual a esta” (Epílogo, p. 179). E, na comédia Como quiserem, o epílogo é falado pela heroína Rosalinda que admite, “Não é moda ver a dama como epílogo”, e ordena às mulheres, “pelo amor que têm aos homens, que gostem tanto desta peça quanto lhes der prazer” e ordena aos homens, “pelo amor que têm às mulheres” que, entre eles e as mulheres “a peça possa agradar” (V.4.189;197201). Note-se a preocupação do dramaturgo em agradar as espectadoras, que, como já vimos, podiam exigir os seus direitos como pagantes. Deve-se ter em mente que um Estado absolutista como o elisabetano estaria sempre vigilante em se tratando de uma instituição tão popular quanto o teatro: peças eram censuradas, atores e dramaturgos encarcerados e prédios fechados. Entretanto, não se pode esquecer uma outra arma deste teatro que, hoje, só conhecemos através da palavra impressa: a presença física dos atores que, com signos não-verbais, como um gesto, uma expressão facial, uma postura corporal, um sotaque ou uma intonação poderiam reconstruir o que a censura tentara destruir ou suprimir. O poder do teatro tinha várias maneiras de se impor. O poder patriarcal: ideologia e subversão O sistema patriarcal na era elisabetana era alicerçado na tradição, na religião e na política, e concedia todo o poder ao homem. Ele centrava uma autoridade despótica na figura do pai e do marido, mas, enquanto os filhos, mais tarde, se libertavam e, reproduziam o modelo paterno, as mulheres permaneciam vítimas, submissas aos homens da família (pai, marido, irmão e filho) em particular e aos homens da sociedade em geral. O patriarcado encontrou uma grande aliada na misoginia, já que “as mulheres foram confrontadas com uma bateria de argumentos filosóficos, científicos e legais destinados a provar e codificar para o homem a sua ‘inferioridade inerente’. Mais tarde, o cristianismo acrescentou um argumento teológico com um impacto Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 57 tão profundo que suas ramificações estão conosco até hoje” (HOLLAND, 2006, p. 11). Pesquisadores da história e da cultura inglesas dos séculos XVI e XVII são unânimes em afirmar que a mulher perdeu espaço na sociedade destas épocas. Entre os fatores que contribuíram para isso encontram-se as mudanças na economia – de agrária para mercantilista – em que o trabalho familiar, comunal, gradativamente cedeu espaço ao trabalho individual, separando tarefas masculinas e femininas, confinando as mulheres ao lar e ao trabalho doméstico; e, também, as mudanças na religião, sendo o protestantismo, apoiado pelo Estado (que pregava a subordinação dos súditos ao soberano), extremamente responsável pelo fortalecimento do patriarcado (STONE, 1990, p. 109-146). Como nos informa Jack Holland, À medida que a nova fé protestante se estabilizava, e o fervor revolucionário diminuía, também diminuía a disposição dos reformadores para conceder igualdade às mulheres. Em 1558, o fundador do protestantismo escocês, John Knox, publicou um panfleto intitulado “O primeiro protesto contra a monstruosa autoridade das mulheres”, atacando o papel mais importante que as mulheres estavam assumindo na nova fé. A família patriarcal foi mais do que reforçada: agora, não somente o pai sabia o que era certo, mas ele sabia mais do que o padre, cujo papel ele adotou, a ponto de liderar a família nas preces diárias e conduzir as leituras da Bíblia. O papel subordinado da mulher foi reafirmado, resumido nas palavras do grande poeta puritano inglês John Milton (1608-1674): “Ele somente para Deus; ela para Deus nele. (HOLLAND, 2006, p. 134) As outras desvantagens que a abolição do catolicismo trouxe para as mulheres foram: a proibição aos cultos das santas, em geral, e da Virgem Maria, em particular, que deixaram as mulheres espiritualmente desamparadas em momentos difíceis; a falta de um padre confessor que, muitas vezes, as ajudava nos problemas domésticos e a extinção dos conventos que suprimia a possibilidade de uma vida fora do casamento (STONE, 1990, p. 141). “A abolição dos conventos removeu uma esfera de atividade separada e independente para as mulheres, na qual, durante a Idade Média, mulheres, individualmente, alcançaram proeminência intelectual por estarem livres de obrigações familiares. A família era, agora, o único sistema de apoio para as mulheres, poucas entre elas estando em situação de se sustentarem”(JARDINE, 1983, p. 50). Apesar de tantas restrições, as inglesas eram consideradas mais livres do que as suas contemporâneas européias, variando o trajeto entre a casa e a 58 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 igreja, sendo vistas nas ruas, nos mercados e nos teatros, o que justificaria um provérbio comum na época: “a Inglaterra é o paraíso das mulheres, o inferno dos cavalos e o purgatório dos criados”. Entretanto, deve-se constatar que era uma autonomia permitida, uma liberdade vigiada e uma mobilidade controlada visto que a mulher não tinha nenhum poder político e só existia como ser social em relação à instituição do casamento, definida como solteira, casada ou viúva. A mulher ideal, construída através de panfletos morais, tratados educacionais, manuais de conduta, textos literários e pregações da Igreja e do Estado, era frágil, submissa, modesta, virtuosa, casta, silenciosa e sempre pronta a obedecer aos homens; as esposas terminavam as cartas aos maridos assinando “sua fiel e obediente esposa” (STONE, 1990, p. 139). Se havia mulheres que se esforçavam para atingir esse ideal, e outras que, simplesmente, se resignavam com a sua posição, muitas outras apresentavam comportamentos que desafiavam o sistema. A própria Elisabete era um exemplo vivo da contradição entre ideologia e prática, sendo chefe de um Estado patriarcal, mandando quando, devido ao fato de ser mulher, deveria obedecer. Além da rainha, encontramos várias figuras femininas desestabilizadoras do patriarcado: por exemplo, Moll Cutpurse, poderosa líder do submundo londrino, tão famosa que ficou imortalizada em uma peça The Roaring Girl (A arruaceira) de Thomas Dekker e Thomas Middleton; bruxas, supostamente dotadas de poder sobrenatural maligno que ameaçava homens e comunidades; megeras, perturbadoras das ordens familiar e social. Ameaçado, o sistema punia severamente quem ousasse desafiá-lo: Moll Cutpurse foi presa várias vezes, as mulheres tidas como bruxas eram queimadas na fogueira; e as megeras eram castigadas por meio da “cucking stool”, uma cadeira em que elas eram mergulhadas em um rio e retiradas pouco antes de se afogarem; e da “scolds bridle”, um freio com uma ponta bem afiada para machucar a língua, que podia causar infecção e a consequente morte. Definitivamente houve mais mulheres subversivas que ousaram questionar a ideologia do patriarcado, mas que não foram registradas pela história que sempre foi escrita por homens. Como explica Rosalind Miles A história mais antiga das mulheres foi devotada a se esmiuçar sobre crônicas em busca de rainhas, abadessas e mulheres sábias a serem contrapostas a figuras masculinas equivalentes em autoridade e capacidade, criando heroínas à imagem de heróis: Joana d’Arc, Florence Nightingale, Catarina, a Grande. Essa versão de cartão postal, ou de álbum de figurinhas da história das mulheres, embora tenha valor ao afirmar que as mulheres podem ser competentes e poderosas, tinha duas fraquezas – reforçava o falso efeito do Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 59 domínio da história pelos homens, já que sempre havia mais governantes e “gênios” homens do que mulheres; e deixava de considerar a realidade da maioria das vidas femininas, sem oportunidade ou apetite para tais atividades. (MILES, 1988, p. 10) O fato de que as mulheres resistiram muito mais às restrições que lhe foram impostas pelo patriarcado, apesar de ser grandemente ignorado, nos alerta para relativizarmos a noção da completa hegemonia das estruturas patriarcais na sociedade inglesa da época em discussão. Estas podiam suportar discursos contraditórios e até contestatórios, porque estes não eram amplamente circulados, mas, mesmo assim, encontravam ecos na dramaturgia shakespeariana. O poder matriarcal na dramaturgia shakespeariana As mulheres, como todos os seres oprimidos, sempre procuraram meios de resistência à opressão, e os encontraram no espaço limitado que o patriarcado lhes havia destinado – a casa, onde o discurso feminino poderia se opor/impor ao masculino, pois, seria, naturalmente, absurdo afirmar que a realidade privada correspondia inteiramente à retórica pública, e há inúmeros exemplos de mulheres elisabetanas que dominavam seus maridos. O seu monopólio de certas responsabilidades no trabalho doméstico, sua capacidade de dar ou negar favores sexuais, o seu controle sobre os filhos, sua habilidade em ralhar, tudo isso lhes proporcionava alavancas de poder dentro de casa. (STONE, 1990, p. 139) Reforçando a opinião acima, podemos acrescentar uma outra que privilegia duas das alavancas mencionadas: “uma fala independente e a sexualidade eram ambas formas de prerrogativas femininas e, especialmente quando utilizadas pelas esposas, funcionavam como desafios diretos à ordem patriarcal das coisas” (HENDERSON, 1997, p. 178). Além da língua e da sexualidade, as mulheres se valiam da histrionice para penetrar nas brechas que o poder masculino, descuidadamente, lhes cedia. Fazendo uma breve análise da dramaturgia shakespeariana, vamos averiguar como as personagens femininas, com os poucos instrumentos à sua disposição, se comportam para conseguirem, se não quebrar, pelo menos, rachar, as estruturas que sustentam o patriarcado, demolindo a sua hegemonia. 60 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 As peças inspiradas na história da Inglaterra focalizam a luta pelo poder político, que é o tema de Rei João como, também, o das duas tetralogias: a primeira, em ordem de composição, consta das três partes de Henrique VI mais Ricardo III; a segunda inclui Ricardo II, as duas partes de Henrique IV e Henrique V. Como os próprios títulos indicam, os reis são os protagonistas, lutando para conseguir ou manter a coroa, atuando em campos de batalha, e há poucos espaços que podem ser ocupados pelas mulheres. Entretanto, mesmo assim, quatro mulheres se destacam nessas peças por usarem as armas ao seu dispor e mudar o rumo dos acontecimentos. Elas são a rainha Eleanor e Lady Falconbridge em Rei João, Joana d’Arc na primeira parte de Henrique VI e a rainha Margaret, a única personagem presente em todas as peças da tetralogia, o que já é um forte indicador da sua importância. A rainha Eleanor já era poderosa na história européia, tendo sido casada com dois reis, Luís VII da França e Henrique II da Inglaterra, e continua poderosa no drama; ela se utiliza das armas da política para influenciar o reinado do seu filho João. Mas a peça também apresenta uma outra interessante figura feminina, Lady Falconbridge, que, em uma breve aparição, mostra toda a força que as mulheres podem ter em restritas ocasiões: quando ela anuncia que o seu filho Felipe, não é filho do seu marido, Sir Roberto Falconbridge, mas de Ricardo Coração de Leão, irmão do rei. Em uma época em que não havia exames de DNA, só as mulheres poderiam saber quem era o pai de seus filhos. Como corretamente argumenta Phyllis Rackin, Autorizada pelo princípio de herança patrilinear, a sociedade patriarcal dependia para a sua própria existência das esposas e mães cujos corpos continham aquela herança que era transmitida de pai para filho. Como resultado, as mulheres significam uma fonte constante de ansiedade; pois – como as inumeráveis piadas de corno de Shakespeare continuamente insistem – nenhum homem podia realmente saber se ele era o pai do menino que estava destinado a herdar o seu nome e a sua propriedade. As únicas depositárias do mais importante e mais perigoso de todos os segredos, as mulheres corporificavam a verdade que ameaçava desonrar os heróis e deserdar os seus filhos, e, ao fazer isso, subvertiam todo o projeto da história patriarcal. (RACKIN, 1990, p. 160) Joana d’Arc, apesar de ser chamada de “prostituta” e “feiticeira” pelos ingleses, se apossa da prerrogativa essencialmente masculina de manejar armas e guerrear. Pode-se encontrar traços de feminilidade na sua loquacidade com a qual consegue persuadir o duque de Borgonha, “encantando-o com as suas palavras”, a abandonar os ingleses e lutar ao lado dos franceses. Já a Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 61 rainha Margaret entra em cena quando Joana sai, no último ato da primeira parte de Henrique VI, usando a sua sexualidade para conseguir se casar com o rei. Nas duas partes seguintes, ela toma as rédeas do poder do marido, faz política e vai à guerra. Derrotada em Ricardo III, ela ainda vive na corte, onde assusta a todos com a sua língua ferina e as suas profecias terríveis que terminam por se realizar. Pode-se concluir que Margaret atua significativamente na tetralogia devido à sua destreza em se utilizar do poder, tanto masculino quanto feminino. Nas tragédias inspiradas na história de Roma aparecem três mulheres fortes: Tamora em Titus Andronicus, Cleópatra em Antônio e Cleópatra e Volúmnia em Coriolano, todas habilmente se movimentando no mundo político, dominado por homens. Esta última o faz através do seu filho, Coriolano, cuja figura de soldado ela moldou desde que ele era criança, ao mesmo tempo, tornando-o emocionalmente dependente dela. No decorrer da ação, os papéis familiar e político se confundem quando Volúmnia, se incumbe, juntamente com outra matrona, Valéria, a esposa Virgilia e o filho de Coriolano de impedir que este invada a cidade. É o poder matriarcal que salva Roma, como bem o reconhecem os senadores. Tamora era rainha dos Godos e se torna Imperatriz de Roma, recorrendo às armas femininas – sexualidade e teatralidade – para participar ativamente do poder político através da sua manipulação do imperador. Cleópatra – a mais poderosa das mulheres shakespearianas – é uma rainha que não precisa governar através de um rei, pois ela é soberana de um Estado que ela consegue manter independente usando os seus instrumentos femininos de sedução, retórica e performance; cativando, primeiro, Júlio César e, segundo, Marco Antônio. Nas chamadas “tragédias domésticas” como Romeu e Julieta e Otelo, o poder patriarcal é o grande responsável pela morte dos dois amantes na primeira, sendo Julieta desafiada a desposar Paris contra a sua vontade, e a de Desdêmona na segunda, cujo pai desaprova o seu casamento com Otelo e semeia a dúvida da sua fidelidade no espírito do marido. Tanto Julieta como Desdêmona desafiam o patriarcado, casando por amor, com homens de sua escolha, e pagam por isso. As outras tragédias como Hamlet, Macbeth e Rei Lear privilegiam a luta pelo poder político no meio das famílias reais, e as mulheres apenas se aproximam dele. Ofélia e Gertrudes são protótipos de mulheres frágeis e submissas; Lady Macbeth aparece poderosa no início da peça, desaparece e só ressurge, enfraquecida, na famosa cena de sonambulismo; Cordélia desagrada ao pai com a força da sua integridade, mas não consegue reconduzi- 62 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 lo ao trono; e as suas irmãs, Regan e Goneril, apesar de aparentemente angariarem mais poder ao ficarem sozinhas – a primeira, por viuvez; a segunda, por desavenças com o marido – precisam de Edmundo para guerrear por elas. A critica shakespeariana em geral elege as comédias como o gênero dominado pela presença feminina, e “se Shakespeare não parece um feminista, pelo menos, parece um homem que toma o partido da mulher” (BAMBER, 1982, p. 2). Não há dúvida de que o universo da comicidade abriga heroínas admiráveis, exemplos de determinação e coragem; entretanto, poucas entre elas conseguem exercer o seu poder além do permitido pelas leis sociais e cômicas como acontece nas denominadas “comédias românticas”; nas “sombrias” e nos “romances” as mulheres são submissas ao patriarcado, apesar de algumas apresentarem alguma resistência. As personagens femininas das comédias sombrias Troilus e Créssida, Medida por medida e Bom é o que acaba bem têm a sua sexualidade como um dos alicerces da trama. Senão, vejamos: Helena de Tróia e Créssida são julgadas e denegridas pelos homens por serem consideradas devassas; Isabela em Medida por medida e Diana em Bom é o que acaba bem, para preservarem as suas virgindades, têm que recorrer ao “truque de substituição na cama”, o que vai obrigar Ângelo a casar com Mariana e Helena com Bertram. Julieta é condenada por estar grávida em Medida por medida e Helena, igualmente grávida, tem que provar a Bertram e a todos que ele é o pai do seu filho em Bom é o que acaba bem. É relevante assinalar que todas as três heroínas – Créssida, Isabela e Helena – por causa da sua sexualidade, são submetidas a humilhações pelos homens das peças: a primeira, passando de mão em mão e sendo beijada por todos no acampamento dos gregos; a segunda, sendo ordenada a trocar a sua castidade pela vida do irmão, e a terceira, sendo rejeitada pelo marido, que nega ter tido relações sexuais com ela e que também desqualifica Diana, que trocou de lugar com Helena na cama. Nos romances – Péricles, Cimbeline, O conto do inverno e A tempestade – até mesmo Imogênia que, a princípio, desafia a ordem do seu rei e pai Cimbeline para casar com Póstumo, no final perdoa o marido que lhe havia mandado matar por considerá-la adúltera; em Péricles, uma filha se submete tanto ao pai que se torna sua amante, e em A tempestade, Próspero manipula Miranda para servir aos seus propósitos. Só em O conto do inverno uma voz feminina ousa se erguer mais alto do que a do rei: é a voz de Paulina que, ao defender a rainha, se arrisca em ser punida; mas, ela não tem poder; é apenas uma dama da corte. De início, deve-se assinalar que, as mulheres que dominam o universo das comédias românticas são muito mais fortes do que os homens, com exceção de Petrúquio em A megera domada e Benedito em Muito barulho por nada. Com Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 63 exceção de Olívia em Noite de reis que é rica e independente, e Pórcia em O mercador de Veneza que é igualmente rica, mas dependente da vontade de um pai morto para escolher um marido, outras desafiam as normas da sociedade patriarcal, desobedecendo aos pais para casar por amor e fugindo de casa para consegui-lo. É o caso de Sílvia em Dois Cavalheiros de Verona, Hérmia em Sonho de uma noite de verão, Jéssica em O mercador de Veneza e Ana em As alegres matronas de Windsor. As mulheres também questionam a posição da mulher no casamento através de suas línguas ferinas como o fazem Adriana em A comédia dos erros, Catarina em A megera domada e Beatriz em Muito barulho por nada. As heroínas das comédias exercitam o seu talento histriônico fazendo vários papéis masculinos: Júlia vai ser pajem em Os dois cavalheiros de Verona e, também, Viola em Noite de Reis; Jéssica passa por archoteiro, e Pórcia e Nerissa representam um advogado e o seu assistente em O mercador de Veneza enquanto em Como Quiserem, Rosalinda proporciona uma excelente performance como Ganimede. Alíás, ela é a mais bem dotada de talento teatral entre todas as outras figuras femininas das comédias, visto que, além de representar, ela escreve uma parte do roteiro para ela e outras personagens – Orlando, Sílvio, Phebe e o seu pai – e os dirige, também. Entretanto, o poder de todas essas heroínas é exercido apenas temporariamente, pois a ideologia patriarcal apesar de contestada e desestabilizada, é resgatada no final. Todas elas, até as poderosas Pórcia, Beatriz e Rosalinda são gentilmente levadas a sucumbirem aos ditames da hegemonia social através do amor e do casamento. Entretanto, isto não acontece em duas comédias: em Trabalhos de amor perdidos, as mulheres, embora apaixonadas, se recusam a se casar, e em As alegres matronas de Windsor, elas já são casadas, e lutam pela sua autonomia. Nestas duas peças, o discurso patriarcal não consegue convencer as figuras femininas a abrirem mão de seu poder. O poder matriarcal em Trabalhos de amor perdidos Provavelmente escrita entre 1594 e 1595, no início da carreira de Shakespeare, Trabalhos de amor perdidos mostra o dramaturgo inteiramente dependente da sua imaginação (não se conhece nenhuma fonte literária) e exuberante no uso da linguagem (65% de verso e 35% de prosa), que ele utiliza com extraordinária maestria. Em um enredo muito tênue – o Rei de Navarra e seus três amigos resolvem fazer da corte uma “academia do saber”, proibida às mulheres, e se esquecem da programada visita da Princesa de França e suas damas em missão diplomática – pode-se dizer que a guerra dos sexos se trava tendo a esperteza e as palavras como armas. E se prestarmos atenção ao desejo do jovem pajem “que a esperteza de meu pai e a língua de 64 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 minha mãe venham em meu socorro!” (I.2.113-114) que antecede a chegada da Princesa e o seu séquito, veremos que os homens não são socorridos, e que as mulheres, já possuidoras da língua da mãe, se apropriaram da esperteza do pai. Tendo acabado de jurar total devoção aos estudos por três anos, os rapazes sucumbem imediatamente aos encantos das moças, e à proposta de cortejar “as francesinhas”, o rei responde confiante: “Cortejar, só, não. Vamos conquistar” (IV.3.462). Só que eles não contavam com a inteligência e irreverência das damas nem com a firmeza e a autoridade da Princesa. Eles são por elas ridicularizados porque os consideram perjuros, frívolos e tolos. Biron bem que entende que “Moças espertas podem virar praga / A castigar os homens que perjuram” (IV.3. 481-482). Ele tinha razão: ao descobrir que os homens pretendem lhe fazer uma visita disfarçados de russos, a Princesa planeja virar o jogo fazendo com que ela e suas damas troquem de identidades: “Somos bem espertas, ao criticar / Dessa forma, os que nos vêm cortejar....Vão rir de nós? O troco vão levar./ Se vêm nos cortejar por diversão, / Caçoada por caçoada é a intenção. / Eles vão abrir seu coração, / Sem saber, à amada trocada e, então, / Nós é que vamos rir, ao lhes mostrarmos/ Nossos rostos, quando os cumprimentarmos” (V.2. 78-79; 176-183). Rosaline reafirma as intenções da Princesa e escolhe um alvo particular: “Eles é que são uns tolos, ao buscar / Ser assim criticados. Vou tentar / Torturar Biron antes de voltar./ ... Rebaixá-lo a ponto de me tornar sua / Sina, e ele em meu bobo transformar” (V.2.80-82;92-93). Além de Biron, o Rei, Dumaine e Longaville são feitos de bobos pelas suas respectivas amadas, que se divertem muito à custa do seu patético amadorismo teatral: “Ficaremos nós aqui, criticando / Sua peça fracassada. E, não aguentando / Nossos risos, a corja, envergonhada, / Vai sem graça, botar o pé na estrada” (V.2.196-199). Nas batalhas do amor, os homens são totalmente derrotados pela língua das mulheres. O discurso masculino – verboso, cheio de preciosismos e artifícios, contrasta com o feminino – franco, direto e realista, e revela os seus autores como fingidos, irresponsáveis e frívolos: “Uma tal profusão de hipocrisia, / Mentiras mil que só um tolo diria” (V.2.71-72). Sem dó nem piedade, mas com muito humor, as moças desconstroem toda a retórica masculina replicando com literalidade às suas metáforas: “Rei: Diz dos milhares de passos que andamos, / Para dar uns passos co’elas na grama./ Rosaline: Não pode ser. Pergunta-lhes, então, / Quanto mede um passo só. Pois se andaram / Milhares, um, por certo, saberão” (V.2.231-232;235-237). Ou, “Rei: Salve! Um bom dia, doce senhora!/ Princesa: Se é preciso salvar, bom não seria!” (V.2.416-417). Ou, ainda: “Biron [para a Princesa que ele julga ser Rosaline]: Só u’a doce palavra, por piedade. / Princesa: Mel, leite, e açúcar; Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 65 são três na verdade” (V.2.290-291). A destreza lingüística das damas é bem analisada por Boyet, membro do séquito da princesa: Zombaria de mulher é afiada Como a navalha, cujo corte oculto Corta um fio, onde não se via nada: Sua conversa parece ter tal vulto, Tem tal juízo, tanto discernimento! Tem opiniões mais certeiras que setas, Tiros, ventos, e o veloz pensamento. (V.2.314-320) O final da comédia mostra que a ousadia shakespeariana já se fazia presente desde o início da sua carreira: a forma cômica tradicional do final feliz é desafiada e já anunciada no título, e Trabalhos de amor perdidos termina em morte, sem casamento e sob total controle feminino. A peça dos Nove Heróis é interrompida com a chegada de Marcade, o mensageiro que vem anunciar a morte do pai da Princesa, o que determina o seu retorno à França imediatamente. A imaturidade masculina se faz sentir quando o Rei sugere à ela: “E já que o tópico do amor surgiu / Primeiro, não devemos nós deixar / A nuvem da dor afastar o seu intento” (V.2.901-903). Estarrecida com estas palavras, a Princesa só consegue retrucar: “Não o entendo, e isso aumenta mi’a tristeza” (V.2.907). As damas, apesar de apaixonadas, não aceitam os defeitos dos seus amados e lhes dão penitências que, se cumpridas após um ano e um dia, elas poderão aceitá-los como maridos. Assim, a comédia romântica termina sem a união dos casais e sem ceder à hegemonia social que preconizava a instituição do casamento; ao contrário das peças que só temporariamente davam o poder às mulheres, Trabalhos de amor perdidos evidencia que não só os destinos dos homens dependem delas, como o do próprio gênero da peça, como mostra a primeira epígrafe deste artigo: “Nosso namoro não é qual peça antiga: / João fica sem Maria. Sem sua rédea, / Senhoras, teríamos u’a comédia” (V.2. 10551057). O poder matriarcal em As alegres comadres de Windsor O final de Trabalhos de amor perdidos é prolongado com a presença de Armado, que anuncia duas canções em honra da coruja e do cuco, que defendem o inverno e a primavera, respectivamente, e que teriam sido apresentadas para finalizar Nove Heróis, se a peça não tivesse sido interrompida. A primeira é sobre a primavera: 66 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 O cuco, mui galhofeiro, No alto de árvores cantando, Repete, alegre, o dia inteiro, De homens casados zombando: Cuco! Cuco! E logo outra ave o imita: “Bem-te-vi! E vi!” Coitados! Como esse canto irrita O ouvido dos casados! (V.2.1086-1094) Como nos esclarece Aimara Resende, “no imaginário inglês, especialmente na época de Shakespeare, o cuco era associado ao marido enganado, por duas razões: o som do nome cuckoo se aproxima do de cuckold ou corno em português: além disso, o hábito que essa ave tem de colocar os ovos em ninhos de outros pássaros, leva à conotação de marido traído” (RESENDE, 2006, p. 231). As alegres matronas de Windsor focaliza, no seu enredo principal, a maior ansiedade masculina em relação ao casamento reproduzida extensivamente nos vários textos da época, literários ou não: ser traído pela esposa e, consequentemente, ser chamado de corno e ridicularizado como sugere a canção acima. Escrita depois de Trabalhos de amor perdidos, provavelmente no período de 1597 a 1598, As alegres matronas de Windsor, em termos formais, se assemelha à primeira comédia por dois fatores: o de não ter uma fonte determinada e o de apresentar uma destreza linguística extraordinária, só que em prosa – 87.8% em toda a peça. Entretanto, as duas comédias se distanciam no que se refere ao contexto sócio-político-cultural: ao contrário de Trabalhos de amor perdidos em que a ação se desenrola na França e entre a nobreza, em As alegres matronas de Windsor o local é a cidade provinciana de Windsor, na Inglaterra, e sua classe média. Como o título indica, as protagonistas são duas mulheres bemhumoradas, Senhora Pajem e Senhora Ford que são vizinhas e amigas, e que a partir da chegada de Dom João Falstaff (personagem principal das primeira e segunda partes de Henrique IV) se mostram desafiadoras do sistema patriarcal. Na mais realista das comédias shakespearianas, pois retrata a cultura doméstica da época, e o romance de Ana Pajem com Fenton é apenas periférico, os temas da vingança e do ciúme são tratados pelo viés do cômico. Falstaff, sem dinheiro e confiante nos seus dotes de conquistador, resolve cortejar as duas matronas ao mesmo tempo, enviando-lhes cartas iguais: “Aqui está uma carta para ela [Madame Pajem]; dizem que ela, também, Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 67 controla a bolsa do marido. Estou certo de que descobri duas Guianas, cheias de ouro e liberalidades. Explorarei as duas, de ambos os lados, minhas Índias Ocidentais, orientais e horizontais. Vai, entrega esta carta a Madame Pajem. E esta aqui, você a entrega a Madame Ford” (I.3.p.19). Ao descobrirem o golpe, as duas mulheres, ajudadas por Madame Leva-e-Traz, decidem se vingar do sedutor. Deve-se ressaltar a informação obtida por Falstaff de que ambas as mulheres “controlam as bolsas dos maridos”, o que já é um grande indício de poder. Juntando-se a ele, temos o depoimento da Senhora Leva-e-Traz, que nos dá uma boa idéia da autonomia que as mulheres conquistaram dentro da instituição do casamento: “Dom Pajem é um homem extraordinário. Nenhuma mulher de Windsor leva uma vida igual à mulher dele. Ela faz o que quer, diz o que bem entende, compra tudo que deseja, dorme quando tem vontade, levanta quando bem lhe agrada e o marido não diz nada. Verdade que ela merece” (II.2.p.36). A senhora Ford parece ter as mesmas regalias, mas com uma diferença: o ciúme doentio do marido que perturba o seu bem-estar. Como já foi mencionado, o aspecto da sexualidade feminina que concedia um pouco de poder à mulher era a possibilidade de traírem os maridos, transformando-as em algozes e eles, em vítimas. Nesta peça, as matronas honestas vão usar esta arma para poderem se vingar de dois destruidores de reputação: o conquistador barato e o marido ciumento. Para tanto, elas vão usar, além da sexualidade o seu talento teatral, escrevendo, dirigindo e representando o roteiro da vingança, e se divertindo em ridicularizar os homens, como diz Madame Ford: “Não sei o que me dá mais prazer: se é enganar Falstaff ou enganar meu marido fingindo que o engano” (III.3.p.55). Enquanto o Senhor Pajem confia inteiramente em sua mulher, o Senhor Ford o considera um idiota e mostra que não confia em nenhuma; acreditando na encenação das mulheres, ele condensa, em um solilóquio extremamente revelador, todo o medo masculino de ter a honra manchada pelo comportamento infiel da mulher e de ser chamado de corno: Sinto que o coração vai rebentar de ódio. Eu não posso esperar! Quem ousa repetir que meu ciúme era infundado? Minha mulher mandou chamá-lo, marcaram hora e local, está tudo combinado. Quem poderia pensar em coisa semelhante? Minha cama ficará manchada, meus cofres serão saqueados, minha reputação dilacerada. E eu não só tenho que aguentar todas essas infâmias, como ainda sou obrigado a ouvir as maiores ofensas da boca daquele que me ultraja. Nomes! Apelidos! Qualificativos! Lúcifer, ainda vai. 68 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Satanás, eu suporto. Belzebu, eu engulo. Asmodeu, vá lá! São todos apelativos demoníacos, designativas infernais. Mas, corno! E corno consentido! Corno! Não. O próprio diabo nunca foi chamado disso, apesar dos chifres. Pajem é um quadrúpede, um perfeito asno. Confia na mulher. Não tem ciúmes. Eu com mais facilidade confiaria minha manteiga a um flamengo, o meu queijo a um galês como o Hugo, minhas reservas de aguardente a um irlandês, do que minha mulher a ela própria. Porque, quando está só, a mulher pensa. Quando pensa, conspira. Quando conspira, age. Pois quando deseja qualquer coisa, a mulher realiza, não lhe importando os meios. Eu agradeço ao céu o meu ciúme. O encontro é às onze horas. Vou surpreender minha mulher, castigar Falstaff e rir de Pajem. Vou correndo. Melhor três horas antes que um minuto depois. Corno! Corno! Corno! (II.2.p.40) As matronas se vingam de Falstaff fazendo-o, primeiro, sair escondido da casa dos Ford em uma cesta de roupa suja e ser jogado no rio, e, segundo, obrigando-o a se disfarçar de mulher para escapar da fúria de Ford, mas mesmo assim, levando umas bordoadas. E, ele termina castigado por toda cidade de Windsor quando, a pedido das mulheres, coloca uma cabeça de veado para encontrá-las no parque, portando, assim, os chifres que pretendia colocar nas testas dos maridos. Enquanto isso, o marido ciumento é punido, sendo ridicularizado por amigos e vizinhos, parte da comunidade masculina, por acusar a mulher inocente. Nada mais resta a Ford do que se penitenciar do seu erro e outorgar a sua esposa o direito conquistado por ela, como indica a segunda epígrafe deste artigo: “Perdoa-me querida. De agora em diante, você pode fazer o que entender” (IV.4. p.72). Ao contrário de Trabalhos de amor perdidos, esta comédia respeita as normas da forma e termina com um final muito feliz incluindo um casamento, o de Ana Pajem e Fenton, e uma confraternização geral. Deve-se assinalar que as mulheres continuam controlando a peça até o seu desfecho, fazendo com que este seja marcado por uma inclusão total até com a participação de Falstaff, proposta por Madame Pajem: “Bom marido, vamos todos pra casa / Falarmos mais e mais desta noite hilariante / Dom João Falstaff vai conosco! / Cavalheiros, avante!” (V.5.90). Se dentro do universo da peça o poder matriarcal triunfa, fora dele, é o patriarcal que o faz: “ironicamente, enquanto o título As alegres comadres de Windsor aponta, sem sombra de dúvida, para a absoluta centralidade das matronas, a história das encenações teatrais tende a dar o status de protagonistas aos atores que representam os papéis de Ford e Falstaff ” (SCHAFER, 2000, p. 145). Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 69 Conclusão Como foi sugerido acima, na era elisabetana, o poder – do Estado, do teatro e da sociedade – possuía contradições que desautorizam quaisquer afirmações sobre o seu alcance ilimitado. O Estado, durante setenta anos, de 1553 a 1603, sendo sucessivamente chefiado por duas rainhas, Maria e Elisabete; o teatro, tendo que lidar com três patronatos, um dos quais era consideravelmente feminino; e a sociedade, regida por um sistema patriarcal, sendo frequentemente ameaçada não só pelas figuras das bruxas e megeras, como também, por mulheres de diversos segmentos da sociedade, cujos desafios ao status quo não foram relatados. Como nos explica Alison Sim, A mulher ideal dos reinados dos Tudors, de acordo com a literatura da época, era uma mulher casta, silenciosa e obediente, descrita em todos os livros cheios de conselhos sobre a organização da casa e da família, e como uma mulher bem educada deveria se comportar. Estes livros dão a impressão de que essas mulheres eram quietas e submissas, que nunca emitiam opiniões em público, e que cediam aos desejos dos seus maridos em tudo. Todos estes livros foram escritos por homens, e temos poucas evidências do que as mulheres pensavam sobre este ideal. O comportamento registrado destas mulheres sugere que elas tinham uma abordagem diferente na vida real. (SIM, 2005, p. 137) Além dos manuais de conduta, os textos, em geral, e os literários, em particular, tendem a preservar as perspectivas daqueles cujas vozes falavam mais alto e dominavam a sociedade. Os textos teatrais, por sua vez, por motivos já explicados, veiculam opiniões e pensamentos outros, que nos permitem avaliar o maior/menor grau de resistência feminina à ideologia dominante. Shakespeare, em suas comédias, principalmente em Trabalhos de amor perdidos e As alegres matronas de Windsor, indica que se deve relativizar a idéia do poderio absoluto do patriarcado, mostrando como o poder matriarcal, com as poucas armas ao seu dispor, ainda assim, ocasionalmente, consegue se impor e fazer valer a sua vontade. REFERÊNCIAS BAMBER, Linda. Comic Women, Tragic Men. Stanford: Stanford University Press, 1982. 70 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Trad. Ligia M. Pondé Vassallo. Petrópolis: Vozes, 1984. GREENBLATT, Stephen. Renaissance Self-Fashioning. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1993. GREENBLATT, Stephen. Invisible Bullets: Renaissance Authority and its Subversion, Henry IV and Henry V. In: DOLLIMORE, Jonathan & SINFIELD, Alan (eds.). Political Shakespeare. New Essays in Cultural Materialism. Ithaca and London: Cornell University Press, 1985, p.18-47. HENDERSON, Diana E. The Theater and Domestic Culture. In: COX, John D. & KASTAN, David Scott (eds.). A New History of Early English Drama. New York: Columbia University Press, 1997, p. 173-194. GRIFFIN, Alice V. Pageantry on the Shakespearean Stage. New Haven, Connecticut: College and University Press, 1951. HOLLAND, Jack. A Brief History of Misogyny. The World’s Oldest Prejudice. London: Robinson, 2006. HOWARD, Jean E. The Stage and Social Struggle in Early Modern England. London and New York: Routledge, 1994. JARDINE, Lisa. Still Harping on Daughters. Women and Drama in the Age of Shakespeare. Sussex: The Harvester Press, 1983. MILES, Rosalind. A história do mundo pela mulher. Trad. Barbara Heliodora. Rio de Janeiro: Casa-Maria Editorial, 1989. NEALE, J. E. [1934] Queen Elizabeth I. A Biography. New York: Doubleday & Company, Inc., 1957. PRITCHARD, R. E. (ed.). Shakespeare’s England. Life in Elizabethan & Jacobean Times. Stroud: Sutton Publishing, 1999. RACKIN, Phyllis. Stages of History. Shakespeare’s English Chronicles. London: Routledge, 1991. SCHAFER, Elizabeth. The Merry Wives of Windsor. In: PARSONS, Keith & MASON, Pamela (eds.). Shakespeare in Performance. London: Salamander Books, 2000, p. 143-148. SHAKESPEARE, William. Henrique IV, segunda parte. Trad. Barbara Heliodora. Rio de Janeiro: Lacerda, Editores, 2000. ________. Como quiserem. In: William Shakespeare. Teatro Completo. v. 2. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2009, p. 883-995. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 71 ________. Trabalhos de amor perdidos. Trad. Aimara Resende. Belo Horizonte: Tessitura & CESh, 1996. ________. As alegres matronas de Windsor. Trad. Millôr Fernandes. Porto Alegre: LP&M, 1995. SIM, Alison. The Tudor Housewife. Stroud: Sutton Publishing, 2005. SOMERSET, Anne. Elizabeth I. London: Phoenix Press, 2002. STARKEY, David. Elizabeth. London: Vintage, 2001. STONE, Lawrence. The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800. London: Penguin Books, 1990. STRONG, Roy. The Cult of Elizabeth. London: Pimlico, 1999. Artigo recebido em 19 de junho de 2009. Artigo aceito em 25 de setembro de 2009. Marlene Soares dos Santos Pós-Doutora em Teatro Norte-Americano pela Universidade de Yale, EUA. Doutora em Literatura Inglesa pela Universidade de Birmingham, Inglaterra. Mestre em Língua Inglesa pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, EUA. Professora Titular de Literatura Inglesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professora Emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professora de Pós-Graduação do Programa Interdisciplinar de Lingüística Aplicada (UFRJ). Membro fundador do Centro de Estudos Shakespeareanos (CESh). 72 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 APROPRIAÇÕES/ADAPTAÇÕES DE SHAKESPEARE: O HAMLET INTERMIDIÁTICO DE ROBERT LEPAGE* Thaïs Flores Nogueira Diniz [email protected] RESUMO: Juntamente com sua equipe, o dramaturgo canadense Robert Lepage criou um centro de pesquisa em Quebec, o Ex Machina, que emprega um método revolucionário de produção baseado em dois princípios: a reescrita de obras anteriores e a combinação da arte performática com as novas tecnologias. Este texto pretende analisar o espetáculo Elsinore de acordo com estes princípios. Esta performance solo será analisada primeiramente como uma adaptação que depende de um texto canônico para o tema, personagens e idéias em torno dos quais o espectador é estimulado a participar. Em seguida, a análise terá como base a riqueza dos recursos que Lepage incorporou ao texto, a intermidialidade, tomada como algo muito além da tradicional mistura de mídias, resultando em um espetáculo totalmente intermidiático ABSTRACT: Together with his team, the playwright Robert Lepage has created a multicultural research centre in Quebec that employs a revolutionary method of production based on two principles: the “recycling of already existing texts and the meshing of types of performance art and new technologies”. This text aims at analyzing the spectacle Elsinore according to these two principles. This one man show will first be analysed as an adaptation which depends on a canonical text for the theme, characters and ideas around which the spectator is stimulated to participate. Then, the analysis will have as its basis the richness of the resources that Lepage has incorporated into the text, taking intermediality beyond the traditional mixing of media, resulting in a totally intermedial work PALAVRAS-CHAVE: Robert Lepage. Elsinore. Intermidialidade. Shakespeare. Hamlet. KEY-WORDS: Robert Lepage. Elsinore. Intermediality. Shakespeare. Hamlet. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 73 Algumas produções recentes de obras de Shakespeare, principalmente da peça mais encenada do autor, Hamlet, frequentemente provocam controvérsia entre os acadêmicos, críticos e diretores de teatro sobre o modo como esta peça deve funcionar no palco. Uma delas, a produção de Matthew Warchus para a temporada da Royal Shakespeare Company em 1997, por exemplo, se enquadra dentro das produções controvertidas. Esta versão, nas palavras de Sarah J. Rudolph (1998, p. 234, minha tradução) “libera o texto do seu cenário original e, ao mesmo tempo, sugere como a inovação pode ser redutível em termos de acuidade histórica”1. Além de eliminar o episódio de Fortimbras e as cenas do fantasma nas muralhas do castelo, inventa cenas de Hamlet criança e apresenta os coveiros cantando “September Song”. O ator, Alex Jenkings, que faz o papel de Hamlet, traz para o palco um personagem muito mais visceral, se comparado com os papeis de Hamlet anteriores (RUDOLPH, 1888, p. 235). Assim como esta produção, em que há muitos cortes nas linhas, falas e personagens e uma reorganização do material, há ainda outras, que fazem parte do que se chamou de “sobrevivência de Shakespeare”. Esta sobrevivência se deve, segundo Margaret Kidnie, ao fato de que uma peça não é, de modo algum, um objeto estático, mas um processo dinâmico que evolui no tempo, de acordo com as necessidades e sensibilidades dos espectadores. Porém a linha divisória entre as obras consideradas como “sobrevivência de Shakespeare” e o drama moderno “baseado” em Shakespeare não é muito claramente definida. A categoria “drama moderno baseado em Shakespeare” pode ser exemplificada por algumas produções, entre elas, o Hamlet, por Charles Marowitz e o Elsinore, criado por Robert Lepage (KIDNIE, 2009, p. 90). A reestruturação de Hamlet feita por Charles Marowitz, publicada em 1963, quando o Teatro do Absurdo estava em voga, é uma versão perfeitamente válida da peça, na qual o dramaturgo usa o texto “original” como material para novas idéias, porém nunca afirma que as palavras são de Shakespeare. O dramaturgo nos apresenta uma colagem daquilo que o próprio personagem encontra quando regressa ao lar: o pai morto, a mãe casada novamente, a corte cheia de traições, o estado ameaçado de invasão e uma enorme pressão sobre ele para agir de um modo que ele se sentia incapaz2. As cenas e as falas da peça são embaralhadas, sobrepostas e repovoadas. É o próprio Marowitz que afirma que “a peça foi segmentada em uma colagem com as linhas justapostas, as sequências reordenadas, os personagens misturados ou ausentes e tudo encenado em pequenos fragmentos descontínuos que apareciam como flashes subliminares da vida de Hamlet e das palavras de Shakespeare radicalmente rearranjadas”(HOLDERNESS, 1998, p. 34, minha 74 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 tradução).3 Há outros personagens diferentes cujas falas nos são familiares, porém endereçadas a outros personagens. A peça pode ser considerada uma sátira; mais ou menos como Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, com a qual poderia ser comparada. Já Elsinore, de Robert Lepage, uma performance solo, não tem a finalidade de explorar o texto de Shakespeare, mas pode ser considerada uma sucessão deslumbrante de perícia visual, um espetáculo de mágica, destinado a exibir, com maestria, as estratégias de um verdadeiro feiticeiro (WOLFF, 1998, p. 237). É o próprio dramaturgo que afirma que o que o atraiu em Hamlet foi a possibilidade de ligar os atos que o personagem precisava executar a seus próprios pensamentos.4 Ao refletirmos sobre essas duas performances – a de Lepage e a de Marowitz – tão diferentes das anteriores, surge a pergunta relacionada ao conceito de sobrevivência postulado por Kidnie: seriam as estratégias dessas duas performances, se comparadas às de outros diretores contemporâneos, uma questão de grau ou cada uma delas poderia ser considerada uma adaptação? Segundo Ruby Cohn, mesmo que seja uma ramificação, uma derivação, qualquer adaptação de Shakespeare é reconhecível. Esta visão – de que toda adaptação de certo modo declara seu status como adaptação – faz parte da visão que Linda Hutcheon tem do fenômeno da adaptação, como produto e como processo. Como não se conhece toda a fortuna crítica de uma obra, e principalmente a de Hamlet, fica difícil classificar definitivamente se a versão é uma adaptação ou uma obra independente. Por esse motivo, Kidnie usa o termo adaptação de maneira mais ampla, referindo-se a uma categoria de algo em constante evolução e que vai sendo modificado a cada momento e a cada espaço de recepção. Assim, se compreendemos uma obra como um processo ao invés de um produto fixo, temos muitas alternativas na medida em que cada obra vai sendo modelada em consequência e como resultado de sua produção. Em 2002, a revista Canadian Theatre Review dedicou um número inteiro às adaptações de Shakespeare no Canadá. Os editores afirmam que escritores e dramaturgos, quando estão reescrevendo, citando ou desafiando as obras de Shakespeare, “fazem algo com Shakespeare” e não simplesmente “adaptamno”. Alguns exemplos de adaptações realizadas pelo mundo afora iniciam o volume que depois apresenta vários espetáculos, escritos e/ou encenados no Canadá, classificados como reproduções, homenagens, apropriações, explorações, citações, traduções, adaptações e transadaptações de vários tipos: Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 75 dramáticos e narrativos. Um dos capítulos inclui o texto de Elsinore, a adaptação de Hamlet por Robert Lepage. Na introdução ao texto, os editores argumentam que o que deu fama à peça não foi o texto, mas o palco inovador, controlado por computador. Robert Lepage se define como um forasteiro não só em termos pessoais e geográficos, mas também em termos artísticos: um homossexual numa cultura predominantemente heterossexual; um separatista francófono e uma voz quebequense numa nação dominada pelo inglês e, ainda, uma voz que fala de fora do Quebec e mesmo de fora do Canadá, numa combinação de línguas. Assim, enquanto apoiado por sua companhia de colaboradores de longa data, ele se autodenomina um performer auto-suficiente, um auteur, que combina as funções de diretor, designer, engenheiro de iluminação, ator principal e dramaturgo. Embora seu trabalho possa se definir como um teatro da era pós-industrial e pós-nacional, suas produções se assemelham a imagens póshumanas do cyborg, por integrarem máquinas e vídeo com ações ao vivo nas quais os mecanismos parecem ser uma expansão do corpo do performer. O objetivo deste texto é analisar a peça Elsinore que pode ser caracterizada como uma ramificação/enxerto de Hamlet. Esta obra foi concebida na mesma época em que duas outras importantes produções de renomados dramaturgos o foram: Qui Est Là , de Peter Brook e Hamlet: a monologue, de Robert Wilson, ambas baseadas em Hamlet. Lepage já havia encenado várias peças de Shakespeare e sempre recorre a elas com a mesma ambição: que Shakespeare seja visto de forma diferente. Elsinore não é propriamente uma colagem: há linhas e até cenas que são cortadas mas a história, como um todo não foge às expectativas. O que é surpreendente sobre o modo com que Lepage modela o texto não é o radicalismo, mas a familiaridade. Seja como uma produção independente ou como uma adaptação, Elsinore permanece facilmente reconhecível através da manipulação do palco e da tradição editorial que acompanharam a peça como texto e como performance através dos tempos. A idéia de Elsinore surgiu depois que Lepage e o designer, Carl Fillion, leram muitas versões de Hamlet e viram várias de suas adaptações cinematográficas. Este então criou um protótipo de uma máquina que constituiria o cenário. As imagens eram projetadas numa tela gigante que ia do chão ao teto, constituída de três painéis. O painel central era provido de um sistema de roldanas que o fazia passar facilmente da posição vertical para a horizontal, e de onde se destacava uma parte movediça circular, uma plataforma onde havia aberturas, que serviam como portas, janelas ou alçapões, qualquer que fosse a posição em que esta se encontrasse, e se transformavam em 76 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 quase tudo: o deque do navio, as escadas para o quarto da rainha, uma mesa etc. Esta plataforma também girava sobre seu próprio eixo, de modo que tanto um lado como o outro do círculo podiam ser vistos. A adaptação se centrava nos clichês da peça e na mistura das cenas, que eram apresentadas em ordem aleatória. O local, o castelo propriamente dito, torna-se algo muito importante, um espaço multiplicado em vários outros: biblioteca, quarto da rainha, túmulo e o lago onde Ofélia se afoga. Em consequência, o palco assume proeminência e neste cenário desenrolam-se os acontecimentos, interrompidos pela presença constante do processo tecnológico – que incluía a voz eletronicamente modificada, efeitos de som e técnicas de dublagem – enquanto o bloco parede/assoalho/teto, no qual o ator se movia, se erguia, se abaixava e se movimentava. São momentos de pura magia. Para ilustrar todo esse aparato, a cena de Polônio se mostra elucidativa. Os espectadores encontram esse personagem pela primeira vez quando ele vai informar os soberanos da loucura do príncipe que está apaixonado por sua filha, Ofélia. O ator aparece vestido com roupas pesadas, com uma barba postiça amarrada por uma tira atrás da cabeça, murmurando algumas palavras e tentando manter o equilíbrio na plataforma que gira debaixo de seus pés. A imagem que temos é a de um grotesco Polônio ocupadíssimo, que nunca chega a lugar nenhum. No painel ao fundo, a carta de Hamlet para Ofélia, para a qual o personagem chama nossa atenção apontando com uma vara, é projetada em tamanho grande. A plataforma ergue-se para formar uma parede, levando com ela o ator, que fica em pé na abertura central. Assim que a porta, anteriormente um alçapão, gira para o lado contrário, Polônio sai de cena, caindo na cena seguinte, onde o público o vê, olhando para cima, para as pernas de Hamlet enquanto este lê sentado numa estante na biblioteca, efeito que foi possível graças à colaboração de um dublê de corpo. Esta versão, construída por meio de alta tecnologia, reduz a peça a uma caixa de mágica, onde o conflito humano é ofuscado em prol da engenhosidade visual de Lepage. O texto fica subordinado à imagem; a idéia, ao efeito e a química da interação entre os personagens, ao narcisismo da exibição. Segundo Kidnie (2009, p.140), tanto o Hamlet personagem como Hamlet, a peça de teatro, nesta produção, consistem de superfícies e imagens que Lepage explora e exibe por meio de uma técnica do ator5 e de um efeito propiciado por um cenário único que leva o público a uma reação única. O evento – cada encenação de Elsinore – incorpora fisicamente uma experiência deste fim de século que muda os contornos de um texto canônico, um personagem canônico e um autor canônico. O público nunca terá Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 77 experimentado um Hamlet como este e deixará o espetáculo sem ter aprendido nada de novo a respeito da peça, mas conhecendo uma nova maneira de encená-la. E, uma vez que se adentra o hall do castelo do príncipe dinamarquês em companhia deste ator, diretor e mestre das novas mídias, nunca mais se terá uma experiência semelhante dessa tragédia moderna de Shakespeare, pois Elsinore é uma obra de imaginação infinita. Notas * Uma versão reduzida deste texto foi apresentada no II ABRALIC, em São José do Rio Preto em 2009. 1 “[…] realizes the potential of liberating a text from its original setting and at the same time it suggests how innovation might prove at least as reductible as historical accuracy”. 2 Disponível em: http://www.theexit.org/media/hamlet.html. Acesso em: 9 jun. 2009. 3 “The play was spliced-up into a collage with lines juxtaposed, sequences rearranged, characters dropped or blended, and the entire thing played out in short discontinuous fragments which appeared like subliminal flashes out of Hamlet’s life, in every case, used Shakespeare’s words, though radically rearranged”. 4 Disponível em: http://www.changeperformingarts.it/Lepage/elsinore.html. Acesso: 5 out. 2009. 5 Para um estudo desta técnica, ver o capítulo 4, Practical Workshops and Rehearsal Techniques (DUNDJEROVIC, 2009, p. 89-141). REFERÊNCIAS CHRISTIANSEN, Richard. High-tech tricks take center stage in Lepage’s glitzy ‘Elsinore’ Chicago Tribune (Section 1) Saturday, Feb. 17,1996. COHN, Ruby. Modern Shakespeare Offshots. Princeton, NJ: Princenton University Press, 1976 DESMET, Christy and Robert Sawyer. Shakespeare and Appropriation. London and New York: Routledge, 1999. DUNDJEROVIC, A. Sasa. Robert Lepage. London & New York: Routledge Performance Practitioners, 2009. FISCHLIN, Daniel; KNOWLES, Ric (orgs.). Canadian Theatre Review, CTR III Summer, 2002. HOLDERNESS, Graham. The Shakespeare Myth. Manchester: Manchester University Press, 1988. 78 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 HUTCHEON. Linda. A Theory of Adaptation. New York & London: Routledge, 2006. INNES, Christopher. Puppets and Machines of the Mind: Robert Lepage and the Modernist Heritage. Theatre Research International, vol.30, n.2, p. 124-138. KIDNIE, Margaret Jane. Shakespeare and the Problem of Adaptation. London and New York: Routledge, 2009. ——. Dancing with art: Robert Lepage’s Elsinore. In MASSAI, Sonia (ed.). World-wide Shakespeares: Local Appropriations in Film and Performance. London and New York: Routledge, 2005, p. 133-140. KNOWLES, Ric. Robert Lepage’s Internationally acclaimed one-man Hamlet breaks a few eggs. Canadian Theatre Review, CTR III, p. 87-99, Summer 2002. KNOWLES, Richard Paul. Shakespeare, 1993, and the Discourses of the Stratford Festival, Ontario. Shakespeare Quarterly, vol. 45 n. 2, p. 211-225, Summer 1994. KNOWLES, Richard Paul. From Dream to Machine: Peter Brook, Robert Lepage, and the Contemporary Shakespearean Director as (Post) Modernist. Theatre Journal, v. 50. n.2 , p.189-206, May 1998. LAVENDER, Andy. Hamlet in pieces: Shakespeare reworked by Peter Brook, Robert Lepage, Robert Wilson. New York: Continuum, 2001. LEITCH, Thomas M. Film Adaptation and its discontent: From Gone with the Wind to The passion of the Christ. Baltimore: John Hopkins University Press, 2007. MOORE, Michael Scott. Hamlet adapted by Charles Marowtiz review by Moore in SF Weekly, February 10, 1999. Disponível em: http://www.theexit.org/media/ hamlet.html. Acesso em: 21 maio 2009. RUDOLPH, Sarah J. Review. Theatre Journal, vol 50, n. 2, p. 234-237, May 1998. WOLFF, Tamsen. Review Elsinore, by Robert Lepage. Theatre Journal, vol. 50, n. 2, p. 237-240, May 1998. Artigo recebido em 02 de março de 2009. Artigo aceito em 07 de junho de 2009. Thaïs Flores Nogueira Diniz Pós-doutora pela University of London. Doutora pela UFMG e Indiana University at Bloomington. Professora Associada da FALE/UFMG. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 79 80 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 AS TRÊS FACES DA RAINHA: ESTUDO COMPARATIVO DO PAPEL DE GERTRUDES NAS TRÊS VERSÕES DE HAMLET José Roberto O’Shea [email protected] Fabrício Mateus Coêlho [email protected] RESUMO. Inserindo-se nos contextos teatrais elisabetano e jaimesco, este ensaio trata das três versões de A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, de William Shakespeare, publicadas, respectivamente, em 1603 (Primeiro In-Quarto, Q1), 16045 (Segundo In-Quarto, Q2) e 1623 (Fólio, F). Topicalizando a construção da personagem da Rainha Gertrudes, o ensaio conclui que, enquanto em Q2 e F Gertrudes é um tanto ambígua, sobretudo quanto à conivência, ou ao conhecimento prévio do regicídio que deflagra o conflito da peça, em Q1, a Rainha é mais dócil, carismática e solidária com o filho. Longe de pretendermos identificar ou “escolher” uma construção de Gertrudes em detrimento das outras duas, nosso objetivo neste ensaio é ressaltar diferenças entre as três “faces” da Rainha da Dinamarca, na expectativa de contribuirmos para uma compreensão mais abrangente dessa peça shakespeariana tão fundamental. ABSTRACT. Inserted in the Elizabethan and Jacobean theatrical contexts, this essay addresses the three versions of The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, by William Shakespeare, published respectively in 1603 (First Quarto, Q1), 1604-5 (Second Quarto, Q2), and 1623 (Folio, F). Foregrounding the construction of Queen Gertrude’s character, the essay concludes that, while in Q2 and F Gertrude is rather ambiguous, particularly as regards conniving, or having previous knowledge about the regicide that triggers the play’s conflict, in Q1 the Queen is a milder figure, sympathetic with her son, and also charismatic. Far from wanting to “choose” a given construction of Gertrude over the other two, our objective in this essay is to stress differences among the three “faces” of the Queen of Denmark, in the expectation to contribute to a broader understanding of such a fundamental Shakespearean play. PALAVRAS-CHAVE: Shakespeare. Hamlet. Hamlet Primeiro In-Quarto. Gertred. KEY-WORDS: Shakespeare. Hamlet. Hamlet Primeiro In-Quarto. Gertred. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 81 Se Shakespeare é o centro do cânone ocidental, A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca é, por assim dizer, o centro do centro, o texto mais frequentemente analisado de toda a Literatura Ocidental. No entanto, a despeito de tal centralidade e da presença constante desse texto na crítica, um fato crucial costuma passar despercebido: a existência de três Hamlets – a saber, o Primeiro In-quarto (Q1) (1603), o Segundo In-quarto (Q2) (1604-5) e o Fólio (F) (1623), este último constituindo uma coletânea de peças do autor impressa postumamente por dois de seus ex-sócios. Q2 e F são as versões mais aceitas no universo literário como de real autoria do dramaturgo William Shakespeare, sendo geralmente reconhecidas como versões autênticas devido a determinadas características que as enquadram mais significativamente na obra shakespeariana, sobretudo a “inteligência” do texto e a beleza da linguagem. Sendo mais conhecidas, Q2 e F foram e são comumente traduzidas para diversas línguas, incluindo o português, e muitas vezes aparecem “unidas” em uma única versão criada por editores que mesclam os dois textos, originando uma forma híbrida. O Primeiro In-Quarto, no entanto, tem sido a menos explorada das três versões. Devido à notória falta de consenso entre os estudiosos quanto à origem real do texto — revisão do “original”; encurtamento para encenação; primeira versão da peça posteriormente estendida pelo próprio Shakespeare —, o Primeiro In-quarto de Hamlet, incluído por Alfred W. Pollard no grupo de “In-quarto espúrios” (bad quartos), tem sido deixado de lado em grande parte das análises da obra. Mesmo entre os especialistas, são relativamente poucos os que atentam para a primeira versão impressa da peça, o já mencionado Primeiro In-Quarto “espúrio” (URKOWITZ, 1992, p. 258). Desafiando o consenso, Kathleen Irace, ao ponderar sobre a verdadeira origem da versão, afirma que “algumas das características especiais de Q1 parecem tão inteligentes que é fácil imaginar que o próprio Shakespeare fosse responsável por elas, mesmo que ele as tenha eliminado posteriormente da versão revisada (Q2)” (IRACE, 1998, p. 2).1 Ao falar sobre as idéias geradoras da “aversão” acadêmica em relação a Q1, Steven Urkowitz (1992, p. 258) também afirma que tais “crenças comuns, compartilhadas dentro da comunidade editorial, conquistaram o status de dogma, e que desafios a estes dogmas têm se deparado com brados de indignação e escárnio”. No entanto, continua ele, essas crenças não estão embasadas em nenhuma metodologia coerente ou observações confirmáveis. Para Urkowitz,o texto de Q1 deve ser valorizado por suas qualidades intrínsecas — características que muitas vezes estabelecem contrastes interessantes em relação à Q2 e F — e por ser, efetivamente, um documento do teatro renascentista. 82 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 A primeira evidência desse fato, conforme relembra Robert Burkhart, está no próprio título da versão impressa de 1603: “The Tragic History of Hamlet – Prince of Denmark – by William Shakespeare – As it has been diverse times acted by his Highness’ servants in the City of London: as also in the two Universities of Cambridge and Oxford, and elsewhere.”2 Burkhart insiste que ao invés de manter-se embate para provar por que razões o Primeiro In-Quarto é um texto ruim, os estudiosos deveriam investigar aspectos próprios desse texto e encorajar os leitores contemporâneos a procurarem pelo rico e inesperado prazer da leitura dessa versão “obscurecida”: “Devemos reconhecer que o texto de Q1 de Hamlet pode ser estudado de maneira proveitosa como um produto da mesma indústria teatral que deu origem aos trabalhos de Marlowe, Shakespeare e Jonson”, propõe Burkhart (1975, p. 288). Baseados nesse ideal já aderido por companhias de teatro e por edições célebres, como a New Cambridge Shakespeare e a Oxford (O’SHEA, p. 2), foram desenvolvidos os trabalhos da tradução de J. R. O’Shea do Primeiro In-Quarto de Hamlet para o Português (a primeira tradução desse texto para a Língua Portuguesa) e este ensaio comparativo de Q1, Q2 e F, focado no papel de Getrudes, mãe de Hamlet, Rainha da Dinamarca, e personagem de acentuado contraste na construção das três versões da peça. São inúmeras e impressionantes as diferenças entre a versão de 1603 (Q1) e as versões subsequentes Q2 e F. Dentre elas, a mais exclamativa é, sem dúvida, a discrepância entre suas extensões. De acordo com Irace, o Segundo In-Quarto, que é a mais extensa versão da obra, possui 4.056 linhas; o Primeiro Fólio possui 3.907 linhas, e o Primeiro In-Quarto, consideravelmente menor, possui apenas 2.221 linhas. Outras diferenças significativas são a alteração dos nomes de alguns personagens; a variação da participação de determinados personagens na trama; a reordenação e recombinação de certos acontecimentos e falas do enredo; atribuições de falas de um personagem a outro; bem como a presença de rubricas exclusivas, além de uma cena absolutamente inédita entre Horácio e a rainha Gertrudes. A despeito das várias diferenças elencadas entre as versões, a caracterização de Gertrudes se destaca por ser esta talvez a personagem com as discrepâncias mais impactantes e significativas para o enredo da primeira versão, em contraste com as seguintes. Apesar de ser expressivamente mais breve do que as versões posteriores e de ter inúmeras falas e mesmo cenas a menos, Q1 possui uma cena inexistente em Q2 e F, entre o amigo de Hamlet, Horácio, e a mãe do Príncipe, a rainha, cena esta que, unida a outros detalhes de caracterização da personagem, permite aos leitores uma interpretação bastante diversa do papel de Gertrudes na trama. A personagem pode passar Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 83 a ser vista como uma mulher mais amável e dócil do que nas versões mais longas, ou até mesmo como inocente no plano de assassinato de seu primeiro marido, o rei Hamlet. Isso sem mencionar o fato de que “a mãe de Hamlet é suficientemente verossimilhante para ter sido frequentemente tratada pela crítica como se fosse um ser de carne e osso” (OLIVEIRA, 2008, p. 42). Cientes da importância do papel de Gertrudes como personagem ativa na trama em qualquer das versões, e da possibilidade de uma expressiva inversão desse papel na versão mais curta da obra, procuramos com este trabalho analisar desde as diferenças mais perceptíveis até as mais sutis que se manifestam na construção da personagem, visando à identificação de dados concretos sobre a magnífica construção desta personagem nos três textos em contraste. Em ordem de extensão, comecemos pelo Segundo In-Quarto. Gertrudes no Segundo In-quarto Relembrando: o Segundo In-Quarto (Q2), publicado em 1604-5, é a versão mais extensa e “bem acabada” da obra, contendo mais de 4000 linhas; Q2 é também, ao lado do Primeiro Fólio (1623), a versão mais aceita no universo literário como de real autoria do dramaturgo; Q2 e F costumam ser reconhecidas como versões autênticas devido a características presentes nestas que as enquadram mais significativamente no drama shakespeariano, por exemplo, a inteligência temática e a graciosidade da linguagem. Sendo uma das versões mais conhecidas, Q2 é comumente traduzida para diversas línguas, inclusive o português, e muitas vezes aparece, como define o neologismo, “conflacionada” ao Fólio, em uma única versão criada por editores que mesclam os dois textos, originando uma versão híbrida que, na verdade, não foi escrita por Shakespeare e jamais foi encenada como tal na Inglaterra durante o período jaimesco. Topicalizando a Rainha da Dinamarca, vale dizer que, de modo geral, uma leitura pouco crítica do Segundo In-quarto pode gerar certa ambivalência quanto ao possível envolvimento de Gertrudes na trama de traição e homicídio que dá origem à história, ou, ao menos, quanto ao seu conhecimento dos fatos criminosos. Teria sido Gertrudes cúmplice de Cláudio no assassinato do marido? Estaria ela a par da identidade do assassino, sendo conivente com este? No entanto, Q2 parece eximir a Rainha de culpa em relação ao assassinato do marido. Não há em Q2 qualquer fala na qual a personagem confesse ou denuncie a sua participação na trama de Cláudio para matar o irmão, ou mesmo conhecimento da existência de tal arranjo. Tampouco existe qualquer passagem em que algum personagem afirme saber do envolvimento da Rainha na morte do marido. O próprio fantasma do rei Hamlet, sabidamente a primeira 84 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 vítima da tragédia, endossa o fato de que Gertrude merece ao menos o benefício da dúvida, e adverte o filho: “(...) But howsomever thou pursues this act taint not thy mind nor let thy soul contrive against thy mother aught; leave her to heaven (...)” (1.5.84-86), sendo que ele próprio, um ser místico conhecedor de verdades além das possibilidades da razão humana, não sabe, ou aparenta não saber, de nada que atribua culpa à esposa. É verdade, no entanto, que Hamlet durante a discussão que tem com a mãe, na célebre cena da alcova, logo após a encenação da peça dentro da peça, através da qual o Príncipe julga ter visto comprovada a culpa do tio, parece insinuar que a Rainha partilhasse do crime de Cláudio: A bloody deed – almost as bad, good mother, As kill a king and marry with his brother. (3.4.26-27) A insinuação, no entanto, pode ser explicada com base na indignação e na revolta do Príncipe por ver sua mãe casada, dedicada e apaixonada pelo homem que, segundo a denúncia do Fantasma, matou seu pai e usurpou sua coroa. Para T. S. Eliot (OLIVEIRA, 2008, p. 19), numa peça que é exemplo de excessos – a mais longa do cânone shakespeariano – e que possui cenas supérfluas e incoerentes, também parecem excessivos o luto prolongado de Hamlet e o seu sofrimento em face ao comportamento da mãe. Hamlet, numa cena permeada de erotismo concedido pelo local (aposentos da rainha) e por um discurso apaixonado (OLIVEIRA, 2008, p. 44), parece assumir o papel de marido traído, que se impõe diante da esposa com acusações e posicionamento mais severos do que os exigidos pelas ações desta. Além disso, outra questão central do texto, e que contribui para a aspereza da censura de Hamlet em relação à mãe, conforme apontado por Oliveira (2008, p. 42), é o horror à sexualidade feminina, comum nas sociedades patriarcais. Principalmente em relação a uma figura feminina que, segundo os críticos, reúne aspectos da mais dedicada ternura e devoção, além de uma sexualidade exacerbada e destruidora do homem. Com efeito, mesmo que o Príncipe acusasse Gertrudes diretamente, tal acusação seria questionável, já que a única fonte de informações acerca do assassinato é o fantasma do Rei Hamlet, que, a propósito, nada menciona sobre o possível envolvimento da Rainha, culpando-a tão-somente por ter se rendido à sedução de Cláudio e ao seu “leito incestuoso”: O Hamlet, what falling off was there, From me whose love was of that dignity That it went hand in hand even with the vow Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 85 I made to her in marriage, and to decline Upon a wretch whose natural gifts were poor To those of mine. (1.5.47-52) Porém, a possível conivência não é a única culpa plausível de ser imputada à complexa e contraditória Rainha da Dinamarca. Personagem marcadamente dividida entre seu papel de rainha, esposa e mãe, Gertrudes não é inocente do “pecado” de um amor impossível, de se apaixonar pelo irmão do seu marido, e talvez tê-lo feito mesmo enquanto o Rei Hamlet ainda estava vivo. Contudo, em nenhuma passagem dos três textos há qualquer indicação de que o amor de Gertrudes por Cláudio datasse de antes da morte do seu primeiro marido. O uso da palavra incesto, aponta Oliveira (2008, p. 31), remonta ao fato de que a teologia renascentista considerava o casamento entre cunhados ato incestuoso. Além do mais, os próprios insultos do Fantasma ao seu irmão, quando, no primeiro momento em que conversa com Hamlet, chama o irmão de “besta adúltera”, surpreendentemente, deixam dúvidas quanto à real existência de adultério. Ann Thompson e Neil Taylor (2003, p. 214) afirmam que Shakespeare já fizera uso da palavra adulterate em outras obras, com um sentido mais genérico e próximo em significado a “corrupto”, e que, além disso, é notoriamente incerta a intenção do Fantasma ao utilizar essa palavra, já que sua indulgência para com a Rainha em diferentes pontos da peça indicaria conhecimento por parte deste da inocência de sua esposa. Por outro lado, a inferência de que houve de fato adultério é cabível se for levada em conta a presteza com que a rainha se casou com Cláudio e as inúmeras demonstrações de amor e submissão ao novo rei. Um último fator que sugere a possibilidade de adultério é a confissão da Rainha de estar ciente de suas próprias “máculas”, em face das inúmeras acusações proferidas pelo filho em relação ao seu casamento com o cunhado na já citada cena da alcova: O Hamlet, speak no more. Thou turn’st my very eyes into my soul And there I see such black and grieved spots As will leave there their tinct. (3.4.87-90) Acreditamos que a afirmação da existência de tal mácula em seu espírito indique uma culpabilidade mais significativa do que a de ter se casado novamente em tão curto período após a viuvez, algo que lhe doa profundamente, mas algo que a Rainha não tenha tido forças para evitar — um possível adultério. 86 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Além de rainha e esposa, Gertrudes se destaca na obra ao desempenhar seu papel de mãe. Em diversos momentos da história ela expressa de maneira clara amor e preocupação com o filho, dentre eles: quando se preocupa com a loucura de Hamlet e tenta descobrir o motivo de tal perturbação; quando pede que este sente-se perto dela durante a apresentação da peça, “Come hither, my dear Hamlet, sit by me” (3.2.105); quando o defende durante a luta com Laertes, pedindo a Laertes que releve o comportamento de Hamlet já que seria resultado de loucura: For love of God, forbear him (5.1.262) ……………………………… This is mere madness, And thus awhile the fit will work on him. Anon, as patient as the female dove When that her golden couplets are disclosed, His silence will sit drooping. (5.1.274-277) Finalmente, esse afeto é expresso quando a Rainha brinda o sucesso do filho durante a luta com floretes, mesmo contrariando a ordem do Rei, desobedecendo-o, fatalmente, pela primeira e única vez em toda a peça: Queen: (...) The Queen carouses to thy fortune, Hamlet. King: Gertrude, do not drink. Queen: I will my lord. I pray you pardon me. (5.2.271-274) Até mesmo Cláudio confirma a veracidade do amor de Gertrudes por seu filho, ao explicar o porquê de sua cautela ao lidar com o príncipe: “The Queen his mother lives only by his looks” (4.7.12-13). No entanto o amor de Gertrudes por Hamlet disputa espaço com o amor pelo Rei e com o desejo de restabelecer harmonia, ou ao menos o status quo anterior, além do desejo de reinar ao lado do homem que ama e ver este e seu filho se relacionando amigavelmente: Good Hamlet, cast thy knighted colour off And let thine eye look like a friend on Denmark (...). (1.2.68-69) Gertrudes chega a frisar o fato de que Cláudio é agora “pai” de Hamlet: “Hamlet, thou hast thy father much offended” (3.4.8). Talvez na intenção de alcançar tal harmonia, a Rainha pede a Guildenstern e Rosencrantz que espiem e investiguem Hamlet, no intuito de descobrirem o motivo de sua loucura Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 87 repentina, oferecendo-lhes recompensas à altura das posses reais. Tal atitude, entretanto, não anula as demonstrações de afeto maternal, mas revela uma complexidade de caráter da Rainha do Segundo In-Quarto, personagem repleta de contradições e sentimentos conflitantes que apontam intensa verossimilhança e que expressam a magnitude da humanidade conferida por Shakespeare a seus personagens mais marcantes. Gertrudes no Primeiro Fólio A Gertrudes do Primeiro Fólio não apresenta grandes discrepâncias em relação à Gertrudes retratada no Segundo In-Quarto; portanto, há pouco a acrescentar. O Primeiro Fólio tem cerca de 150 linhas a menos que Q2, mas, por seu turno, apresenta linhas exclusivas. No texto do Fólio é a própria Rainha que chega à conclusão de que é sensato receber Ofélia quando esta, enlouquecida em consequência da morte do pai e do desamor de Hamlet, pede para falar com Gertrudes — e não Horácio quem a aconselha a tal, atitude que sugere uma monarca mais ponderada. Além disso, na briga que ocorre durante o sepultamento de Ofélia, é o Rei quem diz a Laertes que a atitude de Hamlet é resultado de sua loucura, fala pertencente à rainha em Q2. Isso diminui a interseção de Gertrudes pelo filho nesta cena, mas ela, ainda sim, o defende: “For the love of God, forbear him” (5.1.269). Apesar de tais discrepâncias, as falas da Rainha em F divergentes de Q2, ao nosso ver, não implicam em mudanças no caráter da personagem ou na sua importância para a obra. Portanto, essa “segunda” rainha apresenta uma face similar à primeira, isto é, à de Q2. Gertrudes no Primeiro In-quarto No Primeiro In-Quarto da peça (Q1), as mudanças relacionadas às Gertrudes, aqui chamada Gertred, são as mais notáveis. A começar pela extensão da sua participação na trama: já consideravelmente breve nas versões mais longas, e ainda mais reduzida na versão mais curta. Também quanto às marcações de palco, podemos destacar diferenças: por exemplo, no texto de Q2, a rainha participa ativamente da cena com Guildenstern e Rosencrantz, definindo a entrevista e controlando o movimento no palco; já em Q1 a rainha mantêm-se apenas como um adjunto do Rei, não dizendo ou fazendo nada de substancial (URKOWITZ, 1992, p. 280). Em consonância com a “nova” caracterização de Gertrudes, e contribuindo essencialmente para esta, está a já mencionada cena inédita do 88 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Primeiro In Quarto de Hamlet. De acordo com Irace (1998, p. 36), de todos os “Primeiros In-Quartos” das peças de Shakespeare, o Primeiro In-Quarto de Hamlet é o único a possuir uma cena que não esteja presente nas versões mais extensas. Tal cena — na qual Horácio avisa a Rainha que Hamlet retornara à Dinamarca (depois de ter sido enviado à Inglaterra pelo rei em um estratagema deste para matar Hamlet), décima quinta cena de Q1 — concentra informações de três cenas diferentes em Q2 e F e, além disso, corrobora a acentuada “nova” personalidade da Rainha em Q1. Se em Q2 e no Fólio, a inocência da Rainha quanto à trama para assassinar o rei Hamlet é inferida a partir da ausência de trechos que comprovem sua culpa, em Q1, além da mesma falta de acusações explícitas, a inocência da Rainha é declarada por ela mesma e demonstrada por suas ações. Durante a discussão com Hamlet na alcova, ao ouvi-lo revelar que Cláudio matara o antigo rei, Gertred demonstra espanto e total desconhecimento do acontecido: But, as I have a soul, I swear by heaven I never knew of this most horrid murder. (11.85) Em seguida, na mesma cena, a Rainha promete, em nome de Deus, fazer tudo o que puder para auxiliar Hamlet naquilo que ele decidir fazer em relação ao Rei: Hamlet, I vow by that Majesty That knows our thoughts and looks into our hearts I will conceal, consent and do my best – What stratagem soe’er thou shalt devise. (11.97-100) Irace (1998, p. 51) afirma que em Q1 fica patente que Gertrudes não é culpada de nada além, é claro, de um casamento indiscreto. Mais além, no já citado exclusivo diálogo com Horácio, Gertred afirma perceber a vilania na aparência do Rei, assim como sua perícia em dissimulá-la, e se propõe a manipulálo, agradando-o e obedecendo-lhe, para que ele não desconfie da trama: Then I perceive there’s treason in his looks That seemed to sugar o’er his villainy. But I will soothe and please him for a time (For murderous minds are always jealous). (14.10-13). Outra diferença importante, já mencionada mas não discutida, é a “omissão” da Rainha durante a cena na qual Cláudio cumprimenta e instrui Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 89 Rosencrantz e Guildenstern para que espionem Hamlet. No texto de Q1, a participação de Gertrudes na cena é limitada a uma linha, ao passo que nas versões mais extensas, ela lisonjeia os espiões, afirma que sua ajuda receberá recompensas dignas de rei e ainda ordena aos criados que os conduzam até seu filho. Contudo, essa Rainha justa e aliada do filho no Primeiro In-Quarto é também apaixonada pelo novo marido. Ela não aceita o crime perpetrado e permanece irredutível ao lado de Hamlet, mas ama Cláudio e parece desejar que ele nunca tivesse cometido tal mal. Quando Hamlet lhe revela o crime, seu amor pelo atual marido e o desejo de restabelecer harmonia na corte fazem-na tentar convencer o filho de que toda a história não passava de fruto de seu destempero, chegando mesmo a pedir-lhe que esqueça tudo o que acabara de falar: Alas, it is the weakness of thy brain Which makes thy tongue to blazon thy heart’s grief. [...] But, Hamlet, this is only fantasy And, for my love, forget these idle fits. (11.83-88). A relutância em aceitar o que o filho lhe contara torna-se ainda mais plausível se levarmos em consideração o fato de que Gertred realmente acreditava que o filho estivesse louco. Por fim, uma outra demonstração de amor ao Rei acontece quando Laertes esbraveja com este que seu pai fora assassinado, e a Rainha interfere, em defesa do Rei, alegando que Corambis (Polônio em Q1) fora assassinado, sim, mas não por Cláudio. As ações e as palavras registradas no Primeiro In-Quarto revelam uma Rainha cuja face maternal é bem mais impactante do que nas outras duas versões. Além de acreditar em Hamlet e se dispor prontamente a auxiliálo quando este lhe revela a trama do assassinato do pai, Gertred se mostra constantemente preocupada com o filho, com o seu bem-estar, sua segurança e sanidade. E a maneira como Gertred se despede de Horácio na cena exclusiva é evidente demonstração dos fortes sentimentos maternos da Rainha em Q1: Thanks be to heaven for blessing of the Prince! Horatio, once again I take my leave, With thousand mother’s blessings to my son. (15.31-33) Concluindo: se, por um lado, as faces da Rainha em Q2 e F são mais ambíguas, sobretudo quanto à conivência, ou ao conhecimento prévio no que 90 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 diz respeito ao regicídio que pontua a peça, ambiguidade esta que, para muitos, remete à intrigante complexidade dos grandes personagens shakespearianos, por outro, em Q1, a Rainha é mais dócil, solidária e carismática. Além das importantes e já mencionadas ações e palavras da soberana que apontam para esta conclusão, há também pequenos fatos de sutil relevância: ela aqui não pede ao filho que abandone o luto pelo pai; ela se mostra sinceramente feliz ao vê-lo inclinado à diversão, num momento em que acredita que o filho está louco: “(...) it joys me at the soul / he is inclined to any kind of mirth” (8.2223); ela não evidencia culpa ou estigma durante o desenrolar da história e principalmente diante das duras palavras que ouve de Hamlet na reveladora cena em seus aposentos. Longe de pretendermos identificar ou “escolher” uma construção de Gertrudes em detrimento das demais, nosso objetivo neste ensaio foi ressaltar diferenças entre as três “faces” da Rainha da Dinamarca, na expectativa de contribuirmos para uma compreensão mais abrangente desse texto shakespeariano tão fundamental. Notas A tradução dos trechos originalmente em língua inglesa é de nossa autoria. 2 Isto é, “A Trágica História de Hamlet – Príncipe da Dinamarca – por William Shakespeare – Como diversas vezes encenada pelos criados de sua Alteza na Cidade de Londres: assim como em ambas as Universidades de Cambridge e Oxford, e em outras localidades”. 1 REFERÊNCIAS ALLEN, Michael J. B. e Kenneth Muir, eds. Shakespeare’s Plays in Quarto. Berkeley: U California P’, 1981. BERTRAM, Paul e Bernice W. Kliman, eds. The Three-Text Hamlet. Parallel Texts of the First and Second Quartos and First Folio. New York: AMP Press, 1991. BLOOM, Harold. Hamlet: poema ilimitado. Trad. José Roberto O’Shea. Acompanhado de Hamlet, na tradução de Anna Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2004. BURKHART, Robert E. Shakespeare’s Bad Quartos. The Hague: Mouton, 1975. CLAYTON, Thomas (ed.). The Hamlet First Published (Q1, 1603): Origins, Form, Intertextualities. Newark: U of Delaware P, 1992. GREG, W. W. “Introductory Note”. Shakespeare Quarto Facsimiles 7. London: The Shakespeare Association, 1951. HOPE, Jonathan. Shakespeare’s Grammar. The Arden Shakespeare. London: Thomson, 2003. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 91 IRACE, Kathleen O. “Introduction”. The First Quarto of Hamlet. The New Cambridge Shakespeare. Ed. Kathleen O. Irace. Cambridge: Cambridge UP, 1998. p. 1-27. ________. Reforming the “Bad” Quartos: Performance and Provenance of Six Shakespearean First Editions. Newark: U of Delaware P, 1994. MCGUIRE, Philip C. “Which Fortinbras, Which Hamlet?”. In CLAYTON, Thomas (ed.). The Hamlet First Published (Q1, 1603): Origins, Form, Intertextualities, pp. 151-178. MELCHIORI, Giorgio. “Hamlet: The Acting Version and the Wiser Sort”. In: CLAYTON, Thomas, ed. The Hamlet First Published (Q1, 1603): Origins, Form, Intertextualities. London: U Delaware P, 1992. O’DELL, Leslie. Shakespearean Language: A Guide for Actors and Students. London: Greenwood P, 2002. OLIVEIRA, Solange Ribeiro. Hamlet Leituras Contemporâneas. Belo Horizonte: Tessitura, 2008. ONIONS, C. T. A Shakespeare Glossary. Enlarged and Revised by Robert D. Eagleson (1986). Oxford: Clarendon Press, 1992. O’SHEA, José Roberto. “Mais Ação, Menos Reflexão: O Primeiro In-Quarto de Hamlet”. In Hamlet, O Primeiro In-Quarto. William Shakespeare. Tradução, notas e bibliografia de José Roberto O’Shea. São Paulo: Editora Hedra (no prelo). ________. Traduções Anotadas da Dramaturgia de William Shakespeare: O Primeiro In-Quarto de Hamlet. Pesquisa CNPq (300127/2005-7). SHAKESPEARE, William. The First Quarto of Hamlet. The New Cambridge Shakespeare. Ed. Kathleen O. Irace. Cambridge: Cambridge UP, 1992. ________. Hamlet. New Swan Shakespeare. Advanced Series. Ed. Bernard Lott. Essex: Longman, 1983. ________. Hamlet. The Arden Shakespeare. Third Series. Eds. Ann Thompson and Neil Taylor. London: Thomson, 2006. ________. Hamlet: The Texts of 1603 and 1623. The Arden Shakespeare. Third Series. Eds. Ann Thompson and Neil Taylor. London: Thomson, 2006. ________. Hamlet. The Arden Shakespeare. Ed. Harold Jenkins. Second Series. London: Methuen, 1982. ________. Hamlet (en sus tres versiones). Compilados y cuidados por Pedro Henríquez Ureña. Trad. de Guillermo MacPherson y Patricio Canto. Buenos Aires; Editorial Losada, S. A., 1997. ________. Hamlet. The Folger Library. Eds. Louis B. Wright & Virginia A. LaMar. New York: Washington Square Press, 1974. 92 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 ________. Hamlet. Trad. Anna Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça. Rio de Janeiro: Agir, 1968. ________. Hamlet. Trad. Péricles Eugênio da Silva Ramos. São Paulo: Abril Cultural, 1968. ________. Hamlet. Trad. Ricardo Alberty. Lisboa: Editorial Verbo, 1972. ________. Hamlet. The First Quarto – 1603. Ed. Albert B. Weiner. New York: Barron’s Educational Series, 1962. ________. Hamleto: Príncipe da Dinamarca. Trad. Carlos Alberto Nunes. São Paulo: Ediouro, s/d. ________. Shakespeare’s Hamlet. The First Quarto – 1603. Third Issue. San Marino: The Huntington Library, 1960. ________. The Tragedie of Hamlet, Prince of Denmarke. Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies. A facsimile edition prepared by Helge Kökeritz. New Haven: Yale UP, p. 743-772. ________. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. The Complete Oxford Shakespeare. Eds. Stanley Wells & Gary Taylor. Oxford: Clarendon P, 1998, p. 653- 690. ________. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. The Riverside Shakespeare. Ed. G. Blakemore Evans. Second Edition. Boston: Houghton Mifflin, 1997, p. 1183-1245. URKOWITZ, Steven. “Back to Basics: Thinking About the Hamlet First Quarto”. In C LAYTON , Thomas, ed. The Hamlet First Published (Q1, 1603): Origins, Form, Intertextualities. London: U Delaware P, 1992, p. 257-291. WEINER, Albert W. William Shakespeare: Hamlet, The First Quarto 1603. Great Neck, NY: Barron’s, 1962. Artigo recebido em 03 de julho de 2009. Artigo aceito em 30 de setembro de 2009. José Roberto O’Shea Pós-Doutor em Letras e Artes pela Universidade de Exeter, Inglaterra. Pós-Doutor em Letras e Artes pela Universidade de Birmingham, Inglaterra. Doutor em Literatura Inglesa e Norte-Americana pela Universidade da Carolina do Norte, EUA. Professor Titular de Literatura Inglesa e Norte-Americana e de Tradução do Curso de Letras da UFSC. Professor de Pós-Graduação em Inglês e Literatura Correspondente da UFSC. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 93 Fabrício Mateus Coêlho Aluno do curso de graduação em Letras da UFSC. Faz parte do Programa de Iniciação Científica, com bolsa concedida pelo CNPq. Contemplado com uma bolsa FIPSE/CAPES, para cursar um semestre letivo na Universidade da Califórnia em Los Angeles. 94 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 HAMLET E AS PERFORMANCES FEMININAS: DAS PRIMEIRAS AVENTURAS NO TEATRO AO FILME DE ASTA NIELSEN* Liana de Camargo Leão [email protected] Mail Marques de Azevedo [email protected] RESUMO: Este trabalho examina as performances de Hamlet por mulheres sob três ângulos: evidências no texto dramático de Shakespeare de traços femininos do personagem; a tradição da performance feminina de Hamlet em palcos ingleses, a partir do século XVIII, em parte como resistência a padrões de conduta e normas restritivas impostas à mulher; a performance de Hamlet por duas grandes atrizes, Sarah Bernhardt e Asta Nielsen, e seu papel decisivo nos momentos iniciais da história do cinema mudo. Para enfatizar a importância do estudo da feminilidade em Hamlet, analisa a reação da crítica que tende a considerar excessivamente masculina e agressiva a performance de algumas atrizes, enquanto vê associações com o universo feminino nas interpretações de atores famosos. ABSTRACT: This text examines performances of Hamlet by female actresses from three different angles: evidences in Shakespeare’s dramatic text of the protagonist’s feminine features; the tradition of the performance of Hamlet by actresses on the British stage, from the XVIII century onwards, partly as resistance to patriarchal standards and restrictions; the performance of Hamlet by two great actresses, Sarah Bernhardt and Asta Nielsen, and their relevance to the early history of silent movies. Finally, to emphasize the importance of studying the feminine in Hamlet, it analyzes critical commentaries that tend to point out excessive masculinity and aggressiveness in some actresses, as well as features of femaleness in the performance of famous actors. PALAVRAS-CHAVE: Hamlet. Performance feminina. Cinema mudo. Teatro. KEYWORDS: Hamlet. Feminine performances. Silent movies. Theatre. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 95 Uma mente realmente grande deve ser, necessariamente, andrógina. Samuel Taylor Coleridge Shakespeare was androgynous. Virginia Woolf Introdução É fato inegável que o papel de Hamlet, desde as últimas décadas do século XVIII, é o que mais tem inspirado atrizes de diferentes grandezas a desafiar convenções e a encarnar no palco o mais conhecido e, paradoxalmente, o mais misterioso e controverso dos heróis de Shakespeare. É paradoxal, também, a inversão que se produz na performance do todo-masculino teatro shakespeariano: da Ofélia renascentista interpretada por rapazes imberbes para um Hamlet sombrio vivido por mulheres, a estrutura do elenco sofre profunda reversão. Ainda um terceiro paradoxo: na primeira transposição da tragédia para o cinema, em 1900, o jovem Hamlet foi vivido por uma mulher, o que se repete no primeiro longa-metragem baseado na peça, em 1920. Este trabalho objetiva, em um primeiro momento, examinar uma peculiaridade fascinante do texto de Shakespeare, ou seja, analisar as passagens que evidenciem traços femininos de Hamlet e que possam ter levado intérpretes e diretores a acentuar esse aspecto na representação da peça no teatro e no cinema. Em um segundo momento, delineia-se, de forma breve, a tradição de atrizes que ousaram subir ao palco como Hamlet e que abriram caminho para que, também no cinema, outras atrizes pudessem representar o ambicionado papel, consagrador ou destruidor de reputações artísticas. Finalmente, discutemse, com maior amplitude, dois importantes momentos iniciais da história do cinema mudo, em que Hamlet é representado por duas grandes atrizes merecidamente célebres – a francesa Sarah Bernhardt e a dinamarquesa Asta Nielsen. A melancolia e o feminino no texto shakespeariano É possível apontar, no texto do drama, passagens específicas que põem em relevo o lado feminino de Hamlet, quando visto por outras personagens ou revelado nas suas próprias atitudes e solilóquios. Logo no início da peça se dá o primeiro contato da plateia com o príncipe da Dinamarca: surge, na cena 2 do primeiro ato, um Hamlet sombrio, vestido de negro, em 96 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 atitude de profundo sofrimento e luto pelo pai, em contraste com a atmosfera festiva da corte que celebra as bodas de Gertrudes e Cláudio. Hamlet está apartado visual e, também, espiritualmente da corte em festa. Sua mãe lhe pede que dispense a cor soturna; o novo rei, seu tio, julga ser o luto de Hamlet fruto de obstinada teimosia e de um sofrimento impróprio de um homem: CLAUDIUS: Dedicar ao pai esse tributo póstumo, Hamlet, Revela a doçura da tua natureza. Mas, você bem sabe, teu pai perdeu um pai; O pai que ele perdeu também perdeu o dele; Quem sobrevive tem, por certo tempo, O dever filial de demonstrar sua pena. Mas insistir na ostentação de mágoa É teimosia sacrílega, lamento pouco viril. (MILLOR, 1995, p. 109)1 Ao final da cena, em seu primeiro solilóquio, o jovem príncipe, amargurado, contempla a possibilidade da morte – “Oh, se esta carne rude derretesse/ E se desvanecesse em fino orvalho! / Ou que o Eterno não tivesse oposto/ Seu gesto contra a própria destruição” (MENDONÇA, 2004, p. 44). O desejo expresso de morrer revela à plateia seu estado de profunda melancolia, “em um lamento pouco viril”. Coincidência recorrente ou desígnio específico, o solilóquio do príncipe da Dinamarca, na cena 2 do segundo ato, vale-se novamente de termos do universo feminino para expressar a suprema degradação a que chegara: HAMLET: [...] Oh, vingança! Ah, que jumento eu sou! Isso é decente, Que eu, filho de um pai assassinado, Chamado a agir por anjos e demônios, Qual meretriz sacie com palavras Meu coração, côas pragas das rameiras E das escravas! (MENDONÇA, 2004, p. 111) A execração furiosa de Hamlet volta-se essencialmente contra ele mesmo, pois, ao invés de vingar um pai muito amado, limita-se a proferir palavras vazias, impropérios e maldições que melhor caberiam a uma rameira ou à mais baixa das criadas; a comparação de Hamlet com meretrizes e escravas, que falam ao invés de agir, reflete a oposição tradicional à época entre as palavras da mulher e as ações do homem – “As mulheres são palavras, os homens ações” [“Women are words, men deeds”] (THOMPSON & TAYLOR, Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 97 2006, p. 277). A hesitação em agir para vingar o pai assassinado faz com que Hamlet se julgue fraco e impotente, como as mulheres que podem apenas praguejar. No outro extremo do drama, próximo ao dènouement trágico, na cena 2 do quinto ato, quando está prestes a bater-se em combate com Laertes, por instigação de Cláudio, Hamlet confidencia a Horácio sentir maus presságios, como os que talvez perturbassem uma mulher: HORÁCIO: Perderá a aposta, meu senhor. HAMLET: Não creio. Desde que ele foi para a França, eu tenho treinado constantemente. Eu vencerei, com a vantagem que me oferecem. Mas não podem imaginar a angústia que sinto aqui no coração; mas não importa. HORÁCIO: Mas, não, meu bom senhor. HAMLET: Isso é tolice, mas é a espécie de pressentimento que talvez perturbasse uma mulher. (MENDONÇA, 2004, p. 225-226) Embora se mostre capaz de transformar “palavras” em “ações” com inteligência e audácia, “o príncipe melancólico”, um dos epítetos que identificam Hamlet, se reconhece presa de uma angústia feminina, em contraste com a confiança que demonstra em sua habilidade no manejo da espada. Outras passagens acentuam a melancolia profunda do herói, o “mal do século” nos tempos da renascença inglesa. Descrita por Timothy Bright, em seu Treatise of Melancholie (1586), texto que Shakespeare provavelmente conhecia, foi, mais tarde, magistralmente esmiuçada por Robert Burton em seu colossal Anatomy of Melancholy (1621). Bright identifica a melancolia como um mal que atinge, sobretudo, as mulheres e as camadas sociais intelectualizadas. Burton escreve que “o luto é lamento pouco viril” e que “a melancolia transforma o homem em mulher” (Citado em HOWARD, 2007, p. 142). Tanto Bright quanto Burton mencionam, como importantes sintomas da melancolia, o isolamento físico e espiritual, o desespero e a consequente impotência em agir, males que se observam no príncipe. Daí o desejo de morte expresso por Hamlet desde o primeiro solilóquio, quando reflete sobre a corrupção do mundo, que o atinge muito de perto com o casamento incestuoso da mãe, pouco tempo após a morte de um Rei “tão excelente” e marido amoroso. Diante de tantos males, o suicídio surge como alternativa desejável, que esbarra, no entanto, na proibição estabelecida pelo Todo Poderoso do “assassinato de si mesmo”: 98 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 HAMLET: Oh, se essa carne rude derretesse, E se desvanecesse em fino orvalho! Ou que o Eterno não tivesse oposto Seu gesto contra a própria destruição! Oh, Deus! como são gestos vãos, inúteis, A meu ver, esses hábitos do mundo. Que horror! São quais jardins abandonados Em que só o que é mal na natureza Brota e domina! Mas chegar a isto! Morto há dois meses só! Não, nem dois meses! Tão excelente rei, em face deste, Seria como Hiperion frente a um sátiro. Era tão dedicado á minha mãe Que não deixava nem a própria brisa Tocar forte o seu rosto. Céus e terra! Devo lembrar? (MENDONÇA, 2004, p. 225-226) Hamlet revela sentir-se prisioneiro em seu próprio país, como é prisioneiro também da melancolia que lhe ensombra o espírito. É no diálogo com Rosencrantz e Guildenstern que vem a refletir mais longamente sobre a profundidade de sua desilusão com a vida terrena: HAMLET: […] Ultimamente – não sei por que – perdi toda a alegria, desprezei todo o hábito dos exercícios, e, realmente, tudo pesa tanto na minha disposição que este grande cenário, a terra, me parece agora um promontório estéril; este magnífico dossel, o ar, vede, este belo e flutuante firmamento, este teto majestoso, ornado de ouro e flama – não me parece mais que uma repulsiva e pestilenta congregação de vapores. Que obra de arte é o homem! Como é nobre na razão! Como é infinito em faculdades! Na forma e no movimento, como é expressivo e admirável! Na ação, é como um anjo! Em inteligência, é como um Deus! A beleza do mundo! O paradigma dos animais! E, no entanto, para mim, o que é esta quintessência do pó? O homem não me deleita. Não, nem a mulher, embora o seu sorriso pareça dizê-lo. (MENDONÇA, 2004, p. 99) Nada é capaz de arrancá-lo do profundo estado de melancolia, em que foi lançado pela morte do pai e pelo comportamento de Gertrudes, sua mãe. Hamlet perdeu a alegria de viver; o mundo se tornou apenas um promontório estéril que congrega vapores pestilentos; os seres humanos, antes comparados a anjos, obras-primas, quase deuses, se reduziram à quintessência do pó. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 99 As passagens comentadas são apenas algumas dentre tantas que comprovariam a melancolia de Hamlet, e que permitiriam aproximar sua personalidade e atitudes dos sentimentos e reações femininas. Com base em indícios textuais, pretende-se, nesse ensaio, defender a hipótese de que os traços femininos do personagem foram determinantes na abertura de caminhos para as atrizes. Ao viverem no palco o papel-título do drama, elas desafiaram convenções e estereótipos, resgatando o conceito maior da arte de representar que é o fingimento, independentemente de cor, sexo e idade. Os primeiros Hamlets femininos no teatro Para chegar ao ponto em que a ausência radical das atrizes dos palcos da renascença2 dá lugar à audácia da mulher de representar Hamlet, é necessário voltar na história, para o momento em que sobe ao palco a primeira atriz a encarnar o herói. E aqui, a história começa não nos palcos de Londres, mas nas províncias; a protagonista não é uma atriz destacada, mas alguém de reputação suspeita, que se faz passar por homem e, como tal, acaba na prisão, onde partilha a cela com outros detentos. Sob o pseudônimo de “Charles Brown”, persona adotada na vida e no teatro, Charlotte Charke (c.1713-1760) exerceu ofícios tradicionalmente reservados aos homens: foi pajem do Conde de Anglesey; vendeu salsichas, foi padeiro e estalajadeiro. No teatro também ousou exercer funções tipicamente masculinas: liderou um grupo de atores mambembes; gerenciou o Little Theatre em Haymarket, em Londres; manipulou marionetes com expertise; foi dramaturga; e encarnou papéis masculinos: Tragedo, personagem da peça The London Merchant, de George Lillo, em 1731; Rodrigo, de Otelo, em 1732 e, por diversas vezes, Hamlet. Filha caçula do ator, dramaturgo e poeta laureado Colley Cibber e da atriz Katherine Shore, aos 16 anos Charlotte rompeu com os pais para se casar com o violinista Richard Charke, que logo depois a abandonou, com uma filha pequena. Sem poder contar com a ajuda financeira, nem com a proteção e respeitabilidade do pai, precisou lutar contra as inúmeras dificuldades enfrentadas pelas mulheres em um mundo masculino, que lhes oferecia raras opções profissionais. Charlotte transformou sua dura experiência de vida na autobiografia A Narrative of the Life of Mrs. Charlotte Charke (1755), a primeira autobiografia de uma atriz inglesa. É um relato de suas aventuras e desventuras no teatro itinerante, quando excursionou com uma pequena companhia pelo interior do país, interpretando, entre outros papéis, o personagem Hamlet. Embora a 100 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 versão resultante não tivesse ultrapassado o nível do burlesco, Charlotte revela certo tino para a montagem teatral, ao justificar sua decisão de interpretar o herói: “não havia homens competentes o bastante para fazê-lo”; ela estava “mortificada em ouvir personagens de capital importância como Hamlet [...] rasgados em pedaços [...] e por vozes dissonantes que davam a impressão de uma gata em trabalho de parto” (REHDER, 2000, p. 153). Pelo resto da vida – ela morreria cedo, aos 47 anos, pobre e desamparada – Charlotte continuou a representar papéis masculinos, dentro e fora do palco. Para Charlotte, representar Hamlet foi uma extensão de sua postura transgressora perante os papéis sociais reservados à mulher e uma provocação às normas rígidas que lhe regiam o comportamento. Pelo pioneirismo no teatro e rebeldia em relação ao restrito universo destinado às mulheres, seu legado vem sendo reavaliado hoje, não apenas sua obra escrita – a autobiografia, peças e romances, − mas, principalmente, sua postura excêntrica e anticonvencional. A primeira atriz de renome a viver Hamlet nos palcos da Grã-Bretanha foi Sarah Siddons (1755-1831), cuja carreira teve início na década de 1770, no papel de Pórcia no importante teatro londrino Drury Lane. Diante das críticas pouco encorajadoras, a jovem atriz preferiu excursionar com um grupo de atores pelo interior do país, nos seis anos seguintes. Foi um período de intensa aprendizagem, em que, por diversas vezes, Siddons interpretou Hamlet, com reações muito positivas das platéias de Birmingham e Manchester, em 1776; de Liverpool, em 1778; e de Edimburgo e Bristol, em 1781. Embora se tratasse de palcos menos valorizados que os de Londres, Sarah Siddons dedicou cuidados especiais à construção de seu personagem, até mesmo em detalhes de guarda-roupa. Seu Hamlet traja sempre uma longa túnica negra – o “inkycloak”, mencionado no texto –, com o que evita o apelo erótico da mulher vestida em trajes masculinos. Siddons vinha de uma família de atores itinerantes que, apesar disso, não aceitou facilmente a sua escolha de uma profissão que, para as mulheres, ainda era vista com reservas. Evidentemente, não houve qualquer oposição familiar a que seus irmãos, John Philip Kemble (1757-1823) e Charles Kemble (1775-1854), seguissem o mesmo caminho. Os Kemble tiveram papel relevante no teatro britânico da época, mas Siddons eclipsou os irmãos e tornou-se a intérprete mais importante de seu tempo. Siddons e John Philip atuaram juntos pela primeira vez em Hamlet, em 1783, nos papéis de Ofélia e do jovem príncipe, respectivamente. Para muitos críticos, era apenas a bela estampa do ator que sustentava sua interpretação, descrita como rígida, sem variedade de tom ou de estado de Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 101 espírito: seu príncipe era grave, melancólico, formal e recitativo. Leigh Hunt, um dos primeiros grandes críticos teatrais do romantismo, comparou a interpretação de John Philip como Hamlet à de um mau professor de retórica enquanto a atuação de sua irmã foi saudada como viva: ele era “um homem em uma armadura”, “uma rocha”, enquanto ela era “carne e sangue”. Siddons e John Philip contracenariam em várias outras peças shakespearianas, em que se repetiria o resultado da primeira: John Philip correto no papel principal e Siddons arrebatando platéias com o brilhantismo de sua interpretação: Desdêmona, Rosalinda, Ofélia, Cordélia, Volúmia, a Rainha Catarina, Lady Macbeth compõem o catálogo de heroínas shakespearianas que a transformaram na maior estrela do teatro Drury Lane, conquistando, como corolário, respeitabilidade para a profissão de atriz. O selo de aprovação oficial veio em 1785, com o convite para que Siddons realizasse uma leitura de Hamlet para a família real. A atriz soubera combinar a ousadia de representar Hamlet – ainda que longe dos palcos londrinos, e provavelmente por essa mesma razão – à conquista da respeitabilidade (MANVELL, 1971, p. 329). Em 1802, mais de vinte anos após interpretar Hamlet pela primeira vez, Siddons retorna ao papel. Apesar de atriz consagrada, ela evita Londres e viaja para Dublin, onde se apresenta para um grupo de amigos. Por mais intelectualmente estimulante que fosse o papel do príncipe da Dinamarca, a experiência não valia o risco de perder o respeito de uma sociedade que, em grande parte, ainda via com preconceito atrizes no desempenho de papéis masculinos. Os motivos das pioneiras Charlotte Charke e Sarah Siddons para interpretar Hamlet foram, portanto, radicalmente diversos: para a primeira, subir ao palco em trajes masculinos invadindo o território dos grandes atores trágicos foi um ato ostensivo de rebeldia e de transgressão das normas sociais; Siddons, ao contrário, é atraída pelo potencial dramático do papel e pela possibilidade de explorar nuances inusitadas da emoção, mas reserva a ousadia de encarnar o herói trágico mais complexo da história do drama para palcos menos concorridos, por valorizar a respeitabilidade recém-alcançada para a profissão de atriz. Seguindo os passos de Charke e Siddons, inúmeras outras atrizes, com motivações diversas, são atraídas para o papel de Hamlet, para cuja composição trazem concepções únicas, que produzem, na história do teatro e na sociedade de seu tempo, impactos diferenciados. Destacamos, aqui, quatro nomes: as inglesas Jane Powell (1761-1831), Julia Glover (1779-1850), Julia Seaman (1837-1909) e a americana Charlotte Cushman (1816-1876). 102 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Powell e Glover são as primeiras a representar Hamlet nos palcos londrinos, ambas com desempenhos admiráveis. Com elas se consolida a prática de atrizes mais velhas em papeis masculinos, quando escasseiam as oportunidades de encarnar as heroínas do mundo dramático de Shakespeare. Por serem mais velhas quando vêm a interpretar o príncipe, Powell e Glover escapam às insinuações de utilizar o palco com fins de apelo sexual, de modo que contribuem para conferir respeitabilidade à performance de Hamlet por mulheres, não mais acusadas de imoralidade. Julia Seaman ilustra o outro lado da moeda: o preconceito arraigado em relação a mulheres em papéis masculinos. Apesar de tal prática ter-se tornado frequente, ao longo do século XIX, e vista com menos restrições pela sociedade, houve criticas mordazes a algumas dessas interpretações, consideradas atos ostensivos de rebeldia, desprovidos quase sempre de valor artístico. Seaman foi criticada por ser demasiadamente agressiva e masculina, e se tornou alvo de insinuações de homossexualidade. Apesar de ter encarnado Hamlet em mais de 200 apresentações, um possível índice de sucesso de público, sua atuação é descrita com ironia por um crítico do New York Times, na edição de 10 de novembro de 1874: “A interpretação da senhorita Seaman foi vigorosa. [...] Não fosse pela exigência do enredo, ela teria, sem dúvida, assassinado o rei Cláudio em sua primeira aparição, e de modo heróico, o que teria sido muito gratificante para a platéia. Os conhecidos solilóquios da personagem não deixaram entrever qualquer sinal da emoção de Hamlet” (MUSE, 2007, p. 532). Charlotte Cushman, a atriz trágica mais importante na cena americana do período, celebrizada no papel de Lady Macbeth, é famosa, também, pela interpretação magistral de personagens masculinos – Romeu, o Cardeal Wolsey, e Hamlet. Como Seaman, Cushman foi alvo de rumores sobre sua orientação sexual e provável envolvimento amoroso com as atrizes com quem contracenava. Diferentemente de Seaman, porém, tais críticas se limitaram à vida particular da atriz, e seu talento inegável foi amplamente aplaudido, recebendo elogios entusiastas de grandes líderes como Lincoln e Disraeli, bem como de figuras proeminentes da época, a exemplo de Walt Whitman. Seu vigoroso Hamlet, em cuja composição evitou o melodrama e o sentimentalismo, recebeu muitos elogios, tanto nos Estados Unidos como na Grã-Bretanha, que percorreu em tournées vitoriosas. Figura-chave na consolidação dos direitos da mulher no âmbito teatral, Cushman é lembrada, ainda hoje, por sua luta pela emancipação feminina.3 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 103 Se algumas atrizes foram criticadas por excesso de masculinidade e agressividade ao compor Hamlet, é curioso lembrar que o fenômeno inverso se dá com a interpretação de atores celebrados no papel do príncipe da Dinamarca. Assim, a crítica teatral vê na composição de Hamlet por três dos maiores intérpretes shakespearianos dos séculos XVIII e XIX, − David Garrick (1717-1779) e Edmund Kean (1789-1833), na Inglaterra, e Edwin Booth (1833-1893), nos Estados Unidos −, em algum momento de suas longas carreiras, evidentes associações com o universo feminino. Garrick, o grande ator-gerente (actor-manager) de teatro do século XVIII, interpretou Hamlet por mais de trinta anos. Compunha um príncipe ativo e sedento por vingança, no que o auxiliavam cortes textuais drásticos – especialmente de monólogos e das falas longas – sem prejuízo, entretanto, da complexidade e subjetividade do herói. O crítico do St. James’s Chronicle descreve, em fevereiro de 1772, a interpretação de Garrick como permeada de “um tipo de tristeza feminina”, mais voltada para o luto pela morte do pai do que tocada pela inconstância da mãe. Essa impressão de feminilidade, coincidentemente ou não, havia sido detectada quase vinte anos antes, em 1754, por Georg Lichtenberg, um visitante alemão, que descreve o príncipe de Garrick como “completamente tomado por lágrimas de dor. As últimas palavras ‘Rei tão excelente’ ficam inteiramente perdidas; apenas as captamos pelo movimento da boca que treme e se contrai imediatamente após a fala, como se a represar toda a clara expressão de dor dos lábios, que podem facilmente tremer com emoção não masculina” (MILLS, 1985, p. 34). O Hamlet de Edmund Kean, que viveu o papel em mais de vinte anos de montagem da peça, é também associado ao comportamento tempestuoso das mulheres. Na cena da morte, especialmente enfatizada pelo ator, Kean atinge, segundo a crítica, os limites da emoção em manifestações violentas de personalidade feminina. É ilustrativo o comentário sobre o envenenamento de Hamlet, na interpretação do ator, publicado em The Tatler de 1831: Quais são os efeitos de tal veneno? Dor interna intensa, visão cambaleante, inchaço nas veias das têmporas. Tudo isso Kean consegue detalhar com incrível realidade: seus olhos se dilatam e perdem o brilho; ele torce as mãos em um esforço vão para represar a emoção; as veias pulsam nas têmporas; suas costelas tremem, como se a vida enfraquecesse, e sua mão pende dos lábios endurecidos, e ele emite um grito da natureza que em seu corpo expira, um grito tão perfeito que só posso compará-lo ao desmaio de uma mulher, ou aos gemidos de uma criança. (MILLS, 1985, p. 58) 104 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Do outro lado do Atlântico, Edwin Booth, o maior ator norteamericano do século XIX, também consagrado por longos anos – mais de quarenta – de interpretação do papel de Hamlet foi alvo de comentários semelhantes. Como Garrick, Booth enfatizaria a relação do príncipe com o fantasma e sua emoção em rever o pai morto. O London Evening Standard, de 8 de novembro de 1880, comenta a cena em que Horácio descreve o encontro com o fantasma como um momento em que o príncipe experimenta “emoção feminina”: “agitação extrema, a respiração curta e um movimento dos lábios ou da garganta que indicava que um tremor lhe percorria o corpo”; ao questionar os soldados sobre o fantasma, o faz com “voz suave e feminina, em fala repleta de pausas, angustiada [...] se fosse uma mulher a pronunciar tais palavras e de tal modo, se pensaria que as lágrimas não estavam longe” (CLARKE, 1882, p. 87). Mary Isabella Stone, em Edwin Booth’s Performances (1990), compreende a composição de Hamlet por Booth como baseada na profunda afeição que liga o príncipe a Horácio; a beleza do ator e a graciosidade de seus movimentos revelam que “Booth pensava em Hamlet como feminino em sua sensibilidade, mas não como efeminado” (STONE, 1990, p. 93). Se a análise seletiva do texto dramático evidencia a relevância do feminino na caracterização de Hamlet, o estudo das atrizes que viveram o papel nos leva a um patamar elevado de compreensão dos traços mais sutis do personagem. Nesse particular, o papel da crítica teatral revela-se de suma importância, ao destacar, tanto na performance de atrizes que se travestem, como no desempenho de atores que põem em relevo a feminilidade do príncipe, nuances da complexa construção do herói shakespeariano, que revelam traços desapercebidos nas performances mais convencionais. Seria mais uma razão a inspirar grandes atrizes a escolher esse papel. A focalização restrita deste trabalho deixa de lado o aspecto quantitativo do fenômeno: durante o século XIX, mais de 200 atrizes4, profissionais e amadoras, tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos, interpretaram Hamlet. Apenas um exame detalhado da vida profissional dessas mulheres, dos motivos da escolha e das consequências para suas carreiras, bem como das condições que cercaram as performances, permitiria esboçar uma explicação abrangente para o fenômeno, o que extrapola nossos objetivos. Cabe aqui apenas enfatizar que, durante os séculos XVIII e XIX, o mundo do teatro oferecia uma das poucas alternativas profissionais abertas às mulheres, submissas ao jugo de pais, maridos, irmãos, ou parentes do sexo masculino e confinadas à esfera do lar. O teatro era potencialmente um espaço de liberdade e autonomia, e acenava com a possibilidade de conforto financeiro. Interpretar Shakespeare quando seu status de clássico começa a se consolidar, Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 105 graças especialmente à valorização de sua obra pelos românticos, confere importância e dignidade às intérpretes do papel: encarnar Hamlet, o herói trágico mais admirado no romantismo, representa, ao mesmo tempo, uma afirmação da capacidade feminina de enfrentar um papel complexo e um ato simbólico de liberdade e do direito pleno de representar. O cinema como meio de expressão dramática vem apresentar, nas primeiras décadas do século XX, novos desafios aos artistas de teatro. Mais uma vez, as mulheres demonstram desassombro ao enfrentar as exigências da nova tecnologia: “Eu conto com esse filme para me tornar imortal”, são as palavras proféticas de Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt, do teatro ao cinema A transição do teatro para o cinema, na performance de Hamlet, é levada a efeito por Sarah Bernhardt. Em 1889, a Divina Sarah, uma das maiores atrizes de todos os tempos, consagrada como protagonista de Fedra, de Racine, e de A dama das camélias, de Alexandre Dumas, tem ao seu dispor o Théâtre des Nations, rebatizado em sua homenagem. A atriz, que durante toda a carreira havia interpretado diversos papéis masculinos com grande sucesso5, escolheu o papel de Hamlet para a reinauguração do teatro. Em sua longa carreira teatral, de 1858 a 1922, Bernhardt representara apenas algumas personagens femininas de Shakespeare: Cordélia, em 1867; Desdêmona, em 1878; Lady Macbeth, em 1884; Ofélia, em 1886 e Pórcia, em 1916. Hamlet era um desafio à sua habilidade cênica e um marco a ser conquistado. Os desafios da empreitada eram muitos. Sarah, aos 55 anos deveria encarnar o jovem príncipe, que, segundo a peça, tem cerca de 30 anos. Como francesa, o desafio era duplo: vencer o desprezo dos iluministas de seu país pelo teatro de Shakespeare − Voltaire chamara o bardo de selvagem e bêbado − e, ainda, viver um dinamarquês, criação de um dramaturgo inglês. Dessa forma, grandes diferenças separavam a atriz do personagem: sexo, idade, língua e cultura. Sarah assim justifica sua escolha: “não prefiro os papéis masculinos, mas os cérebros masculinos”; para ela, Hamlet abria “um campo vasto para a exploração das sensações e sofrimentos humanos” (BERNHARDT, 2006, p.137). Maurice Rostand observa sobre o talento da atriz: “Havia duas pessoas em Sarah, uma extremamente viril e outra extremamente feminina, e ela era a soma dessas duas partes em um só corpo” (Citado em HOWARD, 2007, p. 139). 106 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Em contraposição ao preconceito arraigado de que uma mulher jamais poderia interpretar o papel, Sarah defende de modo provocador o argumento oposto: viver Hamlet, ao mesmo tempo jovem e dono de um pensamento poderoso, estava fora das possibilidades de interpretação dos atores masculinos. Escreve: Uma mulher é mais bem equipada que um homem para interpretar papéis como L’ Aglion e Hamlet. Esses papéis retratam rapazes de 20 ou 21 anos com mentes de homens de 40. Um rapaz de 20 anos não pode compreender a filosofia de Hamlet nem o entusiasmo poético de L’Aiglon. Um homem mais velho [...] não tem a aparência de um rapaz, nem possui a pronta adaptabilidade de uma mulher que consegue combinar a leveza do corpo de um jovem com a maturidade de pensamento de um homem. Uma mulher mais facilmente aparenta o papel, e ainda tem a maturidade mental para compreendê-lo.6 O resultado da ousadia da atriz foi aplaudido pelo público e crítica franceses, que consideraram sua interpretação revolucionária: esse Hamlet não é o herói melancólico e inativo do romantismo, mas um príncipe vigoroso e sedento de vingança, um Hamlet mais masculino do que muitos outros representados por atores. Nas palavras da própria atriz, um príncipe “masculino e decidido, mas ainda assim reflexivo [que] pensa antes de agir, um traço que indica grande força e grande poder espiritual” (BERNHARDT, 2006, p.138). O Hamlet de Bernhardt não apenas conquistou Paris, mas deu um passo decisivo para a redescoberta e revalorização da obra de Shakespeare em solo francês; mais ainda, abriu caminho para que muitas atrizes vivessem o papel nos palcos europeus, na França e também na Alemanha, Áustria, Bélgica, Itália, Holanda, Polônia e Rússia7. Os aplausos de Paris se repetiriam, posteriormente, em apresentações pelo interior da França, por outros países europeus, nos Estados Unidos e, em 17 de outubro de 1905, também no Brasil, em uma apresentação no Teatro Lírico no Rio de Janeiro. Em Londres, onde a peça estreou em junho de 1899, no teatro Adelphi, a crítica se dividiu em relação à peça. Alguns críticos rejeitaram a tradução francesa de Marcel Schowob e Paul Morand, que desprezara o verso em favor da prosa; outros julgaram o Hamlet de Sarah excessivamente agressivo e masculino; ainda outros se uniram às vozes elogiosas do continente. Uma das críticas mais mordazes foi a de Max Beerbohm, figura eminente da época e confesso admirador da atriz; em seu artigo “Hamlet, Princess of Denmark”, publicado em 17 de junho de 1898 no jornal Saturday Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 107 Review, ele, de modo profético, expressa o temor de que a empreitada de Sarah em representar Hamlet viesse a ser copiada por outras atrizes: Espero sinceramente, enquanto há tempo, que o exemplo de Sarah interpretando Hamlet não crie um precedente entre as mulheres. [...] Sem dúvida, na complexidade de sua natureza, Hamlet possui traços femininos. [...] Creio ser essa a desculpa de Sarah para interpretar o papel. Naturalmente ela não tentaria fazer Otelo – pelo menos arrisco-me a supor que não, embora seja perigoso supor o que ela poderia não fazer –, assim como o seu ilustre compatriota, Mounet-Sully, não tentaria interpretar Desdêmona. [...] Mounet-Sully não seria mais aceitável como Lady Macbeth que como Desdêmona. Ficaria absurdo (conquanto é minha opinião) nem um pouco mais absurdo que Sarah no papel de Hamlet. Sarah não devia ter julgado que a fraqueza de Hamlet se relaciona de algum modo com sua mente e seu corpo femininos. (GOLD e FIZDALE, 1994, p. 258) Com verve e acidez, Beerbohm conclui seus comentários sobre o que classificou como uma “aberração” e produto da “vaidade desmesurada” da atriz: Seus amigos deviam tê-la impedido, os críticos nativos não deviam tê-la encorajado, os aduaneiros de Charing Cross deviam ter confiscado o gibão de zibelina e as meias; amante de sua corte incomparável, sofro mais do que me divirto quando penso em sua aberração no Adelphi; desta vez nem sua voz estava bonita. [...] O melhor que pode se dizer de seu desempenho é que ela atuou (como sempre) com aquela dignidade que é fruto do autodomínio. [...] Em sua interpretação, embora nem melancólico nem sonhador, Hamlet pelo menos era um pessoa importante e inequivocamente de boa cepa. Sim, o único elogio que se pode conscientemente fazer-lhe é que seu Hamlet era do começo ao fim uma très grande dame. (GOLD e FIZDALE, 1994, p. 258) É a própria Sarah que, com igual verve, responde a um hipotético crítico, que poderia muito bem ser Max Beerbohm; em carta publicada em 16 de junho de 1899, no Daily Telegraph, escreve: Reprovam-me por ser ativa demais, viril demais. Parece que na Inglaterra deve se representar Hamlet como um triste professor alemão. [...]. Dizem que meu desempenho não é tradicional. Mas o que é tradição? Cada ator traz suas próprias tradições [. . .]. Na cena da capela Hamlet decide não matar o rei, que está rezando, não por ser indeciso e covarde e sim por ser inteligente e tenaz. Quero matá-lo quando estiver pecando, não quando se encontra num instante de arrependimento, pois quer que ele vá para o Inferno, e não para o Céu. Aos que estão absolutamente determinados a ver em Hamlet 108 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 uma alma de mulher, fraca e indecisa, eu vejo a alma de um homem resoluto e sensato quando se depara com o espectro do pai e fica sabendo de seu assassinato, Hamlet resolve vigiá-la, porém é o oposto de Otelo que age sem pensar. Hamlet pensa antes de agir, o que indica grande força e uma alma vigorosa. Hamlet ama Ofélia, e contudo renuncia ao amor, renuncia aos estudos, renuncia a tudo a fim de alcançar seu objetivo, e o alcança: mata o rei quando o encontra num estado do mais nefando, do mais criminoso pecado. [...] Para encerrar, monsieur, permita-me dizer que Shakespeare, com seu gênio colossal, pertence ao universo, e que uma mente francesa, alemã ou russa tem o direito de admirá-lo e compreendê-lo. (GOLD e FIZDALE, p. 259) Além de Bernhardt, outras vozes discordantes se ergueram em meio às criticas negativas. O influente crítico do Daily Telegraph, Clement Scott, aplaudiu entusiasticamente a produção francesa e celebrou a interpretação de Sarah, entre outros acertos, por enfatizar os aspectos cômicos da peça: A maioria dos Hamlets ingleses, com exceção de Irving e Forbes-Robertson, enfatiza a tragédia e ignora a comédia. O charme dos dois melhores Hamlets franceses consiste na nota dominante da comédia, aquela veia rara de humor, o capricho excêntrico que está nas próprias artérias de Hamlet. Nunca as cenas com Polônio e com Rosencrantz e Guildenstern foram encenadas tão admiravelmente como por Sarah Bernhardt. (SCOTT, s.d.) Para Scott, as cenas com o fantasma e a do envenenamento eram magníficas, salientando-se nesta última o beijo de Hamlet nos cabelos da mãe morta. Scott resumiu assim o espetáculo: A coisa toda era elétrica e imaginativa, e poética. Nunca saí de uma encenação de Hamlet com menos cansaço. Tudo aconteceu como num sonho delicioso. Em geral, a peça é exaustiva. Mas, não há cansaço com Sarah Bernhardt — somente enlevo. Creio que poderia assistir tudo de novo na mesma noite — isso não é um elogio pequeno, é? O fato é que com um novo cérebro para interpretar essa obra-prima, Hamlet é sempre novo. Fiquei encantado com a versão francesa do texto imortal. Trazia as idéias de Shakespeare condensadas em uma casca de noz! Nada que fosse essencial era omitido. […] Em Hamlet não queremos somente novas leituras, novas ideias, mudança pelo prazer da mudança. Queremos o ator ou atriz que interpreta Hamlet que tenha o gênio ou dom da inspiração. Esses atributos pertencem a Sarah Bernhardt. Nenhum estudante de drama admirou com maior entusiasmo que eu a qualidade soberba da técnica da maior artista que eu jamais vi atuar. Com seu Hamlet eu a vejo como uma artista ainda maior, Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 109 porque sua tarefa era heróica em seu significado e importância. […] Então, começo a considerar se o temperamento francês não é mais apropriado à peça que o temperamento filosófico alemão, ou que o temperamento apaixonado italiano, ou que o temperamento alerta americano, ou que o temperamento fleumático inglês. [...] Merci! merci! Artista supremamente aquinhoada! (SCOTT, s.d.) Em 1900, a grande dama do teatro deu um passo além e decidiu eternizar um pequeno trecho da montagem que tanto desagradara parte dos críticos ingleses, utilizando um novo meio de comunicação: o cinema. Marcando o dèbut de Sarah no cinema, exibido pela Phono-CinèmaThéâtre na Exposição Universal de Paris de 1900, Le Duel d’ Hamlet é dirigido por Clément Maurice e tem duração de apenas dois minutos; na era do cinema mudo e de tecnologia bastante rudimentar – uma única câmera, parada e frontal, registra o duelo entre Hamlet e Laertes – o filme trazia já uma inovação: a possibilidade de gravar previamente o som do entrechoque das espadas e apresentar a gravação sincronizada com a exibição da película. Por um lado, a aventura de Sarah nos primórdios do cinema exemplifica a relação entre filme e teatro – os filmes se originavam em geral de produções teatrais com o objetivo de promovê-las, o que era verdade especialmente no caso das peças shakespearianas, pelo prestígio que emprestavam à nova arte. No caso de Sarah, entretanto, o filme teve um propósito maior, que envolveu a escolha do papel; em suas palavras: “Nenhum personagem feminino abriu um campo tão vasto para explorar as emoções e o sofrimento humanos como Hamlet. [...] Eu conto com esse filme para me tornar imortal” (SALMON, 1984, p. 167). E, de fato, Sarah se tornou imortal, não apenas por ter representado Hamlet, mas principalmente por todos os outros papéis que, em sua longa carreira, encantaram as plateias do mundo. Asta Nielsen como o príncipe da Dinamarca: a revelação da alma feminina de Hamlet Em 1920, outra musa internacional, a dinamarquesa Asta Nielsen, protagoniza o maior sucesso de bilheteria do cinema alemão daquele ano: Hamlet, drama de vingança. Nielsen, hoje injustamente esquecida, era então considerada a primeira estrela internacional de cinema, − atuou em mais de 70 filmes entre 1910 e 1932 −, e cultuada por grandes atrizes como Greta Garbo e Marlene Dietrich. Como relata Ann Thompson, “em 1914, ela era a 110 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 estrela de cinema mais popular na Alemanha e conhecida no mundo inteiro. Na Alemanha havia cigarretes ‘Asta’, e penteados à moda de ‘Asta’; “Asta Nielsen” era o nome de cinemas em San Francisco, Düsseldorf e Nagasaki; seu retrato decorava trincheiras de ambos os lados durante a Primeira Grande Guerra” (THOMPSON, 1997, p. 216). O Hamlet dinamarquês, dirigido por Svend Gade e Heinz Schall, é a primeira obra da produtora de cinema de Asta Nielsen, a Art-Film. Como no caso de Bernhardt que decide produzir Hamlet assim que assume a direção do teatro rebatizado com seu nome, para Asta, a filmagem do drama é um projeto pessoal obsedante. Mas, diferentemente da atriz francesa, uma mulher que interpreta um cobiçado papel masculino, Asta é uma mulher que interpreta uma mulher que finge ser homem. Para explicar essa afirmação, é preciso examinar o complicado enredo do filme. Os três quadros com intertítulos que abrem a película esclarecem as fontes da obra. No primeiro quadro, lê-se: “Essa versão cinematográfica de Hamlet é baseada nas Antigas Lendas de onde Shakespeare retirou a primeira concepção para sua Tragédia imortal”8 [“This screen version of Hamlet is based upon the Ancient Legends from which Shakespeare drew his first conception for his immortal Tragedy”]. A lenda escandinava da Historiae Danicae, de Saxo Grammaticus (?1150-1206) é a fonte original não só do Hamlet de Shakespeare, mas também do filme de Nielsen. A lenda narra a história de dois irmãos, Horwendill e Feng, que governam a Jutlândia. Horwendill é casado com Gerutha e tem um filho, Amleth. Por inveja, Feng mata o irmão, casa-se com a cunhada, e tornase rei da Jutlândia. Amleth ainda é um menino e para se proteger do tio, enquanto cresce e ganha forças para vingar o assassinato do pai, finge-se de louco. Como na lenda, o Amleth adulto do filme cumpre sua vingança e incendeia o lugar onde Cláudio e membros da corte dormem, depois de uma bebedeira. Enfrenta e vence o tio em um combate de espadas, ao qual Amleth sobrevive vindo a reinar por longo tempo. O segundo e terceiro quadros se referem a outra importante fonte para o filme, que o tornam radicalmente diferente da obra de Shakespeare: Quadro 2: O filme também apresenta a hipótese do eminente estudioso shakespeariano norte-americano Dr. Edward P. Vining... Quadro3: … que Hamlet era uma mulher que, por razões de estado, teve que se disfarçar de homem. É o roteirista do filme, Erwin Gepard, quem descobre o livro do professor Edward P. Vining – que, na verdade, não é um estudioso de Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 111 Shakespeare ou de literatura, mas um graduado de Yale, especialista em estradas de ferro. A teoria de Vining, explicitada em The Mystery of Hamlet: An Attempt to Solve An Old Problem (1881)9, é uma interpretação extravagante da peça que faz grande sucesso na Europa no final do século XIX: propõe que a solução para o mistério de Hamlet e sua demora em agir advenha do fato de ele ser uma mulher, e, portanto, “incapaz de obter a vingança que lhe é imposta” (VINING, s.d.). Para defender sua hipótese, Vining realiza uma análise minuciosa, embora enganada, da peça, citando como suporte não apenas trechos extensos da peça como nomes importantes da literatura e da crítica literária – William Hazlitt, Goethe, Dowden e Schlegel, entre outros. Ao retomar a interpretação de Hazlitt, por exemplo, Vining se pergunta se as características elencadas pelo crítico sobre o príncipe – Hamlet é refinado em seus sentimentos, mas lhe falta força de vontade e paixão; é flexível, fraco e melancólico – não seriam essencialmente femininas. Vining enfatiza o “amor de Hamlet por Horácio e seu ciúme de Ofélia”, e aponta atributos tanto físicos quanto psicológicos que identificariam o personagem como uma mulher: ele é pequeno, delicado e “cheinho”; é fraco, vacilante, impulsivo, lacrimoso e tem medo da morte; é ainda avesso à bebida, sensível ao frio e a cheiros; enfim, falta-lhe “a energia, a força, a prontidão para agir que é inerente ao personagem masculino” (VINING, s.d.). Em determinado ponto de sua análise, Vining se pergunta sobre as intenções de Shakespeare ao desenhar o personagem. Considera que Shakespeare entretém a ideia de Hamlet ser mulher: “Essa não era sua Concepção Original para a personagem — Shakespeare pode nunca ter cedido inteiramente a essa Fantasia, mas certamente ele brincou com essa idéia [...] Não poderia Shakespeare ter entretido o Pensamento de que Hamlet poderia ser uma Mulher?” (VINING, s.d.). Para Vining, se Hamlet fosse uma mulher estariam explicados o mistério e o silêncio que caracterizam o personagem: ‘O resto é silêncio.’ O que está condenado ao silêncio? Horácio sabe tudo o que nós sabemos sobre os eventos que acontecem no palco quando ele não está presente: é apenas necessário aguardar sua próxima entrada para se ter a prova de que Hamlet lhe contou tudo. Nada lhe foi escondido, a não ser um mistério antigo e solene que deve ser levado à tumba. Ah, coração partido que até na morte deve sofrer em silêncio! Será o selo do silêncio algum dia quebrado? Será que a piedade humana algum dia abarcará as profundezas da dor que assolam sua vida infeliz? Até no silêncio essa dor 112 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 clama por compaixão. Seria essa sua carga — que, tendo nascido para o amor e a proteção, foi, sem remorsos, alijado de todo o amor terreno, toda a compreensão humana? — que essa necessidade de uma natureza nobre e vigorosa na qual se apoiar, uma natureza que complementasse a sua própria e abundante doçura e nobreza com força viril lhe é negada. […] Quem saberá? Possivelmente nem mesmo Shakespeare resolveu o enigma que o destino gradualmente lhe impôs quando Hamlet crescia sob suas mãos. (VINING, s.d.) Retornando ao filme, são, portanto, duas as principais ideias emprestadas da inusitada interpretação de Vining: Hamlet é uma mulher, criada como príncipe por razões de Estado; e Hamlet é apaixonado por Horácio. Essas ideias aparecem de forma clara não só nas imagens, mas também nos quadros com intertítulos, intercalados entre as cenas do filme, que auxiliam o espectador a compreender o enredo. É preciso adicionar que esses intertítulos são de dois tipos: os compostos por frases que resumem os acontecimentos, e que podem vir antes ou depois da cena em questão; ou transcrições adaptadas de falas da peça. Vejamos: Nas primeiras cenas do filme, alternam-se o combate em campo aberto entre os reis da Dinamarca e da Noruega e o nascimento do herdeiro da coroa dinamarquesa nos aposentos da rainha. O rei da Noruega é morto e carregado para fora do campo de batalha. No quarto da Rainha, nasce a criança: Quadro 10: “É um menino -- boa aia -- um Príncipe para a Dinamarca?” Quadro 11: “Ai, Majestade. É uma Princesa.”. Nesse momento, a cena retorna para a guerra e mais um corpo ferido é carregado para fora do campo de batalha; os intertítulos do quadro 12 esclarecem: “O Rei está ferido – mortalmente!”. Os quadros seguintes explicam com clareza o que se passa nos aposentos da Rainha: Quadro 13: O esquema engenhoso da ama. Quadro 14: “Anuncie ao povo que é um menino.” Quadro 15: “Assim, a senhora salva a coroa e se mantém rainha.” Surpreendentemente, o rei, que todos julgam morto, retorna da guerra. Informado sobre a mentira da rainha, decide sustentá-la, como esclarece o quadro 21: “”Nosso povo não saberá que sua rainha pode mentir.” Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 113 A próxima cena mostra os reis da Dinamarca na varanda do palácio, conversando sobre o futuro do jovem príncipe, que está em um canto afastado do jardim; os quadros explicativos auxiliam no entendimento da ação: Quadro 22: “Chegou a hora de ele ocupar seu lugar entre os jovens de sua idade”. Quadro 23: “O senhor considera seguro mandá-lo para Wittenberg?” Quadro 24: “A senhora o ensinou como guardar bem o seu segredo?” Logo, Hamlet, uma moça travestida de rapaz, parte para a Universidade de Wittenberg, onde faz amizade com Horácio, por quem se apaixona, e conhece o jovem Fortimbrás. Quando o Rei Hamlet morre, o príncipe retorna à Dinamarca com Horácio, e encontra seu tio, Cláudio, casado com sua mãe e instalado no trono como novo monarca; o texto do quadro 54 não deixa dúvida sobre a rapidez com que se seguem o enterro do rei e o novo casamento da rainha: “Príncipe, o senhor chega na hora certa. Ali temos ao mesmo tempo a refeição do funeral e a celebração das bodas!”. Cabe ressaltar neste ponto, que os intertítulos retomam o trecho do Hamlet de Shakespeare: “as carnes do enterro foram servidas frias nas bodas”. O procedimento de incorporar aos quadros explicativos frases da peça será utilizado várias vezes de modo que, embora se trate de um filme mudo, o espectador consegue reter algo da linguagem verbal de Shakespeare. Evidentemente, há enormes diferenças entre a peça e o filme de Nielsen, que não se devem apenas à incorporação da teoria de Vining. Em Shakespeare, o fantasma do rei aparece em uma das cenas iniciais do primeiro ato, enquanto no filme, Hamlet toma conhecimento do crime de Cláudio em uma visão, junto ao túmulo do pai. Nada de sobrenatural é exibido à platéia que deve deduzir o que acontece do olhar assombrado de Hamlet e das explicações dos quadros com intertítulos: Quadro 57: “Oh, que voz parece me falar do além túmulo?”. Quadro 58: “Oh, Hamlet, se você um dia amou seu pai, vingue minha morte maligna”. Quadro 59: Hamlet jura vingar seu pai. O príncipe, que já suspeitava de uma relação adúltera entre a mãe e o tio, resolve investigar a morte do pai e descobre a adaga de Cláudio em um poço infestado de serpentes venenosas, o que prova que o usurpador do 114 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 trono assassinara o rei, como deixa claro o quadro 65: “A adaga de meu tio. Como se eu adivinhasse…”. Para ganhar tempo enquanto arquiteta a vingança, Hamlet se finge de louco para todos, com exceção de Horácio: Quadro 67: “Muito simples! Farei papel de louco!” Quadro 68: “Somente você, Horácio, saberá que a loucura é apenas uma máscara para me proteger.” Para distrair Hamlet de seu estado melancólico, Polônio, conselheiro do rei, chama Ofélia à corte. Mas é Horácio quem se apaixona por Ofélia e, para impedir o namoro, Hamlet decide cortejar a jovem: Quadro 85: Hamlet está quase morrendo de amores por Horácio. Quadro 86: “Uma bela moça!” Quadro 87: Hamlet decide manter Horácio longe de Ofélia. Quadro 88: “Se eu seduzir Ofélia, eu a manterei longe de Horácio”. Suspeitando que Hamlet tem conhecimento do que realmente aconteceu e que sua loucura é mero disfarce, Cláudio envia o príncipe, acompanhado de Rosencrantz e Guildenstern, à Noruega, com uma carta que sela a sua morte. Hamlet descobre a carta e a troca por outra, em que Cláudio ordena a Fortimbrás que mate os dois acompanhantes de Hamlet, como deixa claro o quadro 155: “Levem os dois. Que sejam executados.”. Auxiliado por Fortimbrás, Hamlet retorna à Dinamarca. Ao chegar próximo ao castelo, o príncipe se depara com Cláudio que bebe com amigos em uma cabana. Junta-se ao grupo e finge beber também, mas quando todos adormecem, entorpecidos pela bebida, Hamlet ateia fogo ao local e tranca as portas. Deste modo, no filme, Cláudio partilha do mesmo destino do personagem da lenda Amleth: a morte pelo fogo. Ao descobrir o assassinato de Cláudio, a rainha, enfurecida, planeja com Laertes adicionar veneno à ponta de uma das espadas que seriam utilizadas no duelo com Hamlet, para vingar a morte do rei. Os dois jovens duelam. Como na peça, Hamlet troca de espada com Laertes, a quem fere mortalmente. Implacável em sua sede de vingança, a rainha propõe, então, ao filho um brinde, em que uma das taças de vinho fora envenenada. Hamlet recusa a bebida. Inadvertidamente, um criado troca os copos e a Rainha ingere seu próprio veneno. Na continuação da luta, Laertes fere Hamlet, mas sucumbe ao veneno dos ferimentos. Ao amparar Hamlet, desfalecido, Horácio descobre Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 115 seu verdadeiro sexo e compreende, finalmente, a origem do sentimento poderoso que os unia: Quadro 187: “Eu estou morrendo, Horácio.” Quadro 188: “Somente a morte revela seu trágico segredo”. Quadro 189: “Seu coração de ouro era o coração de uma mulher!” Quadro 190: “Só agora compreendo o encanto que você tinha sobre mim.” Quadro 191: “Tarde demais. Amada! Tarde demais!”. O resumo acima evidencia que a proposta dos diretores e do roteirista não foi transpor fielmente o enredo da peça para o cinema. O filme é uma reinterpretação do Hamlet shakespeariano – do qual retém temas, personagens e a linha geral do enredo, além de algumas frases –, à luz da teoria de Vining. Isso não significa, tampouco, que o diretor aceite a interpretação excêntrica do professor norte-americano. A esse respeito, o próprio Gad declarou: “Só Deus sabe de onde aquele homem [Vining] tirou essa idéia bizarra, mas os professores norte-americanos de fato descobrem as coisas mais inacreditáveis.” Uma declaração de Asta Nielsen evidencia igualmente sua percepção de que o filme não era uma transposição fiel da peça: “Não era de modo algum um filme sobre a peça de Shakespeare”10. No filme, tragédia, vingança e melodrama se misturam na história da princesa, a quem cabe vingar a morte de seu pai, e que não pode confessar o amor que sente, porque se esconde, desde a infância, sob uma identidade masculina. São óbvias as limitações do filme como transposição da tragédia de Shakespeare, mas, como linguagem cinematográfica, o trabalho de Nielsen e dos diretores recebeu grandes elogios de crítica e de público. Além disso, considerando-se o estágio incipiente da nova arte, o filme se utiliza de recursos técnicos já bastante complexos que o colocam na vanguarda da história do cinema. Provêm do expressionismo alemão, por exemplo, a alternância de close-ups e planos médios; o emprego de iluminação com fortes contrastes entre luz e sombra, e cenas intercaladas de exterior e de interior, as últimas com tomadas em longos corredores e escadarias, para enfatizar a predominância de linhas diagonais e de ângulos inusitados. Inovador é também o estilo de atuação de Asta Nielsen, mais contido nos gestos, e que, por esse motivo, se distancia da performance convencional dos atores de teatro. A possibilidade do cinema de fixar a expressão do rosto, especialmente dos olhos dos atores, permite que a plateia penetre o mundo interior das personagens, sem necessidade de palavras, tornando os intertítulos explicativos supérfluos para os que conhecem o enredo. O Hamlet dinamarquês inaugura, assim, um paradigma de absoluta liberdade na transposição do drama 116 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 shakespeariano do palco para a tela, não só em termos de enredo como de interpretação. Conclusão Que uma mulher estivesse à frente do projeto apenas reforça nossa hipótese de que encarnar Hamlet representa para as atrizes, desde há praticamente 300 anos, uma afirmação de resistência aos rígidos padrões de conduta e nor mas restritivas impostas à mulher na sociedade e, consequentemente, no palco. Um natural espírito de rebeldia, conjugado à necessidade financeira, faz de Charlotte Charke o caso exemplar da atriz que se transveste para desafiar normas e padrões sociais. Entretanto, o exame cuidadoso de sua obra, em tempos recentes, evidencia preocupação e cuidado com a performance teatral. As duas Sarahs, Siddons e Bernhardt, atrizes célebres em suas respectivas épocas, embora separadas por mais de cem anos, demonstram a mesma atração pelo desafio de dar vida a um personagem complexo, de personalidade multifacetada. Não se pode afirmar que a rebeldia exclua a preocupação estética, nem que esta seja a única motivação das atrizes que ousaram viver nos palcos e, modernamente, nas telas, o controverso herói. É indispensável lembrar que interpretar Hamlet lhes permitiu colocar em prática o conceito maior da arte de representar. Asta Nielsen está entre aqueles iniciados que percebem no cinema o meio de acesso ideal à vida interior das personagens, sem necessidade de palavras: as tomadas em close-up, que abrem aos espectadores a visão privilegiada da expressão facial e do olhar do ator, bastariam para revelar às platéias as infinitas nuances de um dos mais celebrados personagens da história do teatro. De fato, o herói shakespeariano vem exercendo, através dos tempos, fascínio obsessivo sobre plateias e críticos, sobre atores e atrizes de épocas e nacionalidades diversas, o que aponta para a universalidade da personagem. “Todos nós somos Hamlet”, escreve o critico romântico inglês William Hazlitt. Estariam incluído indiscriminadamente neste “nós” homens e mulheres de todas as idades, falantes da língua de Shakespeare e de todas as línguas civilizadas do planeta, escritores e artistas plásticos, mas, principalmente, aqueles a quem cabe encarnar Hamlet efetivamente, mesmo que pelo curto período de uma performance: atores celebrizados no desempenho do papel, e atrizes talentosas, que enfrentaram com galhardia os obstáculos que lhes negavam a glória de viver o personagem mais marcante da dramaturgia em língua inglesa. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 117 Notas *Agradecemos à Profa. Dra. Marlene Soares dos Santos (UFRJ) a generosa leitura desse texto. As possíveis falhas são de responsabilidade das autoras. 1 Conforme as características do trecho citado, serão utilizadas as traduções de Millôr Fernandes ou a de Anna Amélia Carneiro de Mendonça. Para facilitar as referências será dado o nome do tradutor, seguido da data de publicação da tradução e do número da página. 2 Sobre as especificidades da convenção cênica do travestismo, ver “Then and Now: Crossdressing in Shakespearean Drama” (SANTOS, 2007, p. 123-136). 3 No Brasil, possivelmente a primeira atriz a interpretar o príncipe foi a italiana Giacinta Pezzana-Gualtieri (1841-1919), conhecida por suas posturas feministas e por sua dedicação ao teatro de inovação. Em 1882, Pezzana foi muito aplaudida no teatro São Pedro Alcântara, no Rio de Janeiro, e no teatro São José, em São Paulo. A crítica comparou sua atuação favoralmente a de outros dois grandes atores italianos que também fizeram o papel de Hamlet nos palcos brasileiros: Gustavo Salvini, em 1871, no teatro São Pedro Alcântara, no Rio de Janeiro, e no teatro Santana, em São Paulo; e Ernesto Rossi, em 1871 apenas no Rio de Janeiro, no teatro Lírico Fluminense, e, em 1879, novamente no Rio de Janeiro, no teatro Imperial Dom Pedro II, e também em São Paulo, no teatro São José. Sobre o assunto, Sábato Magaldi transcreve a seguinte crítica: “A grandiosa tragédia está montada pobremente, mas ainda assim foi um sucesso. Constitui soberba surpresa o papel do legendário Hamlet entregue à interpretação da grande artista italiana. É um prodígio, um trabalho além de sua linha natural – cenas houve em que chegou a exceder-se a si própria” (MAGALDI, 2000, p.18). Em 1905, será a vez de Sarah Bernhardt encarnar o príncipe da Dinamarca nos palcos brasileiros; depois de Sarah, o Brasil ainda pôde ver a atriz portuguesa Ângela Pinto que também fez o papel do príncipe, apresentando-se no teatro Apolo do Rio de Janeiro, e no teatro São José, em São Paulo; segundo Magaldi, a atriz enfatizava a cena de loucura e a questão da vingança na peça, mas não foi muito apreciada pela crítica brasileira (MAGALDI, 2000, p. 52). 4 As mais completas pesquisas sobre o assunto são de Tony Howard, Women as Hamlet, e de Kerry Powell, Women and Victorian Theatre; os trabalhos elencam e analisam um número grande de atrizes que subiram aos palcos para interpretar Hamlet e outros papéis masculinos. 5 Em 1868, fez o Querubim em As bodas de Figaro, de Beaumarchais; em 1869, Zanetto, em O passante, de Francois Coppée; em 1874, o pajem em A bela Paula, de Louis Denagrousse; em 1896, Lorenzo em Lorenzaccio, de Musset; em 1900, o duque em L’Aiglon, de Rostand; em 1916, Marc Bertrand em Du Théâtre au champ d’honneur, de Louis Payen; e, em 1921, o protagonista de Daniel, de Louis Verneuil. 6 Disponível em: http://libcdm1.uncg.edu/u?/Hansen,18. Acesso: 4 dez. 2009. 7 Sobre o assunto, ver Howard, 2007, p. 109- 113. 8 Todas as traduções dos intertítulos são de nossa autoria, realizadas a partir da cópia do filme com intertítulos em inglês que nos foi oferecida pelo Instituto de Filmes da Dinamarca. É preciso lembrar que os intertítulos variam de cópia para cópia, exatamente porque o original era em alemão e as cópias distribuídas foram traduzidas nas respectivas línguas dos países, de modo que mesmo em inglês há divergências nas traduções de cópias diferentes do filme. 118 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 9 Todas as citações do texto de Vining são retiradas do texto completo que está em domínio público; por essa razão não é possível indicar o número da página. Disponível em: http://books.google.com. Acesso: 24 out. 2009. 10 Disponível em: http://shea.mit.edu/ramparts/newstuff4.htm. Acesso: dez. 2009. REFERÊNCIAS BERNHARDT, Sarah. The Memoirs of Sarah Bernhardt. Public Domain Books, 2006. BRIGHT, Timothie. Treatise of Melancholie. New York: Columbia University Press, 1940. CAMATI, A. S. “O travestimento como linguagem cênica em Shakespeare”. Anais da 4a. Reunião Científica de Pesquisa em Pós-Graduação em Artes Cênicas. (Org.). Fernando Mencarelli. Belo Horizonte: Editora Fapi, 2007, p. 145-148. CLARKE, Asia Booth. The Elder and the Younger Booth. London: J.R. Osgood, 1882. GOLD, Arthur; FIZDALE, Robert. A divina Sarah: a vida de Sarah Bernhardt. São Paulo, Companhia das Letras, 1994. HOWARD, Tony. Women as Hamlet: Performance and Interpretation. Cambridge, Cambridge University Press, 2007. MAGALDI, Sábato; VARGAS, Maria Thereza. Cem anos de teatro em São Paulo. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2000. MANVELL. Roger. Sarah Siddons: Portrait of an Actress. London, Putman, 1971. MILLS, John. Hamlet on the Stage: The Great Tradition. Westport: Greenwood Press, 1985. MUSE, Amy. “Women as Hamlet: Performance and Interpretation in Theatre, Film and Fiction”. Comparative Drama, Vol. 41, n. 4, Winter 2007-8, p. 531-533. POWELL, Kerry. Women and Victorian Theatre. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. REHDER, Robert. (ed.) A Narrative of the Life of Mrs. Charlotte Charke (1755). London: Pickering & Chatto Publishers, 2000. SALMON, Eric (ed). Bernhardt and the Theatre of Her Time. Westport, Greenwood Press, 1984. SANTOS, M. S. dos. “Then and now: crossdressing in Shakespearean drama.” Scripta Uniandrade, v. 5, 2007, p. 123-136. SHAKESPEARE, William. Hamlet. Trad. Anna Amélia C. de Mendonça. Rio de Janeiro: Lacerda, 2004. SHAKESPEARE, William. Hamlet. Trad. Millôr Fernandes. Porto Alegre: Editora LP&M, 1995. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 119 SHAKESPEARE, William. Hamlet. Ann Thompson and Neil Taylor (Eds). The Arden Shakespeare. Third Series, London: Cengage Learning, 2006. STONE, Mary Isabella. Edwin Booth’s Performances. UMI Research Press, 1990. THOMPSON, Ann. “Asta Nielsen and the Mystery of Hamlet”. In: BOOSE, Linda E.; BURT, Richard (eds). Shakespeare: the Movie. London and New York: Routledge, 1997, p. 215-224. WILSON, John Dover Wilson. What Happens in Hamlet. Cambridge: Cambridge, University Press, 1951. REFERÊNCIAS DE FONTE ELETRÔNICA HAZLITT, William. Characters of Shakespeare´s Plays. Disponível em: http:// www.library.utoronto.ca/utel/criticism/hazlittw_charsp/charsp_titlepage.html. Acesso: 2 set. 2009. VINING, Edward P. The Mystery of Hamlet: An Attempt to Solve An Old Problem (1881). Disponível em http://books.google.com. Acesso: 24 out. 2009. SCOTT, Clement. Some notable Hamlets of the present time: Sarah Bernhardt, Henry Irving, Wilson Barrett, Beerbohm Tree, and Forbes Robertson (1900). Disponível em: http://www.archive.org/details/somenotablehaml00scotgoog. Acesso: 2 dez. 2009. Artigo recebido em 08 de maio de 2009. Artigo aceito em 28 de setembro de 2009. Liana de Camargo Leão Pós-Doutora em Literatura pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo. Mestre em Literaturas de Língua Inglesa pela Universidade Federal do Paraná. Mestre em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Adjunta de Literaturas de Língua Inglesa da Universidade Federal do Paraná. Membro do Centro de Estudos Shakespearianos (CESh). Membro da International Shakespeare Association (ISA). Mail Marques de Azevedo Doutora em Letras (Área de Concentração em Língua Inglesa e Literaturas Inglesa e Norte-Americana) pela Universidade de São Paulo. Mestre em Letras pela Universidade Federal do Paraná - UFPR. Professora aposentada da Universidade Federal do Paraná - UFPR. Professora do Mestrado em Teoria Literária da UNIANDRADE. 120 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 UM ESTUDO SOBRE HAMLET: MORTE — CAUSA E CONSEQUÊNCIA Verônica Daniel Kobs [email protected] RESUMO. O presente trabalho pretende identificar, em Hamlet, de Shakespeare, resquícios da filosofia que orientava a produção das tragédias gregas, a exemplo de Édipo-rei, de Sófocles, sobretudo. Além disso, será analisado o conflito existencial vivido pelo protagonista, no texto original e no filme Hamlet: vingança e tragédia, de Michael Almereyda, lançado em 2000. Tal processo, denominado por Claus Clüver e por Júlio Plaza de “tradução intersemiótica”, será associado ao conceito de “adaptação” formulado por Patrice Pavis. Já com base nos estudos de Joseph Campbell e Junito Brandão, a partir dos solilóquios, bem aproveitados na adaptação cinematográfica, será possível consolidar o perfil psicológico do personagem, permitindo relacionar a vingança de Hamlet ao seu destino, determinado, em grande parte, pelas ações do tio usurpador. ABSTRACT. The present work intends to identify, in Hamlet, by Shakespeare, traces of the philosophy that guided the production of Greek tragedies, emphasizing Oedipus Rex, by Sofocles. Besides, the existential conflict lived by the protagonist will be analyzed, in the original text and in Hamlet: revenge and tragedy (EUA, 2000), by Michael Almereyda. This process, named by Claus Clüver and Julio Plaza “intersemiotic translation”, will be associated to Patrice Pavis’ concept of “adaptation”. Based on studies by Joseph Campbell and Junito Brandão, the soliloquies, extremely well utilized in cinematographic adaptation, will be examined to make possible the consolidation of the character’s psychological profile, allowing us to relate the revenge of Hamlet to his destiny, determined mainly by the actions of his usurping uncle. PALAVRAS-CHAVE: Adaptação. Universalidade. Família. Conflito existencial. KEY-WORDS: Adaptation. Universality. Family. Existential conflict. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 121 Introdução A exemplo da versão cinematográfica de Romeu e Julieta, dirigida por Baz Luhrmann e protagonizada por Leonardo DiCaprio e Claire Danes, Hamlet: vingança e tragédia, de Michael Almereyda, propõe uma releitura do clássico, mantendo, entretanto, a linguagem da peça de Shakespeare. Porém, o texto, recebendo uma moldura nova, pelo diferente e atual contexto que o compreende, passa por um intenso processo de revitalização e crítica, ao mesmo tempo. O grande desafio imposto à obra de Shakespeare é passar a fazer parte de um mundo atual, o que comprova a universalidade dos temas que compõem Hamlet. Como sempre ocorre, com qualquer tipo de arte, há uma sucessão de movimentos que optam pelo resgate, para negar ou para reforçar o que veio antes. Isso pode ser relacionado à tradição, ou, em outros termos, a uma cadeia de coisas perfeitamente encadeadas e que constroem a História. Se um elo se romper, colocará em risco os que vêm depois dele, pois, se um elemento da rede é afetado, acaba por desestabilizar os outros, em menor ou maior grau. No caso de Hamlet, pode-se afirmar, ainda, que Michael Almereyda leva em conta grande parte das releituras da peça de Shakespeare que o antecederam, mas com a proposta de aliar o antigo ao contemporâneo de modo mais abrupto e consolidando, mais uma vez, a supremacia e a credibilidade da obra em questão, especificamente nesse processo de transposição do texto para a tela. Em artigo intitulado A permanência do Hamlet, Luiz Angélico da Costa faz referência à via de mão dupla que surge, pelo fato de Hamlet ser uma das peças mais retomadas ao longo dos anos: “Hamlet, a peça, tem sido a obra shakespeariana com o maior número de leituras através destes quatro séculos de sua existência. Freud e Lacan, entre outros, fizeram as suas também. [...]. Mais do que as peças que lhe deram origem, o Hamlet de Shakespeare mantém-se como um convite a novas interpretações e traduções [...]” (COSTA, 2008, p. 1). Claus Clüver, adotando a terminologia de Leo Hock, diferencia “transposição” de “tradução”, por avaliar que a tradução garante maior autonomia e liberdade do texto recriado em relação ao texto-base ou original, como comprova o trecho a seguir: “[...] Leo H. Hock [...] propôs, numa extensão do termo de Jakobson, chamar um texto que se aproxima do textofonte de ‘traduction intersémiotique’, como um caso especial de ‘transposition intersémiotique’ que normalmente abrange itens mais ‘autônomos’” (CLÜVER, 1997, p. 42-3). Mais adiante, o autor completa: “Ler um texto como tradução de outro texto envolve uma exploração de substituições e semiequivalências, 122 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 de possibilidades e limitações. No caso de traduções intersemióticas, alguns leitores fascinam-se com as soluções encontradas, enquanto outros podem ver nisso a melhor demonstração das diferenças essenciais entre os vários sistemas de signos” (CLÜVER, 1997, p. 43). Na contemporaneidade, principalmente, a diferença é que assinala a riqueza de uma obra. Em vez da similaridade, ressalta-se a alteridade, formandose, com todas as releituras de Hamlet feitas até então, um conjunto com diferentes nuances e que oferecem um novo modo de olhar a obra de Shakespeare, que parece, por isso, inesgotável. Isso se dá, claro, pela distância temporal e pelo processo de “transculturação”, também mencionado por Clüver. Somem-se a isso as diferenças impressas, nos produtos das inúmeras releituras, pelos instrumentos próprios, às vezes exclusivos de cada sistema sígnico; afinal, para se fazer um filme a partir de uma peça teatral, é necessário investir em outros recursos, o que acaba por desacelerar, e muito, a preocupação com a linguagem e a gestualidade, principais matérias-primas do texto e do espetáculo teatral. Em um dos muitos significados que Patrice Pavis oferece para o termo “adaptação”, o autor ressalta o fato de, hoje, o critério de fidelidade não mais imperar nesse processo, sobrando mais espaço à recriação; afinal, “a transferência das formas de um gênero para outro nunca é inocente” (PAVIS, 1999, p. 11). No que se refere à junção entre o antigo e o novo, Pavis menciona que a adaptação é uma “tradução que adapta o texto de partida ao novo contexto de sua recepção com as supressões e acréscimos julgados necessários à sua reavaliação” (PAVIS, 1999, p. 11). Fechando o raciocínio, se há “supressões e acréscimos”, há crítica e “produção do sentido”, com total impossibilidade de uma releitura “inocente”. “Ser ou não ser” Em Hamlet: vingança e tragédia, o diretor, usando a liberdade para reavaliar o clássico, em sua releitura mantém a obrigação do protagonista de vingar a morte do pai. No entanto, longe de ser uma opção, já que é justamente a necessidade de vingança que dá início aos conflitos vividos por Hamlet, isso não serviria de instrumento para o “julgamento” do clássico. Por isso, coerente com a modernidade, o diretor investe nas relações interpessoais, potencializando o solilóquio mais importante da peça, em que Hamlet reflete sobre a existência, e relacionando-o a outras partes de fundo filosófico para consolidar o conflito que sustenta a tragédia. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 123 Já no início do filme, Hamlet aparece, em imagens em preto e branco, com um copo na mão. Por vezes, seu rosto é visto através do copo, o que o distorce. Isso, além da embriaguez sugerida, serve de reforço ao estado de espírito conturbado do personagem, que, nessa cena, declama fragmentos que correspondem a esta transcrição, da tradução feita por Anna Amélia Carneiro de Mendonça: “Ultimamente — não sei por que — perdi toda a alegria, [...]. Que obra de arte é o homem! Como é nobre a razão! Como é infinito em faculdades! Na forma e no movimento como é expressivo e admirável! Na ação, é como um anjo! Em inteligência é como um Deus! A beleza do mundo! O paradigma dos animais! E, no entanto, para mim, o que é essa quintessência do pó?” (SHAKESPEARE, 1995, p. 75-6, II, ii). A inversão em relação ao texto original, já que o trecho transcrito abre o filme, tem o intuito de mostrar o impacto da morte do pai sobre Hamlet, que parece mergulhado em um clima de desesperança e de completa inanição. Quando a câmera se afasta e o plano se abre, o espectador percebe que a cena que acabou de ver é um filme que Hamlet fez e está revendo em seu computador, o que é apenas uma das aberturas à metalinguagem no filme, exacerbando por completo o recurso usado por Shakespeare, quando Hamlet mostra a seu tio, através da peça dentro da peça, que já sabe de tudo. Desde o início, porém, o conflito existencial, que atingirá tanto a esfera ética quanto a moral, é estabelecido pelo diretor. A razão disso, em se tratando de uma tragédia, é assim apresentada por Bárbara Heliodora: “[...] a trama tem de retratar a parte perturbada da vida do herói que precede e conduz à sua morte, pois nenhuma morte repentina ou acidental em meio à prosperidade seria suficiente para o gênero. A tragédia é, essencialmente, um relato de sofrimento e calamidade que conduz à morte” (HELIODORA, 2004, p. 126). Em Hamlet: vingança e tragédia, a brincadeira metalinguística ganha continuidade com uma das partes mais interessantes e surpreendentes do filme. O solilóquio mais importante e conhecido do texto original é declamado por Hamlet dentro de uma videolocadora, em meio a vários filmes. Claro que nada que aparece na tela é aleatório. Hamlet caminha por um corredor, ladeado por fitas de vídeo dispostas em prateleiras que têm a placa action. A cada passo que ele dá, enquanto fala, as placas de action vão se seguindo uma a outra, como se anunciassem uma espécie de clímax. Ao fundo desse corredor, três televisores exibem cenas de explosão e de dois inimigos que lutam. Bem ao fundo, passando quase despercebida, há uma placa colorida com a frase Go home happy, uma brincadeira, em tom extremamente jocoso e parodístico, em relação ao que Hamlet estava vivendo. Continuando a cena, Hamlet continua 124 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 declamando seu solilóquio, mas agora cercado por inúmeras fitas de vídeo com a inscrição blockbuster, o que pode ser interpretado de modo ambíguo, pois o “grande sucesso” pode tanto remeter ao clássico quanto ao pop, dualidade que traduz o filme de Almereyda, que prima pela combinação do atual com o antigo. Terminando sua fala, Hamlet volta pelo mesmo corredor das placas que anunciam action e mais action. Nos televisores, ao fundo, há, agora, a imagem de um dos lutadores, em meio a chamas. Em outra parte do filme, bem antes do solilóquio que opõe “ser” e “não ser”, o mesmo tipo de conflito ganha destaque. A cena introduz o conceito de “inter-ser” e é uma criação do diretor, que dialoga com a obra de Shakespeare, além de inseri-la no panorama da modernidade, definido pela dependência existente entre o sujeito e a sociedade. Segundo Stuart Hall, a noção de sujeito sociológico reagiu à do sujeito Iluminista, regido pelo individualismo: “De acordo com essa visão, que se tornou a concepção sociológica clássica da questão, a identidade é formada na ‘interação’ entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o ‘eu real’, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais ‘exteriores’ e as identidades que esses mundos oferecem” (HALL, 2001, p. 11). Na esteira do sujeito sociológico, portanto, Almereyda inclui, no filme, o trecho de um programa de tevê a que Hamlet assiste e no qual o entrevistado, adepto da seita budista, explica: Temos a palavra “ser”, mas eu proponho a palavra “inter-ser”. “Inter-ser”, porque ninguém pode ser sozinho, estando sozinho. Você precisa de outras pessoas para ser. Precisa de outros seres para ser. Precisa de pai, mãe e de tio, irmão, irmã, amizades. E também de sol, rio, ar, árvores, pássaros, elefantes, etc. Logo, é impossível ser, estando sozinho. Você precisa “inter-ser” com tudo e todos. Portanto, “ser” significa “inter-ser”. (Hamlet, 2000) Essa passagem revela-se de suma importância, quando associada ao conteúdo da peça e do filme, porque expõe, para o protagonista, a necessidade de ele entender a morte do pai como um problema seu, não por causa do parentesco, apenas, mas também pela sua responsabilidade com todo o reino. Apenas enfrentando seu tio e sua mãe, de modo a investigar as suspeitas levantadas pelo espectro de seu pai, ele poderia corrigir o que estava errado. Desse modo, “ser” ou “inter-ser”, em vez da simples opção por “não ser”, ou pelo “[...] repouso/ Na ponta de um punhal [...]” (SHAKESPEARE, 1995, p. 89, III, i), significava assumir a herança, bem como a responsabilidade e os riscos que vinham com ela. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 125 Aproveitando a relação entre “ser” e “inter-ser” incluída na adaptação de Hamlet para o cinema, observe-se que Joseph Campbell, em seus estudos, que comumente associam psicologia e mitologia, faz menção à família como se essa fosse uma arena de conflitos. Além disso, fica explícito o vínculo entre o conceito de usurpação e uma passagem da obra O herói de mil faces: “O campo de batalha simboliza o campo da vida, no qual toda criatura vive da morte da outra” (CAMPBELL, 1997, p. 231-2). Importante ainda é notar a intensidade dos conflitos ente pai, mãe e filho. Flügel, referência usada por Campbell frequentemente, afirma que a figura do pai é associada à alma, enquanto a da mãe, ao corpo ou à matéria, o que se revela de extrema relevância em Hamlet porque o fato de o espectro do pai aparecer para o filho, clamando por vingança, reforça a sintonia existente ente os dois, já que, por mais que o filho, inicialmente, encare o progenitor como um rival, acaba igualando-se a ele. Esse aparente conflito, que deve ser transmutado, depois, em continuidade, é caracterizado da seguinte forma por Flora Süssekind: Vampirescamente o membro mais jovem deve revigorar toda a árvore. Quando se recusa a buscar a bênção familiar, quando ao invés da hereditariedade percebem-se diferenças, é o pai quem se torna repentinamente “estéril”. [...]. Quando “filho” se torna sinônimo de “diferença”, de “descontinuidade”, percebe-se que, por maior que tenha sido a árvore onde se inscreve o nosso corpo, resta apenas um “duplo traço” cortando todos os ramos seguintes ao nosso. (SÜSSEKIND, 1984, p. 24-5) A partir do exposto acima, em Hamlet, o pai, ao voltar como fantasma, exige que o filho o “substitua”, pedindo a aniquilação das diferenças em favor da continuidade, concretizando a afirmação de Flügel. Tal postura obriga Hamlet a apresentar, de modo mais marcado, seu perfil contemplativo e reflexivo em relação a tudo e a todos, através do contato com o sobrenatural. Campbell chega a comparar Hamlet a Édipo, afirmando que ambos buscam, “nas trevas, um reino mais elevado que o da mãe luxuriosa e incorrigível, afetada pelo incesto e pelo adultério” (CAMPBELL, 1997, p. 122). No caso de Édipo-rei não, mas, em se tratando de Hamlet, a busca por “um reino mais elevado” pode, ainda, ser associada à condição de fellow do protagonista, a qual, por sua vez, possibilita o engrandecimento do conflito instituído pela missão recebida pelo fantasma do pai: “O fantasma talvez seja um demônio,/ Pois o demônio assume aspectos vários/ [...] preciso/ Encontrar provas menos duvidosas” (SHAKESPEARE, 1995, p. 85). 126 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 No início, o dilema é apenas ético, mas, aos poucos, atinge a esfera moral: “Eu nem sei por que vivo e apenas digo/ ‘Isso deve ser feito’, pois não faltam/ Razões, vontade e força e os próprios meios/ Para fazê-lo [...]./ De ora avante, terei ódio sangrento,/ Ou nada valerá meu pensamento” (SHAKESPEARE, 1995, p. 128-9, IV, iv). E é justamente nessa parte que Hamlet decide levar sua vingança adiante, optando por “ser”, ou seja, por assumir o legado que lhe cabia e reestabelecer a ordem, em sua família e em seu reino; afinal, o ato de Claudius tinha repercutido enormemente. A expiação era uma exigência e o instrumento era Hamlet. Machina fatalis Na cultura grega da Antiguidade, as pessoas de uma mesma família são inseridas em um processo atávico de punição pelos erros de seus ascendentes. Desse modo, o erro de um antecessor espalha o caos sobre toda a família e deve ser corrigido por ele ou por alguém das futuras gerações. O descontrole (hýbris) que gera o erro (hamartía) exige que se cumpra um longo e penoso caminho de expiação (catábasi), a fim de que, ao término dos obstáculos, ocorra uma espécie de renascimento, com o reestabelecimento da ordem e do equilíbrio (anábasi). No caso específico de Hamlet, têm relevância o descontrole e o erro. O descontrole se opõe ao comedimento estoico, ou ao que os mitólogos denominam métron, e é resultado de uma escolha, apenas sob o ponto de vista cristão. Na cultura pagã, o excesso é parte inerente da trajetória do herói, previamente traçada e inalterável (môira=destino). Logo, a força de tragédias como Édipo-rei e Hamlet está, justamente, na tentativa vã de o herói resistir, evitando o descontrole, mas de, ao fim, esse se mostrar inevitável. Retomando a tragédia de Sófocles, isso pode ser facilmente ilustrado com a tentativa de Édipo de fugir de Corinto, em direção a Tebas, evitando que se cumprisse a profecia do oráculo de que ele mataria seu pai e se casaria com sua mãe. Como os pais que ele conhecia eram Pólibo e Mérope, partiu, achando estar fazendo o certo. No entanto, como não cabe aos mortais tentar mudar o que lhes foi pré-determinado, Édipo, sem saber, tentando evitar seu destino, caminhava em direção a ele. Desse modo, torna-se possível uma leitura que identifique, na peça de Shakespeare, influências não apenas do mundo elisabetano, mas também e, sobretudo, da tragédia grega, o que vai contra a leitura de críticos como Barbara Heliodora, que, em Reflexões shakespearianas, observa: “No mundo elisabetano, [...] estamos em um universo essencialmente cristão, no qual o Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 127 princípio do livre arbítrio é de suma importância, pois, segundo ele, cada homem é responsável por todas as suas ações” (HELIODORA, 2004, p. 122). Além de, em Hamlet, haver um transbordamento dessa responsabilidade, pois não é apenas quem comete o erro que paga por ele (e esse é o primeiro ponto que justifica a leitura da peça com base nos padrões das tragédias gregas), a própria autora, páginas adiante, refere-se à inevitabilidade dos fatos, o que não corresponde totalmente à escolha propiciada ao personagem pelo livre-arbítrio: A calamidade não acontece, não é enviada: ela se origina de ações executadas por seres humanos. Porém, temos que admitir que há circunstâncias que pesam sobre esses seres [grifo nosso], o que acaba por sugerir uma cadeia aparentemente inevitável de acontecimentos: mesmo que as ações cruciais sejam de responsabilidade do herói, elas desencadeiam conseqüências e forças que conduzem inevitavelmente à catástrofe final. (HELIODORA, 2004, p. 127) Para os gregos, essas “circunstâncias” constituem a môira, que, segundo Junito Brandão, significa destino, o qual “simbolicamente é ‘fiado’ para cada um. [...] o destino, em tese, é fixo, imutável, não podendo ser alterado nem pelos próprios deuses” (BRANDÃO, 2002, p. 141). Hamlet demonstra total consciência da incapacidade, sua e de qualquer outro, de mudar o que já fora traçado, quando, advertido por Horácio de que sua vingança poderia custarlhe a vida, afirma: “Se tiver que ser agora, não está para vir; se não estiver para vir, será agora; e se não for agora, mesmo assim virá” (SHAKESPEARE, 1995, p. 165). Não é só a idéia de destino, tal como o concebiam os gregos, que fica explícita no trecho transcrito acima, mas também a segurança de que, tendo cometido um descontrole, mesmo que em função do erro de outro (Claudius), sua punição viria, mais cedo ou mais tarde. Levando-se em conta a tarefa que o fantasma do pai impõe a Hamlet, desde que lhe apareceu pela primeira vez, e também sua nobreza, o momento em que o protagonista age por impulso, matando Polônio em vez de Claudius, serve para diminuir sua areté, que pode ser entendida como superioridade ou excelência. Outro impedimento para o uso do livre-arbítrio é a condição de Hamlet, um príncipe, que, como tal, não pode agir apenas pensando em si mesmo; afinal, depende dele o futuro de todo o reino da Dinamarca. No texto de Shakespeare e também no filme de Almereyda isso é lembrado por Laerte a Ofélia: “Ele não pode, qual os sem valia,/ Escolher seu destino, dessa escolha/ Depende a segurança e o bem do Estado” (SHAKESPEARE, 1995, p. 45). Isso é mencionado por Barbara Heliodora como uma herança medieval. 128 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Porém, já no teatro grego, acontecia da mesma forma. Édipo, ao se casar com Jocasta, assume o trono de uma Tebas devastada e assolada pelas piores desgraças, que só teriam fim, de acordo com o oráculo, quando o assassinato do rei fosse expiado. Por essa razão, tanto no texto de Shakespeare, que inclui a célebre frase: “Algo está podre aqui na Dinamarca” (SHAKESPEARE, 1995, p. 52), quanto no de Sófocles, “[...] a importância da função do protagonista empresta-lhe um significado simbólico que extrapola a ação para toda a comunidade” (HELIODORA, 2004, p. 126). Dessa maneira, a condição superior dos personagens e a repercussão de seus atos levam à associação muito comum, na cultura grega da Antiguidade, entre génos e hamartía, termos que podem, de modo simplificado, ser traduzidos por família e erro, respectivamente: “[...] qualquer hamartía [...] tem que ser religiosa e obrigatoriamente vingada. Se a hamartía é dentro do próprio génos, o parente mais próximo será igualmente obrigado a vingar o seu sanguine coniunctus. Afinal, no sangue derramado está uma parcela da vida, do sangue e, por conseguinte, da alma do génos inteiro” (BRANDÃO, 2002, p. 77). Curiosamente, recaíam sobre Hamlet a obrigação de vingar a morte do pai e, ao mesmo tempo, o castigo pelo ato de Claudius, dando início à tal cadeia de erros e purgações, denominada por Junito Brandão machina fatalis e entendida também como “transmissão da falta” ou “hereditariedade do castigo”: “A essa idéia do direito do génos está indissoluvelmente ligada a crença na maldição familiar, a saber: qualquer hamartía cometida por um membro do génos recai sobre o génos inteiro, isto é, sobre todos os parentes e seus descendentes ‘em sagrado’ ou ‘em profano’” (BRANDÃO, 2002, p. 77). Não se esquecendo do fato de Claudius ambicionar o trono, o génos amplia-se, adquirindo, além de família, também o significado de reino, que padece pela ação de seus governantes. Com base nisso, justifica-se a frase que Almereyda usa para fechar Hamlet: vingança e tragédia: “As idéias são nossas, mas seus resultados não nos pertencem” (Hamlet, 2000). A ação de Claudius inclui Hamlet na machina fatalis e o personagem tem sua vida transformada desde o momento em que, para aumentar suas desconfianças, o espectro do pai aparece para ele, ordenando a vingança, por isso o uso do imperativo na fala do pai ao filho. Hamlet não escolhe seu destino. Ao contrário, ele lhe é imposto: “[...] Maldito fado/ ter eu de consertar o que é errado” (SHAKESPEARE, 1995, p. 59). Como Édipo, Hamlet também tenta lutar contra seu destino, recusando-se a matar Claudius, mesmo depois de saber de tudo, mas as coisas se precipitam e se avultam, com a morte da mãe e as palavras de Laerte, ao final da peça e do filme, provocando a catástrofe. Pelo sangue derramado por Claudius, cumpre-se a maldição familiar. Como se não Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 129 bastassem os fatos de Hamlet ser responsável pela morte de Polônio e de pesar sobre ele a culpa pela morte de Ofélia, ele descobre o envenenamento da mãe, mata o tio e morre, com Laerte, depois de um duelo arquitetado pelo rei usurpador. O final, típico da tragédia, concretiza o discurso de Rosenkrantz sobre os efeitos da ação de um soberano, tão avassaladores que provocam não só a sua própria queda, mas a de todos que o cercam: “[...] a majestade/ Não sucumbe sozinha; mas arrasta/ Como um golfo o que a cerca; e como a roda/ Posta no cume da montanha altíssima/ A cujos raios mil menores coisas/ São presas e encaixadas; se ela cai,/ cada pequeno objeto, em conseqüência/ Segue a ruidosa ruína. O brado real/ faz reboar a voz universal” (SHAKESPEARE, 1995, p. 108). Conclusão A partir dos ingredientes extremamente variados que Almereyda usa em sua adaptação cinematográfica de Hamlet, não só na execução do filme, mas nos temas que percorrem o texto original e que são preservados no filme, para que não se perca a essência shakespeariana, a exemplo do cruzamento do mito com a filosofia, chega-se ao conceito de Júlio Plaza, que entende tradução intersemiótica como renovação ou diálogo crítico. Dessa forma, sobretudo em se tratando da adaptação de um clássico, exige-se que o novo e o antigo estejam em sintonia constante. Por isso, em Hamlet: vingança e tragédia, se a linguagem ficou responsável pela permanência, a transformação, para a atualização ou revitalização da obra de Shakespeare, ficou a cargo de uma nova perspectiva espaço-temporal. O novo Hamlet, personagem do ano 2000, não vive na Dinamarca, mas em Nova Iorque. Porém, mantém-se a referência dinamarquesa, através de uma brincadeira que faz de Ethan Hawke, protagonista do filme, herdeiro da Denmark Corporation e do Hotel Elsinore. A própria mescla espacial, temporal e linguística, que une o tradicional com o contemporâneo e que foi enaltecida pelo trânsito que permitiu a transformação de uma peça de teatro em filme, em um processo que favorece um tipo de mídia totalmente diferenciado, é encarada como característica da pós-modernidade: O período da pós-modernidade [...] caracteriza-se também por uma recorrência à história, pela crítica do “novo” (opondo convenção à invenção), pela recuperação da categoria do público, isto é, por uma ênfase na recepção e, sobretudo, por uma imensa inflação babélica de linguagens, códigos e hibridização dos meios tecnológicos, que terminam por homogeneizar, 130 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 pasteurizar e rasurar as diferenças: tempo de mistura. (PLAZA, 2003, p. 206) Como um palimpsesto, a tradução intersemiótica realça o novo produto, mas abre clareiras para que, através delas, o espectador/leitor possa chegar ao texto original. Há, portanto, dois planos e é justamente essa duplicidade, que se faz presente em todo processo de adaptação, a responsável pelo destaque dado à recepção, já que o espectador do filme, para um melhor entendimento da obra, deve, também, ter lido o texto de Shakespeare, a fim de estabelecer o diálogo necessário. Mais ainda: o espectador/leitor deve interpretar as mudanças feitas, apreendendo a postura crítica que existe por trás de cada uma delas, o que o faz refletir, simultaneamente, sobre os valores tradicionais e os contemporâneos. Em suma, a adaptação desempenha a função de marcar o alcance imenso da obra original, ao mesmo tempo em que a revitaliza, mas não por simples opção do diretor e sim porque a própria obra permite essa atualização, dada a sua amplitude. Ao mesmo tempo, a duplicidade serve para questionar e relativizar os conceitos de criação e de autoria, já que o novo se faz assumidamente sobre o antigo. Prática pós-moderna ou característica comum a todas as criações? Obviamente, a prática não é nova. É a profusão de debates que a pós-modernidade propicia sobre esse assunto, a partir de obras que se fazem a partir de recortes de jornal, discursos históricos ou trechos de obras clássicas, que permite a inserção dessa característica no conjunto de traços comuns a esse período artístico-literário: “[...] numa visão co-extensiva à formulada por Haroldo de Campos a respeito da Tradução Poética, concebemos a Tradução Intersemiótica como [...] um outro nas diferenças, como síntese e re-escritura da história. Quer dizer: como pensamento em signos, como trânsito de sentidos, como transcriação de formas na historicidade” (PLAZA, 2003, p. 209). Relendo e recontextualizando o clássico, o diretor, que é, antes de tudo, um receptor, expressa uma nova visão da obra original em seu produto, um filme, nesse caso específico, o qual será recebido por milhares de espectadores, que também farão suas leituras, com alguma chance de essas resultarem em outras obras de arte, as quais ficarão conhecidas por outros milhares de espectadores, etc., etc. É nesse processo, de respostas que produzem reflexões e perguntas, que, por sua vez, pedem novas respostas, que são construídos a História e o processo infinito da crítica, sempre vinculada à criação ou à recriação. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 131 REFERÊNCIAS BRANDÃO, J. de S. Mitologia grega. Vol. I. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. CAMPBELL, J. O herói de mil faces. São Paulo: Cultrix/Pensamento, 1997. CLÜVER, C. Estudos interartes: conceitos, termos, objetivos. In: Literatura e sociedade 2: revista de teoria literária e literatura comparada. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1997. COSTA, L. A. da. A permanência do Hamlet. Disponível em: http:// www.iupe.org.br/ass/resenhas/res-040723-hamlet.htm. Acesso em: 02 set. 2007. HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. Hanlet: vingança e tragédia. Direção de Michael Almereyda. EUA: Jason Blum, Andrew Fierberg, Callum Greene, Amy Hobby e John Sloss; Imagem Filmes, 2000. 1 dvd (112 min); son.; 12 mm. HELIODORA, B. Reflexões Shakespearianas. Rio de Janeiro: Lacerda, 2004. PAVIS, P. Dicionário de teatro. São Paulo: Perspectiva, 1999. PLAZA, J. Tradução intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 2003. SHAKESPEARE, W. Hamlet. Tradução de Anna Amélia Carneiro de Mendonça. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. SÜSSEKIND, F. Tal Brasil, qual romance? Rio de Janeiro: Achiamé, 1984. Artigo recebido em 13 de dezembro de 2008. Artigo aceito em 17 de abril 2009. Verônica Daniel Kobs Doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Paaná – UFPR. Coordenadora do Mestrado em Teoria Literária da Uniandrade. Professora de Literatura Brasileira da Uniandrade. Membro consultor do Conselho Editorial da Secretaria de Cultura do Estado do Paraná. 132 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 O VERSO DE MANUEL BANDEIRA EM SUA TRADUÇÃO DE MACBETH Marcia A. P. Martins [email protected] Paulo Henriques Britto [email protected] RESUMO: Este artigo faz, inicialmente, uma breve apresentação das 13 traduções brasileiras da tragédia Macbeth, de William Shakespeare, publicadas até hoje; a seguir se detém na realizada pelo poeta modernista Manuel Bandeira, com o objetivo de examinar as estratégias formais por ele empregadas. A análise focaliza especialmente as soluções encontradas pelo tradutor para recriar em português o pentâmetro jâmbico branco, que é o metro mais característico da poesia dramática shakespeariana, e o tetrâmetro, com rimas emparelhadas, que aparece na fala das bruxas. De modo geral, Bandeira opta pelo decassílabo, aumenta o número de versos com o fim de diminuir a necessidade de fazer cortes no texto e procura manter bem nítido o contraste entre o verso das bruxas e o dos nobres, utilizando um metro mais curto rimado para se opor ao decassílabo branco. ABSTRACT: This article briefly presents the 13 Brazilian translations of Shakespeare’s Macbeth published to the present and proceeds to examine the translation published by the Modernist poet Manuel Bandeira, analyzing the formal strategies he employed. Emphasis is given to the solutions found by Bandeira when recreating in Portuguese the blank verse that is the most characteristic meter of Shakespearean drama and the rhymed couplets of trochaic tetrameter spoken by the Weird Sisters. Generally speaking, Bandeira chooses the decasyllable, increases the number of lines so as to minimize cuts in the text and attempts to preserve a sharp contrast between the verse associated with the witches and that reserved for the noble characters, using a shorter, rhymed line in opposition to the unrhymed decasyllable. PALAVRAS-CHAVE: Shakespeare. Tradução teatral. Versificação. Métrica. KEY WORDS: Shakespeare. Drama translation. Verse. Meter. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 133 Macbeth, escrita em 1606, é considerada uma das quatro grandes tragédias shakespearianas, junto com Hamlet (1600-1601), Otelo (1603-1604) e Rei Lear (1605-1606). Apesar de não se incluir entre as peças com vários supostos originais, como Hamlet, já que o único texto existente foi publicado na edição do Primeiro Fólio, em 1623, apresenta possíveis interpolações, como as cenas das quais Hécate participa. Essa tragédia, a mais curta de todas, tem como fonte principal as crônicas de Holinshed — The Chronicles of England, Scotland and Ireland — e gira em torno da ambição do guerreiro escocês Macbeth e sua esposa, que não medem consequências para garantir a ascensão ao trono profetizada pelas bruxas. Embora de estrutura relativamente simples, é uma peça extremamente sinistra no clima e violenta nas ações, desde o mau tempo e os trovões associados à presença do sobrenatural encarnado pelas Weird Sisters até as vívidas descrições de batalhas e assassinatos. Como analisa A. C. Bradley, “In its language, as in its action, the drama is full of tumult and storm” (1904: 309). Cromaticamente ela é toda rubra e cinzenta, um rio de sangue em meio à neblina e ao ar poluído. Essa história “cheia de som e fúria”, de linguagem fortemente imagética e repleta de palavras associadas à violência, teria sido encenada pela primeira vez em português do Brasil, segundo registra a bibliografia William Shakespeare no Brasil, compilada por Celuta Moreira Gomes (1961), no ano de 1839, pela companhia teatral de João Caetano, em tradução de Francisco José Pinheiro Guimarães a partir de um original inglês. Tal informação não aparece no clássico Shakespeare no Brasil, de Eugenio Gomes (1961: 14), para quem o primeiro Macbeth de João Caetano foi ao palco em 1843, usando uma tradução de José Amaro de Lemos Magalhães baseada na adaptação francesa de JeanFrançois Ducis. De qualquer forma, essas traduções não chegaram até nós, ao contrário das traduções integrais a partir de originais em inglês que tiveram início com o Hamlet de Tristão da Cunha, publicado em 1933 pela Schmidt. Desde então já foram publicadas 13 traduções brasileiras de Macbeth, a segunda peça shakespeariana mais traduzida no Brasil, superada apenas por Hamlet, com 15 transposições até o primeiro semestre de 2009. As duas primeiras traduções de Macbeth para o português do Brasil foram publicadas em 1948: a de Oliveira Ribeiro Neto (Martins), em prosa e verso, e a de Artur de Salles (Clássicos Jackson, em edição com Rei Lear de Jorge Costa Neves), em prosa e parelhas de dodecassílabos (alexandrinos, em sua maioria) rimados. 134 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 A seguir, na década de 1950, foi lançada a de Carlos Alberto Nunes (Melhoramentos), que traduziu naquele período o teatro completo em prosa e versos decassílabos, até hoje reeditado, agora pela Agir. Nos anos 1960, foram publicadas mais quatro: as de Nelson de Araújo, em 1960 (Imprensa Oficial da Bahia), em prosa; de Manuel Bandeira, em 1961 (José Olympio), em prosa e versos decassílabos, reeditada pela Brasiliense, depois pela Paz e Terra e em 2009 pela Cosac Naify; de Péricles Eugênio da Silva Ramos (Conselho Estadual de Cultura), em 1966, em prosa e verso (predominando o decassílabo); e de F. Carlos de Almeida Cunha Medeiros e Oscar Mendes, que também traduziram a obra completa (José Aguilar, 1969), em prosa. No ano de 1970 foi lançada mais uma tradução, dessa vez por Geir Campos, em prosa e versos decassílabos, e só quinze anos depois houve outra, por Barbara Heliodora, também em prosa e versos decassílabos (Nova Fronteira, 1995). Na década atual surgiram quatro novas traduções, realizadas respectivamente por Beatriz Viégas-Faria, em prosa (L&PM Pocket, 2000); Jean Melville, anunciada como em prosa e verso em edição controversa da Martin Claret (2002)1; Fernando Nuno, sob forma de adaptação em prosa (Objetiva, 2003); e Elvio Funck, em edição bilíngue e tradução interlinear em prosa (EdUFSC, 2006). São, portanto, muitas traduções, cinco em prosa e oito reproduzindo a combinação shakespeariana de prosa, verso branco e verso rimado, sendo que a forma usada no original inglês, o pentâmetro jâmbico, é geralmente transformada, em português, em decassílabos, com raros casos de opção pelo dodecassílabo (além do já mencionado Macbeth de Artur de Salles há também os Hamlets de Péricles Eugênio da Silva Ramos, publicado originalmente pela José Olympio em 1955, e de Lawrence Flores Pereira, que será lançado pela Editora 34). Algumas dessas traduções não foram reimpressas ou reeditadas, só estando disponíveis em bibliotecas e sebos; esse é o caso dos trabalhos de Nelson de Araújo, Péricles Eugênio da Silva Ramos e, novamente, de Artur de Salles. Outras, no entanto, têm sido reimpressas ou reeditadas com certa regularidade, o que aumenta a sua visibilidade e, naturalmente, sua circulação. Há edições mais acessíveis em termos de preço, como as da L&PM, em formato de bolso, encontradas em outros pontos de venda além de livrarias, e outras mais luxuosas, como a recente reedição do Teatro Completo em tradução de Carlos Alberto Nunes, pela Agir, apresentada em três volumes de capa dura e tamanho maior do que o padrão, assim como a publicação gradual do cânone completo em tradução de Barbara Heliodora pela Nova Aguilar, Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 135 também em três volumes de capa dura e papel bíblia. Já foram lançados dois volumes: o primeiro, com as tragédias e as comédias sombrias (2006) e o segundo, com as comédias e os romances (2009). No entanto, entre todas essas traduções de Macbeth uma das que mais fascinam e atraem o interesse do público é de Manuel Bandeira, um dos maiores nomes da poesia brasileira em qualquer época. Nossa proposta, neste artigo, é analisar as estratégias e soluções formais da tradução de Bandeira, em especial no que se refere às passagens em verso, seja branco ou rimado. Procuraremos ver em que medida o contrato métrico do decassílabo é efetivamente cumprido, bem como examinar as soluções adotadas pelo tradutor nas passagens em que ele se afasta desse metro. Lançada em 1961 pela José Olympio, a tradução tem sido republicada com frequência; pela Brasiliense e pela Paz e Terra (desde 1996, estando já na 3ª edição), em formato bolso, e pela Cosac Naify (2009), em edição ilustrada e com capa dura. As edições trazem uma nota do tradutor de duas páginas na qual Bandeira se detém sobre a peça em si — as fontes, as possíveis interpolações, algumas considerações sobre o tema e a linguagem — e não menciona aspectos do processo tradutório. Não se constituem, portanto, em edições comentadas: não há notas nem outros paratextos que apresentem ou expliquem o autor, a obra em si ou a tradução. Em termos de recepção crítica desse trabalho de Bandeira, foram localizados apenas dois textos: um, do crítico teatral Sábato Magaldi, publicado no Jornal da Tarde (1989), e outro do tradutor Giovanni Pontiero (1964), que integra uma edição comemorativa do quarto centenário de nascimento de Shakespeare, organizada por Barboza Mello e Olympio Monat. O texto de Magaldi enfoca, em sua maior parte, a tragédia em si — tema, enredo, estrutura, fontes, principais personagens —, dedicando os três últimos parágrafos a um breve comentário a respeito das traduções de Bandeira e Silva Ramos. Segundo o crítico, “Bandeira traduziu Macbeth em decassílabos, equivalentes ao pentâmetro jâmbico inglês. O texto brasileiro é bonito, tendo a grandeza de um dos poetas mais puros da língua” (1989). A seguir, Magaldi cita Silva Ramos, que assim justificou ter produzido uma tradução da mesma peça cinco anos após a de Bandeira, dessa vez com introdução e mais de quinhentas notas: Não faltará talvez quem ache demasiado pôr mais uma vez o Macbeth em nossa língua, à vista, principalmente, das traduções anteriores dos poetas Artur de Sales e Manuel Bandeira. A esse respeito, de fato o Macbeth é mais afortunado que o Hamlet, que não contava em nosso país com tradução em verso até há poucos anos (o próprio Péricles Eugênio lançou sua edição 136 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 príncipe em 1955). Mas o fato de haver traduções anteriores não quer dizer que isso deva constituir barreira a novas traduções, pois não pode o culto shakespeariano sofrer peias dessa ordem; assim, em nossa empresa deve ser visto não o ridículo desejo de emular, mas o tributo de uma geração mais recente ao cisne de Avon. (1989). O crítico comenta, então, as duas traduções, dizendo que são ambas “muito competentes, sensíveis e eficazes. Quem dera elas representassem a norma dos textos transpostos para o português”. Sugere, no entanto, de forma implícita, que falta a ambas “plena equivalência da comunicabilidade alcançada pela palavra shakespeariana, como Millôr Fernandes conseguiu, por exemplo, com A megera domada e O rei Lear”. Aparentemente, portanto, Magaldi considera essas traduções em verso mais adequadas à estante do que à cena, o que também as tornaria de certa forma “infiéis” ao caráter prioritariamente dramatúrgico/teatral da obra shakespeariana. Por sua vez, o texto de Pontiero — prestigiado tradutor do português e do espanhol para o inglês — ressalta logo de início a importância de Bandeira, cujo nome “tem sido ligado, no Brasil, ao de Guilherme de Almeida, Onestaldo de Pennafort e Abgar Renault, uma minoria que se salientou como competentíssima na tradução do verso, além de suas realizações na crítica e na poesia” (1964, p. 35). Para Pontiero, o papel do tradutor de poesia é delicado e complexo, na medida em que deve: (i) sofrer um processo mental de identificação a fim de alcançar “reprodução fiel do conteúdo verbal e emocional do original” para tentar transmitir “a qualidade essencial do verso sem distorção da paráfrase ou excessivos esclarecimentos”, ou seja, economia de expressão; e (ii) sentir a musicalidade do verso e, ao mesmo tempo, perceber detalhadamente os efeitos da rima, assonância, aliteração e onomatopeia, além de lutar com sutis artifícios, interrogativas pouco claras e pronomes ambíguos. Esses requisitos, a seu ver, tornam-se ainda mais prementes no caso de Macbeth, devido as suas complexidades de estilo e dificuldades técnicas. A seguir, Pontiero comenta a tradução de Bandeira, fazendo uma análise comparada de trechos do original e das soluções encontradas pelo poeta. A seleção dos fragmentos é pautada por aspectos descritivos (a atmosfera sombria, o clima sobrenatural), sintáticos, retóricos (a poesia da oratória de Macbeth, emprego de antíteses para transmitir emoções em conflito) e de linguagem (manutenção de onomatopeias e aliteração). De modo geral, aprova e valoriza as soluções do poeta, que resultaram em “uma tradução moderna que, dotada de um sutil reajustamento do tom e da ênfase, consegue guardar a perfeita essência da linguagem de Shakespeare” (p. 36). Lamenta apenas que “[a] linguagem Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 137 densamente concisa de Shakespeare, a riqueza do detalhe e a força dramática por trás de suas imagens, infelizmente [tenham] que sofrer com a tradução. Frequentemente o português é incapaz de reproduzir a áspera precisão da fraseologia inglesa” (p. 42), gerando traduções parafrásticas e formulações prosaicas. Em outros momentos, no entanto, o “sentido de exatidão e equilíbrio” de Bandeira são reafirmados, e o resultado geral é de uma tradução muito bem-sucedida “não só quanto à atmosfera e linguagem quanto à técnica poética” (p. 43). Em nenhum momento, no entanto, Pontiero examina a questão da métrica e da rima nessa tradução em prosa e verso por ele tão bem avaliada e realizada por um poeta que tanto se destacou como tradutor de poesia. A maioria das peças do cânone shakespeariano contém verso e prosa. Macbeth, sob essa perspectiva, não é exceção, mas a prosa aparece em muito poucas passagens. O verso é quase sempre o blank verse – o pentâmetro jâmbico branco, que é o metro mais característico do teatro de Shakespeare – mas as bruxas utilizam um metro mais curto, o tetrâmetro, com rimas emparelhadas. Vejamos, pois, de que modo Bandeira recria em português os dois tipos de verso. Comecemos com o blank verse, a forma utilizada em cerca de noventa por cento do texto. Cotejemos a passagem da segunda cena do primeiro ato, em que o oficial relata ao rei o embate entre Macbeth e Macdonwald, quando lhe perguntam como estava a luta no momento em que ele, ferido, foi obrigado a ausentar-se do campo de batalha: Sergeant Doubtful it stood; As two spent swimmers, that do cling together And choke their art. The merciless Macdonwald— Worthy to be a rebel, for to that The multiplying villanies of nature Do swarm upon him—from the western isles Of kerns and gallowglasses is supplied; And fortune, on his damned quarrel smiling, Show’d like a rebel’s whore: but all’s too weak: For brave Macbeth—well he deserves that name— Disdaining fortune, with his brandish’d steel, Which smoked with bloody execution, Like valour’s minion carved out his passage Till he faced the slave; Which ne’er shook hands, nor bade farewell to him, Till he unseam’d him from the nave to the chaps, And fix’d his head upon our battlements. 138 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 DUNCAN O valiant cousin! worthy gentleman! Oficial Indecidida. Era ver dois exaustos nadadores A agarrar-se e a anular sua perícia. O implacável Macdonwald — bem talhado Para rebelde, pois de vilanias Tão cumulado pela natureza — Das ilhas de oeste recebeu reforço De tropas irlandesas, e a Fortuna Sorria-lhe à diabólica empreitada Como rameira de soldado. Tudo Debalde, pois Macbeth (merece o nome), Zombando da Fortuna, e com a brandida Espada fumegante da sangrenta Carnificina, abre passagem como O favorito do valor e enfrenta O miserável. Sem lhe dar bons dias, Descose-o de um só golpe desde o umbigo Até às queixadas, corta-lhe a cabeça, Crava-a numa seteira. DUNCAN Ó bravo primo! Ó digno cavaleiro! Antes de examinarmos a tradução de Bandeira, talvez seja interessante abrir um parêntese a respeito dos méritos relativos do decassílabo e do dodecassílabo para a tradução do pentâmetro jâmbico inglês. O decassílabo, usado na tradução em pauta, é a opção feita pela maioria dos tradutores brasileiros; uma minoria opta pelo dodecassílabo. Em texto recentemente publicado, Lawrence F. Pereira (2008) faz uma defesa bem argumentada do dodecassílabo. De fato, como é possível dizer-se mais em inglês do que em português na mesma quantidade de sílabas, dada a maior concisão do idioma inglês, parece lógica a conclusão de que o dodecassílabo tornaria mais fácil a tradução verso a verso, sem que o tradutor fosse levado a omitir material sintático ou semântico a fim de não extrapolar a contagem de sílabas. Isso compensaria a principal desvantagem do dodecassílabo: o fato de que, diferentemente do que se dá com o decassílabo, ele é um verso de “dois Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 139 fôlegos”, para usar a formulação expressiva de Pereira. Não é à-toa que o alexandrino francês costuma vir em dísticos rimados: é tamanha a extensão do verso, e tal a sua tendência a se bipartir, que a presença da rima é quase obrigatória a fim de alertar o ouvido para a verdadeira colocação da fronteira do verso. Mas será a extensão maior do alexandrino realmente uma solução para o problema da maior concisão do inglês? Num estudo realizado sob orientação de um dos autores do presente texto, Débora Landsberg (2006), comparando traduções alternativas, em decassílabos e dodecassílabos, de alguns sonetos shakespearianos, chegou à conclusão de que, ao invés de resolver um problema, o verso mais longo por vezes cria outro. No cotejo das traduções, a pesquisadora observou que as perdas semânticas e sintáticas forçadas pelo uso do decassílabo, ao menos nos exemplos analisados, resultavam numa alteração do original menos drástica do que os frequentes acréscimos de material inerte, redundante ou irrelevante, ocasionados pela necessidade de preencher as doze sílabas do verso mais longo. A pesquisa de Landsberg está longe de ser exaustiva, e a conclusão a que chegou pode parecer contraintuitiva, mas ela é reforçada pelo resultado de um outro estudo realizado por um de nós. Cotejando duas traduções de uma elegia de John Donne, uma em decassílabos e outra em dodecassílabos, Paulo H. Britto (2006) constatou que o número de omissões encontradas na tradução em decassílabos (de Augusto de Campos) foi apenas um pouco maior do que as ocorridas na tradução em dodecassílabos (de Paulo Vizioli), mas que, por outro lado, a tradução de Vizioli tinha sete vezes mais acréscimos que a de Campos. De novo, trata-se da análise pontual de um único poema, e é possível encontrar outras explicações para o fato — por exemplo, a superioridade técnica de Campos; mais estudos de caso se fazem necessários. Até que isso aconteça, porém, talvez seja melhor pôr em dúvida o pressuposto aparentemente óbvio de que a extensão maior do dodecassílabo é uma vantagem quando se trata de traduzir o pentâmetro jâmbico. Voltemos, pois, ao trecho de Macbeth destacado acima. Como já observamos, Bandeira trabalha com decassílabos, heroicos em sua maioria (seis são sáficos). A primeira coisa que salta à vista é que Bandeira dá mais importância à regularidade da metrificação do que ao número de versos, e prefere traduzir a passagem em um número um pouco maior de versos a fazer muitos cortes. Mesmo assim, podemos encontrar algumas omissões e simplificações, mas que parecem ser ditadas menos pela necessidade de economizar sílabas do que por outros motivos. Kerns and gallowglasses, um trecho que para ser fielmente traduzido exigiria uma glosa muito extensa, causando perda de ritmo na ação dramática — haveria que especificar que kerns são soldados com armas leves e gallowglasses soldados que levam armas pesadas 140 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 — é reduzido a “tropas”. Por outro lado, Bandeira acrescenta “irlandesas”; embora as “ilhas do oeste” claramente apontem para a Irlanda, a referência geográfica pode não ser óbvia para os leitores e espectadores brasileiros, e o tradutor opta por esclarecer este ponto. Outra omissão ocorre no verso Which ne’er shook hands, nor bade farewell to him, simplificado para “Sem lhe dar bons dias”, o que não causa nenhuma perda importante no plano semântico, já que as duas expressões têm aqui o mesmo sentido irônico. Já um outro corte é mais problemático: ao não traduzir o adjetivo brave antes de Macbeth, fica sem sentido o comentário parentético “merece o nome”. Examinemos outra passagem famosa em blank verse, da quinta cena do primeiro ato: The raven himself is hoarse That croaks the fatal entrance of Duncan Under my battlements. Come, you spirits That tend on mortal thoughts! Unsex me here, And fill me from the crown to the toe top-full Of direst cruelty; make thick my blood, Stop up the access and passage to remorse, That no compunctious visitings of nature Shake my fell purpose, nor keep peace between Th’ effect and it! Come to my woman’s breasts, And take my milk for gall, you murdering ministers, Wherever in your sightless substances You wait on nature’s mischief! Come, thick night, And pall thee in the dunnest smoke of hell, That my keen knife see not the wound it makes, Nor heaven peep through the blanket of the dark, To cry, ‘Hold, Hold!’ Até o próprio Corvo está rouco, que crocita à entrada Fatídica de Duncan sob as minhas Ameias. Vinde, espíritos sinistros Que servis aos desígnios assassinos! Dessexuai-me, enchei-me, da cabeça Aos pés, da mais horrível crueldade! Espessai o meu sangue, prevenindo Todo acesso e passagem ao remorso; De sorte que nenhum compungitivo Retorno da sensível natureza Abale a minha determinação Celerada, nem faça a paz entre ela Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 141 E o seu efeito! Vinde, ó vós, ministros Do Mal, seja onde for que, em invisíveis Substâncias, instigais o que é contrário Aos sentimentos naturais humanos! Vem, noite tenebrosa, e te reveste Do mais espesso fumo dos infernos Para que o meu punhal não veja o golpe Que vibrará, nem possa o céu ver nada Através do lençol da escuridade Para gritar: “Detém-te!” Nesta passagem, para os 16 versos do original Bandeira produziu 22 (no original e na tradução, o trecho começa e termina com meios-versos), um aumento de quase 50%. O predomínio do heroico é absoluto — em apenas dois dos versos temos uma átona na sexta posição. Observa-se também um número muito maior de enjambements no texto de Bandeira: nove, contra apenas dois em Shakespeare. Do ponto de vista semântico, há uns poucos acréscimos: por exemplo, o trecho “you spirits/That tend on mortal thoughts” ganha um adjetivo — “sinistros” — na tradução, muito provavelmente para preencher o final do verso. Das omissões, a que mais chama atenção é o fato de ter Bandeira suprimido uma das imagens mais fortes do trecho: “Come to my woman’s breasts,/And take my milk for gall” (“Vinde a meus seios de mulher/E levai meu leite em troca de fel”). Uma outra atenuação, mais discreta, ocorre perto do final: onde Shakespeare faz lady Macbeth pedir à noite que não permita à sua faca ver a ferida (wound) que ela produz, Bandeira escreve “Para que o meu punhal não veja o golpe”. Pode-se supor que Bandeira tenha — de modo consciente ou não — optado por baixar um pouco o nível de violência de um texto que é, sem dúvida, dos mais brutais no cânone shakespeariano. No entanto, uma das passagens mais chocantes da tragédia foi vertida de modo bem fiel. Referimo-nos a uma fala de lady Macbeth na cena sete do primeiro ato: I have given suck and know How tender ‘tis to love the babe that milks me: I would, while it was smiling in my face, Have pluck’d my nipple from his boneless gums And dash’d the brains out had I so sworn as you Have done to this. Bem conheço As delícias de amar um tenro filho Que se amamenta: embora! eu lhe arrancara Às gengivas sem dente, ainda quando 142 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Vendo-o sorrir-se para mim, o bico De meu seio, e faria sem piedade Saltarem-lhe os miolos, se tivesse Jurado assim fazer, como juraste Cumprir esta empreitada. Aqui identificamos mais uma vez algumas das outras características das passagens já examinadas: predomínio do heroico (apenas um sáfico), aumento do número de versos (de seis para oito), aumento do número de enjambements (dois no original, ou um terço do total, contra a quase totalidade dos versos na tradução). Ao contrário dos exemplos anteriores, aqui não há nenhuma supressão digna de nota, e dos acréscimos apenas um merece comentário: o acréscimo da interjeição concessiva “embora!”, que ressalta um contraste na cadeia argumentativa que, no original, não estava sintaticamente marcado. Essa tendência a explicitar o implícito, universal nas traduções, também foi observada no primeiro trecho estudado, quando Bandeira especifica como irlandeses os soldados enviados das “ilhas de oeste”. Com relação ao verso associado às bruxas — no original, sempre o tetrâmetro trocaico — Bandeira não adota uma política coerente. A primeira cena do primeiro ato, que no original está toda em tetrâmetros rimados, Bandeira traduz de maneira bem mais livre: First Witch When shall we three meet again In thunder, lightning, or in rain? Second Witch When the hurlyburly’s done, When the battle’s lost and won. Third Witch That will be ere the set of sun. First Witch Where the place? Second Witch Upon the heath. Third Witch There to meet with Macbeth. First Witch I come, Graymalkin! Second Witch Paddock calls. Third Witch Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 143 Anon. ALL Fair is foul, and foul is fair: Hover through the fog and filthy air. 1ª BRUXA. Quando novamente as três nos juntamos No meio dos raios e trovões que amamos? 2ª BRUXA. Quando terminada esta barulhada, Depois da batalha perdida e ganhada. 3ª BRUXA. Antes de cair a noite. 1ª BRUXA. Em que lugar? 2a BRUXA. Na charneca. 3ª BRUXA. Ali vamos encontrar Com Macbeth. lª BRUXA. Irmãs, o Gato nos chama! 2ª BRUXA. O Sapo reclama! 3ª BRUXA. Já vamos! Já vamos! TODAS. O Bem, o Mal, — É tudo igual. Depressa, na névoa, no ar sujo sumamos! No original, temos onze versos de quatro pés, de corte trocaico, rimando em pares, com exceção do terceto formado pelos versos 3, 4 e 5, que rimam entre si. A metrificação aqui é bem irregular, mesmo para os padrões de Shakespeare, que na sua obra de maturidade se permite bastante liberdade prosódica: o verso 8 (“I come, Graymalkin!”) e o 9 (“Paddock calls. – Anon!”) são muito curtos, e o 10 é longo demais; há algo de deliberadamente grotesco nos versos, com uma versificação primitiva e um ritmo irresistível, como uma espécie de poesia infantil pervertida. A sonoridade grosseira do tetrassílabo trocaico rimado das bruxas contrasta vivamente com a dignidade do pentâmetro jâmbico branco utilizado no restante da peça. Em sua tradução, Bandeira usa uma forma ainda mais livre que a que encontramos em 144 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Shakespeare. Os três primeiros versos são decassílabos toscos, irregulares, que violam a regra segundo a qual não pode haver acento na quinta sílaba; o quarto é um verso de onze sílabas com um ritmo dactílico cuja musicalidade regular, no contexto, é de todo inesperada. O quinto — “Antes de cair a noite. — Em que lugar?” — é outro hendecassílabo, mas de ritmo bem quebrado. O sexto, formado pelas duas falas seguintes, é um decassílabo também defeituoso, com acento na quinta sílaba; apenas a rima com “lugar” indica que ainda estamos no terreno do verso, com rimas emparelhadas tal como antes. Mas se o sétimo verso, mais um decassílabo amorfo com a quinta sílaba acentuada, claramente se compõe de “Com Macbeth” e “Irmãs o Gato nos chama!”, a rima indica que “O Sapo reclama!” é um verso completo, com apenas cinco sílabas; de fato, o nono verso é outro pentassílabo, que não rima com o décimo e o décimo-primeiro — dois tetrassílabos que rimam entre si — e sim com o verso final, o décimo-segundo, mais um hendecassílabo que, como o quarto, tem um ritmo dactílico tão regular quanto inesperado. Embora utilize um verso a mais que Shakespeare, metros diversos, acentos irregulares e um esquema de rima diferente no final, nessa cena crucial Bandeira recria à perfeição o tom grotesco do original, estabelecendo um contraste nítido com os decassílabos brancos que constituem o corpo principal da tragédia. Examinemos mais uma passagem em tetrâmetro trocaico, esta da primeira cena do quarto ato: Scale of dragon, tooth of wolf, Witches’ mummy, maw and gulf Of the ravin’d salt-sea shark, Root of hemlock digg’d i’ the dark, Liver of blaspheming Jew, Gall of goat, and slips of yew Silver’d in the moon’s eclipse, Nose of Turk and Tartar’s lips, Finger of birth-strangled babe Ditch-deliver’d by a drab, Make the gruel thick and slab: Add thereto a tiger’s chaudron, For the ingredients of our cauldron. Escama de drago, dente De lobo, iscas de serpente Paulosa, ramos de teixo Cortados no eclipse, e um queixo De sanioso tubarão, Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 145 Mão de rã, língua de cão, Raiz de cicuta arrancada Da noite pela calada, Múmia de filha do demo, Bofe de judeu blasfemo, Beiços de mongol, focinho De turco, dedo mindinho De criancinha estrangulada Ao nascer, logo jogada Por uma rameira ao fosso — Tudo isso dê ponto grosso E força à sopa do diacho! Nessa passagem Bandeira utiliza um verso que não havia usado na passagem das bruxas da cena de abertura — o heptassílabo, um verso popular que, a princípio, seria uma boa alternativa para traduzir o tetrâmetro trocaico de Shakespeare — com rimas emparelhadas, tal como no original. Mais importante aqui do que apontar as diferenças na lista de ingredientes horripilantes (de pouco monta), ou algumas imprecisões lexicais (mummy, aqui “remédio feito com pó de múmia”), ou o aumento do número de versos (já esperado), é destacar a enorme disparidade no uso de enjambements. Enquanto no texto inglês não temos nenhum corte de verso que não corresponda a uma pausa natural (com a possível exceção de “maw and gulf/Of the ravin’d salt-sea shark”), na tradução temos nada menos que nove enjambements, alguns bem enfáticos, num espaço de apenas dezessete versos. Num trecho em que caberia um efeito de simulação de poesia popular — o que Bandeira parece ter tido em mente ao optar pela redondilha maior — os enjambements sucessivos acabam por tornar pouco nítidas as fronteiras entre os versos e quebrar o ritmo insistente do original, como convém a uma fórmula de bruxaria. Comparem-se as pautas acentuais dos quatro primeiros versos no original e na tradução (onde / = sílaba tônica, \ = sílaba com acento secundário, - = sílaba átona e || = pausa): Scale of dragon, tooth of wolf, Witches’ mummy, maw and gulf Of the ravin’d salt-sea shark, Root of hemlock digg’d i’ the dark, / - / - || / - / || / - / - || / - / - - / - / \ / || / - / - / - / || 146 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Escama de drago, dente De lobo, iscas de serpente Paulosa, ramos de teixo Cortados no eclipse, e um queixo - / - - / - || / - / || / - - - / - / - || / - - / - / - - || - / - Como se vê, no texto de Shakespeare temos sempre versos de quatro pés, separados por uma pausa, sendo que nos dois primeiros versos há também uma pausa medial; e, fora a irregularidade do terceiro verso, a divisão em pés trocaicos é rígida. Já em português, a pausa jamais ocorre no mesmo ponto dos quatro versos sucessivos, de modo que, não fosse a rima, o ouvinte não teria como identificar as fronteiras entre os versos. De qualquer modo, uma outra fronteira está bem marcada: a que se observa entre o verso rude, curto e rimado das bruxas e o verso digno, longo e branco dos personagens nobres. Veja-se, na continuação da cena analisada anteriormente, a transição da fala de uma das bruxas para a de Macbeth: Second Witch By the pricking of my thumbs, Something wicked this way comes. Open, locks, Whoever knocks! Enter MACBETH MACBETH How now, you secret, black, and midnight hags! What is’t you do? ALL A deed without a name. MACBETH I conjure you, by that which you profess, Howe’er you come to know it, answer me: Though you untie the winds and let them fight Against the churches; though the yesty waves Confound and swallow navigation up; 2ª BRUXA. Pelo comichar Do meu polegar Sei que deste lado Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 147 Vem vindo um malvado. Abre-te, porta: A quem, não importa! (Entra Macbeth) MACBETH. Eh, horrendas bruxas, filhas do demônio, Que estais fazendo? TODAS. Obra que não tem nome. MACBETH. Eu vos conjuro, pela negra arte Que, como quer que fosse, conseguistes Aprender, respondei-me: ainda que os ventos, Soltos por vós, furiosos, arremetam Contra as igrejas; ainda que nas bravas Ondas soçobrem todos os navios; Assim, logo antes da entrada em cena de Macbeth, o verso das bruxas se reduz ao pentassílabo, o que maximiza o contraste com o decassílabo da fala do protagonista. As análises apresentadas não se pretendem exaustivas, mas cremos que elas sejam suficientes para ao menos levantar algumas das estratégias adotadas pelo tradutor e esboçar uma avaliação delas. Ainda que se possa discordar de algumas soluções pontuais de Bandeira, suas escolhas básicas parecem felizes: optou pelo decassílabo, o verso longo do português que, conforme argumentamos, mesmo exigindo alguma compressão e omissão é preferível ao dodecassílabo; aumentou o número de versos com o fim de diminuir a necessidade de fazer cortes no texto; e manteve bem nítido o contraste entre o verso das bruxas e o dos nobres, utilizando um metro mais curto rimado para se opor ao decassílabo branco. Podemos dizer, parafraseando as palavras do personagem Macbeth (Ato I, cena 7)2, que o Bandeira tradutor fez sem medo tudo o que cumpre a um poeta. Notas 1 No final de 2007 surgiram denúncias na imprensa e em listas na internet de que a editora Martin Claret teria plagiado traduções de obras clássicas, inclusive de peças de Shakespeare. Para mais informações, ver http://www1.folha.uol.com.br/ folha/ ilustrada/ult90u357418.shtml e http://naogostodeplagio.blogspot.com. Acesso em 4 de maio de 2009. 148 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 2 Em inglês, “I dare do all that may become a man; Who dares do more is none.” (Fonte: edição das obras completas organizada por Stanley Wells e Gary Taylor. Oxford: Clarendon Press. Compact Edition, 1988.) Tradução de Bandeira: “Quanto cumpre a um homem fazer, fá-lo-ei sem medo: quem se abalança a mais, não o é.” REFERÊNCIAS BRADLEY, A. C. Shakespearean Tragedy – Lectures on Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth. London: New Penguin Shakespearean Library, 1904. BRITTO, Paulo H. “Fidelidade em tradução poética: o caso Donne”. Terceira Margem X (15), jul./dez. 2006, p. 239–254. GOMES, Celuta Moreira (1961) William Shakespeare no Brasil - Bibliografia. Separata do volume 79 (1959) dos Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: MEC. GOMES, Eugenio. Shakespeare no Brasil. São Paulo: MEC, 1961. LANDSBERG, Débora. “Os sonetos de Shakespeare: estudo comparativo das perdas e ganhos das diferentes estratégias tradutórias”. Relatórios anuais, XV Seminário de Iniciação Científica PUC-Rio, 2007. Disponível em: http://www.pucrio.br/pibic/relatorio_resumo2007/relatorios_anuais_ctch_letras.html. Acesso: 5 maio 2009. MAGALDI, Sábato. “A tragédia do poder ilegítimo”. Jornal da Tarde, São Paulo, 25 mar. 1989. PEREIRA, Lawrence Flores. “Notas sobre o uso alexandrino na tradução do drama shakespeariano”. In GUERINI, Andréia; TORRES, Marie-Hélène C.; COSTA, Walter Carlos. Literatura traduzida & literatura nacional. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008, p. 145-158. PONTIERO, Giovanni. “Manuel Bandeira e Macbeth”. In MELLO, Barboza; MONAT, Olympio. William Shakespeare: edição do IV Centenário. Rio de Janeiro: Leitura, 1964, p. 35-43. Artigo recebido em 27 de março de 2009. Artigo aceito em 20 de julho de 2009. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 149 Marcia A. P. Martins Doutora em Comunicação e Semiótica, 1999, PUC/SP. Mestre em Língua Portuguesa, 1986, PUC-Rio. Professora Assistente do Departamento de Letras da PUC-Rio, atuando nos programas de graduação (habilitação em Tradução) e pós-graduação em Letras (área de Estudos da Linguagem) . Membro da Comissão Editorial do periódico Tradução em Revista. Membro do Centro de Estudos Shakespearianos (CESh). Paulo Fernando Henriques Britto Notório Saber, título concedido em 2002, pela PUC-Rio. Mestre em Língua Portuguesa, 1982, PUC-Rio. Professor Associado do Departamento de Letras da PUC-Rio, atuando nos programas de graduação (habilitações em Tradução e Produção Textual) e pós-graduação em Letras (áreas de Estudos da Linguagem e Literatura Brasileira). Membro da Comissão Editorial do periódico Tradução em Revista. 150 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 UM OLHAR ORIENTAL SOBRE SHAKESPEARE: TRONO MANCHADO DE SANGUE DE AKIRA KUROSAWA Célia Arns de Miranda [email protected] Suzana Tamae Inokuchi [email protected] RESUMO: Trono manchado de sangue de Akira Kurosawa é uma transposição intersemiótica da tragédia Macbeth para o cinema. O filme também se caracteriza como uma tradução intercultural uma vez que a peça shakespeariana, ambientada no reino da Escócia, é transposta para o contexto feudal japonês. A análise da passagem do texto de Shakespeare para a tela foi realizada a partir da ‘série de concretizações textuais’ proposta por Patrice Pavis em sua obra O teatro no cruzamento de culturas. As conceituações do teórico francês foram, no presente trabalho, adaptadas e aplicadas para o estudo de uma produção fílmica. ABSTRACT: Throne of Blood by Akira Kurosawa is an intersemiotic transposition of the tragedy Macbeth to the cinema. The film is also characterized as an intercultural translation as the Shakespearian play, which is set in the kingdom of Scotland, is transposed to the Japanese feudal context. The analysis of the passage from the dramatic text to screen was accomplished through ‘the series of textual concretizations’ according to Patrice Pavis in his book Theatre at the Crossroads of Culture. The French theorist’s conceptions were, in the present work, adapted and applied to the study of a filmic production. PALAVRAS-CHAVE: Shakespeare. Macbeth. Kurosawa. Trono manchado de sangue. Tradução intersemiótica. KEY WORDS: Shakespeare. Macbeth. Kurosawa. Throne of Blood. Intersemiotic translation. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 151 Introduzindo Kumonosu-jô ‘was perhaps the most successful Shakespeare film ever made’, even though ‘it had hardly any words, and none of them by Shakespeare’. Roger Manvell Esta pesquisa de cunho intermidiático insere-se no âmbito dos estudos entre a literatura e as outras artes, mais especificamente, a relação da literatura com o cinema. Dentro desse amplo contexto, o enfoque desta pesquisa é estabelecer as equivalências (aproximação e distanciamento)1 que existem entre o texto-alvo, o filme Trono manchado de sangue (Kumonosu-jô) do diretor cinematográfico Akira Kurosawa (1910-1998), e o texto-fonte, a tragédia Macbeth de William Shakespeare (1564-1616). Além de ser uma tradução intersemiótica, este filme se caracteriza também como uma tradução intercultural uma vez que a peça shakespeariana, ambientada no reino da Escócia, é transposta para o mundo medieval e feudal japonês. Apesar de esta pesquisa abordar elementos que fundamentam essas duas formas de tradução, o enfoque prioritário será a análise da passagem do texto shakespeariano para a tela a partir de uma adaptação, formulada no presente estudo, das “sucessivas concretizações textuais” propostas por Patrice Pavis (1992). O profundo conhecimento que Kurosawa demonstra ter da obra trágica de William Shakespeare pode não ser imediatamente perceptível para um leitor de primeiro nível (ECO, 1994, p. 50-51). Entretanto, essa íntima proximidade entre o diretor japonês e Shakespeare torna-se evidente na análise das três realizações fílmicas em que o diretor adaptou a obra do dramaturgo inglês: Trono manchado de sangue (Kumonosu-jô, 1957), baseada na peça Macbeth; Ran (1985), baseada na peça Rei Lear e O homem mau dorme bem (Warui yatsu hodo yoku nemuru, 1960),2 uma retomada da peça Hamlet. Esses filmes são bastante relevantes na obra fílmica deste diretor, não apenas por serem recriações de tragédias shakespearianas, mas, sobretudo, por terem contribuído para a consolidação de uma linguagem cinematográfica do cineasta. Um dos motivos que, provavelmente, levou Kurosawa a adaptar, em primeiro lugar, a peça Macbeth está em seu gosto pessoal, visto que esta era a sua tragédia shakespeariana preferida, denominada de “meu Shakespeare preferido”, segundo o estudioso Donald Richie (citado em RICHIE, 1984, p. 116). Para criar sua adaptação fílmica da peça shakespeariana Macbeth, Kurosawa demorou alguns anos a mais do que pretendia porque outro diretor 152 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 de renome filmou uma versão dessa tragédia no ano de 1948, mesma data em que Kurosawa manifestou, pela primeira vez, essa intenção. Segundo as próprias palavras do diretor: “Ao terminar Rashômon, eu queria fazer algo com Macbeth de Shakespeare, mas justamente naquela época foi noticiada a versão de Orson Welles e, portanto, adiei a minha” (Citado em RICHIE, 19843, p. 116). Durante o período que decorreu entre o término de Rashômon (finalizado em 1949 e lançado em 1950) e as filmagens de Trono manchado de sangue (filmado em 1956, lançado em 1957), o diretor pôde amadurecer suas idéias. Ao transpor a tragédia shakespeariana para o feudalismo japonês, Kurosawa empreendeu algumas escolhas como a transformação do protagonista em um valoroso samurai no início do filme. Esta decisão modifica a personalidade de grande parte dos personagens da narrativa. Ao considerarmos o objeto de estudo desta pesquisa, Trono manchado de sangue, salientamos que o título em japonês pode ser traduzido como “O Castelo da Teia de Aranha”, sendo que este não é apenas o significado do título do filme como também o nome do feudo onde ele transcorre. Quanto à repercussão do filme, Maurice Hindle, em sua obra Studying Shakespeare on Film (2007, p. 36), afirma que alguns críticos o classificam na categoria de obra-prima. Ao discorrer sobre o universo das adaptações fílmicas shakespearianas realizadas na mesma época, ele reitera que, após a produção do Otelo (1955) pelo russo Sergei Yutkevich, apareceram diversas adaptações em países de tradição não inglesa. Segundo ele, o filme de Akira Kurosawa se destaca dentre elas. Dentro deste conjunto, Hindle reitera que, afora os filmes Hamlet (1964) e Rei Lear (1971) que foram produzidos por Grigori Kozintsev, Trono manchado de sangue foi o mais aclamado. Segundo Hindle (2007, p.36), Trono manchado de sangue retrata um enredo produzido com nuances tão dramáticas e de uma complexidade humana tão intensa que são comparáveis às de Shakespeare, embora pouco ou nada do texto original da peça esteja presente nas falas dos personagens dentro do filme. Esse fato enfatiza o aspecto de que uma tradução intersemiótica e cultural pode englobar, muitas vezes, elementos sutis, como intencionalidades e motivações internas contidas no texto original, que são transpostas para o contexto cultural alvo. Para Hindle, o mérito deste filme é ter alcançado êxito ao re-trabalhar, de uma maneira radical, uma peça shakespeariana para a grande tela sob o prisma de uma cultura e história não-ocidentais (2007, p. 99). Este filme faz parte da categoria de filmes autorais, ou seja, ele expressa uma visão muito particular da tragédia shakespeariana da qual partiu.4 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 153 Contextualizando [...] qualquer que seja o aspecto que examinemos desse universo, descobriremos um reino multidimensional sob a constante pressão das demandas conflitantes da lealdade e da auto-expressão. Em qualquer momento da história, sempre urgiu buscar uma conciliação entre as forças da mudança e as da estabilidade. Juntas, elas moldaram o mundo dos samurais. Stephen Turnbull Trono manchado de sangue e Ran são ambientados no universo do Japão feudal, fato que restringe os enredos de ambos os filmes à disputa de um único feudo. Nas duas versões a figura do samurai é um elemento central que torna a compreensão do conjunto de preceitos de conduta que deveriam ser seguidos pelo samurai, contidos no Caminho do Guerreiro (Bushidô), 5 imprescindível para a interpretação dos elementos culturais. Em Trono manchado de sangue, por exemplo, Asaji (correspondente à Lady Macbeth) usa de ardis e mentiras para conseguir que seu marido Washizu (Macbeth) transgrida esses valores. Em Ran, apesar de a questão inerente aos valores representativos dos samurais ainda estar presente, este enfoque foi sobrepujado pela atmosfera de disputa que envolve o feudo: a divisão do reino entre os filhos do protagonista torna-se o foco para o início da ação trágica, uma vez que no contexto feudal seria impossível evitar tais conflitos, mesmo entre os familiares. Akira Kurosawa, diretor cinematográfico de origem japonesa de maior visibilidade no cenário do cinema mundial, ao longo de sua carreira, realizou um total de 31 filmes, além de ter deixado dois roteiros póstumos que acabaram sendo efetivados por outros dois cineastas. Sua obra fílmica pode ser dividida em dois grandes gêneros: o primeiro deles é o jidaigeki,6 representado pelos filmes de época japoneses, que se referem especificamente à Era Medieval e se relacionam diretamente com a figura dos samurais (que pertencem à classe denominada bushi). O segundo gênero é denominado gendaimono, sendo este constituído pelos filmes que se passam no Japão moderno, primordialmente, nas grandes metrópoles japonesas. Presume-se, portanto, que tanto Trono manchado de sangue quanto Ran estejam inseridos no gênero jidaigeki, que equivale ao western americano, se nos referirmos ao apreço que os gêneros gozam com os seus respectivos públicos. Por ser um gênero muito popular no Japão, existe uma profusão de títulos comerciais e, por este mesmo motivo, eles são banalizados como forma narrativa. Kurosawa se ressentia da utilização deste 154 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 gênero apenas como uma maneira de entretenimento, sem um padrão de qualidade ou um comprometimento histórico e artístico. Segundo suas próprias palavras: “Sempre achei que o jidai japonês era historicamente desinformado. Além disso, esse gênero nunca usa técnicas cinematográficas modernas. Em Os sete samurais tentamos fazer algo a esse respeito, e Trono manchado de sangue seguiu a mesma linha” (Citado em RICHIE, 1984, p. 116). O enredo do filme Trono manchado de sangue está circunscrito à disputa do feudo Castelo da Teia de Aranha, dentro do qual o castelo homônimo se constitui na construção principal. O feudo é composto pelas seguintes edificações, listadas a seguir em ordem progressiva de poder: Forte numero V; Forte número IV; Forte número III; Forte número II, comandado pelo capitão Yoshiaki Miki (Banquo); Forte número I, comandado pelo capitão Washizu (Macbeth); Mansão do Norte, comandada pelo traidor Fujimaki (Cawdor); e Castelo da Teia de Aranha, comandado pelo senhor feudal Lord Tsuzuki (Duncan). O senhor é, muitas vezes, denominado apenas por tonosama ou, simplesmente, tono, e constitui-se no governante de todo o feudo. Segundo as profecias feitas pelo espírito maligno,7 Washizu se tornaria, primeiramente, o senhor da Mansão do Norte e, posteriormente, o senhor de todo o feudo do Castelo da Teia de Aranha. Miki seria, inicialmente, promovido ao posto que estava sendo ocupado por Washizu, de comandante do Forte I e, mais tarde, sua linhagem herdaria todo o feudo. V P IV Castelo I Floresta I II M (Figura 1) M = Mansão do Norte Fortes = I, II, III, IV, V Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 155 Em Trono manchado de sangue, inicialmente, ocorre a traição de Fujimaki (Cawdor) a Lord Kuniharu Tsuzuki (Duncan). Este ato culmina em uma revolta que aparece em uma das cenas iniciais do filme. Esses dois episódios têm relação com as já citadas profecias que envolvem tanto o protagonista Washizu quanto o seu companheiro, Miki. A realização da primeira parte da profecia gera a ambição desmedida de sua esposa, Asaji Washizu (Lady Macbeth). Ela decide concretizar a segunda parte da profecia não importando os meios que fossem utilizados para alcançar esse intento. Ao tentar instigar a ambição de Washizu com o intuito de atraí-lo para o crime, ela falha. Ardilosamente, ela passa a mentir e a induzir o marido ao engano, sugerindo que ele estava correndo risco de ser traído e morto traiçoeiramente pelo seu senhor. Após a obtenção do feudo, Asaji dá o golpe final ao dar a notícia de sua gravidez ao marido, levando-o a matar Miki e o filho: o motivo dessas mortes reside no fato de que Washizu já havia prometido o feudo para o filho de Miki porque ele próprio não tinha herdeiros no momento em que fez a promessa. Trono manchado de sangue mantém, igualmente, um vínculo estreito de proximidade com a outra adaptação shakespeariana, Ran. O primeiro filme contém toda uma gama de elementos culturais que irão ser retomados e desenvolvidos com maior profundidade pelo diretor nesta obra posterior, com vinte e oito anos de intervalo. Até mesmo a imagem da(s) flecha(s), tão marcante em Ran, é recorrente, uma vez que aparece em dois momentos no filme Trono manchado de sangue. O primeiro momento ocorre logo no começo quando Washizu considera que foi profundamente ofendido e ameaçado pela revelação do espírito maligno e, novamente, próximo ao final do filme, quando o protagonista é morto a flechadas. O que se torna extremamente interessante nesta cena derradeira é Washizu ser executado por seus subordinados logo após a revelação de que a floresta está se movendo. Este momento crucial marca o julgamento e condenação de Washizu por parte de seus súditos, que percebem através da imagem da floresta que seu senhor não passa de um usurpador. Seus brados de nada valem, e ele é executado sumariamente. Washizu morre com uma última flecha atravessada na garganta, tendo ao fundo a parede externa do Castelo da Teia de Aranha que, em vez de ser uma estrutura de proteção, transforma-se em uma prisão que o confina ao alcance das flechas que convergem em sua direção. A cor viva e marcante de Ran, que se assemelha a uma sucessão de pinturas em movimento na tela, é um ponto de diferenciação em relação ao Trono manchado de sangue uma vez que este filme foi produzido em preto e branco (PB). Entretanto, esta aparente limitação pictórica da mídia foi considerada por Kurosawa não apenas como um componente técnico mas, 156 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 primordialmente, como um importante elemento estético que lhe possibilitaria exprimir a intensificação do clima sombrio referente à peça. As tonalidades de preto e cinza permitem uma infinidade de matizes, à semelhança da pintura a nanquim, que compõem a atmosfera tenebrosa na qual os personagens atuam. Uma cena em que este aspecto pictórico do cenário se torna primordial é aquela em que o senhor feudal Kuniharu Tsuzuki vai à Mansão do Norte visitar Washizu. O quarto principal lhe é cedido e os servos se dirigem para um outro cômodo da edificação com a finalidade de arrumá-lo para os senhores do castelo. Este aposento é o quarto no qual o antigo senhor da Mansão, o traidor Fujimaki, foi executado. Os servos vislumbram a mancha de sangue do traidor impregnada na parede, que se assemelha a um quadro de arte abstrata. Esta visão confere um caráter lúgubre à cena além de antecipar a ação, uma vez que este quarto irá também abrigar os futuros protagonistas da nova traição que será perpetrada por Washizu, sob a nefasta influência de sua esposa Asaji. Em seus estudos sobre essa versão fílmica, Donald Richie menciona que “raramente se viu um filme branco e preto tão branco e preto”, sendo que ele ainda reitera que esse aspecto pictórico assume um caráter narrativo no filme (1984, p. 121). No filme Ran, Kurosawa dá um destaque particular às guerras entre feudos vizinhos e à anexação das terras conquistadas pelo vencedor, o protagonista Hidetora. Os senhores feudais que foram vencidos nas disputas são sacrificados, juntamente com suas famílias, com exceção de uma única mulher de cada um dos dois clãs inimigos (uma das filhas de cada senhor feudal). Estas mulheres são poupadas para que a paz seja instituída através do casamento de cada uma delas com os dois primeiros filhos de Hidetora. Gerase com isto a segunda grande vilã de Akira Kurosawa, Kaede, a esposa do filho primogênito do protagonista. Sedenta de vingança, ela retém em suas mãos muito da ação trágica do filme. Esta vilã que foi concebida num momento posterior à protagonista feminina Asaji em Trono manchado de sangue, apresenta muitos aspectos convergentes em relação a ela: além de serem as únicas grandes vilãs de Kurosawa, ambas estão vinculadas a três elementos constituintes do contexto cultural do Japão Medieval: o feudalismo, o mundo samurai e seu código e o teatro Nô. Além disso, visualmente, Kaede se assemelha muito a Asaji, sendo possível afirmar que a vilã criada em Trono manchado de sangue acabou sendo transposta para Ran, munida de um propósito maior, a vingança. Esta retomada ocorre após um intervalo de quase três décadas. Por um lado, há uma ampliação do caráter malévolo destas personagens, em comparação com as personagens equivalentes encontradas nas peças shakespearianas das quais se originaram. Elas são transformadas em vilãs de natureza ferrenha. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 157 Por outro, ambas representam as exceções no que tange à representação das mulheres na obra fílmica de Kurosawa tal como é salientado por Richie ao discorrer, no trecho abaixo, sobre a índole de Asaji; as suas palavras se aplicam, igualmente, à Kaede de Ran: Na maioria de seus filmes as mulheres são melhores que os homens (Domingo maravilhoso, Viver, Anjo embriagado, Nenhum pesar pela nossa juventude) ou ao menos mais fortes (Rashômon). [Kurosawa] é bem verdade, tem o precedente de Shakespeare, mas a senhora Asaji é muito mais má que Lady Macbeth. Ou talvez seja apenas uma questão de grau. Assim como Nastasya8 em O idiota possui uma força que a leva à afirmação pessoal, também Asaji – igualmente forte – encarna o espírito da negação. Essas mulheres são mais capazes de chegar a extremos que a maioria dos homens dos filmes de Kurosawa. Asaji vai até o fim. Washizu hesita. (1984, p. 119) Pensando na teoria e na prática Translation is not only just a “window open on another world”, or some such pious platitude. Rather translation is a channel opened, often not without a certain reluctance, through which foreign influences can penetrate the native culture, challenge it, and even contribute to subverting it. André Lefevere As transformações marcantes que o conceito de tradução vem sofrendo nessas últimas décadas trazem como consequência a relativização da noção de fidelidade textual e o reconhecimento dos textos fonte e alvo como signos um do outro, apesar de as referências textuais entre eles, como já foi mencionado anteriormente, não precisarem ser, necessariamente, evidentes. A partir da nova conceituação de tradução que prevê não mais a “reprodução mimética”, mas a transformação dos textos, as inter-relações entre textos, mídias, artes e culturas podem ser estudadas como formas de traduções, ou seja, como traduções intersemióticas (passagem de um sistema de signos para outro) e como traduções interculturais (passagem de uma cultura para outra) (DINIZ, 2003, p. 13-19). Dentro desse enfoque, dá-se relevo às questões relacionadas à historização que “põem em jogo duas historicidades”, ou seja, “a da obra no seu próprio contexto e a do espectador nas circunstâncias em que assiste ao espetáculo” (PAVIS, 1999, p. 197). Na visão de Patrice Pavis (1992, p. 2) em Theatre at the crossroads of culture, a intertextualidade derivada do estruturalismo e da semiótica rende-se ao modelo da interculturalidade. 158 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Não é mais suficiente descrever a relação entre os textos (ou mesmo entre as encenações) objetivando apreender o funcionamento interno. É também necessário compreender a sua inscrição dentro dos contextos e culturas e apreciar a produção cultural que se origina destas transferências não esperadas. O autor reitera que o termo interculturalismo é o mais apropriado para a compreensão da troca dialética de civilidades entre as culturas. Pode-se afirmar que a tradução intersemiótica consiste do diálogo entre formas de arte distintas, ou seja, entre sistemas semióticos diversos. Esta tradução, no caso da presente pesquisa, diz respeito às interrelações entre a tragédia shakespeariana Macbeth e a produção fílmica Trono manchado de sangue. Julio Plaza concebe a tradução intersemiótica “como prática crítico-criativa, como metacriação, como ação sobre estruturas e eventos, como diálogo de signos, como um outro nas diferenças, como síntese e re-escritura da história. Quer dizer, como pensamento em signos, como trânsito de sentidos, como transcriação de formas na historicidade” (2003, p. 209). Plaza considera que a criação artística da contemporaneidade acha-se drasticamente influenciada pelos meios de “repro-produção de linguagens”. Há uma profunda e radical transformação cultural devido ao domínio dos sistemas eletrônicos que transformam “as formas de criação, geração, transmissão, conservação e percepção de informação” (2003, p. 206). Segundo este autor, “no contexto multimídia da produção cultural, as artes artesanais (do único), as artes industriais (do reprodutível) e as artes eletrônicas (do disponível) se interpenetram (intermídia), se justapõem (multimídia) e se traduzem (Tradução intersemiótica)” (2003, p. 207). Tais constatações exigem por parte de todos os envolvidos no processo criativo uma nova postura uma vez que as formas estéticas e artísticas contemporâneas, dentre elas o cinema, são influenciadas por esta “imensa inflação babélica de linguagens, códigos e hibridização dos meios tecnológicos” que caracterizam este “tempo de mistura” (2003, p. 206). Segundo Patrice Pavis, “o confronto cotidiano com as mídias [...] influencia a nossa maneira de perceber e conceitualizar a realidade [uma vez que] nossos hábitos de percepção mudaram” (2003, p. 41). Patrice Pavis (1992, p. 138-39), ao formular a série de concretizações visando esquematizar o processo de apropriação do texto e cultura fonte por parte do texto e cultura alvo está oportunizando uma perspectiva de estudo da passagem do texto dramático para o texto da performance que, logicamente, prevê o diálogo de diferentes sistemas semióticos. Sabe-se que a proposta de Pavis descreve as mudanças que um texto sofre a partir do momento em que é concebido e formulado pelo autor [T0] até chegar à concretização receptiva [T4] ou enunciação que ocorre quando o texto-fonte [T0] atinge o seu destino Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 159 final, o espectador. Durante essa trajetória todos os leitores (em seu sentido mais amplo) estão envolvidos no processo criativo. As transformações que um texto sofre, desde a sua concepção até a sua mise-en-scène e a recepção pela audiência, podem ser visualizadas na figura abaixo: Texto e Cultura fonte T0 Texto e Cultura alvo T1 T2 T3 T4 Concretização Concretização Concretização textual dramatúrgica cênica (Figura 2) Dentro desse contexto, pode-se afirmar que há um entrecruzamento das situações de enunciação, em que o texto traduzido [T1], denominado por Pavis como “concretização textual”, torna-se parte tanto do texto e cultura fonte como do texto e cultura alvo. É necessário que se proceda uma adaptação tanto linguística quanto cultural. Segundo Pavis (1992, p.139-40), a tradução para o palco torna-se um processo mais complexo para o tradutor, uma vez que ele terá que lidar com aspectos que ainda lhe são desconhecidos. A tradução para o teatro consiste em um ato hermenêutico: após uma ampla compreensão do significado do texto-fonte, é necessário descobrir a sua significação a partir da situação final de recepção, do ponto de vista da língua e cultura alvo. Ou seja, qual é o seu significado no contexto cultural alvo? Sob esse viés, a tradução pode ser definida como um processo interpretativo e criativo, “envolvendo uma gama de atividades complexas e não estanques: leitura, releitura, pesquisa, criação, experimentação, adaptação, escritura, revisão e re-escritura” (O’SHEA, 2000, p. 45). Na fase da “concretização dramatúrgica” do texto, designada por Pavis como T2, o tradutor, diretor e atores interagem objetivando testar as decisões dramatúrgicas na medida em que a “situação de enunciação” tornase real. José Roberto O´Shea menciona que a “concretização dramatúrgica” poderia corresponder ao que Delabastita e D’Hulst denominam “versão para o palco”. Durante este processo, “a atenção ao encenável e ‘falável’ passa ao 160 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 primeiro plano, a linguagem sendo testada, ajustada, através da experimentação e da incorporação de indicações de tempo e espaço encontradas no texto” (2000, p. 47). Toda tradução – acima de tudo a tradução para o teatro – deve ser clara e compreendida imediatamente pela audiência, além de ser adaptada para a nossa situação presente. O processo de adaptação é contínuo – nós adequamos as obras do passado às nossas necessidades e intenções no presente. Assim procedendo, nós, parcialmente, apagamos a intenção original e a substituímos pela nossa (PAVIS, 1992, p. 141). A “concretização cênica” que é denominada por Pavis (1992, p. 14142) como sendo o T3, consiste num teste do T1 e T2 no palco. A situação da enunciação – na qual a audiência da cultura-alvo confirma imediatamente se o texto da performance é aceitável ou não – é, finalmente, realizada. É neste momento que as relações entre os signos textuais e os dramáticos são estabelecidas. O último estágio proposto por Pavis (1992, p. 142) é o T4 que é definido por ele como sendo a “concretização através da recepção”, ou seja, trata-se da recepção pela platéia da “concretização cênica” [T3]. Essa etapa caracteriza o momento da chegada do texto-fonte ao seu destino final. O espectador se apropria do texto na última fase do processo de concretizações, após uma sucessão de traduções intermediárias que reduzem ou ampliam o texto-fonte tendo em vista a cultura-alvo. A partir deste momento, este mesmo texto pode ser novamente redescoberto e reconstituído numa trajetória interminável de apropriações re-criativas. Na presente pesquisa, o processo que descreve as sucessivas textualizações na passagem de um texto para o palco, foi adaptado para o estudo da transformação de um texto literário para o cinema, o que caracteriza uma tradução intersemiótica. Pretende-se aplicar as conceituações de Patrice Pavis para a análise da produção fílmica realizada por Akira Kurosawa em Trono manchado de sangue. Tendo este intuito em vista, foi necessário adaptar não apenas a terminologia para uma produção fílmica como acrescentar um item aos já estabelecidos pelo autor. A justificativa para isso é que o cinema compreende uma etapa adicional entre a concretização da filmagem [T3] e a sua recepção pelo espectador [T5], que consiste da concretização da edição [T4]. Esta proposta pode ser visualizada na figura abaixo: Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 161 Pré-produção T0 T1 Produção T2 Pós-produção T3 Concretização Concretização do roteiro do roteiro literário técnico T4 Concretização da filmagem Texto e Cultura Fonte T5 Concretização da edição Texto e Cultura Alvo (Figura 3) Tal como pode ser observado na Figura 3, uma realização fílmica engloba três fases de atividades distintas e subsequentes: a pré-produção, a produção e a pós-produção. O cinema, por se constituir em uma atividade essencialmente coletiva, dispõe de diversas equipes de trabalho que atuam em cada uma dessas fases. O roteiro literário que é elaborado no início da préprodução consiste em uma das poucas atividades que pode ser realizada individualmente. De maneira geral, as equipes atuam nas áreas de direção (composta pelo diretor e um ou dois assistentes de direção), direção de arte (composta pelo diretor de arte, cenógrafo, figurinista e maquiador), de produção (composta pelo diretor de produção e por profissionais responsáveis pela alimentação, transporte, materiais, captação de recursos e divulgação), de fotografia (composta pelo diretor de fotografia, operador de câmera, foquista e maquinista) e de som (composta pelo técnico de captação de som direto e pela equipe de edição de som). Todas essas equipes devem estar afinadas e conhecer perfeitamente o roteiro literário, sendo que todos os profissionais envolvidos no processo de produção de um filme são, primeiramente, leitores e, posteriormente, re-criadores, cada um segundo sua função. Na série de concretizações que compõem as diferentes fases na produção de um filme, o T0 corresponde, igualmente, ao texto-fonte que inclui as escolhas, formulações e conceituações do autor do texto que originou o início do processo da realização fílmica. No caso do presente estudo, o T0 é a tragédia shakespeariana Macbeth. Obviamente, a escolha do texto-fonte pelo diretor teatral ou pelo cineasta é realizada a partir de intenções já em processo de formulação tendo em vista a proposta que está sendo delineada. Sobre a elaboração de um projeto cinematográfico que envolve opções e 162 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 decisões em função do resultado final, a visão do próprio diretor do filme Trono manchado de sangue, Akira Kurosawa, é muito esclarecedora: Para escrever roteiros, deve-se antes estudar os grandes romances e as grandes peças teatrais que o mundo produziu. Deve-se procurar saber por que são grandes. De onde vem a emoção que se sente ao ler? Que grau de paixão o autor teve de perseguir, que nível de meticulosidade teve de impor para modelar os personagens e os fatos da maneira que fez? Deve-se ler inteiramente, a ponto de se compreender todas estas coisas. Deve-se também assistir aos grandes filmes. Deve-se ler os grandes roteiros e estudar as teorias cinematográficas dos grandes diretores. Se seu objetivo é tornar-se um diretor, você deve dominar a escrita dos filmes. (1990, p. 277) Quando começo a considerar um projeto cinematográfico, sempre tenho em mente uma porção de idéias sobre o que gostaria de filmar. De todas elas, há sempre uma que repentinamente germina e começa a se expandir; essa será a idéia que irei agarrar e desenvolver. Nunca levei adiante um projeto a mim oferecido por um produtor ou a uma companhia produtora. Meus filmes emergem de meu próprio desejo de dizer algo em particular, numa época particular. A raiz de qualquer projeto cinematográfico situa-se, para mim, no desejo interior de expressar algo. O que nutre essa raiz e a faz prolongar-se em uma árvore é o roteiro. O que faz a árvore produzir flores e frutos é a direção. (1990, p. 275) A concretização do T1 corresponde ao roteiro literário que, com grande frequência, é adaptado de textos literários originais ou traduzidos (T0). Em Trono manchado de sangue, além da tradução interlingual, foi realizada uma tradução intercultural tendo em vista a futura audiência. Essa fase prevê, tal como já foi mencionado anteriormente, um estudo aprofundado do textofonte objetivando exaurir o seu potencial de significados: tendo-se em vista a compreensão do significado do texto-fonte, é necessário crivá-lo de perguntas e questões a partir do texto e cultura alvo, ou seja, a partir da situação final da recepção – o que o texto-fonte significa para mim ou para nós? O roteiro literário, segundo Syd Field, “é uma história contada em imagens, diálogos e descrições, localizada no contexto da estrutura dramática” (2001, p. 2). Akira Kurosawa, em mais de uma ocasião, reiterou sobre a importância de um bom roteiro (T1) tendo em vista a realização de um projeto cinematográfico de qualidade: Com um bom roteiro, um bom diretor pode produzir uma obra-prima; com o mesmo roteiro, um diretor medíocre pode fazer um filme passável. Mas com um roteiro ruim, mesmo um bom diretor não tem possibilidade Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 163 de fazer um bom filme. Para obter a expressão cinematográfica verdadeira, a câmera e o microfone devem ser capazes de atravessar água e fogo. Um filme verdadeiro nasce assim. O roteiro deve ser algo com o poder de realizar isso. (1990, p. 276) Esse texto denominado roteiro literário (conhecido simplesmente como roteiro) tem por finalidade a orientação de toda a equipe envolvida na realização fílmica. Para Field, o roteiro é “um ‘sistema’; um número de partes individualmente relacionadas arranjadas para formar uma unidade, ou todo” (2001, p. 79). Dentro deste todo, os principais componentes estruturais de um roteiro são a “sequência” e a “cena”. Sobre a definição de cada uma delas, Field postula que: a sequência é o elemento mais importante do roteiro. Ela é o esqueleto, ou espinha dorsal, de seu roteiro; ela mantém tudo unificado [...] Uma sequência é uma série de cenas ligadas, conectadas, por uma única idéia. [...] É uma unidade, ou bloco, de ação dramática unificada por uma única idéia [...] A sequência é o esqueleto do roteiro porque ela segura tudo no lugar; você pode literalmente ‘enfileirar’, ou ‘pendurar’, uma série de cenas para criar volumes de ação dramática [...] Toda sequência tem início, meio e final definidos. É um microcosmo do roteiro [...] A sequência é um todo, uma unidade, um bloco de ação dramática, completa em si mesma. (2001, p. 8081) A cena é o elemento isolado mais importante de seu roteiro. É onde algo acontece – onde algo específico acontece. É uma unidade específica de ação – e o lugar em que você conta sua história. Boas cenas fazem bons filmes. Quando você pensa num bom filme, recorda cenas e não o filme inteiro [...] A maneira como você apresenta suas cenas na página afinal afetam o roteiro inteiro [porque ele] é uma experiência de leitura [cujo] propósito é mover a história adiante [...] Uma cena é tão longa ou tão curta quanto você queira. Pode ser uma cena de três páginas de diálogo ou tão curta quanto um simples plano – um carro numa rodovia. A cena é o que você quer que seja. [...] A história determina quão longa ou quão curta é sua cena. Há somente uma regra a seguir; confie na sua história [...] Toda cena tem duas coisas: LUGAR e TEMPO. (2001, p. 112-113) É possível ilustrar essas definições de sequência e cena através da breve exposição de uma sequência específica do roteiro de Ran: percebe-se que a própria narrativa cria séries de cenas unidas por uma única ideia – tais como a sequência da emboscada preparada para Hidetora – entre as cenas 38 e 116 (KUROSAWA, OGUNI, IDE, 1986, p. 42-52). Há dois ambientes 164 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 principais que se intercalam nesse conjunto, o castelo (exterior e interior) e a campina. As cenas são curtas, em sua maioria, cada nova informação gera uma nova cena, como por exemplo, o estouro no estábulo que acontece na cena 71 e é descrito como “cavalos correndo loucamente dos estábulos que foram destruídos na explosão” (KUROSAWA, OGUNI, IDE, 1986, p. 47). Até mesmo a frequente indicação do escurecimento da tela – fade out, ou simplesmente OUT no texto – é identificada como uma nova cena. Uma das raras cenas de maior duração é a de número 55, que retrata a volta de Tango (Kent) para junto de Hidetora (Rei Lear) e também a sugestão mal intencionada de ocupação do Castelo III feita por seu conselheiro Ikoma (Gloucester) que o leva a mais um erro de julgamento. Devido à dinâmica interna desta sequência, percebe-se que cada cena tem, como na definição de Syd Field, a duração determinada pela história (2001, p. 112). Quanto à função que desempenha, o roteiro literário não é propriamente uma obra de arte, mas um texto técnico e objetivo que, apesar de englobar primordialmente uma narrativa (sequências, cenas, ambientação, diálogos e descrição de personagens, dentre outras informações), também inclui alguns aspectos visuais relevantes para a composição de uma narrativa fílmica, como por exemplo, um close nos olhos de um personagem durante um momento dramático. A elaboração do roteiro9 é um processo dinâmico que prevê a possibilidade de modificações constantes. Cada versão do roteiro é chamada de ‘tratamento’ e é numerada. A numeração vai sendo alterada na medida em que surgirem quaisquer mudanças no texto do roteiro. Essa numeração começa em 1 e segue até o tratamento final, que consiste na versão correspondente ao filme. No caso de ser encontrado algum problema técnico na elaboração do roteiro, este também pode ser corrigido durante a filmagem (T3), alterando-se, nesse caso, igualmente, a sua numeração. Esse processo interno de mudança do roteiro não é acessível ao espectador em sua totalidade, mas pode ser recuperado, em parte, quando se confrontam duas versões diferentes de um mesmo roteiro. A pré-produção de um filme é finalizada com a concretização do roteiro técnico (T2), fase na qual o detalhamento do roteiro literário (T1) é realizado, segundo decisões técnicas sobre a melhor maneira de contar “a história em imagens”. O roteiro técnico segue a ordem estabelecida pelo roteiro literário. Esta fase incorpora atividades de todas as equipes de trabalho objetivando a preparação dos cenários, a escolha de locações (o encaminhamento de pedidos de interdição de ruas, por exemplo), a escolha do figurino de cada um dos personagens, a elaboração dos planos de filmagem do diretor e também das equipes de fotografia e de som além de outros detalhes anteriores que Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 165 precisam estar definidos para o momento da filmagem. O calendário dos dias de filmagem e os prazos para iniciar a pós-produção devem ser estabelecidos já nesta fase. Alguns meses antes da filmagem propriamente dita iniciam-se também os ensaios com os atores. No decorrer dessa fase, são realizadas reuniões periódicas entre os responsáveis de cada área, juntamente com o diretor, objetivando a coesão e unidade de esforços e de pensamento. Em relação ao trabalho de direção de Akira Kurosawa, sabe-se que, como ele era um realizador que exigia perfeição em todos os aspectos, cada uma das equipes devia se reportar a ele sobre o andamento de suas propostas. O esmero do diretor com todos os detalhes da produção fílmica pode ser constatado nas suas próprias palavras que estão transcritas abaixo: O papel de um diretor envolve o treino dos atores, a técnica cinematográfica, a edição, a dublagem e a mixagem do som. Embora essas possam ser pensadas como ocupações separadas, eu não as vejo como independentes entre si. Eu as vejo juntas, mesclando-se sob o comando de uma direção. (1990, p. 275) Um diretor de filmes tem de convencer um grande número de pessoas a segui-lo e a trabalhar com ele. Costumo dizer, embora certamente não seja um militarista, que, se comparar uma unidade de produção a uma organização do Exército, o roteiro será a bandeira de batalha e o diretor, o comandante da linha de frente. Do momento em que a produção começa ao momento em que termina, não há como dizer o que acontecerá. O diretor deve ser capaz de responder a qualquer situação e deve ter a habilidade de liderança para fazer todo o grupo seguir com responsabilidade. (1990, p. 275-276) Essa capacidade de orquestrar um grande número de pessoas envolvidas nas várias ocupações que estão interligadas à realização fílmica como um todo foi, desde cedo, uma aptidão demonstrada por Kurosawa, antes mesmo de ele se tornar um diretor propriamente dito. Segundo depoimento do diretor e mentor Kajirô Yamamoto, de quem Kurosawa foi, inicialmente, o diretor-assistente no estúdio Tôho: “Ele era capaz de se relacionar bem com as pessoas, mas também sabia ser firme com elas” (Citado em RICHIE, 1998, p. 12). No decorrer dessa fase (T2), alguns cineastas e/ou roteiristas elaboram um storyboard (composto de desenhos detalhados do filme, cena a cena, com cenário, atores, posicionamento de câmera e outros detalhes úteis durante as filmagens). Apesar de o storyboard assemelhar-se, visualmente, a uma história em quadrinhos, ele é, na realidade, um estudo visual das decisões imagéticas 166 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 tomadas durante o roteiro técnico, acrescidas da ação e dos diálogos, que são indicados através de legendas. Para Akira Kurosawa, o T2 está, primordialmente, relacionado com a elaboração de um storyboard. Ele prescindia, a princípio, da figura do roteirista porque ele próprio escrevia seus roteiros10 e os transformava, a seguir, em storyboards de beleza e detalhamento singulares. Por ter tido uma formação sólida em pintura11 antes de ingressar no mundo do cinema, os resultados desses trabalhos pictóricos consistem em verdadeiras obras de arte. Na realidade, Kurosawa entrou para o cinema quase por acaso, quando estava em uma encruzilhada profissional no campo da pintura, sem saber ao certo que rumo seguir em sua carreira. O que impressiona é que existe uma grande proximidade entre as pinturas elaboradas para o storyboard e a imagem filmada, uma vez que seus desenhos são muito detalhados, tanto em ambientação quanto no posicionamento e enquadramento de câmera. Em pelo menos dois momentos da carreira de Kurosawa, os storyboards se constituíram em uma forma de concretização fílmica pictórica para ele. Devido ao fato de não ter conseguido a verba necessária para as filmagens de seus projetos na indústria cinematográfica japonesa, o diretor se dirigia, nessas duas ocasiões, diariamente à sede do estúdio Tôho, onde tinha seu escritório, e trabalhava incessantemente no desenho dos storyboards dos filmes. Sobre esses intervalos em sua filmografia, há dois registros que merecem destaque. O primeiro é de Donald Richie, que presenciou um desses momentos que antecedeu ao filme Kagemusha – A Sombra do Samurai (1980). O segundo é do próprio Kurosawa: O trabalho consistia em desenhar e pintar. [...] Para fixar na memória o próximo filme que queria rodar, ele o estava fazendo à mão. Uma imagem após a outra de samurais, batalhas, cavalos. Suas grandes mãos de artesão estavam pintando uma cena após a outra, com movimentos rápidos e seguros. Ele sempre soube exatamente o que queria fazer. O filme inteiro estava em sua cabeça e emergia através de seus dedos. Como não tinha dinheiro, faria o filme no papel. Que outro diretor – perguntava-me – faria isso, teria tal cuidado e estaria imune ao desespero? (RICHIE: 2000, p. 74) Por um tempo, parecia que este trabalho [Kagemusha] nunca iria ver a luz do dia. Exasperado, porque eu queria que o público de todo o mundo entendesse as idéias que eu tinha para esse filme, eu comecei a pintar quase diariamente, transformando essas imagens em pinturas estáticas. Eu preparei centenas de imagens naquela época. A mesma coisa aconteceu com Ran. Um longo tempo se passou antes que a produção fosse iniciada. (KUROSAWA, 1986, p. 5) Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 167 Dentro da fase de produção, o T3 corresponde à concretização do processo de gravação do filme, em imagens captadas no set de filmagem, a partir dos roteiros literário [T1] e técnico [T2]. As cenas são gravadas não apenas de acordo com um cronograma previamente estabelecido, mas também de acordo com a própria dinâmica do set de filmagem que, geralmente, exige a gravação de várias versões. O registro da listagem de cenas captadas é realizado durante as gravações, através de anotação em uma ficha de filmagem (única para todas as cenas e contendo, aproximadamente, cinco páginas para um curta-metragem), com observações concisas (cena bem sucedida, vazamento de som, falha no diálogo, dentre outros aspectos) sobre cada uma das versões de uma mesma cena. O registro na ficha de filmagem visa auxiliar o processo de montagem do filme que corresponde à edição de imagem [T4]. Durante a filmagem [T3] também é realizada a captação do som direto,12 que será parcialmente utilizada na edição do som. Tanto a ficha de filmagem quanto o som direto gravado durante o T3, serão utilizados na pós-produção [T4] do produto final: o filme. No set de filmagem, todos os aspectos decididos na pré-produção [T1] e [T2] devem estar finalizados objetivando a captura das imagens. Entretanto, os imprevistos fazem parte do processo. Dentro desse contexto, Richie ilustra, muito apropriadamente, o motivo do atraso nas filmagens de Trono manchado de sangue: “Kurosawa se recusava a usar um cenário já pronto porque tinha sido construído com pregos, e as lentes de foco profundo que estava usando poderiam revelar as anacrônicas cabeças de prego” (2000, p. 72). O diretor não poderia ceder nesse ponto, porque uma de suas preocupações se relacionava com a falta de veracidade histórica do gênero jidaigeki. E, nesse caso, os pregos indicariam uma falha nessa questão, porque a arquitetura da época feudal previa apenas o uso de encaixes perfeitos entre as vigas. Além disso, o diretor afirmava que “a qualidade do cenário influi na performance dos atores” (KUROSAWA, 1990, p. 281). Este cuidado com todos os detalhes do filme era uma das características de Kurosawa que o distinguia da maioria dos diretores japoneses. Essa particularidade o impelia, por exemplo, a repetir uma cena, até a obtenção do resultado almejado, fato que pode ser constatado no episódio que está descrito a seguir: No fim do verão de 1958, eu estava num dos sets abertos de A fortaleza escondida, perto do monte Fuji. Mifune13 estava no banho, após um longo dia de filmagens. Eu o estava acompanhando. Fora um dia difícil, em que se rodara uma mesma cena inúmeras vezes. [...] Reparei que, durante aquela cena, a caneta esferográfica de Kurosawa parara de escrever. Em vez de jogá168 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 la fora e arrumar outra, ele passara a tarde inteira, entre as tomadas, tentando fazer aquela mesma caneta funcionar. [...] Mifune estava submerso até o pescoço na água quente. Estivera na cena exasperante. Mencionei a esferográfica. “Sim”, disse ele, “sei o que você quer dizer. Senti-me exatamente como aquela caneta... Mas você percebeu? Ele, finalmente, conseguiu fazêla funcionar.” (RICHIE, 2000, p. 73) Um diferencial de Kurosawa, dentro do contexto cinematográfico japonês de sua época, é que, durante as filmagens [T3], ele captava as imagens das cenas mais importantes com três câmeras. Essa idéia surgiu durante o filme Os sete samurais (1954) uma vez que o posicionamento das câmeras possibilitaria registrar uma gama maior de detalhes e ângulos das imagens. O diretor ressalta, todavia, que existem poucos diretores no Japão que se utilizam dessa técnica porque é extremamente difícil determinar como movimentar as câmeras. Ele exemplifica esse procedimento da seguinte forma: Por exemplo, se uma cena conta com a presença de três atores, todos os três estarão falando e se movimentando livre e naturalmente. Para mostrar como as câmeras A, B e C se deslocam para cobrir a ação, mesmo uma descrição completa de continuidade em cena é insuficiente. O operador mediano também não entenderia um diagrama com movimentos de câmera. Creio que, no Japão, os únicos capazes de compreendê-la são Asakazu Nakai e Takao Saitô. As três posições de câmera mostram-se diferentes do início ao fim de cada tomada, e passam por várias transformações nesse período. Como um esquema geral, coloco a câmera A nas posições mais ortodoxas, uso a B para tomadas rápidas e decisivas e a câmera C funciona como uma espécie de unidade de guerrilha”. (1990, p. 280) Nos filmes Trono manchado de sangue e Ran, esse recurso das três câmeras é utilizado nas longas sequências externas de batalha uma vez que muitos atores, figurantes e cavalos estão envolvidos na filmagem, além do exército de pessoas participando nos bastidores. Todos devem desempenhar a sua função organicamente durante a gravação de uma sequência desse tipo como se fizessem parte das engrenagens de uma máquina. Esse processo é descrito no documentário A.K. por Chris Marker (Documentário-vídeo, 1985), que registra no making-of de Ran a movimentação que antecede a gravação14 da sequência da emboscada a Hidetora, ambientada no Castelo III. Esta sequência, que está parcialmente descrita no documentário, inclui cenas desde a desocupação do Castelo III e a subsequente ocupação da edificação por Hidetora (Rei Lear) até a batalha e a invasão deste mesmo Castelo pelas tropas dos dois Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 169 filhos mais velhos do protagonista. A ação, como um todo, culmina na loucura de Hidetora. Essa sequência de batalha é apresentada em suas três etapas que são o que Syd Field (2001, p. 81) denomina como “começo, meio e fim” deste “microcosmo do roteiro”. Na primeira, figurantes da tropa de infantaria e oficiais da cavalaria, todos portando estandartes15 amarelos (Tarô), devem retomar o castelo das tropas de estandartes azuis (Saburô), entretanto, sem ocupá-lo porque este é o ardil para servir de emboscada para Hidetora. Em um segundo momento, o senhor feudal Hidetora, suas tropas, munidas de estandartes com listras alternadas de amarelo e preto devem entrar no castelo. Na terceira fase, a batalha se inicia com Hidetora ouvindo os ruídos do cerco ao castelo pelas tropas de ocupação, comandadas pelos dois filhos mais velhos, Tarô e Jirô. Toda essa movimentação de figurantes das tropas e de atores representando os comandantes devem se deslocar como ondas que se aproximam do castelo. As figurantes femininas e as atrizes que representam as esposas, concubinas e servas do senhor feudal destituído se desesperam ao perceber o cerco ao castelo. As instruções para todo esse conjunto de pessoas são transmitidas de duas maneiras: enquanto os figurantes são instruídos pelo diretor-assistente sobre a sua movimentação, os atores, colocados em pontos estratégicos, são dirigidos individualmente por Kurosawa. O diretor também dá indicações, através de um esquema gráfico, sobre a dinâmica de movimentação de cada cena à equipe nos bastidores como, por exemplo, os operadores de câmera. A fase de pós-produção, denominada concretização da edição [T4], corresponde às edições de imagem (ou montagem) e de som,16 à finalização, propriamente dita, do filme. Somente na fase da montagem é que um filme deixa de ser um conjunto de fragmentos para ganhar uma conformidade de todo. Logo após a montagem das imagens do filme, é realizada a pós-produção de som (edição de som), que define a atmosfera final do filme17. Kurosawa era um diretor que se preocupava pessoalmente com este aspecto. O diretor cinematográfico e montador Eduardo Escorel (2006, p. 20) discorre, de maneira esclarecedora, sobre a fase de edição: “montar ou editar consiste em escolher e justapor. Apenas isso. É uma operação simples, comum a toda linguagem. No cinema não é diferente. Quem se exprime por meio da linguagem cinematográfica seleciona e combina imagens e sons”. Entretanto, ele enfatiza que esta fase não é a responsável única pela identidade fílmica: 170 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 sendo, em sentido restrito, a última etapa de um processo, a montagem está, por conseqüência lógica, subordinada às etapas que a precedem. Ela não tem, portanto, autonomia completa. Embora seja o momento em que é dada a forma final, o roteiro e a filmagem definem antecipadamente alguns dos parâmetros básicos do resultado a que o filme poderá chegar. (2006, p. 20) Esse autor ainda apresenta a opinião do diretor russo Andrei Tarkovsky (19321986) para reforçar o seu pensamento sobre essa questão: o diretor russo também era contrário aos que “pretendem que a montagem é o elemento determinante de um filme. Dito de outra forma, que o filme seja criado na mesa de montagem” (citado em ESCOREL, 2006, p. 20). Resta salientar que esse posicionamento não desmerece a importância da edição, mas polemiza o caráter onipotente e salvador que lhe foi imputado por alguns diretores e teóricos. Um deles, Orson Welles, afirmava que a única mise-en-scène de real importância é feita durante a montagem. [...] A montagem não é um aspecto, é o aspecto. Encenar é uma invenção de pessoas como vocês: não é uma arte [...] O essencial é a duração de cada imagem, o que segue cada imagem: é toda a eloquência do cinema que se fabrica na sala de montagem. (citado em ESCOREL, 2006, p. 20). Entretanto, Escorel (2006, p. 20) considera que essa afirmação deve ter sido mencionada, antes de tudo, como uma provocação para os entrevistadores da revista Cahiers du Cinema. A tentativa de restabelecer os parâmetros em relação ao grau de importância da montagem é de suma importância, particularmente no Brasil, uma vez que essa fase é tida por alguns profissionais, de maneira um tanto irresponsável, como o momento em que se dá a resolução dos problemas surgidos nas fases precedentes. Torna-se importante enfatizar que na edição de imagem, além do ordenamento e escolha da versão mais adequada de cada cena, pode ocorrer a exclusão de versões bem realizadas. Um exemplo bastante significativo que ocorreu na edição de Trono manchado de sangue foi testemunhado por Richie: O cenário atual representava o palácio provinciano do senhor Washizu18, o personagem de Macbeth, e estava-se filmando a chegada de Duncan: soldados, estandartes, cavalos, um javali empalhado preso em hastes – uma procissão inteira. Quando um assistente deu o sinal, ela começou a avançar sob o sol do outono tardio. [...] Acima de nós, numa plataforma, estava Kurosawa e seu câmera. Tínhamos conversado com o diretor anteriormente, e ele nos explicara seus planos para aquela cena. Agora, o Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 171 observávamos em ação. Gastou-se a tarde inteira com as partidas e paradas daquela procissão distante. Partes da cena estavam sendo filmadas com lentes de foco profundo, depois eram refilmadas várias vezes. [...] Meio ano mais tarde, quando vimos o filme pronto na sala de projeção, não encontramos nenhuma daquelas tomadas. Perguntei a Kurosawa o por quê. As cenas ficaram boas, disse ele, mas não eram realmente necessárias. Ademais, quebravam o fluxo do filme. Joe e eu ficamos estarrecidos (2000, p. 73). Kurosawa esclarece no primeiro trecho abaixo, oriundo de seu Relato Autobiográfico (1990), o que poderia ser considerada uma resposta à manifestação de surpresa deste autor e, em seguida, complementa com o seu parecer sobre o trabalho de edição: O requisito mais importante para a edição é a objetividade. Não importa quanta dificuldade você encontre para obter determinada tomada, o espectador jamais entenderá isso. Se não for interessante, simplesmente não será interessante. Você pode ter-se tomado de grande entusiasmo ao filmar determinada tomada, mas se esse entusiasmo não é transmitido na tela, você deve ser pragmático o suficiente para cortá-la. (1990, p. 282) Editar é um trabalho realmente interessante. Quando os copiões19 chegam, raramente os mostro à minha equipe exatamente como estão. Em lugar disso, vou para a sala de edição no fim do dia de filmagem e, com o montador, gasto três horas editando os copiões. Só depois disso mostro os resultados à equipe. É necessário mostrar esse resultado editado com o objetivo de despertar o interesse. Algumas vezes eles não entendem o que está sendo filmado ou por que têm de gastar dez dias numa tomada. Quando eles vêem a película editada e a confrontam com seu trabalho, tornam-se entusiasmados novamente. E editando da forma como edito, só tenho a montagem de detalhe a completar, depois de terminar a filmagem. (1990, p. 282) A edição de som [T4] é o momento em que decisões quanto à qualidade, regravação ou reforço das vozes dos atores, à sonoplastia e à trilha sonora (algumas vezes, determinadas desde o roteiro literário [T1]), são incorporadas ao filme após a edição de imagem. A totalidade do som do filme, ou seja, diálogos, sonoplastia, efeitos sonoros, trilha incidental, músicas da trilha sonora, etc. constitui-se no ‘desenho ou design de som’. Esse termo designa a evolução da sonorização cinematográfica, herdeira da sonoplastia oriunda das novelas radiofônicas para uma nova realidade. O conceito foi 172 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 desenvolvido a partir de um momento específico da história do cinema que Francisco Leal chamou de “o ponto de viragem na história do som em cinema”, momento este que foi determinado pelo surgimento dos filmes Guerra nas Estrelas e Apocalypse Now20. Estes dois filmes revolucionaram a noção de sonoridade no cinema. A definição atual do termo design de som, segundo esse estudioso, é: Processo técnico e criativo [que utiliza] um sistema de sonorização, [...] para a exploração do envolvimento sonoro de um espetáculo, criando diferentes planos e perspectivas de difusão de som num auditório ou ao ar livre, seja de registros sonoros (música e efeitos sonoros) ou através da amplificação, efetuar o reforço sonoro das vozes dos atores, de forma a manter-se a imagem sonora coerente com a imagem do palco, manipular a captação da voz dos atores ou outros elementos sonoros, processando-a através de efeitos digitais, recriando espaços acústicos, ou efeitos que acentuam o sentido dramático de frases ou palavras, ou o caráter de um personagem, criando imagens sonoras através de um som “vivo” e não intrusivo, mantendo a teatralidade do espetáculo, contribuindo assim com mais um elemento dramatúrgico adequado ao espetáculo. (citado em LEAL, 2006, p. 10) Kurosawa reitera a importância das decisões que são tomadas nessa etapa: Desde o momento em que me tornei um diretor de cinema, penso não somente na música, mas nos efeitos sonoros que colocarei nos filmes. Mesmo antes da câmera rodar, juntamente a todos os outros itens que considero, decido que tipo de som eu quero. Em alguns de meus filmes, como Os sete samurais e Yôjimbo, uso diferentes temas musicais para cada personagem principal, ou para grupos diferentes de personagens. (KUROSAWA, 1990, p. 281) Em Trono manchado de sangue, há duas decisões a serem destacadas em relação ao som do filme. A primeira refere-se à trilha sonora propriamente dita: uma flauta, típica do teatro Nô, entoa uma melodia lúgubre, antecipando o clima do filme. Essa melodia é inserida no momento em que os créditos iniciais aparecem na tela. Esse recurso estabelece uma ligação deste filme com as duas outras adaptações shakespearianas do diretor, Homem mau dorme bem e Ran, porque estas também apresentam a sonoridade da flauta Nô nos créditos, com algumas diferenças. Em O homem mau dorme bem, há a inclusão mais acentuada dos tambores japoneses dialogando com esta sonoridade; em Ran, Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 173 além da presença desta flauta nos créditos, ela também é tocada por uma das personagens no decorrer do filme, reforçando esta ligação. A segunda decisão em relação à edição do som de Trono manchado de sangue refere-se ao prólogo que enfatiza o tom dramático da cena inicial do filme, logo após os créditos, no momento em que a primeira imagem aparece através da neblina. Os versos da “canção off ”, entoados por um coro21 masculino22 (teatro Nô), além de anteciparem “o caminho da perdição”, fazem uma alusão à força da voz feminina que é capaz de induzir o protagonista Washizu a cometer a falha trágica ao levá-lo a ambicionar o poder pela traição. A mesma canção é repetida também nos créditos finais: Olhe este lugar desolado / onde existiu um majestoso castelo / cujo destino caiu na rede / da luxúria, do poder / [Ali] vivia um guerreiro forte na luta / mas fraco diante de sua mulher / que o induziu a chegar ao trono / com traição e derramamento de sangue. / O caminho do mal é o caminho da perdição / e seu rumo nunca muda.23 (KUROSAWA, [Filme-vídeo], 1957) Tal como ocorre no debate das relações entre o texto dramático e o texto da performance proposto por Patrice Pavis que estabelece a “concretização através da recepção” como a última fase no processo de transformação de um texto, uma produção fílmica também estabelece como seu foco de chegada o momento da recepção do filme pelo espectador e pela crítica [T5], realizada a partir de sua estréia nas salas de cinema. Antes do momento que representa o objetivo final de uma realização fílmica, muitas decisões estéticas e técnicas foram tomadas em todas as etapas na série de concretizações textuais que foram sendo explicitadas ao longo desta pesquisa. Apesar de que nos dias atuais um filme, até por uma exigência de mercado, necessite contar com a audiência complementar em DVD (locadoras) e da televisão, o objetivo final e prioritário de uma adaptação fílmica é a exibição na grande tela onde acontece a recepção coletiva do filme pelo público. A exibição de grande parte da filmografia realizada por Kurosawa foi pensada exclusivamente para a sala de exibição. Apenas filmes mais recentes, como Sonhos, Rapsódia de Agosto e Mâdadayo, tiveram que prever outras formas de exibição como suplementares às dos cinemas.24 O planejamento da divulgação, da distribuição do filme e o agendamento de salas para a estreia começam na pré-produção e/ou no decorrer da filmagem. Como já foi mencionado anteriormente, muitos críticos de cinema consideram Trono Manchado de Sangue uma das maiores realizações do diretor Akira Kurosawa, além do filme também ser considerado por muitos como 174 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 sendo uma das melhores adaptações de peças shakespearianas. Dentre estes críticos, Harold Bloom (1999, p. 519) é um dos grandes entusiastas dessa versão realizada por Kurosawa. Quando nos referimos ao contexto da recepção, torna-se interessante mencionar que, em grande parte de sua carreira, Kurosawa foi muito mais valorizado no Ocidente do que no próprio Japão. Zhang Yimou, diretor dos filmes Red Sorghum e Raise the Red Lantern, escreveu que Kurosawa foi acusado de fazer filmes apenas para o consumo externo. De acordo com esse cineasta, em 1950, com o lançamento de Rashômon, primeiro filme japonês amplamente distribuído no Ocidente, Kurosawa foi criticado por expor a ignorância e atraso do Japão para o mundo externo – uma acusação completamente absurda. Yimou (citado em Buffalo Film Seminars VIII, 2000) ainda menciona que quando ele próprio precisa enfrentar na China algum tipo de reprimenda, ele usa Kurosawa como um escudo. Uma outra acusação que pairava sobre Kurosawa é a de que ele produzia filmes ocidentalizados, opinião reforçada pela revista Cahiers du Cinema, particularmente pelos jovens críticos Eric Rohmer, Jacques Rivette e Jean-Luc Godard, futuros cineastas da Nouvelle Vague. O principal motivo para este repúdio, embora eles fossem grandes entusiastas do cinema japonês, aconteceu, segundo Rogério Ferraraz (citado em FERRARAZ, 2002), exatamente por causa das adaptações de obras do Ocidente, dentre elas as de Shakespeare. Isso se caracterizava, na opinião destes críticos, como uma forma de ocidentalização do diretor. Entretanto, vale salientar que esse parecer não encontra nenhum respaldo no contexto crítico-teórico atual que, contrariamente, exalta a importância das abordagens intersemióticas e interculturais. Notas 1 Os termos que envolvem o uso dos conceitos de aproximação e distanciamento não se referem à tentativa de estabelecer uma comparação entre as obras a partir de um critério de fidelidade. Sabe-se que uma tradução intersemiótica assegura um amplo grau de liberdade e de criatividade para aqueles que estão envolvidos no processo tradutório. Os conceitos que dizem respeito ao estabelecimento de equivalências entre os sistemas semióticos estão sendo aplicados no presente estudo conforme a proposta discutida por Thaïs F. N. Diniz (2003, p. 27-42). 2 O homem mau dorme bem foi listado em terceiro lugar, apesar de ser anterior a Ran, por estar inserido na conjuntura do século XX ao invés de estabelecer uma relação com a época feudal japonesa, como ocorre nas outras duas versões. A tradução literal do seu título para o português é “quanto pior o homem, melhor ele dorme”, o que evidencia com mais precisão as sutilezas do enredo. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 175 3 Foram utilizadas duas edições desse livro, a de 1984, traduzida para o português e a terceira edição, expandida em 1998, escrita em inglês. Todas as traduções das citações retiradas de livros em inglês foram realizadas pelas autoras do presente estudo. 4 A indústria cinematográfica hollywoodiana apresenta, muitas vezes, uma dicotomia estúdio X diretores autorais, segundo a qual existem duas conformações possíveis de hierarquia na realização fílmica. A primeira, nos filmes realizados por grandes estúdios, prevê que a coordenação dos projetos esteja a cargo de um produtor. Na segunda, em realizações tidas como autorais, o profissional que detém o poder hierárquico é o próprio diretor. Alguns diretores, mediante contrato, adquirem a autonomia sobre seus filmes, mesmo trabalhando para os grandes estúdios hollywoodianos. No Japão, a situação é um pouco diferente. Há uma maior incidência de diretores autorais trabalhando dentro de estúdios renomados. Um exemplo extremo desta situação foi Akira Kurosawa, que realizou a maioria de seus filmes sob a chancela do estúdio Tôho, com curtas passagens por alguns outros estúdios japoneses. Apesar de seu vínculo com estúdios de renome, Kurosawa não permitia quase nenhuma alteração na concepção de seus filmes. Ele acabou ficando famoso como sendo um diretor difícil de trabalhar, ou seja, que estourava orçamentos e prazos e que se contrapunha às “recomendações, ordens de produtores e empresas produtoras – tudo para criar o filme perfeito, sem concessões” (RICHIE, 2000, p. 74). 5 O bushidô (O Caminho do Guerreiro) engloba o conjunto de preceitos que devem ser seguidos por um samurai objetivando viver uma vida honrada e de valor. A desonra deve ser lavada com sangue entre estes guerreiros, através do suicídio ritual, seppuku, realizado através da técnica de desventramento, o harakiri. Este tópico está bastante desenvolvido no livro Samurai – o lendário mundo dos guerreiros (2006), por Stephen Turnbull. 6 O significado do sufixo ‘geki’ é ‘encenação’, enquanto o termo define-se por seu prefixo ‘jidai’, que significa época. Esse termo, portanto, contrapõe-se diretamente com o significado de ‘gendaimono’, que está vinculado aos filmes ambientados na atualidade. Esta se constitui na mais importante distinção de gêneros dentro do cinema japonês. Os demais gêneros inserem-se nessa grande categoria de diferenciação entre filmes de época ou de atualidade. 7 Em Trono manchado de sangue um único espírito maligno – mononoke – corresponde às três bruxas existentes na tragédia shakespeariana Macbeth. A transformação dessas personagens em um espírito maligno se deve à transposição da tragédia para o contexto cultural japonês: ocorre na versão fílmica de Kurosawa uma aproximação da personagem com elementos tradicionais deste país, como o teatro Nô e o gênero literário conto de terror japonês ou kaidan. “A idéia de um fantasma vingativo é bastante comum, como nos inúmeros filmes kaidan. Aliás, não existem fantasmas sem propósito como no Ocidente. Mas a idéia de um trio de bruxas malévolas está bem longe da imaginação japonesa. [...] a maldade gratuita das bruxas de Shakespeare é inconcebível.” (RICHIE, 1984, p. 118) 8 Nastasya Filippovna é a protagonista do conto “O idiota” de Fiódor Dostoievski (1821-1881) que corresponde à personagem Taeko Nasu da adaptação fílmica O idiota – Hakuchi (1951), de Akira Kurosawa. 176 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 9 O roteiro literário contém características textuais específicas: os verbos devem estar no presente do indicativo, metáforas e elipses devem ser evitadas e os acontecimentos devem ser registrados na ordem em que aparecem no filme e os detalhes técnicos, como a inserção de imagens, devem ser indicados em caixa alta seguidos de dois pontos e alinhados à direita. 10 Entretanto, esse processo criativo caracterizou a produção do diretor apenas até 1940, uma vez que, posteriormente, ele defende a importância de trabalhar com mais uma pessoa na elaboração de um roteiro para não incorrer em dois erros primordiais: “interpretar outro ser humano de forma unilateral” e optar pela “condução do herói e do enredo de forma a tornar mais fácil a direção” (KUROSAWA, 1990, p. 278). 11 A formação inicial deste diretor em pintura transparece não apenas na beleza dos storyboards, mas também no uso diferenciado do contraste e, posteriormente, da cor, em seus filmes. As locações e os cenários dos filmes do cineasta são trabalhados de forma a compor imagens muito próximas às da pintura. 12 O técnico de captação de som direto escolhe a melhor maneira de registrar o som durante o momento da filmagem. Uma opção é um microfone chamado boom, que fica preso a uma haste longa que permite que o microfonista esteja perto da cena sem aparecer na imagem gravada. Outra opção possível é a utilização de microfones embutidos no vestuário dos atores, os chamados microfones “lapelas”. 13 Toshirô Mifune foi o protagonista de muitos filmes de Akira Kurosawa, entre eles, Trono manchado de sangue e Ran, até se desentender com o diretor durante as filmagens de O Barba Ruiva (1965). 14 Essa é uma sequência (externa e interna) filmada no Monte Fuji. O mesmo local foi utilizado para a construção do castelo do filme Trono manchado de sangue. 15 Os exércitos são identificados em Ran pelas cores dos estandartes: estandartes com listras alternadas de amarelo e preto, para a facção de Hidetora (Rei Lear); amarelos para os seguidores de Tarô (correspondente à Goneril); vermelhos para as tropas de Jirô (correspondente à Regan) e azuis para os partidários de Saburô, (correspondente à Cordélia). 16 Akira Kurosawa ilustra com um fato peculiar à edição de som, mais especificamente, dos efeitos sonoros, sons criados artificialmente para o filme. Ele inicia um dos capítulos do seu Relato autobiográfico narrando incidentes relacionados à sua impaciência. Ele próprio fala sobre uma dessas ocorrências cujo resultado acabou sendo bemsucedido: “Uma outra vez, eu gravava o som correspondente a uma batida na cabeça de alguém. Tentávamos usar várias coisas, mas o resultado não nos convencia. Finalmente, eu perdi a paciência e esmurrei o microfone. A luz azul sinalizando “ok” acendeu-se” (1990, p. 167). 17 Um evento recente de pirataria que se constituiu na veiculação ilegal e antecipada do filme Tropa de Elite, antes da estreia nos cinemas, está diretamente relacionado com as etapas de montagem e da edição de som no que se refere à sua primeira recepção. A montagem final do filme exibida nos cinemas exclui uma cena que caracterizaria, possivelmente, os policiais como nazistas. Está sendo cogitado que a exclusão dessa cena ocorreu devido a essa percepção negativa pela plateia ‘pirata’. Embora os espectadores ‘piratas’ tenham tido acesso à integralidade do filme, eles saíram prejudicados quanto à edição de som. Essa versão contava apenas com o resultado da Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 177 captação direta de som, uma vez que a edição de som estava para ser realizada numa fase posterior. 18 O “palácio” descrito por Richie refere-se à Mansão do Norte. 19 Na época do cinema analógico, copiões eram as cópias brutas das imagens registradas em película durante as filmagens. Elas formavam a base para a edição linear (edição realizada diretamente na película, cortando e montando os pedaços um a um). Hoje, com as câmeras digitais, o filme é registrado em DVD ou no disco rígido da câmera, e depois montado no computador, o que é chamado de edição não-linear. 20 Surge, com esses dois filmes, uma nova conceituação em relação à captação e produção sonora: é introduzido, nesses filmes, o logotipo “Dolby Stereo” que anuncia uma evolução no processo de reprodução analógica, que se compunha, pela primeira vez, de quatro canais e era munido de uma tecnologia de redução de ruído. Além desse fator, também aparece na lista de créditos um título profissional inédito até então, o “sound designer”, o que atesta a preocupação crescente com a qualidade sonora dos filmes. 21 O coro foi utilizado por Kurosawa pela primeira vez em O anjo embriagado (1948), na forma “de um coro comentarista” (RICHIE, 1998, p. 52), que apresenta aspectos da personalidade de um dos personagens principais, o gângster. Esse recurso é retomado em O homem mau dorme bem, através dos jornalistas e das manchetes dos jornais. Os primeiros atuam como comentaristas do escândalo de corrupção atual, entre uma construtora e uma estatal da área de fomento de terras devolutas. Eles também se reportam a um escândalo anterior ocorrido em outra estatal cinco anos antes e que culminou no suicídio induzido do pai do protagonista. Esse coro atua, principalmente, durante a sequência inicial que retrata um casamento. Quanto às notícias, elas aparecem diretamente na tela, mostrando os desdobramentos do escândalo em curso ao longo do filme. 22 Essa gravação deve ter sido realizada em estúdio por cantores contratados durante esta etapa. 23 Copiado da legenda em português do DVD. 24 Havia uma defasagem de alguns anos entre o lançamento nos cinemas e a versão em VHS ou DVD mesmo nos filmes mais recentes. O prazo extremamente curto, com diferença de poucos meses, entre o lançamento de um filme nas salas de exibição e sua veiculação nas locadoras e lojas de DVDs é um fenômeno que se iniciou na última década, portanto, após a morte de Akira Kurosawa. REFERÊNCIAS Buffalo Film Seminars VIII, University of Buffalo. (The State University of New York). Apresentação sobre o filme Trono manchado de sangue em 30/03/2004. Disponível em: http://wings.buffalo.edu/academic/ center/csac/throne2.pdf. Acesso: 23 mar. 09. BLOOM, Harold. Shakespeare: a invenção do humano. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. 178 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 DINIZ, Thaïs Flores Nogueira. Literatura e cinema: da semiótica à tradução cultural. Belo Horizonte: O Lutador, 2003. ECO, Umberto. Seis Passeios nos bosques da ficção. Trad. Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. ESCOREL, Eduardo. (Des) importâcia da montagem. In: PUPPO, Eugênio (org.). A Montagem no Cinema. [S.I.] Centro Cultural Banco do Brasil e Heco produções, 2006. FERRARAZ, Rogério. “Akira Kurosawa - o samurai”. In: Revista de Cinema, São Paulo - SP, v. 23, p. 26 - 31, 04 mar. 2002. Disponível em: http://www2.uol.com.br/ revistadecinema/fechado/dossie/edicao23/ dossie_01.html. Acesso: 23 out. 08. FIELD, Syd. Manual do roteiro: os fundamentos do texto cinematográfico. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. HINDLE, Maurice. Studying Shakespeare on Film. New York: Palgrave MacMillan, 2007. KUROSAWA, Akira. Relato autobiográfico. 2. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 1990. KUROSAWA, Akira; OGUNI, Hideo; IDE, Masato. Ran the original screenplay and storyboards of the Academy Award-winning Film. Trans. Tadashi Shishido. Boston: Shambhala, 1986. LEAL, Francisco. “Sonoplastia & Desenho de Som”, 2006. Disponível em: http:// francisco-leal.com/docs/som.pdf Acesso: 16 nov. 2009. O’SHEA, José Roberto. Performance e inserção cultural: Antony and Cleopatra e Cymbeline, King of Britain em português. In: CORSEUIL, Anelise R.; CAUGHIE, John (org.). Estudos culturais: palco, tela e página. Florianópolis: Insular, 2000. PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. Trad. J. Guinsburg e Mª Lúcia Pereira. São Paulo: Perspectiva, 1999. ______. A análise dos espetáculos. Trad. Sérgio Sálvia Coelho. São Paulo: Perspectiva, 2003. (Coleção Estudos) ______. Theatre at the Crossroads of Culture. London and New York: Routledge, 1992. PLAZA, Júlio. Tradução intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 2003. RICHIE, Donald. Os filmes de Akira Kurosawa. São Paulo: Brasiliense, 1984. ______. Retratos japoneses: crônicas da vida pública e privada. São Paulo: Unesp, 2000. ______. The Films of Akira Kurosawa. 3rd ed., expanded and updated with a new epilogue. Berkekey, Calif.: University of California, 1998. SHAKESPEARE, William. Macbeth In: Hamlet e Macbeth. Trad. Anna Amélia Carneiro de Mendonça (Hamlet) e Barbara Heliodora (Macbeth). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. TURNBULL, Stephen. Samurai: o lendário mundo dos guerreiros. São Paulo: M. Books, 2006. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 179 REFERÊNCIAS FÍLMICAS A.K. [Documentário-vídeo]. Direção de Chris Marker. Paris: Greenwich Film Production.Tóquio: Herald Ace/Nippon Herald Filme, 1985. 01 DVD, 71 minutos, son., color. Trono manchado de sangue (Kumonosu-jô). [Filme-vídeo]. Direção de Akira Kurosawa. Tóquio: Tôho produtora, 1957. 01 DVD, 110 minutos, son., preto e branco. Legendado. Port. O homem mau dorme bem (Warui yatsu hodo yoku nemuru). [Filme-vídeo]. Direção de Akira Kurosawa. Tóquio: Kurosawa films, 1960. 01 DVD, 151 minutos, son., preto e branco. Legendado. Port. Ran. [Filme-vídeo]. Direção de Akira Kurosawa. Tóquio: Herald Ace/Nippon Herald Filme/Greenwich Film Production, 1985. 01 DVD, 162 minutos, son., color. Legendado. Port. Artigo recebido em 05 de fevereiro de 2009. Artigo aceito em 12 de agosto de 2009. Célia Arns de Miranda Pós-doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob os auspícios do CNPQ no período de setembro de 2008 e fevereiro de 2009. Doutora em Literaturas Inglesa e Norte-Americana pela Universidade de São Paulo (USP). Professora de Pós-Graduação em Estudos Literários da Universidade Federal do Paraná (UFPR); Professora do Curso de Letras (graduação) do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas (UFPR); Membro do Centro de Estudos Shakespearianos (CESh). Membro da International Shakespeare Association (ISA). Líder do Grupo de Pesquisa “Literatura e outras artes” (CNPQ). Suzana Tamae Inokuchi Aluna do Curso de Letras Português-Inglês em 2009. Participante do Programa de Iniciação Científica na Universidade Federal do Paraná, sob a orientação da Profa. Dra. Célia Arns de Miranda. Membro do Grupo de Pesquisa ‘Literatura e outras artes’ (CNPQ). Mestranda do Programa de Pós Graduação em Letras (Estudos Literários) da Universidade Federal do Paraná UFPR). 180 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 “CRUEL ARE THE TIMES”: AN ANALYSIS OF SCENE 2, ACT 4 IN THREE PRODUCTIONS OF MACBETH1 Dolores Aronovich Aguero [email protected] RESUMO: Provavelmente o momento mais chocante em Macbeth de Shakespeare ocorre quando a família de Macduff é massacrada, na cena 2, Ato 4 da peça. Ainda que Macbeth não esteja presente nesse banho de sangue, é ele que manda executá-lo, e nesse instante ele se torna um assassino em série. Na peça, a maior parte da violência acontece no palco. A maneira como essa cena é montada varia de acordo com as intenções de cada produção. Este artigo analisa a cena mencionada em três produções: Macbeth, o filme feito para a TV em 1979, baseado na aclamada montagem de Trevor Nunn, com Judi Dench e Ian McKellen, o filme de 1971, Macbeth, dirigido por Roman Polanski, e Homens de Respeito (1991), de William Reilly. ABSTRACT: Probably the most shocking moment in Shakespeare’s Macbeth occurs when Macduff ’s family is slain, in scene 2, Act 4 of the playtext. Though Macbeth is not present in this bloodbath, it is he who orders it, and at this instant he becomes a serial killer. In the playtext, much of the violence happens onstage. How this scene is staged and shot varies according to the production and its intentions. This paper analyzes this scene by looking at three very different productions: Macbeth, the 1979 TV movie based on Trevor Nunn’s acclaimed stage production with Judi Dench and Ian McKellen, the 1971 film Macbeth directed by Roman Polanski, and Men of Respect, a 1991 film by William Reilly. PALAVRAS-CHAVE: Violência. Shakespeare. Macbeth. Adaptação fílmica. Análise da performance. KEYWORDS: Violence. Shakespeare. Macbeth. Film adaptation. Performance analysis. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 181 Macbeth, Shakespeare’s bloodiest tragedy, has a plot of murder after murder. The killing of Macduff ’s whole family is the most shocking episode. This is the moment in which Macbeth definitely becomes a serial killer, ordering the murder of innocent women and children. Before, when he hires men to kill Banquo and his son, Fleance, also a child, it could be argued that he is trying to defend his permanence on the throne. But Macduff ’s family poses no threat to him. And what is even worse, he knows that Macduff has fled to England and that his wife and children are alone and helpless. In the playtext, this terrible massacre occurs throughout scene 2 in act 4 and basically happens onstage: Lady Macduff discusses with Rosse why her husband abandoned her; Rosse leaves; the Lady exchanges some bitter banter with her son about his father; a messenger comes to warn her and flees; murderers appear at her castle and stab Macduff ’s son; and the last stage direction in the scene reads “Exit Lady Macduff crying ‘Murder!’ and pursued by the Murderers.” I propose to analyze how this barbarous scene is acted out in three productions. First, the made-for-TV film of 1979, which closely follows Trevor Nunn’s acclaimed stage production of 1976, with Ian McKellen and Judi Dench in the main roles. Second, Roman Polanski’s 1971 film, Macbeth, certainly one of the most graphically gory adaptations of a Shakespearean play ever brought to the screen. Finally, William Reilly’s Men of Respect, which updates the story to the U.S. in 1991, trades kings and thanes for mobsters and thugs, and uses the kind of English these tough people would use today. I feel I must justify my choice, for Men of Respect is not considered “real” Shakespeare, since it does not use his language. Akira Kurosawa’s Throne of Blood, loosely based on Macbeth, faced the same predicament when it was released in 1957. Peter Brook, for one, though praising the film, did not consider it a Shakespearean production, because it did not make use of the bard’s text. Some decades later, however, it has become “a part of our thinking about Shakespeare’s Macbeth” (DAVIES, 1994, p. 154). Few scholars refuse to see it (and Ran as well) as filmed Shakespeare. Men of Respect does not share this privilege. The message seems to be: it is acceptable to update Shakespeare’s English—as long as this is done in another language, like Japanese, and preferably by a canonic director, like Kurosawa. To cite an example of this prejudice, Stephen M. Buhler dedicates a whole book to the subject of screen adaptations, Shakespeare in the Cinema: Ocular Proof, but not a single word to Men of Respect. It is not even in the index. I want to analyze this film because, if, ultimately, the aim in performance analysis is to liberate the performance from the text, little could be as liberating as this 1991 production. Having said that, I want to stress that in this paper I am dealing with 182 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 a TV film and two movies for the screen, not with any stage production. Not even Nunn’s made-for-TV movie can be regarded as a faithful embodiment of his successful 1976 production for the Royal Shakespeare Company, since the movie uses a different language, adequate for its medium, although for Bernice Kliman “television, that hybrid medium, can leap more towards its stage side, less towards its film side” (1995, p. 101). In any case, we must be careful not so see films as the definitive performance text (which means a text that includes not only verbal language, but also music, light, costumes etc). James C. Bulman cites Lanier to warn us of the tendency of replacing “the old textuality with a new form of performance textuality” (1996, p. 2-3). This is an essentialistic and totalitarian bias that must be overcome. A theater performance, after all, is ephemeral, but a movie stays fixed, “frozen in time,” and can be viewed over and over again (HALIO, 2000, p. 19). But just because we appreciate, say, what Polanski does with the scene of the massacre of Macduff ’s family does not mean we should expect every invasion of the castle to be treated the same way. In Trevor Nunn’s TV movie, both Lady Macduff and her son wear white. She wears a crucifix, and the sound of bells can be heard, so we get the impression that she might be in a convent, not in her castle. The black robe of Rosse contrasts with the white clothes of Lady Macbeth and her son. As this production, like its stage predecessor, only cut ten percent of the lines in the playtext, the scene remains quite wordy. The dialogue between Rosse and the Lady in the beginning of the scene, for one, is intact. While the boy cleans a sword, perhaps unknowingly getting ready to fight, the two adults talk about Macduff ’s leaving Scotland. Rosse seems concerned, whereas the Lady looks conformed, albeit sad. He starts the speech “But cruel are the times when we are traitors / And do not know ourselves” (18-21) almost as an aside, with great feeling, and the Lady touches his arm in a sympathetic move as he finishes. When Rosse says that, if he stays, “It would be my disgrace and your discomfort” (28), the Riverside edition of the playtext explains that it means “I should weep”. This is not the way I read it, and it is not how it is played in Nunn’s production. I understand Rosse’s line as an indication that Lady Macduff may say more awful things about her husband, and later on she might regret having said them. Ian McDiarmid’s acting favors this interpretation, for he looks ashamed, rather than about to weep, after the Lady tells him her boy is fatherless. McDiarmid opens his arms when he says “I am so much a fool, should I stay longer,” and then leaves abruptly. John Barton observes that a short line like “I take my leave at once” (29) usually represents a pause, and Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 183 the actor needs to choose between pausing before or after delivering it (1984, p. 31). McDiarmid chooses to break it in the middle, after “I take my leave,” giving it a larger sense of urgency. Rosse, as interpreted by Ian McDiarmid, indeed does not know himself. We could see him less as a traitor than as a typical politician, who changes sides according to the tide. Ian McKellen comments in an interview included in the DVD of Macbeth that when the prime minister of Britain, Ryan Wilson, saw a performance in 1976, he said that the most familiar character in it was Rosse, who takes advantage of political situations. Rosse is a character that, even more than others, will have to be shaped by the actor. A. C. Bradley points out that all the characters in the play except Macbeth and his Lady are sketches, not individualized, and interchangeable (1989, p. 326). For Harold Bloom “[t]he drunken porter, Macduff ’s little son, and Lady Macduff are more vivid in their brief appearances than are all the secondary males in the play, who are wrapped in a common grayness” (1998, p. 517). Harry Berger Jr. admits that Rosse, “in spite of his predominance, remains essentially a choric figure, the voice of the thanes” (1997, p. 87). It is important to note that the thanes in this production do not look fit to fight. They are politicians rather than warriors, polite rather than practical men of action, as emphasized by Kliman (1995, p. 106). Thus, in Nunn’s production both Rosse and later in the scene another thane, Angus, are decorous enough to be worried about Lady Macduff ’s fate, but, of course, not brave enough to hang around to defend her as danger approaches (McDiarmid even grimaces when he pronounces the word fear on line 5). In Polanski’s film, on the other hand, Scotland is such a corrupt society that the thanes seem more than physically strong and war-like—they are murderers themselves. Rosse is the best example. In this movie in which forty percent of Shakespeare’s lines are cut (ROTHWELL, 1983, p. 50), after all the alterations Rosse becomes the most abominable of characters, even more abominable, perhaps, than Macbeth himself. Here Rosse helps to defeat Cawdor, supports Macbeth, not only supervises but takes part in Banquo’s murder (he becomes the mysterious third murderer), disposes of the two murderers, bribes a servant to open the gates to Macduff ’s castle, then betrays Macbeth because the king prefers Seyton, informs Macduff, pretending to be upset about something he himself has caused, and finally removes the crown from Macbeth’s severed head and gives it to Malcolm. As Rothwell puts it, John Stride’s Rosse “is the quintessence of the smirking sociopath” (1983, p. 52), an “embodiment of evil” as significant as Iago, Edmund, and Aaron, the Moor (p. 54). Kliman, however, does not see Rosse as a Iago because the 184 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 thane is ticked by ambition, not by mere evil (1995, p. 127). In the 1971 film, scene 2 in Act 4 starts with children playing in the courtyard of Macduff ’s castle. Rosse and the Lady, with her arms crossed, have a quick conversation. When the Lady mentions that even “the poor wren” would defend her offspring against the owl (lines 9-11), she points with her head to the kids playing off-camera, referring to them as “her young ones.” Rosse looks in that direction and smiles. Little does the Lady know that the owl stands right in front of her. The saddest point is that she trusts Rosse: he is her cousin, and when he lists Macduff ’s qualities (15-17) she nods, agreeing with him. Naturally, lines 18-21, which mention treason and knowing traitors, are omitted, for this Rosse knows himself very well, and does not necessarily see the times as cruel. A cynical traitor, he hugs and kisses the Lady and her son, and mounts his horse preparing to leave. While Lady and son are seen holding hands entering the castle, we follow Rosse gesturing to the gatekeeper to leave the gate open. The murderers arrive just as he turns his back, but it is certain that he sees them coming up the trail and vice-versa. In Reilly’s Men of Respect, there are no Rosse or messengers. In fact, this might be the scene in the film which departs most vividly from the play’s plot, for Macduff is still in his castle, so to speak. That is, Macbeth is not so cruel and merciless as to order the killing of women and children; his objective is to kill Macduff, and the murder of the rest of the family is a mere side effect. Besides, the means he employs, as we shall see later, sound less savage than the invasion Macbeth promotes in Shakespeare’s playtext (and much less savage than how this invasion is portrayed in the two other films). In Men of Respect a little boy plays with cards in front of his house. Two suspiciouslooking men appear, asking him where his dad is. At this point we still do not know who those men are or what their intentions are. They may well be looking for Macduff (in the film called Duffy) in order to kill him. The boy goes inside and tells his father, who is shaving, about the men. Duffy asks them to wait in the kitchen, and the boy inquires whether it is necessary for them to go to the zoo with two bodyguards. Duffy tries to fool him into thinking that the men are coming along just for fun, but the boy outsmarts him, as we can see in his line “You expect me to believe that?”, which is as spunky as the lines Macduff ’s boy says. Duffy looks at him in admiration while Mrs. Duffy comes down and does not seem very happy, as her body language shows (she puts her hands in her pocket) when she becomes aware that their zoo visit would not be private. In the playtext, the second part of scene 2 starts when Rosse leaves, and it involves a conversation between Lady Macduff and her son, in which Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 185 she tells him his father is dead, and he negates it. The boy’s lines provide a bit of comic relief in a moment filled with horror, because we know what is going to happen, since we have heard Macbeth’s command to invade the castle and “give to th’edge of th’sword / [Macduff ’s] wife, his babes, and all the unfortunate souls / That trace him in his line” (4.1.151-3). For Bradley, the boy “is perhaps the only person in the tragedy who provokes a smile” (1989, p. 333). He is witty—maybe too witty for his age—as he beats his mother at every turn. All she can do is call him “poor bird” and “poor monkey.” In Nunn’s film there is no laughter between mother and son during this chat, only sad, shy smiles. The Lady tries to embrace her child as she tells him about his father, but he disentangles himself, for he does not want to hear his mother foretelling Macduff ’s death or calling him a traitor. About twelve lines are cut here, but the scene is still long, interrupted only by the arrival of a nervous messenger, who is none other than a thane, Angus. As soon as he appears, the Lady immediately stands up and hides the boy behind her, proving that she, unlike Macduff, has “the natural touch” of what it means to be a mother (9). Meanwhile, the little boy gets his sword, in an instinctive act of protection. The Lady is scared, but the boy acts “like a man,” one of the themes in Macbeth, and remains brave and fearless. Since the messenger is a thane whom Lady Macduff probably knows well, his first lines, “I am not to you known” (65-6), are cut out. After the thane delivers the line “Which is too nigh your person” (72), the three of them hear a noise. The thane-acting-asmessenger’s reaction is to flee on the spot. The frightened Lady asks “Whither should I fly?” looking in his direction, but he is already gone. Holding her son, she becomes resolute when she says, “But I remember now” (74). The rest of her lines, until the murderers appear, are said almost as an aside, since the boy shows no reaction at all. This might work on stage, but on TV it seems a bit strange for mother and son to be so calm and passive knowing that the murderers are already inside the castle. Or maybe the actor playing the boy is unconvincing, but something does ring false in this part of the scene. In Polanki’s film seventeen lines of the dialogue between mother and son are cut, and the whole messenger role and Lady Macduff ’s subsequent speech are left out. However, somehow the messenger is present, for we can observe in the background two hoodwinged falcons that act as messenger birds. In any case, the Lady and child remain unwarned of the danger. But we do not: not only do we have the feeling that we have watched Macbeth’s order, Rosse’s bribe, and the murderers coming in, but now we start hearing off-screen screaming as early as the boy asks “What is a traitor?” The terrified screams continue throughout, though it takes a while for the characters to 186 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 hear them. When they hear the shouting, they stop talking, so the Lady’s last line to her son, here, is “God help thee, poor monkey.” Polanski’s and Kenneth Tynan’s (the famous critic, and scriptwriter of the film) decision to heavily edit the lines makes sense: after all, who would pay any attention to them with all the yelling in the background? While this shouting is going on, however, and while mother and son talk, Lady Macduff is very active. She never stops: she collects some clothes lying on the floor, hangs them up, pours water for her son’s bath, makes the bed etc. The boy is taking a bath, nude, obviously, standing erect inside a wooden tub. Now, too much has been made of Polanski’s film being a Playboy production. Purist critics obsess with Lady Macbeth’s nakedness in her sleepwalking scene, and very sexist critics call the naked witches an image so horrifying as the blood in the playtext (PEARLMAN, 1994, p. 254). Even the naked boy being bathed by his mother is considered a gift for pederast voyeurs (ROTHWELL, 1983, p. 50). The real question is not whether these scenes would be present if it were not a Playboy production, but whether scholars would obsess over them if the Playboy label did not appear in the film, for these scenes are far from sexy. I prefer Bruna Gushurst’s explanation that nudity in this movie is used to make the characters more vulnerable (qtd. in KLIMAN, 1995, p. 139), rather than a gift for voyeurs. I mean, one has to be a very sick voyeur to gain sexual gratification out of a bloody production like Polanski’s Macbeth. Though we might be too absorbed by the off-screen shouting and by the onscreen nudity to notice it, telling stage business happens during this scene. For instance, the boy has a green ball with him while taking his bath, and he throws it on the floor after his mother tells him his father is a traitor. For Halio, stage business can illuminate “an aspect of the play that might otherwise remain hidden or obscured” (2000, p. 65). We can see this when the Lady answers the boy about how she will do without a husband with the notorious line, “Why, I can buy me twenty at any market” (line 40), while she pours water from a vessel. This, I think, is an attempt to balance the boy’s wit by giving the mother some wit of her own. We can also see this in the sardonic gesture she makes with her hand when she mentions that traitors must be hanged, imitating hanging with her hands. Indeed, Polanski’s society is so full of violence that even mothers play with their children about hanging men. In Men of Respect, the context is different: the boy does not care to find out if his father is a traitor, but if he is a wise man. His mother, Mrs. Duffy, is much more supportive of her husband than any of the Lady Macduffs in the two other films, probably because he is still at home, shaving, Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 187 and not off to England. She answers that “He’s your father and he loves you, and that’s all you need to know.” The witty boy, smiling, replies that “It doesn’t answer my question.” And she, straightening his shirt and telling him to behave, shows that she, too, can be witty by making a pun, “You’re the only wise guy I know.” This is as far as the conversation between mother and child goes, for the camera reveals Duffy answering an unwanted phone call, and insisting to “George,” the caller, that he is “out of it.” The third and last part of scene ii only runs five lines (80-5) in the playtext, but it is the most shocking part, visually speaking, for it is here that the murderers come face to face with their victims. Lady Macduff expresses her ultimate loyalty to her husband as she refuses to tell the murderers where he is located, and answers instead, “I hope, in no place so unsanctified / Where such as thou mayst find him” (81-2). When a murderer calls him a traitor, the boy reacts in some way not specified by stage directions, only accusing the murderer of being a liar and a villain. The murderer says, “What, you egg!” and stabs him. According to the directions, the little boy dies on stage, not before urging his mother to run away. I have to admit that, whenever I read the play, I see the stage direction related to young Macduff ’s death the same way I see the one regarding Iras in Act 5, scene 2 in Antony and Cleopatra: with some suspicion. How do they die so fast? Not that I have seen many people die in front of me to know how long it takes, but in films, where all my forensics knowledge comes from, it usually takes a while. Thus, I consider these deaths a crux that directors staging performances have to deal with. But some scholars, like David Worster in his fascinating article “Performance Options and Pedagogy: Macbeth,” reason that we should read stage directions in Shakespeare’s plays as mere editorial choices, without making the mistake of seeing them as “‘intended’ or ‘natural’ or ‘obvious’ or even just the ‘best’” (2002, p. 368). So, does the boy die onstage? If so, what happens to the body? Is it left onstage? Does Lady Macduff run away carrying it with her? E. A. J. Honigmann argues that the child’s actual dying happens offstage, and that Shakespeare does so in order to prevent our hatred of Macbeth too soon. According to him, the first death onstage only occurs in 5.7.11 (1976, p. 137-8), Siward’s murder. Of course, we have to ponder whether it makes a difference if young Macduff is simply slain, and then crawls off to die offstage, or if he immediately dies onstage because he is mortally wounded. Is the first option less violent. Is the first option any less violent than the second? How the three films deal with this crucial moment of the playtext provides an interesting analysis. In Nunn’s movie, two of the murderers appear with stocking masks 188 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 covering their faces, creating a terrifying effect. The camera shows Lady Macduff moving back a few steps, protecting her son, trying to escape the first murderer, only to notice that there is another murderer behind them (Kliman points out that he is played by the same actor who plays Macduff in the film, Bob Peck, implying that he is guilty for having left his family. But we cannot really see his face because of the mask). When she tries to move away, a third assassin appears: this time it is Seyton, without any disguise. He also accuses Macduff of treason. The boy says, “Thou liest, thou shag-ear’d villain!”, which causes the first murderer to hold him in his lap and shake him up and down with his dagger. This scene, albeit abhorrent, does not work very well because, frankly, the boy appears to be dead even before he is actually killed. His way of saying “He has kill’d me, mother: / Run away, I pray you!”, very slowly and broken, before falling onto the floor, can hardly be considered good acting. Lady Macduff kneels down, touches the bloody boy, and cries “Murder!” four times. We do not see who holds her arms, who covers her mouth, or who cuts her throat, for the camera is focused on her. When they take hold of her, she stretches out both her arms, suggesting a crucifix, and her throat is cut onscreen, while men deny her even the right to scream. All the three films use the cinematic technique of dissolving to cut this scene and go on to the next one. That is, one image is gradually juxtaposed by another, and the two frames simultaneously appear onscreen for a couple of seconds. But each film shows an altogether different character and has diverse purposes in their dissolves, as we shall soon see. In Nunn’s dissolve, for instance, while we watch Lady Macduff dying, the next scene already shows Macduff in a full shot, looking very concerned. Polanski has affirmed that the violence inflicted on the Macduff castle mimics the Nazi invasion his own house suffered during World War II (PEARLMAN, 1994, p. 253), but echoes of his wife Sharon Tate’s murder by Charles Manson are also present, especially in the third part of scene ii, when Lady Macduff leaves her room as she finally hears the shouting. She sees a smiling man coming up the stairs and goes back to the room, trying to protect her child. The man goes in too, followed by another murderer. The first man picks up with his sword the vessel she used for preparing the bath of her child, and smashes it on the floor. He slowly moves to the other side of the room, stopping to look at the messenger birds, and then analyzing the objects on the mantle over the fireplace. Rothwell believes “[t]he film offers no more chilling shot than the spectacle of Ian Hogg […] as First Thane contemptuously sweeping the ornaments off the terrified Lady Macduff ’s mantle” (1983, p. 54). This whole part has no dialogue. The thane finally breaks the silence with Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 189 the question “Where is your husband?” Lady Macduff is still proud and fearless as she answers him. The second murderer, who has not moved over to the other side of the room, stands by the door, so now the Lady and her son are trapped. The second murderer laughs at the Lady’s response, and it is he who accuses Macduff of treason. The camera cuts quickly from the man at the fireplace throwing everything on the floor to the boy’s reaction, moving over to the second murderer to kick and hit him. Now Lady Macduff is scared: she does not even know where to look. The second murderer stabs the boy on the back, at the same time saying “Young fry of treachery!” The boy then goes slowly to his mother and informs her of his death, but does not tell her to run away. When Lady Macduff sees the man’s dagger, she hugs the boy and tries to scream. Then she observes the blood on her hands. As the first man sits down on the bed that she had straightened, the second murderer struggles with her, taking the boy from her grasp, throwing him on the floor and grabbing her. All the gestures here indicate she will be raped—the first man laughs and apparently waits for his turn on the bed, the second murderer tries to subdue her. She somehow manages to hurt his eye, open the door, and run out. In the corridor she sees, and so do we, two soldiers holding a screaming woman to the floor, while another rapes her. The Lady goes to the first door, unnoticed by the soldiers, and sees two corpses of children covered in blood. The camera moves to a nearby room which is burning, tragic music begins, and in the midst of the flames we glimpse a cross before the fire consumes everything. The dissolve in this film involves a doctor, watching through a diamond-shaped window. We are back to Macbeth’s castle, as if it were possible to spy on Macduff ’s castle from there, as if the doctor were watching what happened to Lady Macduff. Now the sleepwalking scene starts. By changing the order of the scenes (what comes after the family massacre in the playtext is the long and unanimously panned scene between Macduff and Malcolm), Polanski reinforces the bond between the two ladies. This bond has already been established in the framing of the castles’ gates, when in the beginning of the film Lady Macbeth receives a letter from her husband. The two ladies, after all, have something in common: both will suffer horrible deaths. In Reilly’s film, Mrs. Duffy’s and her son’s deaths are much more impersonal, almost accidental. When Duffy’s conversation over the phone starts taking too long, the movie cuts to his wife and child waiting impatiently in the car. As the boy, sitting on the driver’s seat, plays by the window, she complains, “Your father doesn’t know how to take a day off.” Finally, Mrs. Duffy sighs and instructs her son to move over. They exchange seats, she 190 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 turns on the engine, and the camera cuts to the house, where we see Duffy saying, “I’m hanging up.” A huge explosion happens within the house and the men fall onto the floor. Duffy is the first to stand up, and he cries “Oh Jesus, no!” as he rushes out. While we hear indistinct cries of Duffy from the outside and the noise of a phone off the hook, the camera pans over the debris on the floor, until it stops at a shattered family picture. It is unnecessary to spell out what has happened to Duffy’s wife and son because the camera has already done so for us. But the dissolve in this film is the cleverest: as the image of the family portrait begins to fade, the image of Macbeth/Battaglia staring upfront starts to appear. The camera thus literally frames him! This is a relevant touch because we have not seen Battaglia’s ordering the murder, only the witches/fortunetellers advising him to be aware of Duffy. Even though the idea of a wife starting a car that explodes and being killed instead of her husband is a bit too reminiscent of the patron of all gangster movies, The Godfather (not to mention that Battaglia and Don Corleone share the same first name, Michael, or that one of Duffy’s bodyguards uses a beret, which is what everyone seems to wear in Corleone’s Sicily), the film still presents smart links to other sections of this production. For instance, Duffy’s child plays with cards, and now Battaglia and his henchmen do the same thing. In the following scene, when Lady Macbeth/Ruthie will appear to be obsessed over dirty linen, Battaglia asks her, “Is this necessary?”, which is an echo of the boy’s question to Duffy. The repetition of this line makes us think of the futility of the death of Macduff ’s family. Are their deaths truly necessary to Macbeth? There is no point to them: they only seem to make Macduff, who was “out of it,” want to seek vengeance against Macbeth. We can see how three different films deal with the cruxes in this bloodbath that is Act 4, scene 2, in three different ways, showing that there is no “correct” or “appropriate” manner to shoot (or stage) a Shakespearean play. Even the three interruptions of the same scene, all using the cinematic technique of the dissolve, are completely distinct: one privileges a victim, Macduff. Another dissolve privileges a doctor who is at Macbeth’s castle, implying that in Polanski’s warrior society everyone is guilty. Yet another dissolve privileges the literal framing of Macbeth as the only guilty subject. In a playtext that has little or no stage directions, each director, screenwriter and actor is free to stage the action the way they find fit. And even if the playtext were full of directions, thinking that we can be able to predict exactly what Shakespeare had “intended” is naïve at best. After all, Shakespeare died almost four centuries ago. If his plays still live, and Macbeth is very much alive, it is because of the people who translate and adapt them to the stage and screen. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 191 Nota 1 O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Brasil. REFERENCES BARTON, John. Playing Shakespeare. London: Methuen, 1984. BERGER JR., Harry. Making Trifles out of Terrors: Redistributing Complicities in Shakespeare (1977). Stanford: Stanford UP, 1997. BLOOM, Harold. Shakespeare: The Invention of the Human. New York: Riverhead Books, 1998. BRADLEY, A. C. Shakespearean Tragedy: Lectures on Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth (1904). London: Macmillan Education, 1989. BUHLER, Stephen M. Shakespeare in the Cinema: Ocular Proof. New York: State U of New York P, 2001. BULMAN, James C. Introduction: Shakespeare and Performance Theory. Shakespeare, Theory, and Performance. James C. Bulman, ed. London and New York: Routledge, 1996. p. 1-11. CASSON, Philip, dir. Macbeth: The Royal Shakespeare Company Production (1979). Trevor Nunn. Thames Television. England, 2004. 146 min. DAVIES, Anthony. Filming Shakespeare’s Plays: The Adaptations of Laurence Olivier, Orson Welles, Peter Brook, Akira Kurosawa. Cambridge: CUP, 1994. HALIO, Jay L. Understanding Shakespeare’s Plays in Performance. Houston: Scrivenery Press, 2000. HONIGMANN, E. A. J. Macbeth: the Murderer as Victim. Shakespeare: Seven Tragedies – The Dramatist’s Manipulation of Response. London: Macmillan, 1976, p. 126-49. KLIMAN, Bernice W. Shakespeare in Performance: Macbeth. New York: Manchester UP, 1995. MCKELLEN, Ian. The Scottish Play: An Explanation with Ian McKellen. Macbeth: The Royal Shakespeare Company Production. Jeffrey M. Smart dir. Thames Television. England, 2004. 32 min. PEARLMAN, E. Macbeth on Film: Politics. Shakespeare and the Moving Image: The Plays on Film and Television. Anthony Davies, Stanley Wells, ed. Cambridge: CUP, 1994, p. 250-60. POLANSKI, Roman, dir. Macbeth. England, 1971. Playboy Productions, Columbia Pictures. 140 min. 192 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 REILLY, William, dir. Men of Respect. USA, 1991. Central Film Company, Columbia Pictures. 113 min. ROTHWELL, Kenneth S. Roman Polanski’s Macbeth: The ‘Privileging’ of Ross.’ CEA Critic 46 1&2, p. 50-5, Fall and Winter, 1983-84. SHAKESPEARE, William. Macbeth. The Riverside Shakespeare. 2nd ed. Ed. G. Blakemore Evans. Boston: Houghton, 1997. WORSTER, David. Performance Options and Pedagogy: Macbeth. Shakespeare Quarterly, v. 53, n. 3, p. 362-78, Fall 2002. Artigo recebido em 03 de fevereiro de 2009. Artigo aceito em 23 de junho de 2009. Dolores Aronovich Aguero Doutora e mestre em Letras / Inglês e Literatura Correspondente pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Adjunta da Universidade Federal do Ceará. Membro do Centro de Estudos Shakespearianos (CESh). Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 193 194 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 BLOODY HEATH AND BLOODY CHAMBERS IN MACBETH, BY ROMAN POLANSKI Brunilda T. Reichmann [email protected] ABSTRACT: This reading of the film Macbeth, by Roman Polanski, is focused on interpolations introduced by the film director in his adapted version of the homonymous play by Shakespeare. We have selected three scenes in Polanski’ film that extrapolate the dramatic text: the prologue, or incipit, in which the witches perform their charms; the showing of King Duncan’s assassination which is only reported in Shakespeare; and the visit to the witches’ den by Donalbain, the younger brother of Malcolm – the legitimate heir to the throne and king of Scotland at the end of the play and of the film. The conclusion reached is that the interpolation of the three scenes intensifies the dramaticity of the film, amplifies the questioning about human nature and destiny, and updates the rich subtext that the playwright inscribes in his text when he adapts historical sources to criticize the violence of his time. RESUMO: Esta leitura do filme Macbeth, de Roman Polanski, concentra-se em interpolações introduzidas pelo cineasta em sua adaptação da peça homônima de Shakespeare. Escolhemos três momentos do filme de Polanski que extrapolam o texto dramático: o prólogo ou incipit, no qual as bruxas realizam seus encantos; a visualização do assassinato do Rei Duncan, um episódio que é apenas narrado em Shakespeare; e a visita à caverna das bruxas por Donalbain, irmão mais novo de Malcolm – herdeiro legítimo do trono e rei da Escócia no final da peça e do filme. Chega-se à conclusão que a interpolação das três cenas intensifica a dramaticidade do filme, amplia o questionamento sobre a natureza e o destino humanos e atualiza o rico subtexto que o dramaturgo inscreve em seu texto ao adaptar as fontes históricas para fazer uma crítica à violência de seu tempo. KEY WORDS: Adaptation. Drama. Cinema. Macbeth. Shakespeare. Polanski. PALAVRAS-CHAVE: Adaptação. Drama. Cinema. Macbeth. Shakespeare. Polanski. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 195 Introduction Many of Shakespeare’s plays are marked by an unusual beginning; two of the most memorable are the tragedies Hamlet, with the apparition of the ghost of the murdered king, and Macbeth, with the scene of the witches on the heath. With the objective of capturing and maintaining the attention of the spectators, the playwright is aware of the impact of these scenes – once captured by the unusual the battle for the audience is won. The same happens with the spectators of the film Macbeth by Roman Polanski, an adaptation of one of the bloodiest of Shakespeare’s plays, whose attention is caught by an impressive sky and earth bathed in bloody red, preparing the scene for the entry of the witches. In Macbeth, by Shakespeare, there are three scenes related to the activities and predictions of the witches. In the opening scene (I.1), they plan to meet Macbeth on the heath. In the third scene of the same act, they prophesy about the destiny of Macbeth and Banquo, generals in the army of King Duncan, of Scotland. And, in the first scene of the fourth act, Macbeth seeks answers to his questions after being crowned King of Scotland, the title given to him after the murder of King Duncan and the escape of the latter’s sons, Malcolm and Donalbain (IV.1). In the second apparition, the witches make predictions about the future of Macbeth without anyone having asked them anything. On announcing that Macbeth will be king, they resurface a former desire of the general, which becomes apparent when he himself confesses his hubris1, in his first soliloquy, i.e., the idea of the murder that was already troubling his spirit. Banquo, in turn, on questioning about his future, receives the news that he will not be king, but he will be the father of a powerful dynasty, a prognostic which later poses a threat to Macbeth, who has no heirs. For this reason, in the third apparition, fearful of the prophecy about the descendants of Banquo, Macbeth questions the witches to obtain more information about his government and the threats to his permanence in power. After this third scene, the witches, having fulfilled their role as prophetesses whose voices also carry in them the ambiguity of a nemesis2, do not appear again. In the film, a fourth participation of the witches is suggested at the end. The murder of Duncan, the inciting incident of the action of Shakespeare’s tragedy, creates an atmosphere of intense tension and becomes one of the moments of great impact in the play. However, the readers of Shakespeare’s play only feel the hesitation and pain associated with the feelings expressed by Macbeth, allied to the ambition of the protagonist and of Lady 196 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Macbeth, because the murder happens off-scene. The spectators fear for the life of the king before the murder is committed and are sorry to hear that the act was in fact consumed. However, despite the rich subtext that reveals the crime of Macbeth, the contemporary spectator, accustomed to the esthetics of violence and the visual discourse, may even feel pleasure in seeing the villainy and brutality with which such acts are perpetrated. Roman Polanski shows us the murder, so we are aware, not only of the immorality of the act, but of the bloody and violent nature of Macbeth’s action. The third interpolation once again involves the scene of the witches, when Donalbain, at the end of the film, under the impact of a storm, enters the cave of the “weird sisters”. Polanski’s interpolations The process of adaptation of plays and romances to the screen has been addressed by various theorists of literature and cinema. The question of being faithful to the source text, which constituted a pattern for studies on adaptation, is no longer relevant and has given way to the issue of intertextuality which is established between the source and target texts, on a double exchange basis, in this case the Shakespearean text conducts Polanski’s adaptation and the film interferes in the reading of the playwright’s play. Robert Stam in Film Theory: An Introduction (Introdução à teoria do cinema, 2003) affirms that the most recent discussions about cinematographic adaptations of novels have moved from a moralist discourse about fidelity or betrayal to a less appraising discourse on intertextuality. He adds that adaptations are fulfilled in the midst of a continuous whirlpool of intertextual transformation, of texts generating other texts in an infinite process of recycling, transformation, and transmutation. Furthermore, the awareness of the critical reading of the film requires a language or an appropriate lexicon reinforcing the idea that cinema is not a secondary art, but is only second to the chronology of creation, this is when films are the adaptation of literary or non-literary texts. Shakespeare’s readers will not forget, in the eyes of memory, scenes from the film Macbeth (1971), by Polanski, on opening the pages of Shakespeare’s play. And, some of these scenes will take top priority in retrospect: the scenes of the witches, through the appeal to elements that cause estrangement and discomfort in the spectator; the murder of king Duncan, through the outright violence seen by the spectator and by suggesting that nothing changes in human nature and its inclination towards evil when in the last scene of the film, Donalbain enters the witches’ cave. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 197 The interpolations created by Polanski present distinct characteristics, in their execution, in relation to Shakespeare’s play. In the first, the scene of the witches in the moorland, the film director uses, in general lines, the indications of the source text and includes information of imagery not contained in the play, eliminating the dependence on the reader’s imagination that is paramount in Shakespeare’s play, allowing the spectator to visualize the scene. In the second, the murder of King Duncan, Polanski uses information only reported or suggested in the playtext, transforming several hints into action to let the spectator experience the horror of the scene viscerally. In the third, the film director creates a scene that is not present in the play and, in doing so, inserts even more incisive “comments” about the propensity of evil in human nature, an issue that is foregrounded in the tragedies of the English playwright. In Shakespeare, the introductory scene of the witches on the heath (I.1.1-13) has thirteen lines. The enigmatic words of the last two lines, uttered in unison by the hags, convey the main theme of inversion of values in Macbeth: “Fair is foul and foul is fair / Hover through the fog and filthy air”.3 In Polanski, the scene begins with a bloody sky, reflected by the humidity in the moorland. The red shades gradually give way to grey shades and spectators see the crooked tip of a branch, coming on screen from the left hand side. The branch is being used as a walking stick by one of the three witches. The crooked branch can be interpreted as a crooked phallus, suggesting the idea that a valuable general and subject to the king – Macbeth – could become an insensitive criminal. With the tip, the witch draws a circle in the moist earth and all three of them crouch down and start digging a hole in the ground with their hands. Line 12 of Act I, scene 1, in Shakespeare’s play is the first speech of the witch carrying the walking stick, apparently the eldest, the most flimsy and leader of the group: “Fair is foul, foul is fair” (translated strangely in the subtitles as “The sound of trumpets”), recontextualizing the tragic emphasis of the playtext. After digging the hole, while the other words of Act I, scene 1, are being pronounced, the witches put into it first a hangman’s noose, then they unwrap a hand, with a part of the forearm (possibly of the strangled duke of Cawdor, the traitor whose place Macbeth occupies, literal and metaphorically) and place it onto the noose with the palm turned upwards, they arrange a dagger between the index finger and the palm of the hand. They throw upon these “elements” some small objects and soon after they cover them with earth. After burying the hangman’s noose, the hand and the dagger, they cover the hole and pour blood on the earth. All the objects buried in the moist soil relate to violence and death; both these issues, that pervade Shakespeare’s tragedy throughout, are enhanced in the film. Polanski 198 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 includes a few more deaths than those occurring in Shakespeare’s play: the murderers of Banquo are also murdered, forming part of the sequence of deaths, establishing a narrative where you can read the following message: deaths call for other deaths in an unending continuum. On covering up the hole where the objects of their charms have been placed, they seem to restore normality for a short period of time, until blood is poured out on the earth which covers them, possibly suggesting the alternation of good and evil in the history of humanity. In terms of time, we could say that violence and death antecede the experience that is being presented at that time and result from it, once again emphasizing the idea that they – violence and death – are part of the giant wheel of existence. The first interpolation opens the film as a prologue or incipit of the film. The notion of the incipit is synthesized by João Manuel dos Santos Cunha, in the article “Da palavra-imagem à imagem-palavra” (2007, p. 98 – “From the image-word to word-image”), in which he addresses the concept of literary prologue – or incipit – to the notion of paratext by Gerard Genette. He says: In the framework of this theoretical articulation, initial sequences of a film – even when information is given on “technical specifications” under the form of “opening credits” – the first diegetic information is presented. The opening of films, thus, can be read in the same way as a literary incipit, or related to what Genette (1982, p. 150) calls a paratext: “[...] every type of preliminal or postliminal convention, constituting itself as a discourse producing the purpose of the text that follows or precedes the text itself ” (my translation).4 According to André Gaudreault and Philippe Marion, in their article “Transécriture and Narrative Mediatics: The Stakes of Intermediality”, when the actor expresses himself, either in the case of creation or adaptation, he is confronted with a resistance proceeding from the chosen media. According to the authors “there is no verb that becomes flesh without conflict in the process of incarnation itself ” (2004, p. 58). These critical concepts will be applied to Shakespeare’s Macbeth, having as the source text the report of kings Macbeth and Duncan included in the Holinshed Chronicles (1587), Shakespeare would be the first writer to come to terms with the resistance or conflict in the process of creation or materialization, to use the expression of the French authors, in transposing a historical report to literature. The geniality of the playwright, however, does not seem to reveal any trace of this resistance which the literary text would suffer in dealing with the historical report. It is important not to forget that, despite the peculiar characteristics of the historical report and of Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 199 the literary creation, both of them materialize through language, not needing, therefore, a transposition from one media to another. The historical report is elaborately and densely recontextualized in Shakespeare’s play. With Polanski’s film adaptation, we are speaking of a recreation that could find resistance offered by the materiality of the means of expression selected. The fictional germination, another expression of the French theorists, seems, however, to have found fertile ground also in the mind of Polanski that, on confronting with the Shakespearean playtext, is not intimidated by it. In the interpolations idealized by the film director, the means, i.e., the cinema, offers the film director the possibilities of reading that the theatre, for example, could inhibit. In the first interpolation, the immensity of the moorland, the weight of the bloody sky, and human frailty, are not examples of deformation arising from the transposition to another medium, but elements that aggregate tragic density to the Shakespearean text, as well as the action of the witches in burying objects related to death. Macbeth, by Polanski, seems to demonstrate the strength of attraction that certain media have in relation to a certain subject explored previously by another medium: the Shakespearean text flows into the cinematic medium, without major losses, incorporating peculiar readings and creations of the film director. The second interpolation of Polanski does not differ in spirit from the first one: the murder of King Duncan, shown in visual images softens and/or thrills the heart of the most insensitive spectator, because besides seeing what they only tried to imagine when reading Shakespeare’s play, and have possibly never seen, the spectator cannot miss out on sharing with Macbeth the great indecision that still troubles him, and the desire he has of returning to his wife without having committed the act. However, it seems that, on waking Macbeth and observing the dagger in his hand, Duncan seals his fate. The close up scene, with the high-angle camera, of the king’s eyes, defines the status of vulnerability of the man who is political and hierarchically above Macbeth. Besides being king, Duncan is Macbeth’s cousin and guest. Next, the monarch is stabbed several times in his chest and blood invades the screen until the final blow, the insertion of the dagger into one of the king’s carotid arteries, which makes blood spurt out everywhere. As it were the film Macbeth, filmed in England, the country where Polanski became a refugee after the violent murder of Sharon Tate, his wife, seven months pregnant, was the first production of the film director. Just as the bloody murder of his wife invaded his existence and had taken his still unborn child, Polanski puts on screen a film in which he seems to reproduce scenes that have had a great impact on his mind. The images of the rape and murder of the wife and sons of Macduff, as well as the servants, can be read as the murder of his wife and child. 200 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Despite being the greatest encourager in the murder of the king and taking care of the king’s guards’ daggers by “smearing them” with blood (“If he [Duncan] do bleed I will gild the faces of the grooms withal; For it must seem their guilt.” (II.2.56-58)), Lady Macbeth is not used to seeing a bloody scene like this one, and the image of blood will remain with her for the rest of her life. In an anthological scene, years later, while sleepwalking in a daze through the castle and rubbing her hands together, she says: Lady Macbeth: Out, damned spot! Out, I say! One: two: why, then ‘tis time to do ‘t. Hell is murky. Fie my lord, fie! A soldier, and afeard? What need we fear who knows it, when none can call our pow’r to accompt? Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him? […] What, will these hands ne’er be clean? […] Here’s the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will no sweeten this little hand. Oh, oh, oh! (V.1.38-43, 46, 53-55, my emphasis) Concluding this idea of a sanguinary character in the play and film, but not in the bloody images of the film, suggesting the bloody reign of Macbeth, it is important to remember that the crown is placed on Malcolm’s head, as soon as Macbeth is beheaded, still stained with the blood of the murderous monarch. The words of Caroline Spurgeon, in her book Shakespeare’s Imagery (1961, p. 334), offer a comment on the bloody imagery of the film: The feeling of fear, horror and pain is increased by the constant and the recurrent images of blood; these are very marked, and have been noticed by others, especially by Bradley, the most terrible being Macbeth´s description of himself wading in a river of blood, while the most stirring to the imagination, perhaps in the whole Shakespeare, is the picture of him gazing, rigid with horror, at his own blood-stained hand and watching it dye the whole green ocean red. The third interpolation of Polanski validates Shakespeare’s vision of human nature, expressed by Hamlet in dialogue with Rosencrantz and Guildenstern: “What a piece of work is man – how noble in reason; how infinite in faculties, in form and moving; how express and admirable in action; how kike an angel in apprehension; how like a god; the beauty of the world; the paragon of animals. And yet to me what is this quintessence of dust?” (II.2.259-274). The final scene of Donalbain entering the witches’ cave, however, does not catch us by surprise. There are two warnings in the film about the nature of Donalbain’s second son. The first establishes the association Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 201 of imagery with the crooked walking stick used by one of the witches. Donalbain, King Duncan’s second son, is portrayed with a disability in one of his legs, a defect that could lead the spectator into expecting a failure of character in the king’s youngest son. The second occurs in the scene at the beginning of the film, when the king announces that Malcolm is the Prince of Cumberland, thus, announcing that the eldest son is his heir. Macbeth is not the only one who looks disturbed. The camera closes in on Donalbain’s face and his deeply jealous sideward glance at his brother leaves no doubt as to the future of the dynasty. Malcolm will not have his brother as an ally, but as a foe, maybe not as bold and courageous as Macbeth, Duncan’s general, had been, but with similar inclinations. On including this final scene, Polanski builds his film inside a circular structure, closing the first circle – of the witches at the beginning and the witches at the end – when Macduff ends the story of the horrible reign of Macbeth having killed the Scottish sovereign. However, another circle begins with Donalbain’s visit to the witches and reminds the spectators of the idea that the presence of evil is recurrent and that his reign – the evil reign –, the current one, will never end. Despite closing the circle another way, Shakespeare’s play also suggests the closing of a circular structure on seeing Malcolm, as soon as he is proclaimed king, compensating for the “love” of Macduff, just like his father, at the beginning of the play, compensates for the “love” of Macbeth: Macduff. [...] Hail , King of Scotland! All. Hail, King of Scotland! Flourish Malcolm. We shall not spend a large expense of time Before we reckon with your several loves. And make us even with you. My thanes and kinsmen, Henceforth be earls, the first that ever Scotland In such an horror named. What’s more to do. Which would be planted newly with the time – As calling home our exiled friends abroad That fled the snares of watchful tyranny, Producing forth the cruel ministers Of this dead butcher and his fiendlike queen, Who as ‘tis thought, by self and violent hands Took off her life – this, and what needful else That calls upon us, by the grace of Grace We will perform in measure, time, and place: 202 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 So thanks to all at once and to each one, Whom we invited to see us crowned at Scone. Flourish. Exeunt Omnes. (V.8.60-75) Final considerations The scene of Donalbain entering the witches’ cave can be read as an epilogue in Polanski’s film, but the diegesis concludes before this, because the battle for the legitimate heir of Duncan to take what is rightfully his, thus reestablishing the prosperity and “health” of the state, has already happened and has thus concluded a cycle in the history of the kingdoms of Scotland. However, I would like to raise a question concerning the adaptation technique that could become a future theme for discussion. The cardinal functions in Shakespeare’s play (McFARLANE, 1996) are maintained in Polanski’s film, among which are the ambiguity of the witches’ prophecies, the murder of Duncan, the coronation of Macbeth, the murder of Banquo, the second visit to the witches, the murder of Macbeth, the proclamation of Malcolm as king of Scotland. The recognition of these cardinal functions bring a certain pleasure to the spectator who is also a reader of Shakespeare. The pleasure of recognition might give the impression of favoring the discourse of fidelity which is currently rejected, instead of privileging the adaptation process. Maybe we should seek a mixture of fidelity and creativity in the media’s reincarnation of literary pieces, steering well away from notions, such as receptivity, conflict and resistance, laws of attraction or of gravity, and becoming silent in face of the creative energy that exceeds any attempt of theorization. Notes 1 Hubris: In Greek tragedy, the pride, the arrogance of the hero, responsible for his/her downfall. 2 Nemesis: The wrath of the gods provoked by hubris. 3 All the references and citations of Macbeth are from The Signet Classic Shakespeare, included in the bibliography. 4 Original in Portuguese: “No quadro dessa articulação teórica, sequências iniciais de um filme – mesmo enquanto são passadas as informações sobre a ‘ficha técnica’ sob a forma de ‘apresentação de créditos’ – apresentam já as primeiras informações diegéticas. A abertura de filmes, assim, pode ser lida nos mesmos termos de um incipit literário, ou ao que Genette (1982, p. 150) denomina paratexto: ‘[...]toda espécie de pré ou pós-liminar, constituindo-se como um discurso produzido a propósito do texto que segue ou que precede o texto propriamente dito’.” Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 203 REFERENCES CUNHA, João Manuel dos Santos, “Da palavra-imagem à imagem-palavra: análise do incipit fílmico de Lavoura arcaica”. Revista Brasileira de Literatura Comparada, N. 10, 2007, p. 95-125. GAUDREAULT, André & MARION, Philippe. “Transéscriture and Narrativa Mediatics: The Stakes of Intermidiality”. In STAM, Robert & RAENGO, Alessandra. A Companion to Literature and Film. London: Blackwell, 2004. MCFARLANE, Brian. Novel do Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. New York: Oxford, 1996. POLANSKI, Roman. Macbeth. Columbia Pictures, 1971. SHAKESPEARE, William. Hamlet. Trad. Anna Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça. Rio de Janeiro: Lacerda, 2004. ________. The Tragedy of Macbeth. The Signet Classic Shakespeare. New York:New American Library, 1963. ________. Hamlet. Eds. Ann Thompson and Neil Taylor. The Arden Shakespeare. London: Thomson Learning, 2006. SPURGEON, Caroline. Shakespeare´s Imagery and What it Tells us. London: Cambridge University Press, 1961. STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. Campinas: Papirus, 2003. Artigo recebido em 15 de abril de 2009. Artigo aceito em 11 de agosto de 2009. Brunilda T. Reichmann PhD em Literaturas de Língua Inglesa pela Nebraska University em Lincoln. Professora Titular de Literatura Inglesa e Norte-Americana do Curso de Letras da Uniandrade. Editora da revista Scripta Uniandrade. Professora do Mestrado em Teoria Literária da Uniandrade. Professora Titular de Literaturas de Língua Inglesa da UFPR (aposentada). 204 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 MULHERES SEM PECADO: DISCURSO MISÓGINO E A TRAGÉDIA DO FEMININO EM OTELO, DE WILLIAM SHAKESPEARE Ana Claudia de Lemos Monteiro [email protected] Fernanda Teixeira de Medeiros [email protected] RESUMO. O objetivo do ensaio é discutir a influência do discurso misógino no destino trágico dos personagens femininos em Otelo, de William Shakespeare, como também propor que a misoginia favorece o estabelecimento do que decidimos chamar de “tragédia do feminino”, isto é, um sacrifício da feminilidade que não garante a sanidade do mundo dos homens. A análise do discurso misógino dentro da trama será centrada no comportamento dos casais Cássio e Bianca, Iago e Emília e, sobretudo, Otelo e Desdêmona. Exploraremos a representação feminina em Desdêmona, Emília e Bianca, bem como seu impacto no imaginário masculino, para construirmos nosso argumento sobre como e porque a misoginia viabiliza a extirpação do feminino nesta trama shakespeariana. ABSTRACT. This essay intends to discuss the influence of misogynist discourse in the tragic fate of the female characters in William Shakespeare’s Othello, as well as suggest that misogyny favors what we have decided to call “feminine tragedy”, that is, a sacrifice of femininity that does not guarantee sanity in the world of men. The analysis of misogynist discourse will be centered in the behavior of the main couples in the play: Cassio and Bianca, Iago and Emília and, above all, Othello and Desdemona. We will explore feminine representation in Desdemona, Emilia and Bianca and their impact on masculine imagination, so as to construct our views about how and why misogyny causes the destruction of femininity in this Shakespearean story. PALAVRAS-CHAVE: Misoginia. Sacrifício. Tragédia. Feminino. KEY WORDS: Misogyny. Sacrifice. Tragedy. Feminine. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 205 Uma das visões mais impactantes da tragédia amorosa Otelo, de William Shakespeare, é a cena em que o general Otelo, já transtornado pelo ciúme, sufoca a esposa Desdêmona com um travesseiro, sobre a cama forrada com os lençóis de núpcias do casal. A morte da principal personagem feminina da trama denota simultaneamente a morte da inocência, virtude, sensibilidade, tolerância e amor – qualidades que, segundo Carol Thomas Neely, seriam atribuídas, no contexto da obra shakespeariana (principalmente nas comédias), ao mundo das mulheres. No lugar dessas qualidades, edifica-se “um mundo de homens”, competitivo, hostil, impenetrável ao poder feminino (1983, p. 215). A asfixia literal sofrida por Desdêmona nos parece o clímax de um processo de sufocamento dos personagens femininos que se identifica desde o início da trama, com as incursões misóginas no discurso do alferes Iago, mentor intelectual do assassinato de Desdêmona ao convencer Otelo de sua infidelidade. A degradação moral a que Desdêmona é submetida representa uma visão da mulher típica da ideologia patriarcal, segundo a qual a morte da traidora teria a função de punir os vícios inevitáveis da natureza feminina. No entanto, o crime contra Desdêmona acelera a degeneração do comportamento masculino – representado no declínio de Otelo e Iago – e a peça termina com um “mundo dos homens” profundamente capenga e mergulhado em desgraça. A imagem de Otelo sufocando Desdêmona pode se solidificar como a imagem do triunfo do mundo masculino sobre o feminino; mas, ao mesmo tempo, é um triunfo sem redenção. O entendimento a que nos proporemos neste ensaio é que, no âmbito da tragédia Otelo, o “mundo dos homens”, sustentado pelo discurso da misoginia, desenvolve o que pretendemos chamar de “tragédia do feminino”, que é o constrangimento sofrido pelos personagens femininos em função de um estereótipo cultural criado para a mulher, causando seu desaparecimento, mas não o fim do sofrimento. Em Otelo, o assassínio de Desdêmona contribui para destruir a respeitabilidade de Otelo perante seus subordinados e os representantes do Estado veneziano. A verdade sobre sua inocência termina de desmoralizar o mouro que, atormentado, suicida-se. As “verdades” misóginas do mundo masculino, no contexto deste drama, promovem o sufocamento da feminilidade, mas, simultaneamente, constroem para a masculinidade uma vitória frágil que antecipa uma auto-aniquilação. De maneira que, mais do que homens e mulheres, são os preconceitos criados em sociedade que forjam seus próprios monstros. Em seu ensaio “Women and Men in Othello” (1983), Neely afirma que existem neste drama shakespeariano formas extremas de idealização e degradação do amor e da sexualidade, que levam a uma desintegração da 206 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 autoridade masculina, como também à perda do poder feminino sobre os homens. O argumento de Neely é que, embora o discurso patriarcal priorize a manutenção do poder masculino, a supressão total de um olhar feminino desequilibra profundamente o modo de agir dos homens, tornando-os suscetíveis ao exagero e, por conseguinte, ao desastre. De acordo com o ensaio, o contexto trágico em Otelo se desenha a partir do conflito entre homens e mulheres, que se apresenta na configuração de situações limite, ou seja, a completa eliminação do poder feminino como regulador do comportamento masculino, como consequência de uma completa idealização da mulher e de sua contínua degradação na medida em que não corresponde ao idealizado. A aproximação entre a desintegração da autoridade masculina e a perda do poder feminino é, portanto, crucial para visualizarmos o processo de sufocamento que as personagens femininas sofrem nesta tragédia shakespeariana. Retornemos, então, à cena que consideramos a expressão da extirpação do feminino em Otelo. Quando decide matar Desdêmona, Otelo oscila entre o sentimento pela mulher e o que considera seu dever de macho: É a causa, sim: a causa, minh’alma; Não a nomeio entre as castas estrelas: É a causa; mas sangue não derramo, Nem mancho sua pele, alva de neve E lisa como a glória do alabastro; Porém tem de morrer, senão trai outros. Apago a luz e, então, apago a luz: Se eu a ti sufocar, oh flama ardente, posso de novo restaurar-te a luz, se me arrependo. Mas se a você apago, Molde sagaz da natureza excelsa, Desconheço calor de Prometeu que a reacendesse; já colhida, Não posso dar à rosa força viva; Tem de secar; vou cheirá-la no galho (Beija-a). Hálito quente assim quase convence A justiça a trair-se uma vez mais: Se ficar assim morta, vou matá-la, E amá-la depois: mais uma, a última, É o doce mais fatal; agora choro, Mas é pranto cruel, dor celestial Que golpeia o que ama; [...] (V, 2)1 Nessa passagem, Shakespeare constrói um entrelaçamento de conceitos que demonstram a idealização complexa que o herói concebe para o feminino. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 207 O instrumento de redenção do amor, no contexto dessa tragédia, é a morte – Otelo considera que seu amor por Desdêmona só pode sobreviver se ele matá-la, porque a traição transforma a vida da esposa em pecado e, portanto, degradante para si mesma e para os homens que ela vier a trair. Ao considerar a traição um padrão de comportamento de sua mulher, Otelo entende que é seu “dever” eliminar a perversidade, disfarçada numa beleza que também o arrebata. A atmosfera é menos de ódio que de suplício: Otelo beija a esposa enquanto planeja sua morte. Neely afirma que a personalidade de Desdêmona intriga Otelo desde o casamento, sobretudo no tocante às suas expectativas sexuais, pois Desdêmona demonstra um furor erótico que parece fora do lugar na idealização petrarquiana que Otelo faz da esposa. A “inspiração” shakespeariana na construção de Desdêmona, de acordo com Neely, são as heroínas das comédias; mas, no contexto trágico, a iniciativa feminina é forçosamente deturpada na imaginação masculina, provocando degradação e conflito: Talvez ela [Desdêmona], como Rosalinda ou Viola ou as mulheres de Love’s Labour’s Lost, pudesse ter equilibrado o idealismo de Otelo. Em vez disso, o equilíbrio é transformado por Iago no seu oposto – desdém às mulheres, desprezo pela sexualidade, pavor de ser traído, preferência pela morte literal em vez da morte metafórica [isto é, o orgasmo]. A aceitação do adultério e da sexualidade encontrada nas comédias [...] é impossível para Otelo. Ao invés disso, ele usa as imagens petrarquianas contra Desdêmona – [...] – louvando-a e amaldiçoando-a simultaneamente. Seus conflitos são resolvidos, sua necessidade de idealizá-la e degradá-la momentaneamente reconciliada apenas quando ele a mata, realizando um sacrifício que também é um assassinato. (1983, p. 217)2 De fato, o cenário shakespeariano é providencial a uma cerimônia de “sacrifício”: Otelo se aproxima da cama onde Desdêmona dorme sobre os lençóis de núpcias do casal, carregando uma tocha acesa. A luz da tocha é associada rapidamente com a vida de Desdêmona: “Apago a luz e, então, apago a luz”. É interessante notar que Shakespeare confere ao discurso de Otelo uma dubiedade proposital, exatamente para expor o sofrimento do personagem: a conotação geralmente positiva da palavra luz se confunde com a certeza do mouro de que Desdêmona é a luz que precisa ser apagada; é também a rosa cuja “força viva” precisa ser extinta. A “força viva” de Desdêmona pode ser seu entusiasmo, sua paixão, sua “flama ardente”, como o próprio marido definia e que lhe causava “tanto contentamento quanto espanto” (II, 2). Em contrapartida, Otelo enxerga Desdêmona como a musa 208 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 de um poema, uma “rosa” com uma pele “alva de neve”, que não merece ser manchada de sangue. Em suma, Desdêmona é idealizada por Otelo como um paradigma de feminilidade: sedutora, suave, bela e sensível – como também, indigna de crédito, perversa, pecadora. Um ser cuja aparência e essência se contradizem naturalmente. E ainda amando-a, Otelo pondera que somente a morte da esposa poderá apaziguar seu tormento: “É a causa sim, a causa, minh’alma”. É preciso recordar aqui que, na concepção religiosa, o matrimônio realiza um “compromisso de almas” que só deverá ser quebrado com a morte (DUBY, 1989). É significativo que Otelo, um mouro convertido ao cristianismo, invoque sua alma como a causa de seu ato criminoso: porque naquele momento em que se encontra casado com Desdêmona, sua alma e de sua mulher estão “compromissadas”, isto é, unidas. Na doutrina cristã, marido e mulher formam um único ser – portanto, os pecados de um degradam inevitavelmente o outro. É para salvar sua alma da degeneração que Otelo “golpeia o que ama” – porque considera que deixar-se levar pelo amor será nocivo a ele, como homem. A demonização do feminino, segundo Neely, é comum a todos os personagens masculinos em Otelo. As personagens femininas são frequentemente mal-interpretadas e, por conta disso, rechaçadas. Além de Desdêmona, Emília, esposa de Iago e Bianca, amante de Cássio, são objeto de uma visão deturpada e negativa de suas condutas. Iago afirma que Bianca é “uma rapariga que vende seus desejos pra comprar pão e roupa” (IV, 1), mas na concepção preconceituosa do alferes (como na de todos os personagens masculinos) a prostituição de Bianca é uma falha moral e não uma necessidade; nem a adoração que Bianca rende à Cássio a livra do rótulo de “rameira” – sustentado inclusive pela esclarecida Emília, cuja objetividade e esperteza servem de pretexto para constantes humilhações do próprio marido. O conflito apontado por Neely como sendo central à tragédia de Otelo, isto é, masculino contra feminino, encontra um lócus específico nos relacionamentos amorosos (des)construídos ao longo da trama, real ou fantasiosamente: no ambiente marital, sobretudo, observam-se os ápices deste conflito. A visão patriarcal da mulher prevalece como parâmetro de idealização do feminino em todos os personagens masculinos neste drama shakespeariano – e o “mundo dos homens” de Otelo trabalha recorrentemente para impor essa visão às mulheres. A representação da recorrência neste processo de sufocamento está, exatamente, na profusão de conflitos relacionais entre homens e mulheres no desenvolvimento da trama. Shakespeare reproduz nos casais o conflito Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 209 masculino-feminino: Otelo desconfia de Desdêmona; Iago despreza Emília; Cássio desmoraliza Bianca. O discurso da misoginia, portanto, surge como uma das formas de internalização de ideologias patriarcais sobre a mulher e como principal veículo da asfixia dos personagens femininos da trama de Shakespeare. Esse discurso é encarnado mais explicitamente na fala sarcástica de Iago, que confia numa espécie de consenso entre os homens sobre a natureza feminina para elaborar suas intrigas contra Desdêmona e Otelo. Para Stephen Greenblatt, o poder de Iago como construtor de verdades se baseia exatamente em sua capacidade de “lidar mais com impossibilidades prováveis do que com possibilidades improváveis” (1984, p. 234) – ou seja, Iago se utiliza de uma idéia geral dos homens sobre o comportamento e o desejo femininos, para tornar plausível o personagem lascivo engendrado para a esposa de Otelo. Por mais que o caso de amor entre Otelo e Desdêmona não constitua um padrão de relacionamento – já que fugiram para casar –, acaba sucumbindo ao padrão de pensamento social por meio das insinuações de Iago, que funciona como porta-voz das ideologias patriarcais acerca da mulher. Desdêmona nos parece a vítima potencial, através da qual o ressentimento contra o feminino é expiado. Iago a escolhe desde o início, porque por meio dela alcança diretamente seu maior alvo, Otelo – e indiretamente, os outros personagens femininos. Pelo olhar misógino de Iago, Desdêmona se materializa primeiro como a filha desobediente e depois como a esposa adúltera. Emília, dama de companhia de Desdêmona, sofre duplamente com os efeitos da misoginia dentro do casamento: por um lado, Iago a acusa insistentemente de tê-lo traído com Otelo e Cássio; por outro, assiste Otelo acusar e maltratar sua amada por uma suspeita de infidelidade. A ingenuidade e a absoluta retidão de Desdêmona contrastam simetricamente com a eloquência agressiva e a visão realista de mundo da esposa de Iago – o que nos leva a considerar que Shakespeare construiu em Emília o que, em termos estéticos, chamaríamos de foil em inglês, um oposto exato para Desdêmona. A amizade de Desdêmona e Emília se constrói a partir dessa oposição – as duas se complementam, se admiram e, por isso mesmo, se unem de maneira que a agressão sofrida por Desdêmona atinge Emília violentamente – ocasionando sua defesa do desejo e do adultério femininos (IV, 1). Por outro lado, a invenção de Iago sobre Desdêmona resvala também em Bianca, apaixonada por aquele que seria o “amante”, Cássio – e que “substitui” a esposa de Otelo na conversa em que Iago induz Cássio a relatar suas aventuras sexuais para o mouro ouvir (IV.1). Cássio se refere à Bianca, mas Otelo pensa que ele está falando de Desdêmona, tomando suas palavras por uma confissão de adultério. 210 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Desdêmona, Emília e Bianca, portanto, se revezam em personificar o pecado feminino diante dos personagens masculinos. No imbricamento dramático de Otelo, as personagens femininas se sobrepõem de tal forma no ideário dos homens que maltratar uma delas afeta invariavelmente todas as demais. Desdêmona é um personagem cuja natureza, com uma pequena mudança de perspectiva, pode personificar a idéia masculina para o pecado feminino. Sua honestidade, inocência e iniciativa a colocam numa posição de extrema vulnerabilidade, porque justamente essas qualidades a afastam do que Greenblatt denominou “o sonho masculino de passividade feminina” (1984, p. 239). O que acontece com Desdêmona é que ela é profundamente fiel aos próprios sentimentos, revelando uma espécie de pureza ao mesmo tempo admirável e incômoda. Por causa disso, seu comportamento provoca reações diversas em todos os personagens masculinos da trama: para Brabâncio, é a filha ingrata; para Rodrigo, a musa inatingível; para Cássio, a dama perfeita. Ao justificar sua fuga com Otelo, Desdêmona é simples e direta: “Que amava o mouro pra viver com ele/ A minha violência e desafio gritam ao mundo” (I. 3). Sua asserção demonstra um desejo pessoal e um total comprometimento com esse desejo. O relato de Otelo sobre seu namoro com Desdêmona (I.3), embora ratifique o talento do mouro para o que Greenblatt chama de “narrativa da construção de si”, deixa claro também que Desdêmona encoraja a retórica inflamada de Otelo ao se mostrar penalizada e impressionada com sua história de vida. E ainda, encoraja sua própria corte, quando diz ao mouro que desejava que os céus fizessem para ela um homem como ele. O interesse de Desdêmona se concentra única e exclusivamente em Otelo, mas a “violência” com que assume esse desejo assusta o mouro, que considera que Desdêmona devora seu discurso. Apesar de assumir sua retórica como um recurso para seduzir Desdêmona, Otelo se confessa seduzido por ela na mesma proporção. A atitude sincera de Desdêmona, assim, pode se encaixar no que o ideário masculino classificaria de volubilidade. As palavras de Brabâncio a Otelo traduzem o ponto de vista masculino sobre a conduta de Desdêmona e ajudarão, mais adiante, a corroborar sua culpa: “Se tem olhos pra ver, cuidea, sim/ Pode enganá-lo, se enganou a mim” (I, 3). Ou seja, a “violência e desafio” que em dado momento serviram como prova de amor, podem significar uma propensão à desobediência e, por conseguinte, à traição. O que Brabâncio afirma implicitamente é que Desdêmona não é fiel a Otelo, mas a si mesma. No nosso entender, entretanto, seu alegado egoísmo confunde-se com uma capacidade de auto-afirmação que, no contexto trágico desenhado para a peça, é incompatível com o estereótipo feminino defendido pelo discurso patriarcal que norteia o pensamento dos personagens masculinos. Desdêmona, Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 211 mesmo dócil e ingênua, é a representação de um poder feminino latente, um poder capaz de seduzir pela inocência, de equilibrar pelo amor e de inspirar pela honestidade e beleza. É interessante notar que o único momento em toda trama em que Bianca confronta Cássio é por conta do lenço de Desdêmona, que chega às mãos do tenente por obra do ardiloso Iago. Bianca, mesmo sem saber sobre a dona do lenço, identifica-o instintivamente como sendo de uma rival: rival na admiração e respeito que Cássio dispensa à esposa de Otelo e que Bianca deixa claro desejar para si. Se o lenço pode ser a metáfora do poder feminino sobre os homens (cf. Neely, 1983), será importante constatar que todos os personagens femininos da trama o têm nas mãos em diferentes momentos, por pouco tempo, para passá-lo em seguida às mãos dos personagens masculinos: Emília o encontra, mas o entrega a Iago; Bianca o recebe de presente, mas o devolve para Cássio. Analogamente, o posicionamento de Bianca na briga com Cássio não dura muito; ela se deixa manipular pelo amado e o perdoa. Emília, depois de “alimentar a fantasia” de Iago dando-lhe o lenço, continua sendo desdenhada pelo marido. Mesmo opinando contra a misoginia e o machismo, pregando que as mulheres devem retribuir o tratamento que recebem dos homens, Emília confessa que nunca traiu Iago. Outra importante constatação é que tanto Emília quanto Bianca apropriam-se temporariamente de um poder que, originalmente, pertence à Desdêmona, já que o lenço lhe foi presenteado por Otelo. Esta também o desperdiça, com consequências trágicas, ao perder o lenço e assim, permitir que Iago articule uma “prova” de sua “infidelidade”. Mesmo assim, podemos enxergar através da movimentação do lenço dentro da trama e do enredamento dramático construído em torno do seu desaparecimento, que o destino do poder feminino era ser dominado pelos homens e perdido pelas mulheres. O fato de Desdêmona ser a dona do lenço pressupõe uma visão da personagem como o paradigma desse poder, portanto, um mal que precisa ser cortado pela raiz. Transforma-se, então, num prato cheio para o arguto Iago, cujas “impossibilidades prováveis” engendram a Desdêmona que se enquadra no senso comum masculino e vem responder, de forma negativa, à inquietação de Otelo com o comportamento de sua esposa. É a partir de Desdêmona, portanto, que se delineia o que chamamos de “tragédia do feminino” – isto é, quando o poder civilizador da mulher é finalmente constrangido e a representação feminina é aniquilada, sem que com isso o conflito seja resolvido. Há um sacrifício da feminilidade para se salvaguardar um mundo que, na verdade, não tem como sobreviver sem ela. O poder feminino em Otelo jamais é exercitado de fato, como o fazem as heroínas 212 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 das comédias shakespearianas. Ao contrário, é um poder constantemente combatido, suprimido pelos personagens masculinos e tragicamente desperdiçado pelos personagens femininos. Desdêmona é a personagem sobre a qual o mal-julgo é praticado ilustrativa e deliberadamente por um personagem masculino (Iago). O discurso misógino funciona como o reconstrutor da conduta de Desdêmona, precipitando a destruição de sua união com Otelo. Amar Desdêmona, na concepção do protagonista, torna-se um pecado diante da suposta promiscuidade da mulher. A antecipação de um castigo exemplar representa a necessidade do poder masculino de se fazer prevalecer na trama. O sacrifício de Desdêmona se faz necessário para a reafirmação do discurso misógino como codificador da personalidade feminina e, consequentemente, do poder do macho como mantenedor da ordem social. Porém, a tragédia de Desdêmona macula de maneira irreversível a superioridade do julgamento masculino, uma vez que se descobre, logo após sua morte, que Desdêmona era inocente. Nesse sentido, é sugestivo que o estratagema de Iago seja exposto por sua esposa, Emília: psicologicamente, podemos dizer que a morte injusta de Desdêmona força um último suspiro do poder feminino, assumido pela esposa de Iago. Mesmo ciente de seu destino (Se os céus, os homens e os diabos/ todos gritam minha vergonha, ainda falo” – V, 2), Emília decide por uma saída honrosa ao confessar que entregou o lenço de Desdêmona à Iago. Contrariando as próprias palavras, é Emília quem grita a vergonha masculina, ao provocar com sua denúncia a consciência de que homens influenciados por um poder masculino “não-domesticado” (Neely, 1983, p. 239) podem julgar, condenar e executar precipitadamente. Entretanto, a mais dolorosa constatação do poder masculino neste caso seria a ameaça da inversão de papéis, isto é, o fato de que um homem pode usar de perversidade tanto quanto uma mulher, manipulando princípios masculinos como lealdade e honra em seu próprio benefício. A exemplo do que acontece durante toda a trama, a influência do poder feminino no final de Otelo é bruscamente sufocada: Emília, depois de desmascarar Iago, morre apunhalada pelo marido. Não obstante, a tragédia do feminino deixa uma marca que se mantém mesmo com a tentativa de reconstrução da ordem promovida pelo representante do Estado veneziano, Ludovico: Cão danado, Pior que a angústia, do que a fome ou o mar, Olha a tragédia que essa cama abraça: Tua obra é veneno para os olhos; Que a ocultem. Graziano, guarde a casa Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 213 E a fortuna do Mouro assuma agora, Já que é o herdeiro: em si, governador, Recai a punição deste demônio, Com hora e forma de tortura; cumpra-se! Eu mesmo pra Veneza vou zarpar A fim de esta desgraça relatar. (V, 2 – grifos nossos) O primeiro passo de Ludovico tinha sido estabelecer quem governaria Chipre na ausência de Otelo: Cássio é o escolhido – exatamente um erudito, habituado à corte e à política, sem o costume da guerra, portanto de espírito conciliador. No momento caótico que sucede à tragédia do feminino, é importante fornecer imediatamente um norte, uma nova cadeia de comando. O segundo passo, explicitado na passagem acima, é óbvio: tentar minimizar a situação de desmoralização que se abateu sobre o poder masculino, individualizando as responsabilidades, isto é, culpando exclusivamente a Iago pelo acontecido a Desdêmona. Otelo se martiriza com o suicídio e se livra da completa degradação sob a imagem do “infeliz”, do “precipitado”, mas de “um grande coração” (V, 2). Iago, ao contrário, torna-se o “demônio”, o “cão danado”, um caso isolado cuja perversidade desonra o gênero a que pertence. É interessante perceber que a perpetuação da supremacia masculina no contexto da peça depende de se “vender” a idéia de que a tragédia de Desdêmona (e do poder feminino) aconteceu por obra de um sujeito em particular, degenerado e cujas ações não representariam de nenhuma maneira o senso comum vigente. Somente com essa “correção ideológica” é possível passar às determinações práticas, como quem herdará o espólio de Otelo e punirá o criminoso Iago. Na ação reparadora de Ludovico reside a profunda ironia da peça: o poder masculino se reergue precariamente tentando recriar a atmosfera de conciliação perdida, o equilíbrio que seria proporcionado pelo poder feminino, cujo sufocamento foi o objetivo dos personagens masculinos durante a trama. A vitória do poder masculino vem acompanhada de um enorme vazio, requerendo um esforço ainda maior para seu preenchimento. O fim de Otelo é literal: é uma “destruição sem catarse, uma liberação sem solução” (Neely, 1983, p. 235). “Desgraça” é o último substantivo na fala de Ludovico que fecha a peça e, não coincidentemente, resume toda a ação. A misoginia e a ideologia patriarcal alimentam o seu “demônio”, para depois devolvê-lo como algoz da mesma sociedade, transformando seus porta-vozes em bodes expiatórios. E assim, a tragédia do feminino em Otelo é o sacrificar-se inutilmente, sem conseguir evitar o mal que já está feito. 214 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Notas 1 A tradução utilizada para referência foi a de Barbara Heliodora. 2 Todas as traduções de textos críticos são de minha autoria. REFERÊNCIAS DUBY, Georges. Idade Média, Idade dos Homens. São Paulo: Cia. das Letras, 1989. GREENBLATT, Stephen. “The Improvisation of Power”. In: ________. Renaissance self-fashioning; From More to Shakespeare. London: The University of Chicago Press, 1984, p. 222-257. NEELY, Carol T. “Women and Men in Othello”. In: LENZ, Carolyn T.S, GAYLE Greene & NEELY, Carol T. The Woman’s part: Feminist criticism of Shakespeare. Urbana: University of Illinois Press, 1983, p. 211 – 239. SHAKESPEARE, William. Otelo, o mouro de Veneza. Trad. Barbara Heliodora. Rio de Janeiro: Editora Lacerda, 1999. Artigo recebido em 09 de maio de 2009. Artigo aceito em 26 de agosto de 2009. Ana Claudia de Lemos Monteiro Mestre em Literaturas de Língua Inglesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ/RJ. Fernanda Teixeira de Medeiros Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense. Professora Titular de Literatura Inglesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ/RJ. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 215 216 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 O ENTRE-LUGAR DE SHAKESPEARE NA TELEVISÃO BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DA MINISSÉRIE OTELO DE OLIVEIRA Cristiane Busato Smith [email protected] … é o “inter” – o fio cortante da tradução e da negociação, o entre-lugar – que carrega o fardo do significado da cultura. Homi Bhabha RESUMO: A partir do enfoque dos estudos culturais, este trabalho se propõe a analisar alguns aspectos da transposição da tragédia Otelo, o mouro de Veneza (1603) para a minissérie da TV Globo, Otelo de Oliveira (1983) de Aguinaldo Silva. Adaptando Shakespeare para o universo da favela, da corrupção e do carnaval dos anos oitenta no Brasil, o diretor Paulo Afonso Grisoli recria com engenho a célebre tragédia de amor e ciúmes de Otelo e Desdêmona. Ainda que o enredo se concentre na tragédia doméstica, o pano de fundo de Otelo de Oliveira deixa antever as inquietações de uma época que, após duros anos do silêncio forçado da ditadura, podem agora ser politizados em pleno horário nobre da televisão brasileira. ABSTRACT: Situated within the cultural studies debate, this paper looks at a “Shakespeare from the margins”, an adaptation of Othello, the Moor of Venice (1603), the Globo TV miniseries Otelo de Oliveira (1983). Relocating Shakespeare to the conflicting universe of the Brazilian favelas in the eighties, during the preparation for carnival in a samba school, director Paulo Afonso Grisoli ingeniously retextualizes Othello and Desdemona’s celebrated tragedy of love and jealousy. While the plot centers on the domestic tragedy, the ideological backdrop of Otelo de Oliveira underscores the anxieties of a post-dictatorship Brazil in an arena of contrasts where questions of gender, class and race can only now begin to be politicized in Brazilian prime time television. PALAVRAS-CHAVE: Adaptação cultural. Shakespeare no Brasil. Otelo KEYWORDS: Cultural adaptation. Shakespeare in Brazil. Othello Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 217 Este estudo responde ao debate crítico em torno das adaptações consideradas como processos de inovação e renovação dos textos-fonte, exemplos de hibridismo conjugando a tradição e a tradução. Nesse sentido, as adaptações são reinterpretações críticas que, ao mesmo tempo em que prestam homenagem, contra-escrevem1 e revisitam criticamente textos canônicos. No bojo dos estudos culturais nascem perguntas que se inspiram não apenas em reflexões estéticas, mas também em indagações que procuram estudar questões relativas à cultura, tais como as ideologias que perpassam as representações de raça, classe e gênero. As adaptações podem ser fontes de pesquisa interessantes porque possibilitam um olhar dialético que procure pontos de interseção e tensão, que apure em que momentos a tradição entra em crise com a tradução. Neste sentido, o conceito de tradução cultural é uma ferramenta que ilumina este ensaio: Não é simplesmente apropriação ou adaptação; é um processo através do qual se demanda das culturas uma revisão de seus próprios sistemas de referência, normas e valores, pelo distanciamento de suas regras habituais ou ‘inerentes’ de transformação. Ambivalência e antagonismo acompanham cada ato de tradução cultural, pois o negociar com a “diferença do outro” revela uma insuficiência radical de nossos próprios sistemas de significado e significação. (BHABHA citado em HALL, 2006, p. 71-72) Negociação, transfor mação, diferenças – um jogo tenso de dependências e independências em relação ao texto-fonte: como fazer um Shakespeare “verdadeiro”? Como fazer um Shakespeare “brasileiro”? Estamos, pois, diante de nosso objeto de estudo: a minissérie da TV Globo, Otelo de Oliveira (1983)2, adaptação brasileira de Otelo, o mouro de Veneza3 (1603-4), de William Shakespeare. Exemplo paradigmático de tradução cultural, logo na abertura se anuncia como “recriação de Otelo, o mouro de Veneza de William Shakespeare”. É bem verdade que a história da recepção dos textos shakespearianos mapeia a história da apropriação e de práticas diversas de re-escrita ao longo dos séculos e fornece um material extremamente rico para os estudos culturais. Julie Sanders (2006) assinala uma peculiaridade própria de muitos textos que são frequentemente alvos de adaptações: eles originalmente também foram adaptações. No caso de Otelo, o mouro de Veneza, Shakespeare se inspirou em uma novela da coletânea Hecatomithi do escritor Giovanni Battista Giraldi (Cinthio). Ainda que Shakespeare tenha seguido o enredo com certa fidelidade, o texto de Cinthio se resume a uma narrativa de intriga enfadonha e de muita 218 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 violência, com Iago querendo vingar-se de Otelo por ter sido rejeitado como amante de “Didemona” (HELIODORA, 1999, p. 6). Não é nada surpreendente que Otelo seja um dos três textos mais adaptados do cânone shakespeariano (SANDERS, 2006): seu enredo tem um apelo impressionante. A plasticidade da narrativa, que conjuga amor, intriga, ciúmes, arbitrariedades e conflitos de ordem social e cultural, torna a tragédia de Shakespeare particularmente apta para adaptações que procuram examinar as tensões das sociedades multiculturais no mundo contemporâneo. De um ponto de vista estrutural, Otelo de Oliveira se encaixa perfeitamente na definição de adaptação4. Além de haver a transposição de gênero, do teatro para a televisão, o roteirista Aguinaldo Silva optou por reescrever o texto shakespeariano, lançando mão tanto de cortes quanto de adições livremente, muito embora tenha respeitado a estrutura do enredo do texto-fonte. Se, por um lado, perde-se a beleza da poesia de Shakespeare com a introdução da linguagem informal usada na favela do Rio de Janeiro na adaptação brasileira, por outro, um comentário crítico é adicionado que politiza algumas questões que estavam sendo elaboradas na sociedade brasileira da década de oitenta. Devemos reconhecer o mérito de Otelo de Oliveira e identificar o lado inovador da minissérie, sem perder de vista que ela foi ao ar na faixa de programação conhecida como “quarta nobre”, alcançando grande visibilidade. Cabe lembrar que nessa época, o Brasil estava apenas saindo da opressão da ditadura militar e questões como a desigualdade social e a opressão da mulher5 começavam a emergir no debate crítico do brasileiro. O trágico enredo do texto-fonte é transplantado para a favela carioca. Otelo (Roberto Bonfim), definido como cigano por uns – inclusive ele próprio – e como “negro” por outros, é diretor da ala da harmonia da escola de samba “Paraíso do Tuiuti”. Apaixonado por Denise (Julia Lemmertz), uma colegial filha de um bicheiro rico, o “Doutor Barbosa” (Oswaldo Loureiro), que financia a escola onde ele trabalha, Otelo não enxerga outra maneira de casar com sua amada que não seja às escondidas 6. Começa, assim, o conflito que envolve questões de alteridade, desigualdades de classe, raça e gênero. Em plena preparação para o carnaval, a trama se alterna entre a casa de Otelo, onde o conflito doméstico terá lugar; o clube da escola de samba, onde Otelo passa o maior tempo a resolver questões relativas à sua função; e o terreiro de macumba e seus batuques rítmicos, que explora o sincretismo presente no Brasil, além de conferir um aspecto místico para o trágico destino do casal. A escolha do espaço foi essencial, pois foi assim que o diretor conseguiu situar geografica e politicamente a peça shakespeariana no Brasil: Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 219 há, com efeito, um convite implícito para pensarmos sobre esses universos conflituosos e aparentemente irreconciliáveis que dramatizam os principais problemas do Brasil dos anos oitenta, quais sejam: as desigualdades econômicas e raciais. Além disso, o espaço claustrofóbico da casa de Otelo, ao qual Denise se acha confinada, serve também para enfatizar a falta de liberdade e de escolha que tolhiam as vidas das mulheres da época. A opressão da mulher é, por conseguinte, outra reflexão a que devemos prestar atenção. 1 “Eu não entendo essa tua linguagem”: a questão da mulher A representação de Denise, ou Dé, como vários personagens a chamam, sublinha o apagamento da mulher na sociedade brasileira dos anos oitenta. Tendo aberto mão de sua vidinha confortável de classe média e de sua educação para fugir de casa e ficar ao lado de seu amado, Dé se priva de qualquer possibilidade de agenciamento público como indivíduo. O privado é seu único domínio – ela somente pode ter a felicidade que seu lar lhe permite. Enquanto os homens na minissérie brigam, tramam, trabalham, decidem e, de uma forma ou de outra, fazem a diferença, Dé tão-somente espera. A função de Dé, portanto, se resume a de uma frágil bonequinha de luxo: atendida por sua ama Emília (Léa Garcia), protegida por Cássio (Eduardo Conde), nomeado por Otelo como seu guarda-costas, e sem nenhuma ocupação, a vida de Denise se torna entediante. Sua felicidade está totalmente atrelada à presença de seu marido. A casa de Denise figura como metáfora de sua opressão: primeiramente, a casa é bem pequena, fazendo um contraste significativo com a ampla casa de seu pai. As grades das janelas, típicas de muitas casas brasileiras, lembram uma prisão e a sensação claustrofóbica se intensifica visto que os cômodos são diminutos e as portas estão sempre fechadas. A câmera focaliza Denise principalmente deitada, dormindo ou em seu toucador preparando-se para a chegada de Otelo, passando batom e perfume francês. Em sua única saída para encontrar o marido, Denise verbaliza o seu descontentamento, porém é firmemente lembrada de seu lugar como esposa: Denise: Eu quase vim por minha conta, sem esperar que você me chamasse. Otelo: Eu ia ficar zangado Denise: Por quê? Otelo: Eu sou marido das antigas, não é? A primeira coisa que eu quero da minha mulher é obediência. Denise: Mas… se eu resolver fazer alguma coisa? Otelo: Antes tem que me consultar. 220 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Denise: Eu não entendo essa tua linguagem. Otelo: É a única que eu sei falar. Denise: Sou como uma escrava. Ou ainda pior: uma odalisca presa no serralho esperando que o sultão apareça de vez em quando. Otelo: Eu vou ficar o tempo todo junto de você depois do carnaval. Denise: Até lá… Otelo: Tenha paciência comigo, Dé. A minha vida inteira eu só tive uma coisa inteiramente minha: meu nome. Essas coisas de amor são complicadas para mim. Denise: Tudo bem, eu faço o que você quiser.7 Ainda que Denise reclame de sua situação para Otelo, ela sempre cede aos seus pedidos e, paciente, procura atender a todos os seus desejos, nos moldes da mentalidade da época. Não podemos esquecer, no entanto, a natureza transgressora da nossa Desdêmona brasileira, que, tal qual a shakespeariana, foge para se casar e enfrenta a fúria de seu pai. O casamento, no entanto, lhe dá menos escolhas que sua vida como moça solteira, visto que ela vive para esperar o marido. Naturalmente, o tédio faz com que ela reflita sobre a sua situação e perceba que, mesmo com todas as imperfeições, sua vida de solteira era melhor: Denise: Cada vez que Otelo entra aqui é como um furacão. [...] Só por algumas horas. Ele vem me visitar. Na nossa casa. Paciência. Depois do carnaval quem sabe. Ah, até lá eu posso morrer. Sabe que a minha vida era melhor. Eu, pelo menos, saia, ia ao colégio e agora... Emília: Quem mandou parar de estudar. Só porque casou? Denise: Eu vou morrer assim. Além da aflição que transparece também nas pausas e hesitações de suas falas, outro aspecto que chama a atenção é que Denise menciona a morte duas vezes: um presságio para o que irá acontecer com ela no final. O presságio aparece novamente na cena anterior à de sua morte, na qual Denise pede que, quando ela morrer, Emília envolva seu corpo em um lençol cheiroso. No texto-fonte, Desdêmona pede para Emília arrumar sua cama com os lençóis que foram usados na sua noite de núpcias. O presságio também aparece na cena do banho (IV.iii), uma espécie de ritual de purificação, na qual a trágica heroína shakespeariana canta a melancólica canção do chorão, a mesma que sua mãe cantou antes de morrer. Os presságios e pressentimentos estabelecem o tom certo para o espectador, em ambos os casos, tanto no texto original como na adaptação brasileira, decididamente dramático e repleto de pathos. É assim, afinal, que se chega à catarse, a função imprescindível para Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 221 a tragédia, como já advogava Aristóteles. Trata-se da morte de uma mulher inocente, vítima de um sistema penal precário que ainda aceitava a figura da legítima defesa da honra, um fato vergonhoso para a história deste país, que demonstra como o patriarcado opera de maneiras extremamente nefastas. Muitos maridos lavaram com o sangue de suas esposas a “honra ultrajada” e se eximiam, assim, de qualquer punição. Essa situação apenas mudou em 2002, com a Lei no. 10.406, atualizada em 20068. Outro momento que evidencia a questão da vitimização foi o cuidado do diretor em dissipar qualquer dúvida do espectador em relação à conduta de Denise para que a sua pureza permaneça intacta e sua morte, pelas mãos de seu marido, tenha um grande impacto dramático. Isso foi conseguido, em ambos os casos, por meio de um diálogo entre a personagem feminina e Emília. No caso da minissérie da TV Globo, Emília incita Denise a conversar com o “atraente Cássio”, lembrando-lhe que as “mulheres casadas não estão mortas” (guardando-se as devidas ironias). A seguir, Denise pergunta: Denise: Emília, você teria coragem de trair o seu marido [Emília não responde] Emília: E você? Denise: Nem que me dessem o mundo inteiro Emília: O mundo inteiro é grande demais, Dé. Seria um preço muito grande para um pecado pequeno. Denise: Pequeno? Não, você está brincando. A pureza de Denise é também evidenciada pelo figurino, principalmente com o recatado e alvíssimo vestido de casamento, bem como nas suas camisolas de cor branca ou rosa claro. A ratificação da lealdade a toda prova de Dé, considerada juntamente com o seu confinamento e a sua morte pelas mãos de seu marido, torna-a uma espécie de mártir, uma vítima sacrificial, à luz da teoria de René Girard (1999) que liga a violência ao sagrado. Segundo o teórico francês, a morte da vítima sacrificial serve para purificar a violência e efetuar uma verdadeira mudança na comunidade, o que de fato ocorre ao final do Otelo de Shakespeare. No caso de Otelo de Oliveira há indícios que a mesma ideologia se perpetuará, não somente em virtude do não suicídio de Otelo que impede a consolidação da justiça poética, mas também pelas imagens finais que desvendam a alegria dos personagens no desfile de carnaval. Nada irá mudar. Cabe observar que o carnaval do Rio de Janeiro se torna uma metáfora adequada para a trajetória de Otelo e Denise. Afinal, o carnaval é uma ocasião festiva em que a transgressão e desordem predominam, na qual a inversão de 222 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 papéis e o uso de fantasias e máscaras assinalam a instabilidade da identidade. No caso da representação da mulher, o carnaval é particularmente hostil: nas escolas de samba, o lugar da mulher é predominantemente de costureira, doceira, cozinheira ou aderecista. Pouco ou nenhum destaque existe para a mulher como compositora e criadora. Em contrapartida, o carnaval na Marques de Sapucaí celebra a apoteose da objetificação feminina: a mulher brilha apenas como um corpo, este sim, a verdadeira estrela, amplamente explorado e exportado como marca de “brasilidade”. Muito embora Denise nunca saia de casa, simbolicamente ela é também apenas um corpo, seu valor é aferido pelo marido como objeto de seu desejo. Como ela própria observa: “Como uma escrava ou como uma odalisca presa esperando que o sultão apareça de vez em quando.” O fim de Denise, para ter o devido impacto cênico, não poderia ser diferente da personagem shakespeariana: ela é estrangulada por seu marido em sua cama, com os lençóis cheirosos, como ela própria havia pressentido. Sem sangue ou qualquer marca que possa macular o seu corpo alvo, o olhar da câmera, nesta cena, é certamente escopofílico, pois enfatiza o belo corpo da jovem atriz que jaz morta, com as pernas desnudas e semi-abertas. Depois de assassinar a esposa, Otelo chora desesperadamente e acaricia seu rosto sussurrando “tão branca, tão branca” – chamando atenção para a diferença de cor entre os personagens. A objetificação do corpo feminino se tornou um clichê. Não há, no entanto, exemplo mais forte do corpo feminino como objeto do que na morte (BRONFEN, 1999). Talvez seja por isso que a glamorização da morte esteja tão presente hoje apesar de nossos olhos já não conseguirem percebê-la: ela não é representável. 2 Uma questão de classe Tal qual o texto de Shakespeare, Otelo de Oliveira explora as diferenças entre Denise e Otelo, trazidas à tona em vários momentos da peça, especialmente por meio das intrigas incessantes de Tiago (Milton Gonçalves), a versão brasileira do grande vilão shakespeariano. Tiago é o porta-voz da desgraça que se anuncia desde o início por meio de indiretas e insinuações e, mais tarde, com referências claras como a seguinte: Vigia tua mulher, Otelo. Não se esqueça: ela é de outra classe. O importante para essa gente não é deixar de fazer, mas é manter as aparências. Não se esqueça, quando ela casou com você, ela enganou o próprio pai. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 223 O exemplo acima ilustra adequadamente como a questão de classe influenciou o conflito central de Otelo de Oliveira. Dé, afinal, não pertence à mesma classe social de Otelo – ela vem de uma família de classe média, morava em casa própria, tinha vários empregados e frequentava uma escola particular. Otelo, em contrapartida, é um sambista que mora no morro e, ainda que ele seja diretor da harmonia, seu poder e autoridade limitam-se aos muros do barracão de sua escola de samba e sua glória se restringe ao dia do desfile do carnaval. Tiago arquiteta seu plano de vingança a partir das diferenças significativas entre as vidas do par amoroso. A lógica que o Otelo brasileiro termina por aceitar e adotar revela o quanto ele foi influenciado pelas marcas das desigualdades de classe e de gênero. Não custa lembrar que a estrutura de classes no Brasil é extremamente rígida e que as chances de mobilidade para as classes mais privilegiadas não são, nem de longe, distribuídas igualmente para indivíduos com origem nas diversas classes sociais. Pouco a pouco, o protagonista passa a acreditar que Denise opera com códigos e valores radicalmente distintos dos seus. A principal idéia que Tiago quer transmitir para Otelo é a de que as mulheres de classes sociais mais altas tendem a viver uma vida de aparências e falsidade e que Dé não fugiria à regra. A outra insinuação, igualmente presente no texto de Shakespeare, é de ordem psicológica uma vez que sugere que um padrão de comportamento tende a se repetir na mesma pessoa e, portanto, a filha que enganou o pai irá enganar o marido. Aparentemente, não se considera a possibilidade de que fugir de casa (o que significa, consequentemente, ignorar a voz paterna) talvez fosse a única maneira para que moças em situações semelhantes às de Desdêmona e Dé pudessem casar com seus amados. Uma vez que o conflito principal já estava instaurado e que Otelo de Oliveira realmente desconfia da fidelidade de sua esposa, Tiago, assim como o Iago do texto shakespeariano, trata de partir para o ataque. Agora não se tratam mais de insinuações e sim de acusações. A estratégia de Tiago é sedimentar a insinuação e lançar novos ataques. Desta vez ele acusa Cássio diretamente: “Não te parece estranho que ela tenha escolhido você que é tão diferente dela? Um gosto de coisa diferente… Cássio não. Cássio é branco. Cássio é bem educado. É classe média”. A cor da pele torna-se um dado importante na medida em que marca a diferença étnica entre Otelo e Denise aos olhos insanamente ciumentos e possessivos de Otelo, e aproxima Dé de Cássio, já que os dois são brancos e, presumidamente, “iguais”. Como foi dito no início, o Otelo brasileiro se define orgulhosamente como cigano e rejeita ser chamado de negro, uma alternativa que novamente tem ressonância com o texto-fonte, no qual o protagonista é 224 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 mouro. Cabe lembrar que tanto a figura do mouro quanto a do cigano são invenções discursivas que per mearam o imaginário popular e foram amplamente mitologizadas na literatura ocidental. O mouro, na época de Shakespeare, representava aspectos exóticos, sensuais; ele era considerado excêntrico, selvagem e perigoso. De forma análoga, o cigano é culturalmente representado no Brasil como um indivíduo amoral, infiel, violento e exótico. Tidos como vagabundos avessos ao trabalho, exploradores da boa-fé, afeitos a bruxarias, o cigano é decididamente uma figura marginal. Como se vê, a demonização do cigano faz par com a do mouro. Outra figura que incorpora um lugar de ambivalência e marginalidade é o malandro carioca. Personagem bem conhecido na cultura brasileira, o malandro é ambivalente, pois é considerado sedutor, tem lábia e desfruta de popularidade com as mulheres. Ainda que possamos encontrar traços do malandro na maioria dos personagens masculinos da minissérie, brancos e negros, talvez o malandro carioca mais evidente seja o “Doutor” Barbosa, pai de Denise. Barbosa é um bicheiro grosseiro que enriqueceu ilicitamente por meio do jogo de bicho e que financia a escola de samba. Um sujeito bemdisposto, cercado por guarda-costas, sempre tenta levar vantagem em todas as situações. O título de doutor lhe é dado por força de sua posição econômica que lhe confere autoridade e poder aos olhos das classes inferiores. Otelo de Oliveira também incorpora os aspectos expostos acima sobre o malandro carioca: ele é sedutor, “boa-praça” e extremamente popular na favela, “tem um nome a respeitar”, como ele próprio observa, além de, sempre, “dar um jeitinho” para conseguir o que quer das pessoas. É significativo que as únicas pessoas que não moram na favela em Otelo de Oliveira são o bicheiro “Doutor Barbosa”, Cássio e Rodrigo (comparsa das tramas Tiago), os três brancos e de classe média. Em contrapartida, o morro aparece como domínio dos negros e mulatos. Trata-se de um universo aparte, com códigos próprios, incompreensível ao homem branco. A dicotomia morro x asfalto, que isola negros de brancos, classes baixas de classes médias, aparece de forma inquestionável na cena na qual Otelo mata Desdêmona. Não há casamento possível entre duas pessoas tão irremediavelmente diferentes. Como vimos, questões de classe, raça e de gênero permeiam Otelo de Oliveira e, ao mesmo tempo em que se aproximam do texto fonte, ressignificam um contexto brasileiro todo próprio. Cada vez que Otelo, O mouro de Veneza é adaptado, o texto é reinscrito em um universo diferente de valores e ideologias. A plasticidade do texto de Shakespeare permitiu que Aguinaldo Silva recriasse Otelo e o transportasse Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 225 para uma escola de samba no Rio de Janeiro, uma arena de conflitos em que questões de gênero, classe e raça são dramatizadas. O sotaque de Otelo de Oliveira é inconfundivelmente brasileiro – salvaguardadas as devidas inflexões de Shakespeare. Notas 1 Contra-escrever, ou write back, na língua original, é uma noção que tem origem com os estudos póscoloniais. Ver ASHCROFT, Bill; GRIFFITHS, Gareth; TIFFIN, Helen (1998). 2 O escritor Aguinaldo Silva transpôs a tragédia shakespeariana, Otelo, o mouro de Veneza, para o formato da minissérie televisiva. A produção e direção ficaram a cargo de Paulo Afonso Grisoli. A minissérie teve uma hora e meia de duração e uma boa recepção no Brasil e no estrangeiro, tendo sido exibida em emissoras de TV de 64 países, entre elas a BBC de Londres. 3 A primeira adaptação de Otelo, o mouro de Veneza no Brasil foi teatral. Trata-se da peça de Gonçalves Dias, Leonor de Mendonça (1846-7), como informa Barbara Heliodora em “Shakespeare no Brasil” (2008, p. 326). 4 Para Sanders, a “adaptação pode ser uma prática de transposição, de transpor um gênero específico para outro, como em um ato de revisão por si só. A adaptação pode se assemelhar à prática editorial em alguns aspectos, cedendo ao exercício de “desbastes” e “podas”. No entanto, pode também ser um procedimento de amplificação que se engaja com a adição, expansão e interpolação (…). A adaptação frequentemente se associa ao comentário crítico do texto-fonte, o que pode ser realizado, geralmente, por meio da proposta de um ponto de vista revisado do texto “original”, adicionando hipóteses ou ainda dando voz aos personagens sem voz e aos marginalizados. Ao mesmo tempo, a adaptação pode constituir uma tentativa de tornar textos relevantes ou facilmente compreensíveis para plateias ou leitores novos, por meio do processo de aproximação e atualização” (2006, p. 19, minha tradução) 5 Não devemos esquecer de mencionar a minissérie de Rede Globo Malu Mulher (1979), que tratava dos conflitos e sucessos da vida de uma mulher separada (Regina Duarte). Malu Mulher fez grande sucesso, ainda que tenha tido problemas com a censura por apresentar temas ousados para a época, como o aborto, a pílula anticoncepcional, o orgasmo feminino e a virgindade. 6 Aguinaldo Silva pode ter se inspirado também no filme francês Orfeu negro (1959), dirigido por Marcel Camus. O enredo é baseado na conhecida história da mitologia grega de Orfeu e Eurídice e na peça teatral de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, Orfeu da Conceição. O filme é ambientado no Rio de Janeiro durante a época do carnaval e narra a história de um amor impossível entre duas pessoas de universos radicalmente diferentes. O conto de Anibal Machado, “A morte da porta-estandarte” (1925), também se inclui nesta tradição narrativa uma vez que tematiza o ciúme masculino, a objetificação da mulher e conflitos raciais, com o carnaval como pano de fundo. 226 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 7 Todas as citações da minissérie Otelo de Oliveira foram transcritas por mim e não serão referenciadas uma vez que não tive acesso ao roteiro. 8 Para uma compreensão mais aprofundada do assunto, ler o excelente artigo de Solange Ribeiro Oliveira “A contemporaneidade de Shakespeare: a violência contra a mulher no poema narrativo O estupro de Lucrécia” ( 2008, p. 227-239). REFERÊNCIAS ASHCROFT, Bill, GRIFFITHS, Gareth, TIFFIN, Helen. Post-colonial Studies. The key concepts, London: Routledge, 1998. BABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998. BRONFEN, Elisabeth. Over Her Dead Body: Death, Femininity and the Aesthetic. Manchester: Manchester University Press, 1996. GIRARD, René. A violência e o sagrado. São Paulo: Ed. Universidade Estadual Paulista, 1990. HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Trad. Adelaine La Guardia Resende et al. Belo Horizonte: UFMG, 2003. HELIODORA, Barbara. Shakespeare no Brasil. In: LEÃO, Liana de Camargo; SANTOS, Marlene Soares dos (orgs.). Shakespeare, sua época e sua obra. Curitiba: Beatrice, 2008, p. 321-334. OLIVEIRA, Solange Ribeiro de. A contemporaneidade de Shakespeare: a violência contra a mulher no poema narrativo O estupro de Lucrecia. In: LEÃO, Liana de Camargo; SANTOS, Marlene Soares dos. Shakespeare. Sua época e sua obra. Curitiba: Beatrice, 2008, p. 227-239. SANDERS, Julie. Adaptation and Appropriation. London: Routledge, 2006. Artigo recebido em 05 de março de 2009. Artigo aceito em 07 de julho de 2009. Cristiane Busato Smith Doutora em Estudos Literários pela UFPR. Mestre em Literaturas de Língua Inglesa pela UFPR. Professora Adjunta de Língua e Literaturas de Língua em Inglesa da UTP. Professora Adjunta do Mestrado em Teoria Literária da UNIANDRADE. Editora da Revista Scripta Alumni. Membro do Centro de Estudos Shakespearianos (CESh). Membro do ISA (International Shakespeare Association). Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 227 228 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 A DRAMATURGIA DA MISTURADA: A HISTÓRIA DO AMOR DE ROMEU E JULIETA, DE ARIANO SUASSUNA Paulo Roberto Pellissari [email protected] RESUMO: Este artigo discute a criação artística A história do amor de Romeu e Julieta: imitação brasileira de Matteo Bandello, de Ariano Suassuna, mostrando como a narrativa do casal de amantes ganha nova feição no processo de transculturação no nordeste brasileiro. A recriação dramática de Suassuna de um folheto de cordel assume importantes funções sociais no contexto da cultura-alvo, dentre elas o estabelecimento de uma arte erudita brasileira a partir das raízes das manifestações artísticas populares, um empreendimento que constitui o projeto de vida do criador do Movimento Armorial. ABSTRACT: This study discusses The love-story of Romeo and Juliet: a Brazilian version based on Matteo Bandello, an artistic creation by Ariano Suassuna, showing how the story of the lovers acquires new contours in the process of transculturation into Northeast of Brazil. The dramatic recreation of a chapbook by Suassuna assumes important social functions in the context of the target-culture, among them the establishment of a Brazilian high culture derived from the roots of popular artistic manifestations, an enterprise which constitutes the life project of the creator of the Armorial Movement. PALAVRAS-CHAVE: Ariano Suassuna. A narrativa de Romeu e Julieta. Transtextualidade. Transculturação. Adaptação. KEY WORDS: Ariano Suassuna. The Romeo and Juliet narrative. Transtextuality. Transculturation. Adaptation. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 229 Literatura para mim é minha festa: é ali que eu toco e danço. Ariano Suassuna Diversas produções ao longo dos séculos exploram diferentes ângulos das peças de William Shakespeare (1554-1616), adaptando os textos-fonte ao contexto do público-alvo, com o intuito de que atenda às especificidades desse contexto de recepção. Muitos enredos, entre eles, a narrativa de Romeu e Julieta, têm sido reduzidos, ampliados, modificados, adaptados para atender diferentes plateias e contextos sócio-históricos específicos. Nesta ótica, este estudo se propõe a analisar, a partir de pressupostos teóricos sobre a teoria da adaptação/apropriação, a recriação dramática de Ariano Suassuna (1927-) A história do amor de Romeu e Julieta: imitação brasileira de Matteo Bandello. Essa peça, além de ser uma adaptação, é uma tradução transcultural, na terminologia de Linda Hutcheon (2006, p. 145), uma vez que é a recriação da tragédia shakespeariana, ambientada em Verona, transposta para o contexto do sertão nordestino brasileiro. A recriação de Suassuna tem como um dos textos-fonte o poema narrativo em cordel Romance de Romeu e Juliêta [sic], cuja autoria é atribuída ao poeta paraibano João Martins de Athayde (1880?-1959). Pretende-se, com este estudo, além do resgate da memória, história e importância da história de Romeu e Julieta, destacar a inserção da narrativa em solo brasileiro, mostrando como se deu o abrasileiramento e a adaptação ao contexto nordestino. Objetiva-se, ainda, prestar uma homenagem a Suassuna, contador de “causos” e histórias que, segundo Barbara Heliodora, é “essa coisa rara que é o homem que não se afastou de suas raízes com o aperfeiçoamento de sua cultura; ao contrário, soube fazer com que essa cultura lhe servisse para um conhecimento e uma compreensão crescentes das coisas e das gentes de sua terra” (HELIODORA, 2007, p. 353-54). Quarenta anos após escrever o romance folhetinesco A história de amor de Fernando e Isaura1, em que desloca a paixão proibida das personagens da lenda e da famosa ópera de Richard Wagner, Tristão e Isolda, para o sertão nordestino, Suassuna, em 1996, aborda novamente o tema dos amantes infelizes com a narrativa de Romeu e Julieta. Apesar de existir uma versão de A história do amor de Romeu e Julieta:: imitação brasileira de Matteo Bandello publicada no suplemento Mais! do jornal Folha de São Paulo, de 19 de janeiro de 1997, ressalta-se que essa recriação suassuniana ainda continua inédita, ou seja, ainda não foi publicada em livro. Embora Shakespeare seja considerado ponto de partida e retorno para todas as reescrituras modernas de Romeu e Julieta, a origem dessa história remonta à tradição oral; vamos encontrar as primeiras narrativas do destino trágico dos amantes nas novelles italianas dos séculos XV e XVI escritas por 230 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Masuccio Salernitano (1410?-1480?), considerado o maior novelista do século XV, Luigi Da Porto (1485-1529) e Matteo Bandello (1485-1561), cujos relatos, por sua vez, foram transformados pela tradução francesa de Pierre Boaistuau (1500-1566). Chegando essa tradução até a Inglaterra via França, Arthur Brooke (1544?-1563), com base na versão francesa, se apropria da história do casal de amantes e reescreve-a em forma de um poema narrativo considerado a fonte primária de Shakespeare. William Painter (1540?-1594) escreve uma outra versão em prosa sobre os amantes infelizes em uma coletânea de traduções para o inglês intitulada Palace of Pleasure, de Boccaccio e Bandello, entre outros autores. A obra de Shakespeare, considerada a primeira recriação dramática da narrativa de Romeu e Julieta, até hoje continua a fascinar o imaginário ocidental e mesmo o oriental: reescrituras e transposições intermidiáticas e culturais da história do casal de amantes multiplicam-se nos quatro cantos do globo, passando por várias adaptações ao longo do tempo e dos lugares. É também uma história cujo teor político mudou com as diferentes nuanças de contexto. Relida, recriada e parodiada não somente pela literatura, mas também pelo cinema e televisão, os meios de comunicação de massa não se cansam de se apropriar e adaptar a história para os mais diversos fins. Os estudos de apropriação/adaptação mobilizam uma grande variedade de termos, como versão, variação, transformação, imitação, pastiche, paródia, transposição, revisão, reescrita, entre outros. E, ao que tudo indica, tais denominações não se esgotam por aqui, conforme ressalta Hutcheon (2006, p. 15) ao declarar que “os estudiosos continuam a cunhar novas palavras para substituir a simplicidade da palavra adaptação”. Diante da infinitude de termos, prefere-se adotar neste artigo a terminologia “adaptação” e “apropriação”, em um sentido amplo. A adaptação, como estratégia de construtividade textual não é um procedimento novo, visto que remonta ao período clássico quando os gregos iniciaram a prática de releitura dos mitos. Ao elaborarem seus temas, tomando como base o material mítico difuso e complexo, os poetas gregos tinham liberdade para modificá-lo ou introduzir inovações. Como observa Donaldo Schüler (SÓFOCLES, 2004, p. 7) na introdução de sua tradução de Édipo Rei, “o público que lotava as arquibancadas saía de casa para ver algo novo que os fizesse refletir, e não para rever o que já sabiam”. Salienta que “Sófocles inventa: muda o nome da mãe de Édipo, introduz a enigmática esfinge, a peste, o processo em que o juiz é réu, a autopunição voluntária, o exílio [...] Inventando e valendo-se de invenções alheias, Sófocles produziu uma peça de indiscutível originalidade”. Ao ser adaptado, um texto sofre transformações devido às exigências do novo meio em que será veiculado, uma vez que a adaptação é um processo dialógico complexo, multidirecional, que inclui os conceitos de intertextualidade, Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 231 tradução intersemiótica e cultural e hipertextualidade. Segundo Pavis (2005, p. 10), o termo adaptação pode ter vários sentidos, como o de “transposição ou transformação de uma obra, de um gênero em outro [...]”. Ainda citando Pavis, o teórico afirma que a adaptação (ou dramatização) tem por objeto os conteúdos narrativos “que são mantidos (mais ou menos fielmente, com diferenças às vezes consideráveis), enquanto a estrutura discursiva conhece uma transformação radical”. Nesse sentido, o produto textual resultante desse processo é chamado de reescritura. Pavis aponta diversas manobras que podem ser utilizadas por um dramaturgo nas reescrituras. Cortes, reorganização da narrativa, ‘abrandamentos’ estilísticos, redução do número de personagens ou dos lugares, concentração dramática em alguns momentos fortes, acréscimos e textos externos, montagem e colagem de elementos alheios, modificação da conclusão, modificação da fábula em função do discurso da encenação. A adaptação [...] goza de grande liberdade: ela não receia modificar o sentido da obra original, de fazê-la dizer o contrário [...]. Adaptar é recriar inteiramente o texto considerado como simples matéria [...]. (PAVIS, 2005, p. 10-11) Pavis também reflete sobre a apropriação e adaptação dos clássicos na contemporaneidade. Para o professor de estudos teatrais, novas questões devem ser abordadas em cada época: Trata-se então de uma tradução que adapta o texto de partida ao novo contexto de sua recepção com as supressões e acréscimos julgados necessários à sua reavaliação. A releitura dos clássicos “ concentração, nova tradução, acréscimos de textos externos, novas interpretações “ é também uma adaptação, assim como a operação que consiste em traduzir um texto estrangeiro, adaptando-o ao contexto cultural e lingüístico de sua chegada. É notável que a maioria das traduções se intitule, hoje, adaptações, o que leva a tender a reconhecer o fato de que toda intervenção, desde a tradução até o trabalho de reescritura dramática, é uma recriação, que a transferência das formas de um gênero para outro nunca é inocente, e sim que ela implica a produção do sentido. (PAVIS, 2005, p. 11) Quanto à adaptação de clássicos, Anne Ubersfeld assevera que clássico “é tudo aquilo que, não tendo sido escrito para nós, mas para outros, reclama uma ‘adaptação’ [...]; nesse sentido, não apenas Shakespeare, mas Vigny ou Musset ou Tchékhov ou Ibsen [...] são para nós clássicos [...] Ler hoje é des- 232 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 ler o que foi lido ontem – não que esta leitura tenha se tornado ‘falsa’ mas é que não é mais para nós” (UBERSFELD, 2002, p. 9-13). Para outro crítico, Jean Marsden, apropriação de um texto, ou seja, tornar próprio o que é de outro, significa sempre desenvolver a partir dele uma leitura que o isola de seu contexto imediato para dele extrair um significado diferente que interessa ao leitor ou espectador em seu momento histórico presente. A apropriação textual é um processo necessário e inevitável: uma obra literária estará exercendo influência se as pessoas não deixarem de manifestar uma reação diante dela, ou seja, se houver leitores que, novamente, apropriem-se da obra do passado, ou autores que desejam imitá-la, excedê-la ou refutá-la (MARSDEN, 1991, p.1). No trânsito intertextual através do tempo e espaço, a narrativa de Romeu e Julieta passou por inúmeras mutações e (re)negociações críticas e ideológicas em função das mudanças do Zeitgeist e do imaginário cultural. A cada época, ela renasce, assim como a Fênix, símbolo da imortalidade, que ressurge das cinzas. A cada recriação permanecem marcas dos textos anteriores, ou seja, dos hipotextos. Segundo Gérard Genette, no estudo Palimpsestos: a literatura de segunda mão (2005), todo texto é um palimpsesto. O crítico francês propôs um conceito mais inclusivo de intertextualidade, a transtextualidade ou transcendência textual, ou seja, assim definido: “[...] tudo que o texto coloca em relação manifesta ou secreta com outros textos” (GENETTE, 2005, p. 9) e apresenta cinco tipos de relações transtextuais, dentre elas, a hipertextualidade que trata da relação entre um texto e outro, ou seja, “toda relação que une um texto B (que doravante denominarei de hipertexto) a um texto anterior A (que, naturalmente, chamarei de hipotexto) do qual ele brota, de uma forma que não é a do comentário” (GENETTE, 2005, p. 14). Em suma, o hipotexto, nesse sentido, é o texto-fonte, o texto de partida; e o hipertertexto, o de chegada ou o texto-alvo. Desse modo, o hipertexto transforma, modifica, elabora ou estende o hipotexto. Adaptações transculturais, muitas vezes, também pressupõem mudanças de gênero, visto que os adaptadores depurgam elementos do texto de partida, para que exista maior e melhor compreensão à nova recepção do texto de chegada. Na adaptação transcultural, “quase sempre há mudança política do texto adaptado para o texto transculturalizado” (HUTCHEON, 2006, p. 145). Parece lógico que as mudanças no tempo e de lugar devam trazer alterações nas associações culturais, como aconteceu com a comédia shakespeariana A megera domada (The Taming of the Shrew, 1590?) que, ao longo dos anos, foi adaptada constantemente para atender às exigências do Zeitgeist, desde a luta pelo sufrágio feminino da década de 1920 até as revoluções feministas da Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 233 década de 1960. Tais transformações políticas podem também tomar rumos imprevisíveis, como o uso arbitrário da adaptação de O Mercador de Veneza (The Merchant of Venice, 1596?), de Shakespeare. Essa obra serviu de referência a um grande número de representações anti-semitas que proliferaram no período entreguerras e que sempre tendiam a cortar parte do discurso de Shylock que trata da questão da retaliação, da violência que gera violência (CAMATI, 2006, p. 16). Para a transculturação de Romeu e Julieta em terras nordestinas, Suassuna, assim como Shakespeare, apropria-se de fontes diversas, não só da tradição oral como também da cultura erudita. Dessa forma, a estética de Suassuna aproxima-se do que afirma T. S. Eliot (1989, p. 37-48), em “Tradição e o talento individual”, quando menciona que o poeta contemporâneo, para produzir uma nova obra significativa, deve manter um diálogo com os poetas mortos, ou seja, com a tradição. O mesmo processo ocorre na renovação da história de Romeu e Julieta por Suassuna quando o dramaturgo retoma estéticas anteriores, mantendo assim uma relação dialógica com a tradição. Conforme afirma Maria Aparecida Lopes Nogueira: Ariano consolida sua linhagem literária dialogando com autores do passado ou do presente, estabelecendo “formas particulares de intertextualidade” [...]. Foram Homero, Shakespeare, Moliére, Cervantes, Lope de Vega, Gregório de Matos, García Lorca, Gogol, Tolstoi e Dostoiévski, aqueles que recorreram aos mitos nacionais e populares como matéria-prima a ser recriada para, num segundo momento, retornarem ao povo por numa relação vital de carne e sangue. (2002, p. 109) Suassuna busca os seus personagens, as suas idéias, histórias, falas, e, abastecido de todo esse vasto material, o dramaturgo faz empréstimos, recorta o que não interessa, recria e adapta as histórias. Para Braulio Tavares (2007, p. 120), Suassuna faz “algo que seja a soma de tudo que foi feito antes” e transforma em “algo que seja novo”. Para sua estética, Suassuna cunhou o termo “dramaturgia da misturada” e com ele designa sua obra artística, uma vez que utiliza textos de diferentes origens, naturezas e autorias. Sua criatividade e habilidade de integrar diversos textos em um mosaico literário elevam o escritor, dramaturgo e artista plástico à consagração como um dos maiores escritores da literatura brasileira. Segundo Silviano Santiago (2007, p. 22), “Suassuna se destaca de imediato dentro do panorama do teatro brasileiro contemporâneo, pois é ele o único dramaturgo que tem levado às últimas consequências o compromisso do artista 234 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 brasileiro com as fontes populares de nossa cultura”. Ainda sobre a estética suassuniana, Tavares afirma: Suassuna adota a mesma atitude apropriativa dos artistas medievais ou nordestinos. A Tradição é um imenso caldeirão de idéias, histórias, imagens, falas, temas e motivos. Todos bebem desse caldo, todos recorrem a ele. Todos trazem a contribuição de seu talento individual, mas cada um vê a si próprio como apenas um a mais na linhagem de pessoas que contam e recontam as mesmas histórias, pintam e repintam as mesmas cenas, cantam e recantam os mesmos versos. Histórias, cenas e versos são sempre os mesmos, por força da Tradição, mas são sempre outros, por força da visão de cada artista. (TAVARES, 2007, p. 193) Para a criação poética A história do amor de Romeu e Julieta: imitação brasileira de Matteo Bandello, Suassuna utilizou-se do folheto de cordel Romance de Romeu e Juliêta [sic], de João Martins de Athayde, como fonte primária. Nesse folheto, Romeu e Julieta ganham novas identidades no sertão nordestino e, nesse novo ambiente, surge a figura do cantador-poeta, que narra a tragédia do casal de amantes. Athayde retrata a rivalidade entre os feudos Montéquio e Capuleto para denunciar e chamar a atenção da população a respeito das lutas pelo poder entre as famílias poderosas do sertão nordestino, comuns naquele local na primeira metade do século XX, época do lançamento do folheto. O poeta descreve a família Capuleto como “aquela raça tirana/ que odiava a Montequio/ família honesta e humana” (ATHAYDE, 1957, p. 1). Segundo Candace Slater (1983, p. 37), “a típica história de cordel retrata o julgamento entre o bem e o mal, onde o bem é recompensado; e o mal, punido.” Vítima da traição de Capuleto, Montéquio é aprisionado, amarrado e destituído de seus direitos políticos. Athayde insere uma motivação forte e concreta em sua narrativa ao relatar o assassinato da esposa de Montéquio por Capuleto, sendo esta a vítima de sua vingança, quando Romeu estava com dois anos. Somente quando o jovem atinge a maioridade, Montéquio revela ao filho as circunstâncias do assassinato de sua mãe. O jovem Romeu parte em busca do algoz de sua família para executar a vingança prometida a Montéquio, mas apaixona-se por Julieta, filha de seu inimigo Capuleto. A partir desse momento, os eventos se aproximam da versão shakespeariana. É impossível determinar o(s) texto(s)-fonte de Athayde, mas as evidências indicam que o hipotexto do Romance de Romeu e Juliêta [sic], seja a peça de Shakespeare em tradução. Outra hipótese viável seria alguma adaptação cênica ou fílmica Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 235 da peça, uma vez que aparecem no folheto referências diluídas do texto do bardo e inexistentes nas versões anteriores da narrativa de Romeu e Julieta. Athayde amplia o tempo da ação de seis dias da versão de Shakespeare para aproximadamente 16 anos e alguns meses. Compacta a tragédia de cinco atos em um único folheto de 32 páginas, com 156 sextilhas e 936 versos. A composição poética do folheto segue, portanto, a estética do cordel tradicional com metrificação em sextilhas, conforme os padrões exigidos em adaptações de narrativas. Segundo Gonçalo Ferreira da Silva (2005, p. 22), “esta modalidade [sextilhas] passou a ser mais indicada para os longos poemas romanceados [...]. É a modalidade mais rica, obrigatória no início de qualquer combate poético, nas longas narrativas e nos folhetos de época”. Essa modalidade requer que os versos pares sejam rimados entre si, ou seja, o segundo com o quarto e com o sexto (ABCBDB), enquanto o primeiro, o terceiro e o quinto são livres. Athayde imprimiu valores medievais na adaptação da narrativa de Romeu e Julieta, considerando-se que tais valores morais ainda permaneciam enraizados naquela região do país. Para Ligia Maria P. Vassalo: A cultura popular no Nordeste é herdeira do modelo português da época do descobrimento, que emigrou para o Novo Mundo com todas as suas práticas e características, tal como outros de seus aspectos. A oralidade predominante naquele período sobrevive na literatura popular nordestina [...] Ela se fixa em especial nessa região, depositária do acervo cultural e social da Europa Medieval, onde permanece devido a múltiplas razões: por ser a mais antiga zona de colonização que prosperou, pelo isolamento prolongado em que a região permaneceu, pelo encontro e cruzamento contínuo de raças e culturas, pela estabilidade e longa duração de uma organização social semifeudal de latifúndio e patriarcalismo, perpetuadora das tradições herdadas. (VASSALO, 1988, p. 50) Na literatura de cordel, a honra e a vingança aparecem como valores supremos, sobretudo a vingança por ofensa familiar, superiores até mesmo ao amor. E esses valores, enraizados na cultura da população, devem ser encarnados, sobretudo pelo herói, que é, ao mesmo tempo, expressão de um ideal e modelo de conduta (VASSALO, 1988, p. 64). De acordo com essa visão, Romeu deveria vingar-se do inimigo da família, conforme prometido ao seu pai, mas não cumpre a promessa. Segundo os códigos de honra, o fato de Romeu não ter vingado a morte de sua mãe foi considerado covardia. Por isso, nessa ótica, Romeu não passa de um covarde que não cumpriu o que havia prometido ao seu pai, tendo um merecido castigo. 236 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Suassuna manteve praticamente a mesma forma e estrutura narrativa ao mudar o gênero do folheto para a recriação dramática: os versos são estruturados em sextilhas; mas, diferentemente do folheto, cujo cantador é a presença principal, Suassuna distribui a narrativa entre as diversas personagens, o que altera o ponto de vista. Obviamente, por se tratar de recriação dramática, a mudança de gênero impõe a transposição do monólogo dramático para uma versão dialogada. Ainda em se tratando do gênero, Suassuna faz dessa adaptação um texto híbrido, uma vez que se utiliza de elementos do melodrama e da tragédia que apresenta traços épicos, e faz a integração do mamulengo. O autor fez inovações ao fazer uso de vários hipotextos com referências medievais e renascentistas da cultura popular. Além de atender aos próprios propósitos do dramaturgo, as fontes foram modificadas para se acomodarem às convenções poéticas dos folhetos, uma vez que Suassuna construiu a sua peça nos moldes da literatura de cordel, e também à teatralização. Suassuna, portanto, adapta o folheto de cordel aos seus propósitos e cria uma dramaturgia, cuja tônica também é o poder e a rivalidade entre as famílias poderosas do nordeste brasileiro. O dramaturgo eleva as duas famílias inimigas a uma mesma igualdade social: atribui os títulos de duque a Capuleto e de conde a Montéquio, apontando, com isso, para a discussão de disputa entre duas famílias rivais, ou grupos rivais, que pertencem à elite política da cidade, pois se trata de dois representantes da nobreza. Isso evidencia que o dramaturgo distancia o leitor/espectador do fato imediato e aborda a disputa entre senhores de terra no nordeste agrário. Destaca-se, nessa recriação, o binarismo maniqueísta na descrição das duas famílias: os Capuleto, representantes de uma “raça tirana”, e os Montéquio, uma família “honesta e humana”, o que denota a manutenção de traços das moralidades medievais, visto que a moral do sertão ainda é fundamentada nesses binarismos. Vale observar que Shakespeare apresenta as famílias em igualdade de condição, com responsabilidades iguais no desencadeamento da tragédia. Como argumenta Santiago (2007, p. 76), a “divisão clara entre o Bem e o Mal serve para salientar o aspecto maniqueísta do teatro de Suassuna (e do teatro popular em geral)”. Suassuna repete o motivo do assassinato da mãe de Romeu, provocado pela briga entre as duas famílias sertanejas inimigas, e faz a transposição geográfica, esclarecendo que “a ação decorre em Verona e Mântua, ou seja, Recife e Olinda”. Suassuna reafirma a sua escrita com a originalidade regional, com a renovação dos modelos formais por meio de uma temática nova e com a passagem do poema narrativo em cordel para a forma dramática. Com criatividade, o dramaturgo insere elementos da cultura popular, como o Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 237 mamulengo, e interpola antigas cantigas do romanceiro popular, como A Rosa Roseira, Romance de Minervina, Romance da Bela Infanta e o Romance de Bernal Francês, a única dessas cantigas cuja letra adaptada é transcrita na peça, juntamente com o poema La casada infiel, de Frederico García Lorca (18981936), um dos poetas e dramaturgos espanhóis mais representativos do início do século XX, e que também se dedica à preservação do acervo popularerudito de sua terra. Além do prenúncio da situação trágica do casal, essas fontes, que se inter-relacionam na construção da cena dramática, intensificam a dimensão erótica presente na consumação do matrimônio entre Romeu e Julieta. Dessa maneira, Suassuna repete a sua vertente literária e vai ao encontro de tradições ibéricas medievais que ainda reverberam na cultura nordestina. La casada infiel, poema inspirado nos cancioneiros do século XV, publicado em 1928 em uma coletânea de dezoito poemas sob o título de Romancero Gitano, é um dos momentos de destaque na peça pela intensidade do romantismo e sensualidade de seus versos. Suassuna suprime algumas estrofes do poema de Federico Garcia Lorca e alterna as vozes masculina e feminina de Romeu e Julieta. Na versão de Lorca, os versos são enunciados apenas na voz masculina (CARDOSO, 2005, p. 109). Suassuna insere essa interpolação após a narração de Quaderna, personagem-coro da peça, sobre o casamento de Romeu e Julieta: Romeu: “Eu tirei minha Gravata, ela tirou o Vestido. Eu o cinto, com Revólver, ela, seus quatro Corpinhos. As anáguas engomadas soavam nos meus ouvidos como um tecido de seda por vinte facas rompido. Eu toquei seus belos peitos que estavam adormecidos, e eles se ergueram, de súbito, como ramos de jacinto. Naquela noite eu passei Pelo melhor dos caminhos, montado em Potrinha branca, mas sem Sela e sem estribos. Suas coxas me escapavam, como Peixes surpreendidos, metade cheias de fogo, metade cheias de frio”. 238 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Julieta: “Ele tirou a Gravata, Eu tirei o meu Vestido. Ele, o cinto, com Revólver, e eu, meus quatro Corpinhos As anáguas engomadas soavam nos meus ouvidos como um tecido de seda por vinte facas rompido. Ele tocou nos meus Seios, que estavam adormecidos, e eles se ergueram de súbito, como ramos de jacinto. Naquela noite, corri pelo melhor dos caminhos, montada por um Ginete, mas sem Sela e sem estribos. Minhas coxas lhe escapavam, como Peixes surpreendidos, metade cheias de fogo, metade cheias de frio”. (SUASSUNA, 1997, p. 6) Mais uma vez, percebe-se a contribuição de Suassuna nessa adaptação que, por meio do jogo de pronomes entre Romeu e Julieta “ que ora expressam o “eu”, ora narram o “ele(a)”, reforça a relação de amor entre o jovem casal do sertão nordestino e aproxima-os dos grandes personagens apaixonados da literatura mundial, como Tristão e Isolda, Abelardo e Heloísa, Dante e Beatriz, Páris e Helena, entre outros. Em Suassuna, não apenas Romeu, mas Julieta também expressa o que sente quando ambos descrevem, em uma sequência de vinte versos, “o ato de se despir e a troca de carícias voluptuosas” (O’SHEA, 2006, p. 156), durante a consumação do matrimônio. Verifica-se que o exercício de reelaboração de fontes tradicionais e populares por Suassuna não é apenas uma transposição mecânica de conteúdos e formas. O dramaturgo recria e transforma tais elementos, sem que eles percam sua identificação com o ambiente que os gerou. Por meio de sua imaginação criadora, distancia-se dos textos-fonte que utiliza; no entanto, mantém os laços que integram o novo produto no espaço universal em que circula o texto popular. Quanto à seleção das personagens, Suassuna insere narradores, figurantes, músicos, bailarinos e bailarinas, por se tratar de uma recriação Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 239 para o teatro, diferentemente de Athayde que precisava reduzir o número das personagens para adequar a sua versão às convenções da literatura de cordel. Em se tratando do efeito de distanciamento na adaptação de Suassuna, pode se perceber que: Na passagem da forma narrativa para a dramática, o autor [Suassuna] mantém por vezes resquícios da forma narrativa, como, por exemplo, na presença de personagens narradores [...] a presença de tais personagens que ora narram, ora interferem na trama que está sendo contada, chegando até mesmo a contracenar com os demais personagens, impõe à peça uma organização espacial e temporal causadora de um distanciamento que propicia a instauração de “efeitos de comicidade”, decorrentes da forte presença de instâncias narrativas, como [...] na análise da peça A História de Amor de Romeu e Julieta, tendo sempre em mente as fontes textuais não dramáticas que dão origem a peça. (CARDOSO, 2005, p. 111) Inúmeros traços épicos estão presentes na recriação dramática de Suassuna, como o uso do prólogo e epílogo, de monólogos e apartes. Tal caráter épico na sua dramaturgia caracteriza-se pelas categorias genéricas da dramaturgia épico-religiosa medieval. A medievalidade se faz notar ainda nesse autor através da técnica do teatro épico cristão, com suas modalidades específicas e seus personagens estereotipados, porque a Idade Média é o espaço em que floresceu uma dramaturgia que assovia o religioso e o popular através das oposições litúrgico/ profano e sério/jocoso. E, sobretudo porque, sendo a cultura popular nordestina marcadamente medievalizante, aquela marca atua como uma espécie de fonte para o próprio romanceiro, onde o aspecto religioso se reforça não só por causa da religiosidade popular do Nordeste como também pela opção pessoal de crença do autor. Por isso as peças de Suassuna se revestem de traços ideológicos próprios da Idade Média, como o maniqueísmo e o tom moralizante. Nelas há também personagens alegóricos associados à visão de mundo cristã medieval e aspectos próprios da cultura popular européia da época dos descobrimentos, indispensáveis visto que o teatro é, então, uma arte dirigida ao povo. (VASSALO, 1988, p. 103-04) Dentre as várias inovações de Suassuna nesta peça, destaca-se o teatro dentro do teatro. Assim como Shakespeare, Thomas Kyd, Corneille, Pirandello, Brecht, entre outros dramaturgos, Suassuna, por meio desse recurso, posiciona as personagens como espectadores dentro do próprio teatro, o que configura 240 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 a metateatralidade. Tal recurso pode ser uma alusão ao palco elisabetano, ou ainda mais precisamente à tragédia Hamlet (1600-01) ou à comédia Sonho de uma noite de verão (1595-96), entre outras peças de Shakespeare. Conforme afirma Pavis (2005, p. 386), “o emprego desta forma [teatro dentro do teatro] corresponde às mais diversas necessidades, mas sempre implica uma reflexão e uma manipulação da ilusão”, visto que a ilusão teatral baseia-se “no reconhecimento psicológico de fenômenos já familiares ao espectador” (PAVIS, 2005, p. 202). Suassuna posiciona seu leitor/espectador de modo que se identifique com a cena. Sabe-se que o recurso do teatro dentro do teatro é mais marcante para a recepção do espetáculo cênico e, embora este estudo detenha-se no texto dramático e não na encenação, é relevante esclarecer que a leitura de um texto dramático não é determinada ditatorialmente pela encenação, pois quando se lê uma peça, pressupõe-se um espectador em potencial. Suassuna sugere em rubrica algumas indicações que explicitam o caráter e a forma de teatralidade presentes no texto, como a informação de que deve ser instalado um pequeno palco dentro do maior. Nesse palco maior, orienta o dramaturgo, devem surgir bonecos, os mamulengos, representando a mesma cena do assassinato que Romeu viu quando criança. Para o pequeno palco, Suassuna menciona que ele também servirá para a noite de núpcias de Romeu e Julieta. A cena da noite de núpcias é introduzida pela seguinte rubrica: “Abre-se a cortina do palco menor, onde se vê uma cama. Fala Julieta, enquanto se encaminha para lá, com Romeu [...] os dois entram e fecham a cortina” (SUASSUNA, 1997, p. 6). Quaderna retoma a narração e menciona: “O que se passou ali / digo ao público-auditor / é impossível descrever, / tal foi a cena-de-amor / Imagine quem já tenha / vivido um igual ardor” (SUASSUNA, 1997, p. 6). O restante da cena fica por conta da imaginação do leitor/espectador. Suassuna leva o leitor/espectador a uma modificação de percepção, pois afasta o público do páthos; esse gesto pode ser considerado um efeito de distanciamento uma vez que Romeu e Julieta representam e narram ao mesmo tempo. Conforme afirma Theotonio de Paiva Botelho (2002, p. 282), Suassuna “coloca as cenas de maior impacto narradas, deixando que elas aconteçam, parte à vista do público, parte como um jogo estabelecido através do verbo, enquanto este projeta para longe a emoção vivida no momento presente”. A comicidade de situações, de gestos, de frases, do linguajar das personagens é uma constante na dramaturgia suassuniana. A adaptação de Romeu e Julieta de Suassuna possibilita ao leitor/espectador uma pluralidade de percepções no seu imaginário, à medida que os personagens adquirem movimentos mais livres, mais exagerados, mais amaneirados, podendo se aproximar dos espetáculos de mamulengo. Suassuna se utiliza de efeitos de Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 241 comicidade nessa adaptação, como no momento em que Teobaldo está prestes a morrer vitimado pela briga entre ele e Romeu, quando então Julieta exclama: “Meu Deus! Romeu e Teobaldo / cruzam já as suas Espadas! / Já sinto que vou cair / sobre o solo desmaiada!”. Sob a orientação do dramaturgo, Julieta deve cair e recobrar os sentidos rapidamente. Em poucos segundos, Julieta indaga: “Meu Deus, o que se passou?” (SUASSUNA, 1997, p. 6). Suassuna, engajado em prol da cultura brasileira, alimenta sua recriação de Romeu e Julieta com manifestações de cunho regional, como o mamulengo e, em especial, a literatura de cordel, uma vez que fundamenta seu projeto como poeta, dramaturgo e artista plástico com base em uma arte erudita brasileira a partir de raízes populares da própria cultura brasileira. Suassuna, portanto, apreciador e conhecedor das várias manifestações artísticas da cultura popular, ao inserir com inventividade e talento o mamulengo na peça, recria, resgata as formas, técnicas e expressão artística dos mestres artesãos tradicionais, insere essa forma de teatro na sua recriação dramática e, mais uma vez, contribui com a cultura popular. Dessa maneira, Suassuna revela, de modo muito próprio e singular, a rica expressividade do dia-a-dia do povo, visto que reconhece que, por meio dos bonecos, o povo se identifica com as alegrias, as tristezas, os temores, a fé, os tipos matreiros, o esmagamento dos direitos e a ânsia de liberdade expressos pelas personagens durante as apresentações de mamulengo. Ao fazer uso do mamulengo, Suassuna devolve ao povo, de uma maneira singular, os elementos da mítica do Nordeste. O poeta paraibano amalgama diversas culturas, diversos gritos sufocados, diversos medos e anseios, e junta “a matéria do homem à matéria do boneco para uma transfiguração. A alma do homem dá ao boneco também uma alma. E nesta pureza, realizam um ato poético” (citação de Hermilo Borba Filho na parede do Museu do Mamulengo, Espaço Tirida, em Olinda - PE). A seca, a poeira, a aridez do sertão nordestino transparece nos versos de Suassuna ao representar a imagem do flagelo da seca, como também no amor de Romeu e Julieta ao ser comparado com a água que sacia a sede. Na adaptação de Suassuna, “o Amor é água pura / que em nossas almas cai, / e o desejo de vingança / na sede do Amor se esvai” (SUASSUNA, 1997, p. 5). O amor para o poeta é mais intenso, pois é representado como a água pura que sacia a sede, que purifica. Somente o amor perdoa, inclusive perdoaria a vingança que Romeu jurou um dia fazer acontecer. O sertão devastado pela poeira e seca é uma imagem recorrente na adaptação de Suassuna. A religiosidade do povo nordestino é aludida na peça quando o dramaturgo traz expressões e elementos que remetem à religião católica e que estão presentes no dia-a-dia da população daquela região do país, como “confie 242 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 em Nosso Senhor!” ou quando Romeu despede-se de Julieta e menciona: “Se algum dia tu souberes / que eu, longe de ti, morri, / murmura a Deus uma prece”; o uso do terço pela mãe de Romeu ou quando Romeu declara à Julieta que se inebriou com tanta beleza da jovem: “sinto meu peito chagado! / Por teus olhos verde-azuis, / eu fiquei enfeitiçado [..]” (SUASSUNA,1997, p. 6). A imagem da chaga pode ser considerada uma das mais significativas no contexto da recepção, pois Romeu expressa seu amor por meio de uma imagem dolorosa, uma imagem reproduzida nos altares de igrejas e residências, nas procissões religiosas e nos oratórios. A chaga nos remete igualmente ao sofrimento das chagas de Cristo. O Cristo que venceu a morte e resgatou o homem de seu pecado original, o homem destituído de sua imortalidade primordial [...] Aqui predomina a fé e a religiosidade do sertanejo: a representação que ele faz de sua morte é inseparável daquela da morte de Cristo [...] Este homem do sertão sabe com uma consciência precisa que ele não comunga com Cristo senão no sofrimento e na morte. Ele vive a morte em toda acepção da palavra, antes que ela lhe chegue, porque ele vive constantemente cercado pela morte. (MACHADO, 2005, p. 189-90) A proposta de Suassuna é trazer o teatro para o povo; as matrizes populares brasileiras e lusas se encontram enraizadas no subsolo do medievo nordestino. Essa arte, inspirada na terra, traz à tona o espírito do nordestino. A narrativa de Romeu e Julieta na adaptação de Suassuna é um complexo hipertexto que dialoga com todos os outros hipotextos que a antecederam, formando uma rede intertextual de múltiplas identidades. Os desvios e as descontinuidades entre hipotexto e hipertexto são salutares e desejáveis, uma vez que o universo cultural está em constante mutação. As metamorfoses das especificidades estéticas, conceituais, temáticas e ideológicas constituem um movimento incessante que nunca atinge forma definitiva, visto que, cada vez que uma narrativa é (re)apropriada, ela adquire novos contornos e nuanças em função da progressão temporal, do deslocamento espacial e do imaginário cultural. Suassuna, por meio da recriação de Romeu e Julieta em solo brasileiro, denuncia a medievalidade em que se fundamentam os valores calcados nos códigos de honra e vingança do sertão; ao mesmo tempo, o dramaturgo desvela uma região com múltiplas manifestações da arte literária e teatral, onde se propaga um verdadeiro inventário da cultura sertaneja com os espetáculos populares. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 243 Nota 1 A história de amor de Fernando e Isaura, escrita por Suassuna em 1956, permaneceu inédita até 1994, quando foi publicada no Recife pela Editora Bagaço. Somente em 2006 foi reeditada pela Editora José Olympio, ganhando projeção nacional. REFERÊNCIAS ATHAYDE, João Martins de. Romance de Romeu e Juliêta. Ed. José Bernardo da Silva. Juazeiro do Norte: Tipografia São Francisco, 1957. BORBA, Filho Hermilo. Espetáculos populares do Nordeste. 2. ed. Recife: Fundação Joaquim Nabuco: Massangana, 2007. BOTELHO, Theotonio de Paiva. O teatro épico de Ariano Suassuna: a construção de uma narrativa erudita e popular. Rio de Janeiro, 2002. 342 p. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária) - Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro. BULLOUGH, Geoffrey. Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare. London: Routledge and Kegan Paul, v. 1, 1957. Cadernos de Literatura Brasileira: Ariano Suassuna. São Paulo: Instituto Moreira Salles, v. 10, 2000. CAMATI, Anna S. Critique of violence: The Shakespearean intertext in Polanski’s The Pianist. In: Claritas. São Paulo. n. 12(2), nov. 2006, p. 9-23. CARDOSO, Inês. Quaderna: um personagem entre narração e atuação. In: RABETTI, Beti (Org.) Teatro e comicidades: estudos sobre Ariano Suassuna e outros ensaios. Rio de Janeiro: 7Letras, 2005, p. 103-06. ________. A história do amor de Romeu e Julieta, de Ariano Suassuna: a peça e a reelaboração de fontes matriciais. In: RABETTI, Beti (Org.). Teatro e comicidades: estudos sobre Ariano Suassuna e outros ensaios. Rio de Janeiro: 7Letras, 2005, p. 109-19. CASO, Adolph. Romeo and Juliet: original text of Masuccio Salernitano, Luigi Da Porto, Matteo Bandello, William Shakespeare. Boston: Dante University of America Foundation, 1992. ELIOT, T. S. Tradição e o talento individual. In: ______. Ensaios. Trad. Ivan Junqueira. São Paulo: Art Editora, 1989, p. 37-48. GIBBONS, Brian. Introduction. In: SHAKESPEARE, William. Romeo and Juliet. 3. ed. London: Arden Shakespeare, Methuen, 1997. GENETTE, Gerard. Palimpsestos: a literatura de segunda mão. Trad. L Guimarães; M Coutinho. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005. 244 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 HELIODORA, Barbara. Ariano Suassuna, o melhor autor do ano. In: Barbara Heliodora, escritos sobre o teatro. BRAGA, Claudia (Org.). São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 353-54. HUTCHEON, Linda. A Theory of Adaptation. New York: Routledge, 2006. MACHADO, Irley. As imagens da morte na epístola do adeus. Revista Língua & Letras. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. v. 6 , n. 11, 2005. Disponível em: <e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/article/viewPDFInterstitial/879/ 744>. Acesso: 24 maio 2008, p. 183-94. MAIA, Dália Maria B. Conflito e Família: Formas de sociabilidade no sertão cearense. Disponível em: < http://br.monografias.com/trabalhos/conflito-familiasociabilidade-sertao-cearense/conflito-familia-sociabilidade-sertao-cearense.shtml >. Acesso: 01 maio 2008. MARSDEN, Jean. The Appropriation of Shakespeare: Post-renaissance Reconstructions of the Work and the Myth. New York: Harvester/Wheatsheaf, 1991. MUNRO, J. J. Brooke’s ´Romeus and Juliet´: being the original of Shakespeare’s Romeo and Juliet. London: Chatto & Windus, 1908. NOGUEIRA, Maria A. Ariano Suassuna: o cabreiro tresmalhado. São Paulo: Palas Athena, 2002. O’SHEA, José Roberto. Amor romântico versus laços e família: apropriações de Romeo and Juliet no sertão do Brasil. Revista Scripta Uniandrade, Curitiba, n. 4, 2006, p. 151-60. PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. Trad. sob a direção de J. Guinsburg; Maria Lúcia Ferreira. São Paulo: Perspectiva, 2005. RESENDE, Aimara da Cunha. Text, context, and audience: two versions of Romeo and Juliet in Brazilian popular culture. In: Latin American Shakespeares. New Jersey: Rosemont Publishing, 2005, p. 271-89. ROUBINE, Jean-Jacques. Introdução às grandes teorias do teatro. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. SANDERS, Julie. Adaptation and Appropriation. New York: Routledge, 2006. SANTIAGO, Silviano. Seleta em prosa e verso. 2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2007. SANTOS, Idelette Muzart Fonseca dos. O decifrador de brasilidades. In: Cadernos de Literatura brasileira: Ariano Suassuna. São Paulo: Instituto Moreira Salles, v. 10, 2000, p. 94-110. SCHÜLER, Donaldo. Introdução. In: SÓFOCLES. Édipo Rei. Trad. Donaldo, Schüler. Rio de Janeiro: Lamparina Editora, 2004. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 245 SHAKESPEARE, William. Romeo and Juliet. Ed. Brian Gibbons. 7. ed. Arden Shakespeare. London: Methuen, 1997. SILVA, Gonçalo Ferreira da. Vertentes e evolução da literatura de cordel. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Editora Millart, 2005. SLATER, Candace. Romeo and Juliet in the Brazilian backlands. Journal of Folklore Research, n. 20, 1983, p. 35-53. SÓFOCLES. Édipo Rei. Trad. Donaldo Schüler. Rio de Janeiro: Lamparina Editora, 2004. SUASSUNA, Ariano. A história do amor de Romeu e Julieta. Folha de São Paulo. Suplemento: Mais! 19 jan.1997, p. 5 -7. ________. A história do amor de Fernando e Isaura. 3. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006. TAVARES, Braulio. Tradição popular e criação no Auto da Compadecida. In: SUASSUNA, Ariano. Auto da Compadecida. Ed. Comemorativa 50 anos. Rio de Janeiro: Agir, 2004, p. 191-97. ________. ABC de Ariano Suassuna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2007. UBERSFELD, Anne. A representação dos clássicos: reescritura ou museu. Trad. Fátima Saadi. Folhetim, n. 13, abr-jun, 2002, p. 09-37. VASSALO. Ligia Maria Pondé. O sertão medieval: origens européias do teatro de Ariano Suassuna. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1993. ________. Permanência do medieval no teatro de Ariano Suassuna. Rio de Janeiro, 1988. 293 p. Tese (Doutorado em Letras) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro. VICTOR, Adriana; LINS, Juliana. Ariano Suassuna: um perfil biográfico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. Artigo recebido em 19 de junho de 2009. Artigo aceito em 11 de setembro de 2009 Paulo Roberto Pellissari Mestre em Teoria Literária pela UNIANDRADE. Professor da FACEL e Universidade Positivo. Membro do Centro de Estudos Shakespeareanos (CESh). 246 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 AS CONTRADIÇÕES DE FREI LOURENÇO NOS FILMES DE WISE, ZEFFIRELLI E LUHRMANN Luciana Ribeiro Guerra [email protected] Anna Stegh Camati [email protected] RESUMO: Na peça Romeu e Julieta, escrita por Shakespeare, Frei Lourenço se destaca pela ambiguidade presente não somente em seu discurso, mas também em suas ações. As adaptações fílmicas de Robert Wise (1961), Franco Zeffirelli (1968) e Baz Luhrmann (1996) lançam nova luz sobre o caráter prismático do frei, mostrandonos como a dualidade vício/ virtude permeia sua essência. Em West Side Story, Doc, embora parcialmente inspirado em Frei Lourenço, é a personagem que mais aparece modificada ao ter suas funções religiosas suprimidas devido à mudança do Zeitgeist, revelando, dessa forma, como a juventude americana da década de 1950 se mostrava distante da religião. No filme Romeu e Julieta, de Zeffirelli, a redução de falas e a reconfiguração da caracterização do frei por meio de imagens e da mise-en-scène sublinham a ambiguidade da personagem. Em William Shakespeare’s Romeo+Juliet, Luhrmann cria um religioso mais intrigante do que nunca: além de ser alcoólatra, seu figurino, shorts e camisetas floridas deixando o peito à mostra, juntamente com sua composição física, com tatuagens, já nos oferecem indícios de suas inúmeras contradições. ABSTRACT: Shakespeare’s play Romeo and Juliet highlights Friar Lawrence who exhibits ambiguities not only in his speech, but in his actions as well. The film adaptations of Robert Wise (1961), Franco Zeffirelli (1968), and Baz Luhrmann (1996) shed additional light on the prismatic character of the friar, showing us how the duality vice/ virtue permeates his essence. In West Side Story there is Doc who, although partially modeled on the friar, appears most modified with the religious function removed by the demands of the Zeitgeist, conveying how the American youth of the 1950s was skeptic about and distant from faith issues. In Zeffirelli’s Romeo and Juliet, the condensation of lines and the reconfiguration of character development achieved by the interplay of images and mise-en-scène reinforce the ambiguity of the friar’s persona. In William Shakespeare’s Romeo +Juliet, Luhrmann creates a religious man more scheming than ever: besides being an alcoholic, his costume, shorts and unbuttoned flowered t-shirts, as well as his physical appearance, with tattoos over his body, call attention to the contradictions that move him. PALAVRAS-CHAVE: Romeu e Julieta. Frei Lourenço. Adaptações fílmicas. Tradução cultural. KEYWORDS: Romeo and Juliet. Friar Lawrence. Film adaptations. Cultural translation. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 247 Introdução As adaptações de romances ou textos canônicos para o meio fílmico se tornaram muito populares. No entanto, foi somente após o surgimento das teorias pós-estruturalistas que a hierarquia entre romance e filme começa ser abolida. Robert Stam (2006, p. 21-2) comenta que, a partir desse período, a adaptação começa a ser vista como uma forma de crítica ou leitura do romance, que não está necessariamente subordinada a ele ou atuando como parasita de sua fonte. Ou seja, as diversas textualidades estão em relação de complementaridade. Anne Ubersfeld (2002, p. 11) em seu artigo “A representação dos clássicos: reescritura ou museu?” problematiza o conceito de ‘clássico’ e assevera que “poderíamos, de modo geral, considerar clássico tudo aquilo que, não tendo sido escrito para nós, mas para outros, reclama uma ‘adaptação’.” Linda Hutcheon (2006, p. 9) afirma que “uma adaptação é uma derivação que não é derivativa – uma obra que é segunda sem ser secundária. É seu próprio palimpsesto.” Com o avanço das ciências humanas, a obra clássica não é mais tida como “um objeto sagrado, depositário de sentido oculto, como o ídolo no interior do templo, mas, antes de tudo, a mensagem de um processo de comunicação” (UBERSFELD, 2002, p. 12). A partir desses postulados teóricos tornam-se cada vez mais frequentes as releituras de obras clássicas e suas transposições para o cinema. Os inúmeros filmes idealizados a partir de releituras das peças do Bardo contribuem para a imortalização tanto da figura de William Shakespeare quanto de suas obras. Shakespeare ganha então um novo status – o de ícone da cultura de massa – com a popularização de suas histórias exibidas nas salas de projeção. São inúmeras as razões que levam diretores a escolherem peças do dramaturgo para serem transpostas para a grande tela. Produzir e ser bem sucedido em uma adaptação de Shakespeare é sempre um desafio a ser vencido. O fato das obras de Shakespeare se encontrarem em domínio público também impulsiona muitos diretores a produzir adaptações de suas peças. Outra razão é que as adaptações conseguem atrair multidões para as salas de exibição, gerando um ótimo retorno financeiro. Dentre as inúmeras adaptações de Romeu e Julieta feitas para o cinema no século XX, West Side Story (MGM Studios, 1961), Romeo and Juliet (Paramount Pictures, 1968) e William Shakespeare’s Romeo + Juliet (Twentieth Century Fox, 1996) merecem atenção especial. As três películas tiveram, além do apelo jovem e do imenso retorno financeiro, grande repercussão junto à crítica por descortinarem a contemporaneidade das décadas de 1950, 1960 e 1990. A personagem Frei Lourenço é apresentada de maneira distinta nessas versões, assumindo contornos completamente diversos. 248 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 É importante salientar que o filme é um produto completo e acabado, isto é, ele é uma gravação de uma performance. Ele é mostrado às audiências de cinema, vídeo e DVD, que se encontram longe em tempo e espaço da performance original. Como resultado, o filme não pode ser afetado pela audiência, o que necessariamente ocorre no teatro, onde a performance é contínua e ao vivo. Obviamente, o tipo de interação entre o palco e a platéia será muito diferente daquele entre o filme e a audiência, conforme observa Maurice Hindle (2007, p. 5). O teatro é um meio de comunicação baseado na convenção, enquanto o cinema é um meio representacional, que produz uma impressão da realidade, comenta Michèle Willems (1994, p. 70-1). As duas dimensões da imagem na tela criam o efeito de uma ilusão em três dimensões que estimula o público a entrar passivamente em um mundo que eles percebem como real. Em um primeiro momento, teatro e cinema, para se comunicarem com seus públicos, contam com signos: signos auditivos como as palavras ditas pelos atores, música e outros sons; signos visuais como o figurino, cenário, iluminação e, algumas vezes, efeitos especiais. No entanto, a similaridade entre os meios teatral e fílmico encerra-se aí. A crítica ainda aponta que, no palco, todos os signos são subordinados ao discurso. Ou seja, no teatro prevalece a palavra e sua função primária é a de invocar todo o universo do drama. E, se no teatro as palavras exercem papel primordial, no cinema, elas são secundárias: a função do diálogo é seguir a imagem. A respeito do teatro de Shakespeare, Willems afirma: Mas, na maior parte do tempo a linguagem de Shakespeare acusa camadas de significação; ela não apenas carrega a energia dramática, como também está repleta de símbolos e redes de metáforas. A tela, ao contrário, dirige seu público através de imagens que usualmente substituem palavras, tanto que as palavras parecem fora de lugar e muitos discursos podem ser prejudiciais ao efeito do filme. (WILLEMS, 1994, p. 70) Sarah Hatchuel (2005, p.33) explica que os estudos sobre filmes chegaram à conclusão que o cinema une os atos de mostrar e narrar, além de introduzir a figura de um narrador exterior. Segundo ela, um filme é normalmente feito em três fases. A primeira fase pode ser comparada à direção teatral e organiza o que ocorre em frente às câmeras (atuação, mise-en-scène, cenário). A segunda fase se concentra no trabalho de câmera durante a filmagem. Então, na terceira e última fase, as imagens são colocadas juntas, em um processo de montagem e edição. Tal processo compreende a figura de um narrador virtual que dirige o olhar do espectador. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 249 1 A personagem Doc no filme West Side Story, de Robert Wise O filme de Wise reflete o mundo jovem, realçando principalmente a característica adolescente de resolver os problemas e situações entre eles mesmos. Partindo da premissa que nenhum adulto os entenderá, os jovens do filme se mostram desconfiados em relação a qualquer interferência das únicas pessoas maiores de idade mostradas na tela – e eles têm inúmeras razões para isso: o Tenente Schrank e o Oficial Krupke são obrigados a conter a violência no bairro, porém a única coisa que conseguem realizar de fato é intensificar ainda mais o preconceito racial que separa os Jets dos Sharks. Doc, nosso objeto de estudo, apesar de bem-intencionado, nada consegue fazer efetivamente para evitar a tragédia. Ele não percebe que, em se lidando com jovens, não basta apenas querer entendê-los: é preciso fazer alguma coisa. O Tenente Schrank alude à isso quando diz: “Bem, tente manter esses delinquentes na linha e veja o que isso faz com você”. Doc aparece em cena pela primeira vez à noite, na porta de sua loja, onde os Jets se reuniam. Riff, o líder dos Jets, comunica que a loja não será fechada naquele momento e o comerciante não se opõe, provavelmente porque não deveria recusar qualquer tipo de clientela. No entanto, é interessante observar sua atitude irônica quando fica sabendo que o conselho de guerra seria realizado em seu estabelecimento, mas o inocente Baby John não se dá conta do sarcasmo: Riff: Escute, nós temos um conselho de guerra aqui. Doc: O quê? Baby John: Para determinar as armas. Nós vamos nos encontrar com os porto-riquenhos. Doc: Armas? Vocês não poderiam jogar basquete? Doc tenta mostrar aos Jets que o objeto de sua rixa com os Sharks – um pedaço da rua – não tem importância. Ele chega a ser enfático a esse respeito, ao afirmar que tal coisa interessa apenas a marginais, mas logo volta ao seu tom de voz característico, mostrando sua apatia e descrença. O comerciante tenta ainda dar conselhos e procura relatar como as coisas eram quando tinha a idade dos Jets, mas é interrompido por Action. O jovem, em uma atitude típica de adolescente, replica que ninguém sabe como é ter a sua idade. Doc perde a paciência com Action e é duro com ele, fazendo uso do duplo significado da palavra dig. Action a usa no sentido de entender profundamente, ou como é melhor expressado, na forma da gíria ‘sacar’. O comerciante aproveitará 250 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 a oportunidade para alertá-los do perigo mortal engendrado pelo uso da violência. Dessa forma, as palavras de Doc prefiguram acontecimentos futuros: Action: Quanto mais cedo vocês se derem conta disso, mais cedo vão sacar a gente! Doc: Eu vou enterrá-lo em uma cova rasa, é isso o que eu vou sacar. A loja de Doc reflete sua ambiguidade. O estabelecimento é dividido em dois ambientes: a parte da frente é clássica e sofisticada, sendo toda revestida em madeira. Nela encontramos armários com prateleiras, bancada e banquetas, caracterizando uma típica loja de conveniências. A parte dos fundos se mostra mais desleixada, com um ar de obra inacabada. Suas paredes, com o reboco a mostra, contêm rabiscos e pichações, com os nomes de membros dos Jets. Encontramos mesas com cadeiras e mobiliário próprio para o entretenimento juvenil: jukebox, alvo para dardos e uma mesa de pinball. É nesse ambiente que Jets e Sharks se reúnem para o conselho de guerra. Com a chegada do Tenente Schrank na loja, todos simulam um ambiente de confraternização. No entanto, o comentário do comerciante contrasta com o que é apresentado: “Boa noite, tenente. Tony e eu já estávamos fechando”. Schrank também usa a ironia para se aproximar dos jovens, dizendo que está emocionado em ver o quão rapidamente eles seguiram seu conselho (a respeito de fazerem as pazes). A impotência de Doc frente à situação de violência instaurada no bairro chega ao seu ápice quando o tenente, sem nenhuma intenção de pagar, pega um chocolate e pergunta ao comerciante se ele se importa (“Do you mind?”). Mais uma vez Doc usa o jogo de palavras, dessa vez mind significando pensamento, para revelar seu estado de espírito: “Eu não penso. Eu sou o idiota do bairro”. A personagem só aparecerá novamente depois que a briga entre os rivais tiver feito de Riff e Bernardo vítimas. Sabemos, através dos Jets que Tony está escondido nos fundos da loja e que Doc está juntando todo o dinheiro que possui para tornar possível a fuga de Tony – assassino de Bernardo. Anita aparece na loja para dar o recado de Maria à Tony, mas é impedida pelos Jets que desconfiam dela. Depois de insistir em falar com o protagonista, ela é quase estuprada. O comerciante chega a tempo de salvar a moça que, furiosa, decide entregar uma mensagem falsa: ela inventa que Chino descobriu o relacionamento entre Tony e Maria e a matou. Indignado com o ato dos Jets, ele exclama antes de expulsá-los dali: “Quando vocês irão parar? Vocês tornam esse mundo péssimo”. Doc se dirige a Tony, munido não apenas com o dinheiro reunido, mas também com a notícia sobre a morte de Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 251 Maria. O jovem, desconhecendo o (falso) destino de sua amada, compartilha seus planos com o chefe que, desesperado com o destino violento e inesperado de seu funcionário, o esbofeteia – assim como Frei Lourenço, do filme de Zeffirelli, fará quase oito anos mais tarde – para que ele seja realista. Sua indignação ainda se faz presente através da expressão gestual – punhos cerrados – e dos diálogos que se seguem, ainda incompreensíveis para Tony, pois este nada sabia a respeito da pretensa ‘morte’ de Maria: Doc: Acorde! Essa é a única maneira para me comunicar com vocês? Fazer o que todos vocês fazem? Estourar como um cano de água quente? Tony: O que deu em você? Doc: Por que vocês vivem como se estivessem em guerra? Por que vocês matam? Doc demora e reluta em dar a notícia do assassinato de Maria por Chino a Tony. Desesperado, o jovem sai de seu esconderijo a procura do assassino de sua amada. Doc e Tony não voltarão a se encontrar. A última participação do comerciante se dá na cena final, em que todos – Jets, Sharks, Tenente Schrank, Oficial Krupke e Doc – rodeiam o corpo de Tony e da sofrida Maria que chora convulsivamente e lamenta a perda de seu amado, mas não se mata. O diretor de West Side Story retira da personagem Doc quase todas as funções narrativas atribuídas à Frei Lourenço: realizar o casamento secreto, elaborar o plano da falsa morte de Julieta (resgatada pela personagem Anita), preparar o sonífero, enviar carta à Romeu (através de Frei João), explicando seu plano, liderar o cortejo fúnebre de Julieta e aguardar o despertar da jovem na tumba dos Capuletos. A única função da personagem Frei Lourenço preservada em Doc por Wise é a de confidente de Tony (Romeu). Além dessa função ele acumula a de Baltazar, visto que informa Romeu/ Tony sobre a morte de Julieta/ Maria. O resultado é uma modificação estrutural da personagem. Na peça shakespeariana, o papel do religioso é central, suas ações estão intrinsecamente ligadas ao desenrolar da tragédia. No filme de Wise, porém, ao transformar o frei em confidente, suas ações são levadas para a margem da história: ele tenta, sem sucesso, dar conselhos aos jovens e fornece dinheiro para que Tony fuja com Maria. Doc é, então, constituído como uma personagem secundária, embora também apresente uma série de contradições. É importante notar, ainda, que a exclusão de qualquer simbologia religiosa na personagem serve apenas para ressaltar a inexistência da fé entre a juventude americana da época. 252 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 2 Frei Lourenço em Romeo and Juliet, de Franco Zeffirelli A performance de Milo O’Shea como Frei Lourenço é marcante no filme, pois explicita, muitas vezes de modo não-verbal, a contradição inerente à personagem. Michael Anderegg observa a seu respeito: O frei de Milo O’Shea exibe explicitamente o modo contraditório com que Shakespeare concebeu sua personagem. Frei Lourenço é um trapalhão bemintencionado ou um manipulador sinistro? Ele é movido por considerações de religião, vaidade ou por mera conveniência? Shakespeare dá ao frei um discurso explicativo longo, cortado em todas as versões fílmicas em parte por causa de sua extensão e posicionamento aparentemente anti-climático, mas também por seu efeito duplo de chamar a atenção para suas maquinações ao mesmo tempo em que ele se desculpa pelas consequências (“eu próprio por mim condenado e absolvido” V.3.227). Inconsistente em um mundo de ação, o frei, na performance de O’Shea, é alternadamente solidário e sinistro. No final, a figura mais compreensiva com os jovens acaba desacreditada. (ANDEREGG, 2004, p. 70) A primeira participação do frei no filme, assim como na peça, ocorre na madrugada do baile, quando Romeu pede sua ajuda para celebrar seu casamento com Julieta. Zeffirelli mantém 42,6% das linhas proferidas nessa cena. O religioso é leniente com o comportamento de Romeu que havia passado a noite em claro. O tom de voz e a expressão corporal do frei mostram agressividade ao ser solicitado para celebrar a união dos jovens, deixando claro dessa forma que não aprova tal situação. É com a contemplação da imagem de Jesus crucificado que o religioso vê oportunidade para pacificar as famílias inimigas. Sua segunda cena – a do casamento de Romeu e Julieta – é a mais respeitada: 78,9% das falas do religioso se mantêm no filme. E, embora o alto índice de permanência do texto de Shakespeare possa sugerir que Zeffirelli tenha retido muito do texto teatral, profundas e significativas alterações ocorrem: o casamento é realizado dentro da igreja, diante do altar; o encontro de Romeu e Julieta se dá com beijos intensos e demorados, e é com dificuldade que o religioso os aparta. Zeffirelli mantém 42% das falas do religioso em sua terceira aparição. O diretor retira a função do frei de informar o banimento de Romeu para Mântua, vemos somente o protagonista em prantos prostrado no chão enquanto o religioso o observa de perto. Com a tentativa de suicídio de Romeu, Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 253 o comportamento do frei se modifica mais uma vez. Ele se mostra ríspido e enérgico com o jovem, repreendendo-o severamente. Depois de jogar para o lado a faca com a qual Romeu queria se matar, Frei Lourenço puxa o jovem com força, fazendo-o se levantar, ao mesmo tempo em que diz “ponha-se de pé” (III.3.134). Quando este se coloca de pé, o frei o agride e o coloca, literalmente, contra a parede. Romeu, então, acuado, escuta o religioso lhe falar sobre a sorte que tem. Ainda de maneira ríspida o frei o aconselha a procurar Julieta. O semblante do religioso só se modifica quando este, ao falar do futuro, imagina Romeu obtendo o perdão do Príncipe para retornar à Verona. Em sua quarta aparição, aproximadamente 53,6% das linhas de Shakespeare são preservadas e a cena também se dá nas dependências da Igreja. O religioso é mostrado ao lado de Paris com a mão no queixo, em sinal de preocupação ao receber a notícia de que seu casamento com Julieta já fora marcado. Suas mãos revelam agitação e nervosismo: ele as esfrega constantemente, além de passá-las sobre a sua barriga. Seu semblante se torna mais sério ainda quando Julieta interrompe sua conversa com Paris e seu olhar temeroso se alterna entre a jovem e seu pretendente. Com a saída do jovem as mãos do frei se colocam como em oração e seus olhos fixam-se em um ponto: o cesto de flores. Ele pega com delicadeza uma flor de dentro do cesto, acende uma vela e revela, de maneira lenta e calma, o seu plano. O sonífero é preparado na frente de Julieta, porém ele se mostra reticente ao entregar o frasco à jovem. Quando se encontra sozinho seu rosto se mostra aterrorizado e seus punhos e olhos aparecem cerrados, provavelmente em sinal de medo e apreensão. O contraste entre claro e escuro é enfatizado: com seu plano prestes a ser concretizado, ele apaga a vela que se encontra na bancada de seu laboratório. A fumaça e a escuridão produzidas acarretam uma modificação em seu semblante, em uma clara prefiguração da tragédia, tão presente nas falas da personagem na peça de Shakespeare. Hindle (2007, p.174) também comenta essa cena quando diz: “uma ação que até ele mesmo percebe como sendo perigosamente simbólica”. Outra observação importante a respeito dessa cena diz respeito ao uso da flor. Na peça, o religioso usa a flor de alecrim como um elemento ambíguo, representando o casamento e a morte, realçando dessa maneira seu caráter multifacetado. Zeffirelli resgata a função da flor, assim como sua relação intrínseca com a personagem, fazendo com que seja usada como matéria-prima para o sonífero, siblinhando dessa forma a importância de sua simbologia. O diretor italiano cria uma cena envolvendo a personagem do frei a fim de substituir a cena V.2 em que Frei João (em Shakespeare) narra como não obteve sucesso em entregar a mensagem para Romeu. O religioso entrega a carta a outro frei, pertencente à mesma ordem religiosa e que se encontra de partida. Frei Lourenço diz “Entregue esta carta nas mãos de Romeu, em 254 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Mântua”, coloca a carta dentro da sela e o frei que não recebe nome no filme lhe beija a mão. Zeffirelli ainda irá nos mostrar, apenas através de imagens, todo o percurso que tal frei faz para entregar a mensagem a Romeu e como os dois se desencontram. O diretor também elimina a presença do frei na casa dos Capuletos no momento em que Julieta é descoberta morta (IV.5), fazendo-o participar apenas da procissão de enterro da jovem. O frei segue a frente do cortejo, segurando uma cruz. Ao colocarem o corpo de Julieta em frente à tumba dos Capuletos, o religioso, ao ver o rosto sereno da jovem, sorri, mas imediatamente se recorda do seu plano e volta a apresentar um semblante sério. Russell Jackson (2007, p. 200) também faz menção a esse episódio ao comentar: “Frei Lourenço [...] tem que lembrar a si mesmo de parecer apropriadamente solene”. Ao sugerir que o religioso colocará o ‘corpo’ da jovem na tumba dos Capuletos, Zeffirelli evoca a versão de Bandello. A última participação do frei no filme preserva apenas 18,7% das falas do religioso. Ele vê o corpo de Romeu, próximo ao de sua amada e está presente no despertar de Julieta. Seu rosto se ilumina ao ver que a jovem está viva e em boas condições. Porém, ele não responde suas perguntas insistentes acerca de seu marido. Frei Lourenço tenta persuadi-la a sair o mais rápido possível dali, mas ela se recusa. Ele se apavora com a aproximação do barulho que vem de fora e, repetindo a mesma fala quatro vezes, cada vez em voz mais alta e mais tensa, encerra a sua participação no filme dizendo: “Eu não me atrevo a ficar aqui mais tempo” (V.3.159). A coexistência do bem e do mal na personagem, tão marcada em Shakespeare, é suavizada por Zeffirelli. A fala que melhor traduz a natureza do frei é cortada, embora esteja presente em todas as suas atitudes. Ele faz aquilo que julga ser correto em sua mente e seu coração, porém as consequências de seus atos nem sempre se revelam boas. Objetivando sedimentar a pureza de coração do frei, o diretor procura retirar cenas e diálogos que revelam a essência obscura do religioso, como, por exemplo, o episódio em ele vai até a casa dos Capuletos para consolar a família pela ‘morte’ de Julieta (IV.5). Os diversos acontecimentos da história suscitam emoções no frei que só podem ser explicadas pela sua relação quase paternal com Romeu. E, se por um momento sua agressividade com o protagonista (quando este é banido) assusta o espectador desavisado, ela é facilmente compreendida por aqueles que percebem a angústia e o desespero de um pai ao ver o sofrimento de seu filho. Ele age principalmente por amor. No entanto, seus impulsos são contrabalançados pelo medo. Não sabemos ao certo se ele teme o rigor das leis de Verona, a fúria das famílias inimigas, o Clero, ou até mesmo o castigo de Deus. Ao mesmo tempo em que segue seu coração e participa cada vez mais da história de amor de Romeu e Julieta, ele se apresenta Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 255 aterrorizado com as possíveis consequências e reviravoltas do amor clandestino e sua última participação no filme é um bom exemplo disso. 3 Frei Lourenço em William Shakespeare’s Romeo + Juliet, de Baz Luhrmann O traço mais marcante de Frei Lourenço no filme é o alcoolismo que move as ações da personagem. Seu comportamento também pode ser explicado pelo binarismo vício (da bebida) e virtude (suas boas intenções de acabar com a inimizade entre as famílias). Todos os ambientes de Frei Lourenço contam com garrafas de bebidas alcoólicas. A câmera captura uma garrafa de tequila na estufa, em cima do balcão do laboratório; uma garrafa de whisky ao lado de alguns livros, na sacristia; e outra garrafa de tequila em seu quarto, ao lado de alguns remédios. Os contrastes entre os conselhos e as ações da personagem também são enfatizadas na versão de Luhrmann. O religioso repreende Romeu por estar acordado tão cedo (II.3.29-30) e diz que isso revela um problema de saúde do jovem. Porém, ao mesmo tempo em que afirma tal coisa, o frei toma uma dose de tequila. Ou seja, ele oferece conselhos sobre como cuidar bem da saúde, mas não os segue, visto que seu problema com o alcoolismo não é tratado. A bebida revela mais do que uma propensão ao vício. Frei Lourenço faz uso dela um pouco antes de realizar duas coisas importantes: celebrar a missa matinal, o que indica uma possível falta de vocação para a vida religiosa; e antes de concordar em realizar o casamento secreto de Romeu e Julieta. E, embora ele vislumbre a paz entre as famílias, não podemos precisar quem é o vencedor dessa batalha interna – o vício ou a virtude. Hindle (2007, p.180) parece acreditar na fé que ele tem em poder acabar com a inimizade, entretanto, ressalva sua condição de viciado em bebida. Luhrmann fornece uma sequência de imagens que ilustram a visão do religioso a respeito do fim da rixa que inclui, entre outros, cartazes retratando as brigas entre as famílias: sendo consumidos pelo fogo, manchetes com fotos de Montéquio e Capuleto fazendo as pazes, e uma pomba entrando no Sagrado Coração de Jesus. A presença do destino e da morte eminente que atrapalham os planos de Frei Lourenço é revelada através dos cortes realizados pelo diretor. Vemos, na missa, as mãos estendidas do frei em sinal de acolhimento e recepção – gesto repetido por um jovem cuja caracterização remete à gangue dos Montéquios, numa clara alusão ao modo com que os planos do religioso são arruinados. Em seguida, uma mulher escondida que a tudo observa é mostrada, simbolizando a morte que se encontra à espreita, aguardando o momento certo para entrar em cena. O barulho de tiro que a acompanha deixa claro à qual antecipação ela se refere: a morte de Teobaldo Capuleto. 256 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 O casamento de Romeu e Julieta é realizado, tendo como testemunhas Baltazar, a Ama e o motorista da família Capuleto. Embora se encontre paramentado, o frei não dá indicações de seguir a liturgia matrimonial. Porém, demonstra preocupação e pede cautela ao casal – e não somente a Romeu, como ocorre na peça – quando profere as linhas II.6.9-12 e 14. A última fala do frei durante o casamento parece estar fora de lugar, principalmente quando a comparamos com a versão de Zeffirelli. No entanto, tal frase ganha outro significado, que é o de atribuir responsabilidade aos jovens pelo fim da discórdia entre suas famílias. Luhrmann retém um pouco mais de 25% das falas do frei encontradas em III.3 – porcentagem bem menor do que a de Zeffirelli, que perfaz 42%. Isso ocorre, principalmente, porque o diretor australiano propõe alterações significativas no enredo. Romeu, por exemplo, não tenta se matar, o que não gera a necessidade de um discurso de reprovação por parte do frei usando a famosa frase: “Contém tua mão desesperada. És homem ou não?”. O fato de não se arrepender por ter matado Teobaldo e só se preocupar com o fato de ficar longe de sua amada, faz com que Romeu se apresente mais sereno, o que, por sua vez, diminui a tarefa de Frei Lourenço em acalmá-lo. O caráter multifacetado do frei também é mostrado através do choque entre o santo e o profano que ele carrega em si mesmo, que transparece não somente pelas motivações dúbias do religioso, mas também por meio de sua caracterização física. A camisa usada por ele, por exemplo, evoca as máscaras de Janus: ao olhá-la de frente temos uma camisa social branca clássica; de costas a transgressão aparece sob a transparência, na forma da sua tatuagem à mostra. É interessante observar que além da função de ordenar que o corpo da protagonista seja levado para a igreja (IV.5.80-1), o religioso atesta o falso óbito de Julieta, embora o quarto da jovem esteja cercado de paramédicos. Luhrmann também preserva na personagem a função de coordenar o funeral, que como muitos críticos já apontaram é caracterizado pelo excesso de flores e símbolos religiosos, tais como cruzes em neon. A função de informar Romeu sobre a morte de Julieta é desempenhada por Baltazar, assim como na peça. O religioso chega a avistar este último na igreja, mas ele foge, reforçando a ideia de que o destino trágico dos amantes já havia sido traçado. A cena V.1 em que Romeu é informado sobre a morte de Julieta e procura um boticário para comprar veneno, é intercalada por trechos de V.2, em que o religioso fica sabendo que Romeu não havia recebido sua carta. O diretor substitui a personagem Frei João, incumbida de entregar a carta ao jovem, por dois agentes dos correios que vão, sem sucesso, até seu trailer e não o acham em casa. A percepção da personagem de que o tempo é escasso é mostrada através do constante barulho ‘tic tac’ que aparece como fundo. O religioso acorda assustado em sua estufa, com o barulho de helicópteros Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 257 sobrevoando o centro da cidade e se dá conta da hora adiantada, antecipando a fala V.3.135-6 para esse momento. Luhrmann também mantém parte do diálogo em que Frei João devolve a carta dizendo que não foi capaz de entregála, mas a transforma em uma conversa entre o frei e uma funcionária dos correios. O religioso se dá conta do que a falta da carta pode acarretar e diz: “Romeu não está a par desses acidentes. Eu escreverei novamente para Mântua”. É ainda na agência Post Haste que ocorrem as últimas falas – e consequente participação – de Frei Lourenço: “Dentro de uma hora a bela Julieta despertará” e “Ela se mexe. A dama se mexe”. Na versão de Luhrmann, Frei Lourenço se mostra incompetente ao lidar com situações adversas, como a morte de Teobaldo e o problema da entrega da carta, entregando-se, como já de costume, à bebida. Diferentemente da peça de Shakespeare e da adaptação de Zeffirelli, o religioso não vai ao encontro de Julieta ao saber que a jovem acordaria sozinha sem a companhia de seu amado, acentuando dessa forma a covardia do frei. Conclusão Ao estabelecermos Shakespeare como ponto de partida para nossa análise de Frei Lourenço nas diferentes versões fílmicas de Romeu e Julieta, verificamos que o Bardo também se torna ponto de chegada. Notamos que os processos de adaptação realizados contribuem, em maior ou menor grau, para um melhor entendimento da própria personagem shakespeariana. Os cortes, as inserções, transformações, entre outros, ocorridos nessas adaptações lançam luz sobre a engenhosidade com que Shakespeare constrói Frei Lourenço. Em Amor Sublime Amor, de Robert Wise, a personagem Doc sofre grande transformação: sua função religiosa é suprimida e ele permanece apenas como confidente do protagonista, resultando em um ‘apagamento’ da personagem, que não participa efetivamente de nenhuma das ações principais da trama. Em Romeu e Julieta de Franco Zeffirelli, a personagem Frei Lourenço sofre cortes extensos, principalmente no que se refere aos seus pensamentos filosóficos em favor da inserção constante de sentimentos passionais, resultando em uma maior ambiguidade da personagem. Frei Lourenço, em William Shakespeare’s Romeo+Juliet, de Baz Luhrmann, sofre processo semelhante: Luhrmann realiza inúmeros cortes nas falas da personagem, principalmente as mais reflexivas, a fim de priorizar o ritmo frenético da ação, produzindo resultados semelhantes ao do diretor italiano. É significativo o fato que a personagem Frei Lourenço, embora tenha passado por diversos processos de adaptações que incluem os infindáveis cortes, transformações e inserções, continue a “resistir” bravamente. Seu status 258 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 “humano” com suas contradições e paradoxos ainda caracterizam a personagem em todas as adaptações estudadas. Shakespeare, ao construir a personagem, imprime em Frei Lourenço uma energia inesgotável e indestrutível. Talvez seja essa a verdadeira natureza acerca dos estudos das adaptações shakespearianas: a idéia paradoxal de que quanto mais procuramos nos afastar do texto de Shakespeare, mais voltamos a ele. E, a trajetória percorrida pela personagem Frei Lourenço, comprova isso. REFERÊNCIAS ANDEREGG, Michael. James Dean Meets the Pirate’s Daughter: Passion and Parody in William Shakespeare’s Romeo+Juliet and Shakespeare in Love. In: BURT, Richard; BOOSE, Linda (eds.). Shakespeare The Movie II: popularizing the plays on film, tv, video, and dvd. New York: Routledge, 2003, p. 57-71. ________. Cinematic Shakespeare. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2004. BURT, Richard (ed.). Shakespeare After Mass Media. New York: Palgrave, 2002. DAVIES, Anthony. Shakespeare and the Moving Image – the plays on film and television. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. DONALDSON, Peter S. “In Fair Verona”: Media, Spectacle, and Performance in William Shakespeare’s Romeo+Juliet. In: BURT, Richard (ed). Shakespeare After Mass Media. New York: Palgrave, 2002, p. 59-82. HAPGOOD, Robert. Popularizing Shakespeare: The Artistry of Franco Zeffirelli. In: BOOSE, Linda; BURT, Richard (eds.). Shakespeare, The Movie. New York: Routledge, 2005, p. 80-94 HATCHUEL, Sarah. Shakespeare, From Stage to Screen. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. HINDLE, Maurice. Studying Shakespeare on Film. New York: Palgrave Macmillan, 2007. HUTCHEON, Linda. A Theory of Adaptation. New York: Routledge, 2006. JACKSON, Russell. Shakespeare Films in the Making: Vision, Production and Reception. New York: Cambridge University Press, 2007. JORGENS, Jack J. Shakespeare on Film. Lanham: University Press of America, 1991. LEHMANN, Courtney. Shakespeare Remains – Theater to Film, Early Modern to Postmodern. New York: Cornell University Press, 2002. LEHMANN, Hans-Thies. Postdramatic Theatre. New York: Routledge, 2006. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 259 LUHRMANN, Baz, dir. 1996. William Shakespeare’s Romeo+Juliet. Twentieth Century Fox. Sound, col. 120 mins. MCFARLANE, Brian. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford: Clarendon Press, 1996. SHAKESPEARE, William. Romeo and Juliet. Second Series. London: The Arden Shakespeare, 2006. STAM, Robert. Teoria e prática da adaptação: da fidelidade à intertextualidade. In: Ilha do Desterro. Florianópolis: Ed. UFSC, 2006, p. 19-53. WILLEMS, Michèle. Verbal-visual, verbal-pictorial or textual-televisual? Reflections on the BBC Series. In: DAVIES, Anthony; WELLS, Stanley (eds). Shakespeare and the Moving Image – The Plays on Film and Television. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 69-85. WISE, Robert, dir. 1961. West Side Story. MGM Studios. Sound, col., 152 mins. WORTHEN, W.B. Shakespeare and the Force of Modern Performances. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ZEFFIRELLI, Franco, dir. 1968. Romeo and Juliet. Paramount Pictures. Sound, col., 138 mins. Artigo recebido em 23 de abril de 2009. Artigo aceito em 27 de julho de 2009. Luciana Ribeiro Guerra Mestre em Teoria Literária pela UNIANDRADE. Membro do Centro de Estudos Shakespeareanos (CESh). Anna Stegh Camati Pós-doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Doutora em Língua Inglesa e Literaturas Inglesa e Norte-Americana pela Universidade de São Paulo (USP). Professora Titular de Literatura Inglesa e Norte-Americana da UNIANDRADE. Professora do Mestrado em Teoria Literária da UNIANDRADE. Editora da revista Scripta Uniandrade. Membro do Centro de Estudos Shakespeareanos (CESh). Membro da International Shakespeare Association (ISA). 260 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 REESCREVENDO A TEMPESTADE : PERSONAGENS SHAKESPEARIANAS EM INDIGO, DE MARINA WARNER* Maria Clara Versiani Galery [email protected] RESUMO: O artigo discute A tempestade, de Shakespeare, como um texto que resiste às classificações mais convencionais e que tem sido lido, interpretado e reescrito de forma radical por leitores e críticos de diversos países. Considera A Tempestade como uma obra que tem fomentado discursos ideológicos diversos, sobretudo na segunda metade do século XX. Privilegiando abordagens pós-coloniais e feministas, o artigo procura traçar a trajetória de personagens shakespearianas na reescrita da peça, dando ênfase a Miranda e Calibán. Assim, o ensaio busca refletir como as reescritas da Tempestade, particularmente o romance Indigo, Or Mapping the Waters, de Marina Warner, oferecem uma alternativa ao contexto patriarcal da Tempestade, resgatando vozes silenciadas na peça de Shakespeare. ABSTRACT: This essay discusses Shakespeare’s The Tempest as a text that resists conventional classification; a play that has been read, interpreted and rewritten in a radical manner by readers and critics worldwide. It considers The Tempest as a work which has promoted ideological discussion, especially in the latter half of the twentieth century. The essay also calls attention to postcolonial and feminist readings of the play, emphasizing the roles of Miranda and Caliban. In this manner, it reflects on how rewritings of The Tempest, particularly Marina Warner’s novel Indigo, Or Mapping the Waters, offer an alternative to the patriarchal context of The Tempest, recovering voices unheard in Shakespeare’s play. PALAVRAS-CHAVE: Estudos culturais. Feminismo. Pós-colonialismo. Revisão do cânone. Apropriação. KEY WORDS: Cultural studies. Feminism. Postcolonial criticism. Revision of the canon. Appropriation. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 261 A Tempestade, peça do período final da produção teatral de Shakespeare e encenada pela primeira vez em 1611, é um texto que resiste às classificações mais convencionais. É, possivelmente, a obra do poeta lida e interpretada de forma mais radical por leitores, escritores e artistas do mundo inteiro: embora tenha sido classificada dentro de gêneros dramáticos diferentes, transcende às classificações que buscam enquadrá-la como comédia, romance ou masque. A ilha fictícia em que o enredo se desenvolve também já foi transposta para diversas regiões do mundo. Na esfera da crítica, influência e significados da peça cruzam múltiplas fronteiras, suscitando a mais ampla gama de leituras. Dentre essas, é no âmbito dos estudos culturais que A Tempestade tem fomentado discursos ideológicos diversos desde a segunda metade do século XX, por meio de um enfoque interdisciplinar. Como afirma Chantal Zabus, em seu livro sobre a peça de Shakespeare: “Writers of diverse ideological, cultural, racial, and sexual persuasions have undertaken to rewrite The Tempest after Shakespeare. Its particular resonance results from the unprecedented conflation of postcoloniality, postpatriarchy, and postmodernism” (ZABUS, 2002, p. 7). Foi na década de 80 que a crítica shakespeariana viveu um de seus momentos mais profícuos, passando por várias mudanças e chegando mesmo a impactar o estudo de outras literaturas de expressão inglesa. Nessa época, leituras feministas das obras do poeta passaram a investigar o modus operandi das relações de gênero nas peças. Abordagens alinhadas com o marxismo, tais como o new historicism e cultural materialism, situaram as obras no contexto social e político em que foram produzidas. O enfoque nas relações de gênero, sustentado pela crítica feminista e pela queer theory, assim como a crítica póscolonialista, produziram novas interpretações dos textos. Recentemente, a editora Routledge iniciou a publicação de uma coletânea de ensaios críticos sobre cada uma das peças, com a finalidade de organizar uma antologia com ensaios de scholars renomados. Na introdução do volume sobre A Tempestade, o organizador Patrick M. Murphy comenta: “The Tempest has a complex history of performances, editions, adaptations, parodies, rewritings, allusions and critical interpretations”. Ainda afirma que “the relations among the dramatic work, its sources, performances, reviews, printed editions, and criticism continue to perplex the priorities and values of Tempest interpretations” (Citado em FORTIER, 2002, p. 1039). Além da série organizada pela Routledge, outras coletâneas importantes sobre A Tempestade foram organizadas desde o início desta década, dentre as quais se destaca, pela diversidade dos ensaios, o livro organizado por Peter Hulme e William H. Sherman, The Tempest and Its Travels, publicado em 2001; 262 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 e o estudo de Chantal Zabus sobre reescritas da peça desde o início do século XX, Tempests after Shakespeare, de 2002. Considerando este leque de abordagens em que questões políticas e de gênero, além de interesses ideológicos, estão em evidência, alguns teóricos demonstram preocupação com os riscos que as “leituras dissidentes”, que ampliam os elementos potencialmente subversivos no texto, apresentam. É importante não perder o texto dramático/literário de vista. Assim, pensando o personagem shakespeariano como uma das principais formações discursivas na obra de Shakespeare, scholars tais como Harry Berger, Michael Bristol e Alan Sinfield estão entre os que reivindicam a necessidade de reavaliar o papel dos personagens shakespearianos1. Não como um retorno ao estudo de personagens (character criticism) alinhado com o essencialismo humanista, que teve início no século XVIII e se consolidou com Bradley nas primeiras décadas do século XX, mas a partir da mediação entre subjetividade e personagem, crítica tradicional e pós-estruturalista. Este ensaio procura traçar a reescrita de dois personagens shakespearianos: Calibán e Miranda. Durante várias décadas do século XX, por meio de um enfoque crítico pós-colonialista, estabeleceu-se uma oposição binária entre Próspero e Calibán, onde as relações entre colonizador e sujeito colonizado eram metaforizadas. Mais recentemente, em leituras e abordagens feministas, o olhar crítico voltou-se para Miranda, o único personagem feminino da peça. Este ensaio busca refletir como as reescritas da Tempestade, particularmente o romance Indigo, Or Mapping the Waters, de Marina Warner, oferecem uma alternativa ao contexto patriarcal da peça, resgatando vozes silenciadas no texto de Shakespeare. “This isle is full of noises” Os ruídos que circundam a ilha dominada por Próspero encobertam um silêncio caracterizado, sobretudo, pela ausência de vozes femininas. No primeiro ato da peça, Próspero justifica o confinamento de Calibán, seu escravo, acusando-o de ter tentado violar Miranda. A réplica debochada de Calibán é que, se Próspero não o tivesse contido, ele teria povoado a ilha com suas crias: “Would’t had been done!/ Thou didst prevent me. I had peopled else/ This isle with Calibans” (1.2.350-52)2. Há uma disputa interessante nos próximos doze versos que se seguem a essa fala, em que Miranda insulta Calibán, chamando o de “abhorred slave”, “savage”, “thing most brutish”, e afirmando que ele pertencia a uma raça vil (“vile race”). No manuscrito que serviu como fonte para a publicação da primeira edição In-Fólio da Tempestade (1623), essas palavras são ditas por Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 263 Miranda. Mas a partir do período da Restauração da monarquia e durante mais de dois séculos, alguns editores passaram a atribuir os versos a Próspero, alegando que seria inadequado a uma jovem se expressar dessa maneira3. Durante o século XVIII, Theobald Lewis argumentou que seria “indecente” uma moça recatada como Miranda responder a Calibán num momento em que ele se referia a violência sexual. Outras justificativas também foram apresentadas para justificar a atribuição dos versos a Próspero, alegando que o estilo verbal, o tom e a escolha de palavras são mais condizentes com a linguagem de Próspero do que com a de sua filha. Questionou-se, ainda, se Miranda teria realmente ensinado Calibán a falar, pois os versos antológicos que se seguem ao trecho aqui discutido tratam justamente do aprendizado de Calibán e do uso que ele faz da linguagem que aprendeu: “You taught me language, and my profit on’t/ Is I know how to curse” (1.1.364). Mas, a partir do século XX, críticos e editores passaram a examinar esse trecho a partir de outra perspectiva, re-atribuindo a Miranda a fala que lhe havia sido confiscada. Embora não seja característico de sua personalidade se expressar assim, as circunstâncias justificariam a raiva que tinha de Calibán. A crítica shakespeariana atual também considera a filha de Próspero uma personagem mais intensa, assertiva e ciente de sua sexualidade do que havia sido pensado anteriormente. O que há de mais interessante nessa discussão não é a tentativa de recuperar a intenção do autor sobre qual personagem teria afrontado o escravo de Próspero nos versos mencionados acima, mas o que a discórdia revela sobre o contexto sócio-histórico em que crítica, leitores e editores de Shakespeare atuam. Esse trecho da peça é também oportuno para introduzir o tópico de reescritas ou “revisões” da Tempestade de autoria feminina. A ideia de revisão remonta ao ensaio de Adrienne Rich, “When We Dead Awaken: Writing as Re-Vision”, no qual a escritora americana, a partir de de uma perspectiva feminista, define revisão como “the act of looking back, of seeing with fresh eyes, of entering an old text from a new critical direction – [this] is for us more than a chapter in cultural history: it is an act of survival” (RICH, 1972, p. 18). Faz parte do debate político da crítica feminista e pós-colonialista contestar a formação do cânone literário, além de perscrutar as relações entre texto canônico e não canônico, entre centro e margem. Além disso, a escrita revisionista contempla registros de subjetividades “subalternas”, situadas à deriva da constituição hegemônica e do cânone. Como afirma Edward Said, “the power to narrate, or block other narratives from forming and emerging, 264 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 is very important to culture and imperialism, and constitutes one of the main connections between them” (SAID, 1993, p. xii-xiii). Embora Miranda seja o único nome feminino que consta da lista das dramatis personae da Tempestade, há menção de outras personagens na peça que, embora nunca apareçam em cena, participam da trama. Uma dessas é Sycorax, de quem Próspero usurpou a ilha, bruxa que copulou com o demônio e deu à luz Calibán. Marina Warner (2000), além de outros autores, aponta a relação entre Sycorax e duas notórias feiticeiras da antiguidade: Circe e Medéia. Como diferentes estudiosos da Tempestade já demonstraram, as palavras de Próspero, quando ele abre mão de seus poderes mágicos no quinto ato da peça, são paráfrase ou tradução do encantamento pronunciado por Medéia no livro VII das Metamorfoses de Ovídio. De acordo com Stephen Orgel, a longa fala que começa com os versos “Ye elves of hills, standing lakes and groves/ And ye that on the sands with printless foot/ Do chase the ebbing Neptune, and do fly him/ When he comes back […]” (5.1.34-36) é uma alusão literária, além de tradução aproximada, das palavras da feiticeira em Ovídio: In giving up his magic, Prospero speaks as Medea. He has incorporated Ovid’s speech, a prototype of the wicked witch mother Sycorax, in the most literal way – verbatim, so to speak – and his ‘most potent art’ is now revealed as translation and impersonation. In this context, the distinction between black and white magic, Sycorax and Prospero, has disappeared. (ORGEL, 2002, p. 183) Warner sugere que, além de usurpar a ilha, Próspero também herdou os poderes de Sycorax. Apropriou-se, além disso, de uma linguagem que remonta a uma tradição do feminino na literatura, representada por meio de bruxas e outros personagens devassos, caracterizados por paixões, erotismo e outras formas de comportamento desregrado e transgressivo, que remetem ao que Warner descreve como a “categoria circeana da experiência”, ou seja, o grotesco (WARNER, 2000, p. 113). Cabe ao mago exercer domínio sobre essas manifestações e contê-las, por representarem uma ameaça à ordem estabelecida. Embora A Tempestade seja caracterizada pela exclusão de vozes femininas, Próspero apodera-se da magia relacionada à tradição literária clássica das feiticeiras transgressoras e faz uso dos poderes que adquiriu para assegurar a ordem do patriarcado. É interessante como, na peça, o casamento de duas filhas assegura a continuidade do patriarcado. A relação de Próspero com as personagens femininas está associada a projetos de aquisição de poder e expansão territorial. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 265 Além de usurpar a ilha de Sycorax, o mago precisa resgatar seu ducado; por isso trama o casamento de Miranda com Ferdinando que será o próximo rei de Nápoles. Algo semelhante acontece com Claribel, personagem cujo nome é mencionado algumas vezes, mas que não aparece de fato no palco. A tempestade que inicia a trama, levando os náufragos à ilha, ocorre quando eles estão retornando das bodas de Claribel com o rei da Tunísia. Essa união ampliará a dinastia de seu pai, Alonso, rei de Nápoles. Assim, embora detenham papel decisivo em relação à aquisição e continuidade de poder territorial, as personagens femininas carecem de voz própria. Tradicionalmente, a figura de Calibán era objeto de apropriação, posta em oposição à de Próspero, metaforizando as relações coloniais. Um dos precursores dessa linha de abordagem foi Octave Mannoni, em Psychologie de la colonisation, publicado pela primeira vez em 1950. Esse livro propõe uma análise da situação colonial em Madagascar através de uma leitura dos papeis antagônicos de Próspero e Calibán. Na época, Mannoni elaborou a relação colonial de uma maneira bastante peculiar e que hoje causa certo estranhamento: para ele, o sujeito colonizado gozava de uma dependência bastante cômoda em relação à autoridade colonizadora, que o provia de segurança, educação e outros benefícios materiais garantidos pela situação colonial. Ou seja, o sujeito colonizado não desejava autonomia nem liberdade. Seu complexo de dependência, denominado por Mannoni de “complexo de Calibán”, fazia com que ele buscasse “proteção” em seu opressor. Embora tenha sido bastante criticado, sobretudo por intelectuais e artistas africanos e caribenhos – dentre os quais destaco os nomes de Frantz Fanon e Aimé Césaire –, o livro de Mannoni é uma referência importante para as apropriações subsequentes da Tempestade que enfocam o personagem Calibán como escravo oprimido. Na América Latina, a reinvenção da figura de Calibán remonta a 1900 quando José Henrique Rodó, escritor uruguaio, publicou seu longo ensaio Ariel, onde propunha uma reflexão em torno dos dois caminhos que considerava possíveis para o desenvolvimento de uma identidade latino-americana, alegorizando os personagens de Ariel e Calibán. Para Rodó, Ariel representava o refinamento e idealismo da cultura européia, enquanto Calibán, grosseiro e violento, era identificado com os Estados Unidos4. Ao invés de postular o caráter autóctone da cultura latino-americana, Rodó afirmava que os latinoamericanos tinham afinidade intelectual e espiritual com a Europa. Rodó escreveu Ariel identificando a Europa com a espiritualidade, leveza e inteligência desse personagem, e os Estados Unidos com Calibán que o escritor uruguaio imaginava como símbolo de força e sensualidade bruta. 266 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 O ensaio de Rodó teve bastante impacto internacional no início do século XX. Mas foi também alvo de críticas, sobretudo a partir de 1960. Um dos maiores opositores às idéias de Rodó foi o poeta cubano Roberto Fernandez Retamar que acusou o escritor uruguaio de negligenciar a contribuição das heranças negra e indígena à cultura latino-americana. Distanciando-se de Rodó, Retamar escreveu o ensaio “Calibán”, reelaborando o personagem de Shakespeare como símbolo da miscigenação na América Latina e legítimo representante do hibridismo de sua cultura. Retamar, no entanto, afirma que, apesar de Rodó ter errado ao escolher seus símbolos, havia acertado ao identificar com clareza os Estados Unidos como o grande inimigo. Caracterizar Calibán como símbolo da cultura latino-americana significava, para Retamar e escritores como Aimé Césaire, a protagonização do oprimido. Cito Heloisa Toller Gomes, que sintetiza de forma bastante clara essa perspectiva: Caliban torna-se, para grande parte da intelligensia contemporânea, mais instigante do que Ariel: as excelências deste último ocultavam, percebe-se agora, a herança imperialista de Próspero; e Calibán pode ser visto como o símbolo do hibridismo corporificando o mestiço, o crioulo, o colonizado que se revolta e se expressa. [...] Entre o uruguaio Rodó e o cubano Retamar processa-se a grande virada da literatura e da crítica americanas, às quais não mais basta o requentamento sucessivo do banquete cultural e o aproveitamento acrítico, ou paliativo, de seus restos. (GOMES, 2007, p. 100) Assim, sob a perspectiva pós-colonialista, que examina o impacto da cultura dos impérios europeus em suas antigas colônias, a peça de Shakespeare tem sido apropriada como metáfora das relações coloniais. Mas é um equívoco pensar Calibán como personagem subalterno. Em um dos trechos mais citados da peça, ele é eloquente ao manifestar sua revolta contra Próspero e a situação de opressão que vive, afirmando seu direito legítimo à ilha que lhe foi usurpada: This island’s mine by Sycorax, my mother Which thou tak’st from me. When thou cam’st first Thou strok’st me and made much of me; wouldst give me Water with berries in’t, and teach me how To name the bigger light and how the less That burn by day and night. (1.2.333-37) Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 267 É interessante considerar as ressonâncias que esse enfoque na ilha teve no Caribe. Foi de lá que surgiu uma série de importantes adaptações transgressoras da Tempestade, refletindo as principais tradições linguísticas da região, ou seja, obras escritas em inglês, francês e espanhol. Vale destacar os ensaios do livro de George Lamming (Barbados), The Pleasures of Exile (1959), que fazem uma reflexão sobre A Tempestade, o processo colonizador e a condição de exílio. Além disso, seu romance Water with Berries (1971), cujo título é tirado dos versos acima citados, oferece uma das reescritas mais radicais da obra de Shakespeare (HULME, 2000, p. 221). A peça Une tempête (1969), de Aimé Césaire (Martinica), obra teatral escrita para um elenco de atores negros, dá voz à vítima da opressão e da lógica colonialista. Além desses, há também o ensaio de Retamar, “Calíbán” (1971). Essa ênfase no Caribe é significativa, sobretudo por causa de uma identificação etimológica da palavra Calibán com as ilhas do Caribe: Calibán é também considerado um anagrama de “canibal”, termo usado originalmente para designar os habitantes das ilhas caribenhas e do Novo Mundo em geral. Há, além disso, os que contemplam a possibilidade do nome de Próspero ser anagrama da palavra inglesa “oppressor” (LARA, 2007, p. 81). Contudo, a ênfase na oposição binária entre Próspero e Calibán tende a negligenciar outras relações e personagens. Ao contrário de Calibán que já está consolidado como símbolo do sujeito colonial, é recente a reelaboração de personagens como Miranda ou Sycorax para contestar as relações de patriarcado na peça. Mas foi para elas que o olhar se voltou na reescrita da Tempestade por diversas escritoras, tais como Margaret Laurence, Nancy Huston, Marina Warner, Gloria Naylor, dentre outras. Pois, como indica Sofía Muñoz Valdivieso, além de imperialista, Próspero é também um patriarca que usa sua filha como meio para conseguir seus objetivos (VALDIVIESO, 1998, p. 301). Vale lembrar aqui o ensaio de Lorrie Jerrel Leininger, “The Miranda Trap”, de 1980, no qual a autora chama a atenção, pela primeira vez, para o modo como Miranda é manipulada por seu pai. Assim como Calibán, Miranda e Sycorax são personagens à deriva da estrutura de poder. Reconsiderar o papel de personagens femininas como Miranda ou Sycorax representa uma ruptura com o esquema de oposição binário que tem caracterizado leituras póscolonialistas da obra. É importante observar também, como aponta Ann Thompson, que apesar de A Tempestade explorar a ideologia de valores como a castidade feminina, a maternidade e a fertilidade, é, paradoxalmente, uma peça onde a presença das mulheres é escassa (Citado em VALDIVIESO, 1998, p. 302). 268 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Indigo, Or Mapping the Waters Em Novel Shakespeares: Twentieth-Century Women Novelists and Appropriation, Julie Sanders afirma que, embora escritoras tenham adaptado Shakespeare por meio de diversas formas - tais como poesia, teatro, conto e cinema –, o romance tem sido escolhido por um grande número delas como gênero eleito para a apropriação intertextual do poeta (SANDERS, 2001, p. 3). Um romance que dialoga com A Tempestade, reescrevendo os papéis femininos da peça e problematizando o passado colonial caribenho, é Indigo, Or Mapping the Waters, da escritora britânica Marina Warner, publicado pela primeira vez em 1992. Autora de diversas obras de ficção, além de livros sobre universos simbólicos e mitológicos, incluindo um estudo minucioso sobre contos de fadas e seus narradores, Da Fera à Loira, Marina Warner cria, em Indigo, um texto onde história, ficção e autobiografia encontram-se emaranhados. O contexto sócio-político em que o romance ocorre, ou seja, a colonização das ilhas caribenhas fictícias de Liamuiga e Oualie, apresenta correspondências com a ocupação histórica das ilhas St. Kitts e Nevis que fazem parte do arquipélago conhecido até hoje como West Indies. Sir Thomas Warner, um antepassado da autora, foi o primeiro homem branco a habitar St. Nevis, iniciando a colonização britânica da região no início do século XVII. Há, além de outros pontos em comum entre história e ficção, paralelos entre a vida de Sir Thomas Warner e Kit Everard, personagem do romance que ocupa o lugar de Próspero no diálogo que Índigo estabelece com A Tempestade. A relação entre Indigo e seu intertexto shakespeariano se assemelha a uma improvisação jazzística com variações sobre um tema e que, ao invés de explorar escalas musicais, navega um percurso temático regido por uma sequência de cores. É complexa a divisão interna do romance, caracterizada por uma estrutura emaranhada de narrativas e tonalidades diversas. O primeiro nível de segmentação pode ser definido pelas três estórias narradas por Serafine, personagem que transita no romance do início ao fim, embora desempenhe um papel aparentemente secundário: é apenas uma babá, não tem vida própria. Suas estórias, aparentemente desconectadas do enredo principal, remontam à tradição oral de contos folclóricos do Caribe, transmitidos por meio da voz feminina às novas gerações. Serafine tem resquícios de Sycorax, que se faz ouvir nos tempos atuais. O que seria chamado de “enredo principal” é segmentado em seis partes, cada uma delas designadas pelo nome de uma cor e de uma tonalidade correspondente: Lilac/Pink, Indigo/Blue, Orange/Red, Gold/ White, Green/Khaki, Maroon/Black. Essas partes são também divididas em capítulos. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 269 O romance é igualmente complexo em sua relação com o tempo. Há duas narrativas que são desenvolvidas em tempos cronológicos distintos: a primeira se inicia em Londres, em 1948 vai até a década de 1980, alternandose entre Europa e Caribe; a segunda se passa nas ilhas de Liamuiga e Oualie durante o século XVII, época da colonização inglesa na região. Mas os dois períodos também estão sobrepostos e embaraçados: o passado parece ser visto através das lentes do século XX que, por sua vez, é marcado pelas cicatrizes do pós-colonialismo. Essa sobreposição temporal é espelhamento de uma escrita palimpséstica no romance e de sua edificação intertextual, repetindo e revisando textos anteriores. No século XX, o foco da narrativa está voltado para a trajetória de Miranda, de sua infância à vida adulta. Ela é neta de Sir Anthony Everard, jogador renomado de um esporte semelhante ao críquete e descendente de Kit Everard, que, em 1619, “descobriu” e ocupou Liamuiga em nome da Inglaterra. Antes da chegada dos ingleses, a ilha era de Sycorax, feiticeira conhecedora de ervas medicinais, que trabalhava no preparo da tinta cor de anil, o índigo. Sycorax vivia em isolamento por ter transgredido os costumes de seu povo ao desenterrar uma mulher africana e resgatar, de seu ventre, uma criança que ainda estava com vida. A maré havia trazido a Liamuiga corpos acorrentados de africanos que tinham sido lançados de um navio negreiro ao mar. Antes do ritual de cremação purificador da poluição causada pela chegada dos mortos, os ilhéus prepararam e enterraram seus corpos em uma vala. Mas na noite anterior ao ritual de purificação, Sycorax ouviu a fala dos mortos e, pressentindo que ainda havia vida entre eles, desenterrou o corpo de uma mulher grávida e “pariu” um bebê africano que recebeu o nome de Dulé. Mais tarde essa criança seria conhecida, pelos colonizadores, como Calibán. Em seu exílio, Sycorax também adota uma índia Arawak vinda da costa do Suriname e abandonada nas ilhas. Passa a amar essa criança, Ariel, de forma possessiva, incondicional, criando-a em isolamento junto com Calibán e ensinando a ela a arte de fazer tinta e de curar com as plantas. A relação entre Sycorax e Ariel lembra o zelo com que Próspero, na Tempestade, cuida de sua filha. Assim, por seus poderes mágicos e pelo papel que desempenha como guardiã de Calibán e Ariel, há uma analogia entre a Sycorax de Indigo e o Próspero shakespeariano. Este último também está presente na figura de Kit Everard, homem que vem a governar a ilha no romance, tomando-a de Sycorax, tal como ocorre na Tempestade. A estrutura simétrica de correspondências e espelhamentos presente nessa reescrita de Shakespeare, em que Marina Warner emaranha as relações entre personagens e intertextos diversos, estabelece uma tensão entre semelhança 270 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 e diferença. Assim, a autora de Indigo recupera e altera suas fontes, exercendo uma perspectiva crítica em relação ao passado, à narrativa e à historiografia. Há uma ressonância irônica nas diversas camadas de textos que estão sobrepostas. Acredita-se que Shakespeare se inspirou no ensaio de Montaigne, Of the Caniballes, traduzido por Florio em 1603, no segundo ato da Tempestade, quando o sábio Gonzalo idealiza na ilha de Próspero um paraíso abundante, onde não é preciso trabalhar nem fazer guerra para conquistar outras terras, pois a própria natureza é capaz de prover os habitantes com tudo que poderiam necessitar. Na tradução de Florio, as palavras que Montaigne usa para descrever os habitantes do Novo Mundo são: “They contend not for the gaining of news landes; for this day they yet enjoy that naturall ubertie and fruitfulnesse, which without labouring-toyle, doth in such plenteous abundance furnish them with all necessary things, that they neede not enlarge their limites” (Citado em VAUGHAN e VAUGHAN, 1999, p. 309). No texto shakespeariano, Gonzalo diz: All things in common nature should produce Without sweat or endeavour; treason, felony, Sword, pike, knife gun or need of any engine Would I not have, but nature should bring forth Of its own kind all foison, all abundance, To feed my innocent people. (2.1.160-166) Em Indigo essas palavras são parafraseadas por um dos homens de Kit Everard: “We don´t have to live by the sweat of our brow. Others may be obliged to. Not us. We can stand by and watch the crops ripen and grow, sweet dew by night, the soft wind” (WARNER, 1993, p. 180). Mas os limites dessa perspectiva são expostos no romance: a ilha “paradisíaca” que os ingleses desejavam ocupar já era habitada; sua conquista só foi possível por meio de guerras e destruição. Isso fica claro, sobretudo, na parte do romance que examina o legado do passado colonialista, marcado pelo tráfico de escravos, onde, mesmo no século XX, descendentes de caribenhos continuam a ser subjugados pelos brancos e lutam pela independência. Essa sobreposição de textos permeia o romance de Warner, mantendo viva a memória da ocupação européia no Caribe, entrelaçando história e ficção. A autora ainda recupera vozes apagadas no enredo shakespeariano quando reescreve personagens como Sycorax e Miranda. Desse modo, Indigo contesta a lógica patriarcal na peça shakespeariana, onde as personagens femininas estão atreladas a projetos de aquisição de poder e colonização. Assim, a autora cria um novo enredo para aqueles que, na Tempestade, estão situados à deriva Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 271 da estrutura de poder: personagens femininas como Miranda e Sycorax, assim como os dois escravos de Próspero, Calibán e Ariel. Este último adquire uma identidade feminina e seu vínculo maior passa a ser com Sycorax, sua mãe adotiva. Na parte final da narrativa, em Londres na década de 80, Miranda assiste a um ensaio da Tempestade. Entra justamente na cena do primeiro ato em que Próspero justifica o encarceramento de Calibán: “I have us’d thee,/ Filth as thou art, with human care; and lodg’d thee/ In mine own cell, till thou didst seek to violate/ The honour of my child” (WARNER, 1993, p. 387). A atriz, que faz o papel da filha de Próspero, vira para Calibán, cospe-o no rosto e diz: “Abhorred slave,/ Which any print of goodness wilt not take,/ Being capable of all ill!” (WARNER, 1993, p. 387). São os versos que durante dois séculos foram usurpados de Miranda na peça de Shakespeare. É bastante significativo que seja essa a cena que Miranda, em Indigo, observa antes de se aproximar do ator que faz Calibán, pois no livro de Warner permeiam ruídos e vozes que precisam ser ouvidas e restauradas. É interessante pensar o subtítulo, Mapping the Waters, a partir da relação que o romance estabelece com a peça, já que a narrativa de Warner mapeia um novo enredo para personagens shakespearianos. Ao elaborar, através do diálogo com Shakespeare, a ideia de colonização, a autora também mapeia suas sequelas no século XX, reimaginando a trajetória de Miranda e Calibán. Nesse sentido, Indigo desempenha uma função de suplemento para A Tempestade, sob um olhar crítico que contesta as relações de patriarcado na peça, ao mesmo tempo em que expande a abrangência do legado de Shakespeare. Notas *Este artigo foi escrito durante período de residência pós-doutoral na Universidade Federal de Minas Gerais. 1 Em Faultlines: Cultural Materialism and the Politics of Dissident Reading, Sinfield dedica um capítulo do livro à discussão do lugar que o personagem deve ocupar dentro dos estudos shakespearianos, ressaltando a descontinuidade da subjetividade do personagem dramático. 2 Todas as citações da peça são retiradas da edição Arden Shakespeare, The Tempest, organizada por Virginia Mason Vaughan e Alden T. Vaughan. As referências, incluídas entre parênteses, no texto, referem-se ao ato, cena e versos da peça, nessa ordem. 3 John Dryden e William Davenant estão entre os que iniciaram essa tradição (SHAKESPEARE, 1999, p. 135). 4 É importante lembrar que Rodó escreveu esse ensaio no final do século XIX, quando os Estados Unidos, motivados pela Doutrina Monroe, haviam aproveitado para expandir suas fronteiras, confiscando a Califórnia, o Texas e o Novo México, anexando- 272 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 os ao território estadunidense, além de invadir as Filipinas, colonizar Porto Rico e transformar Cuba num parque de diversões administrado por mafiosos. REFERÊNCIAS CÉSAIRE, Aimé. A Tempest: Based on Shakespeare’s The Tempest, Adaptation for a Black Theater. Trad. Richard Miller. New York: Ubu Repertory Theater Publications, 1985. FORTIER, Mark. The State of the Shakespeare Industry. Renaissance Quarterly, v. 55, n. 3, p. 1038-1049, Autumn 2002. GOMES, Heloisa T. Quando os outros somos nós: o lugar da crítica pós-colonial na universidade brasileira. Acta Scientiarum: human and social sciences, v. 29, n. 2, p. 99105, 2007. HULME, Peter; William H. SHERMAN (orgs.). The Tempest and Its Travels. Cambridge: Reaktion, 2000. LARA, Irene. Beyond Caliban’s Curses: The Decolonial Feminist Literacy of Sycorax. Journal of International Women’s Studies, v. 9, n. 1, p. 80-98, 2007. LEININGER, Lorrie Jerrell. The Miranda Trap: Sexism and Racism in Shakespeare’s Tempest. In: LENZ, Carolyn Ruth Swift et al (orgs.). The Woman’s Part: Feminist Criticism of Shakespeare. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1983, p. 285-94. MANNONI, Octave. Prospero and Caliban: The Psychology of Colonization. Trad. Pamela Powesland. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1990. RETAMAR, Roberto Fernández. Caliban: Notes Toward a Discussion of Culture in Our America. In: ___. Caliban and Other Essays. Trad. Edward Barker. Minneapolis: University of Minnesota Press, 198, p. 3-45. RICH, Adrienne. When We Dead Awaken: Writing as Re-Vision. College English. v. 34. n. 1, Women, Writing and Teaching, p. 18-30, out. 1972. RODÓ, José Henrique. Ariel. Trad. Margaret Sayers Peden. Austin: University of Minnesota Press, 1988. SAID, Edward. Culture and Imperialism. New York: Knopf, 1993. SANDERS, Julie (org.). Novel Shakespeares: Twentieth-Century Women Novelists and Appropriation. Manchester and New York: Manchester University Press, 2001. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 273 SHAKESPEARE, William. The Tempest. The Arden Shakespeare. VAUGHAN, Alden T.; VAUGHAN, Virginia Mason (eds.). Walton-on-Thames, Surrey, 1999. SINFIELD, Alan. Faultlines: Cultural Materialism and the Politics of Dissident Reading. Berkeley: University of California Press, 1992. Artigo recebido em 16 de fevereiro de 2009. Artigo aceito em 30 de julho de 2009. Maria Clara Versiani Galery Doutora em Estudos Literários pela Universidade de Toronto. Especialista em traduções e adaptações de Shakespeare. Professora de Literaturas de Língua Inglesa do Curso de Letras do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto. 274 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 SHAKESPEARE’S THE WINTER’S TALE ADAPTED TO A MADE-FOR-TV FILM Aline de Mello Sanfelici [email protected] José Roberto O’Shea [email protected] ABSTRACT: This study analyses the adaptation of the play The Winter’s Tale, by William Shakespeare, to a made-fortelevision film. This adaptation is part of the famous series produced by BBC between 1978 and 1985, titled BBC Shakespeare Series. The goal of the analysis is to demonstrate how the visual and sound concretization of the theatrical text is crucial in adaptation processes, through strategies related to gestures, costumes, characters’ positioning, amongst other elements (absent from the theatrical text). Besides, the study aims at showing how an adaptation not only refuses the so-called fidelity to the text, as it also provides new interpretations to a previous work. RESUMO: O presente estudo analisa a adaptação da peça The Winter’s Tale, de William Shakespeare, para filme feito para televisão. Essa adaptação faz parte da famosa série realizada pela BBC entre 1978 e 1985, chamada BBC Shakespeare Series. O objetivo da análise é demonstrar como a concretização visual e sonora do texto teatral é crucial nos processos de adaptação, através de estratégias relacionadas a gestos, vestuário, posicionamento dos personagens, entre outros elementos (ausentes no texto teatral). Além disso, o estudo objetiva mostrar como uma adaptação não apenas opõe-se à suposta fidelidade ao texto, como também proporciona novas interpretações para um trabalho anterior. KEYWORDS: Shakespeare. The Winter’s Tale. Adaptation. Television film. PALAVRAS-CHAVE: Shakespeare. O conto do inverno. Adaptação. Filme para televisão. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 275 Plays are written to be performed, performance is embodiment, embodiment is adaptation and interpretation. Willis, 1991, p. 86 Introduction In this essay I analyze the adaptation of Shakespeare’s play The Winter’s Tale to a made-for-TV film, produced by Jonathan Miller and directed by Jane Howell, for the BBC Shakespeare Series, a project that filmed the whole canon of Shakespeare’s works from 1978 to 1985. To conduct my analysis I describe three sequences of the film in light of the text of the play. The first two sequences selected compound the tragic part of the film: the very first scene, in which king Leontes reveals his jealousy as regards his wife Hermione and his friend, king Polixenes; and the judgment scene of Hermione, in which she is considered innocent by the Oracle but guilty by her husband Leontes. The third sequence selected is part of the restorative and comic part of the film, the sheep-shearing festival. By selecting sequences from both destructive and restorative parts I shall demonstrate that in the adaptation process the visual and sound concretization, through strategies like changes in the set, is crucial to develop the story, from its conflict to its happy resolution. Some words on adaptation theory James Naremore laments that the majority of debates on adaptation rely on the evaluation of a supposed fidelity and respect to the source, precursor text. This reliance is problematic for being subjective and for assuming the existence of an essence and therefore a single and fixed meaning in the literary work to be found and copied in the filmic work. For Naremore, the film cannot be a mere translation into images of the text. Robert Stam shares Naremore’s view against the criticism that limits the adaptation process to a mere imitation or attempt at imitating the source text in another medium, as such criticism focuses on so-called losses in the adaptation process, ignoring all the possible gains from the use of voice, music, gesture, costume, makeup, set and other visual and sound information. Further, Stam recalls that since literature and cinema are semiotically distinct, “a filmic adaptation is automatically different and original due to the change of medium” (2005, p. 17). Thus, it is impossible to debate adaptation highlighting the notion of fidelity. What is the solution, then? 276 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 According to Thais Flores Nogueira Diniz, the current perspective on adaptation “emphasizes filmic elements, using comparison to enrich the evaluation of the film and not the opposite” (2006, p. 219). Thus, the playtext and the film are to be compared in terms of a positive intertextual dialogism, a term proposed by Naremore himself, whom Diniz quotes to explain this dialogue as involving “conscious and unconscious quotations, conflations and inversions” (2006, p. 221) between the written and filmic texts. Similarly, Ismail Xavier privileges the notion of a dialogue, since the literary work and its filmic adaptation are conceived as two poles in a process of transformation(s) due to the time factor (the time the source text was written and the time the film was made). Thus, as Xavier expounds, filmic adaptation can and should update themes. In short, then, the scholars referred to here agree that the path for adaptation theory does not rely on the fidelity discourse, but on positive, enriching comparison, and the contextualization of meanings. The BBC Shakespeare Series: a special case of adaptation The so-called “Shakespearean myth” confers, even nowadays, strong authority to the playwright’s texts when performed. One of the most important scholars on Shakespearean studies, W. B. Worthen, defends freeing a performance from the authority of Shakespeare’s text, saying that “[a] stage performance is not determined by the internal ‘meanings’ of the text, but is a site where the text is put into production, gains meaning in a different mode of production through the labor of its agents and the regimes of performance they use to refashion it as performance material” (2003, p. 23). Worthen talks specifically about stage performance; yet, his words also apply to a television film, or any film that adapts a previously written work, in the sense that the written text has to be transformed into action and behavior, and can only gain significance in performance. Thus, as Worthen says, “a performance of Hamlet is not a citation of Shakespeare’s text, but a transformation of it” (2003, p. 12). Similarly, a made-for-TV film of Shakespeare’s The Winter’s Tale is a new work of art that transforms the Bard’s written words, clothing them with faces, gestures, sound, light, and other visual elements. Specifically, the BBC Shakespeare Series needs to be looked at as a special case of adaptation, not simply for involving texts written for the stage, i.e. playtexts (and not novels) which were adapted to films made for television (and not cinema). The Winter’s Tale, as all television films of the BBC series, is inscribed in a peculiar project that Susan Willis has referred to as “a massive cultural and educational phenomenon” (1991, p. 5), with a stated goal “to Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 277 make solid, basic televised versions of Shakespeare’s plays to reach a wide television audience and to enhance the teaching of Shakespeare” (1991, p. 10-11). In this sense, the BBC Shakespeare Series was less concerned with interpretive and aesthetic issues, than with financial aspects and, of course, with the popularization of Shakespeare. Thus, it contradicts the claim that adaptations should contextualize meanings and not rely on fidelity1 issues: Michèle Willems exposes the initial decision by the BBC Series to “take no liberties” with Shakespeare’s text, i.e., “to cut and alter the text as little as possible” (1994, p. 72).2 Indeed, the BBC Shakespeare Series is a special case of adaptation due to its purpose and outlook. Moreover, television films in themselves are a special case of adaptation due to the specificities of the medium. Following Willems, the common close shot in television, with its emphasis on facial expression and reaction, is not achieved to the same extent in theatre. Such emphasis, though, can be related to theatre in the sense put forth by Neil Taylor, who says, specifically of the director of The Winter’s Tale, “Howell discovered in television’s immediacy and intimacy an equivalent to the stage actor’s direct relationship with the audience” (1994, p. 96). On the specificities of the medium, Willis also recalls Robert Lindsay’s claim that it is difficult to project on stage the subtleties and the subtexts, and television in turn facilitates such projection, being this specificity an advantage. Further, Willis adds that the camera allows films on television to “[let] actors and directors explore aspects of Shakespeare that theatre cannot, providing insights that can enhance understanding” (1991, p. 221). It is due to all these specificities of made-for-television film, as well as to aspects concerned with the goals and beliefs of the BBC producers, stated before, that I argue that the BBC Shakespeare Series (and consequently the filmed version of The Winter’s Tale, focus of this study) is a special case of adaptation. I shall conduct the proposed analysis considering, as much as possible, both the debate on adaptation theory and the particular case of the BBC Series. Critical reviews on Jane Howell’s The Winter’s Tale Willis describes Howell as the “most receptive to and most creative with stark settings” (1991, p. 165) in the whole group of directors of the BBC Series, and as “serious and symbolic in approach” (1991, p. 25). She adds that Howell’s sets, especially in The Winter’s Tale (considered her most abstract film) are stylized to suggest instead of reproduce a real environment. This is related 278 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 to Howell’s belief that “a production must give the audience a chance to contribute with their minds, their imaginations” (1991, p. 165). Indeed, Willis later points out that the abstract and geometric set in The Winter’s Tale “does leave a great deal to the audience’s imagination” (1991, p. 169), and such abstraction allows “a universal quality” (1991, p. 209). In addition, Willis comments on Howell’s use of the camera as an eye, sometimes confidant to private information, other times testimony of a character’s reaction. Willis then shows Howell’s belief that “the power of Shakespeare’s work is in the words” (1991, p. 169), and for this reason she uses the aforementioned camera eye, the clear communication on behalf of the actors, and the focus on the actors and their performances (in The Winter’s Tale as well as in her other films), to use TV’s visual capability to “show what the stage can’t” (1991, p. 182). Neil Taylor, in turn, describes Howell’s permanent set as a “semiabstract and semicircular structure, surrounding an open acting space,” and, like Willis, considers her set in The Winter’s Tale, specifically, as the “most abstract” of all her productions (1994, p. 90). Further, he summarizes that “[t]he actors’ movements were theatrical, the camera’s movements were cinematic, but the constant impulse to change the composition or the shot was televisual” (1994, p. 92), implying that Howell could successfully combine specificities of different media in a television film. As for Willems, this scholar praises the set of The Winter’s Tale for exemplifying how stylized sets, though having no concern with authenticity, are important to “support the interpretation of the text” (1994, p. 81). Willems says that the tree in the centre of the set is “revealing,” and “provides a visual support to […] the play; it reveals the sterility and sickness of Sicilia at the beginning, and suggests the advent of spring and fertility with Perdita in Bohemia” (1994, p. 81), followed by her conclusion that “the reversal of tragedy into comedy is made more understandable, supported also by changes in the colours of the costumes, of the setting, and in the lighting” (1994, p. 81). James Bulman and Herbert Coursen collect some of the reviews published by specialized critics on Howell’s The Winter’s Tale right after its broadcast in 1981. Joseph McLellan compliments Howell, by saying that “[t]he essential unreality of the play has been warmly embraced. [The] scanty, semiabstract scenery [is] appropriate for a story whose true location is never-never land” (McLELLAN quoted in BULMAN AND COURSEN, 1988, p. 276). The review by John J. O’Connor praises the film by stating that “[o]nce again […] a less-known work proves to be the most successful [on] television” (O’CONNOR quoted in BULMAN AND COURSEN, 1988, p. 276). Donald Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 279 Hedrick, in turn, argues that “in general the actors… have too little to do” (HEDRICK quoted in BULMAN AND COURSEN, 1988, p. 276), implying a reliance on the words and few innovations and not much audacity as regards the visual text. Still, Hedrick says that in general the film is elegant and clear. The review by Kenneth Rothwell is favorable to the location of the story “anywhere except in the ‘climate’ of human heart” (ROTHWELL quoted in BULMAN AND COURSEN, 1988, p. 277) and praises the use of colors to contrast destruction and restoration. Stanley Wells’ review describes some of the actors’ performances, praises Howell’s direction as “sensible and fluent” (WELLS quoted in BULMAN AND COURSEN, 1988, p. 277), but concludes saying that “the play seems smaller, flatter than in the theatre. There is less sense of interaction among the characters, and so less comedy, less drama… The approach is intelligent and honest, the acting accomplished, but the medium has reduced the message” (WELLS quoted in BULMAN AND COURSEN, 1988, p. 277). I would like to point out that not all of these critiques summarized here match the results of my own analysis, as will be clear in what follows. Analysis of Shakespeare’s The Winter’s Tale adapted to a made-forTV film The first sequence that I propose to analyze corresponds to the first ten minutes of the film, in which king Leontes fails to convince his friend, king Polixenes, to extend the time of his visit, followed by Leontes’ wife, Hermione, succeeding in convincing the visitor to stay longer. The sequence also includes the first moments in which Leontes reveals his suspicions of a case of adultery between his wife and his friend. In this sequence, there is a white set that helps to suggest the season of the year as being winter. The heavy costumes worn by the characters and an apparently dead, dry tree, white-colored, confirm the season. The set also includes two white cones in wedge shape that work as a corridor for the entrance and exit of the characters. Observing through a broad perspective the set in the film, one realizes that the space is open, and there is no indication of its end. Indeed, there is no ceiling, which leads one to think the sequence takes place outdoors, but at the same time there is a ceramics floor, which thus contributes to mystify the place as no-where in particular. Further, there are few details in the set, which means there are few distractions for the spectator in such a way that the focus places itself on the actors and their interactions. Given all these characteristics, it is possible to classify this set as 280 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 stylized, for it is not nor does it duplicate a real environment, rather, it suggests the environment. In this regard, I would like to recall Willems, who discusses stylized films (as well as the other two modes of filming Shakespeare for television that were used by the BBC, namely, the naturalistic and the pictorial ones). In stylized films like Howell’s The Winter’s Tale, the sets “do not attempt to represent or describe any given location. In fact they often proclaim that they are mere settings, in the first sense of the word: settings for the characters to come to life in, for the words to bounce back on” (1994, p. 80-81). Still, sets do have significance as regards meanings, as Willems explains later that stylized films often use set to enhance interpretation of the text. This is the case in The Winter’s Tale, since one cannot recognize any given location; the characters have space to come to life in with possibly all the focus on them; and yet the set efficiently helps to develop meanings, especially considering the changes that occur in the set when comparing the three sequences under analysis (this is a point I will develop later, when addressing the second and especially the third sequences). Having offered a description of the set in the first sequence, I now proceed analyzing the characters’ movements and interactions in light of the uses of camera. In general, in this first sequence, it is observable that there are a lot of close-ups in speech moments (notice that the close-ups are on the actor who speaks, and not on the character who is reacting to the speech). Also, when characters enter or exit through the wedge corridor, medium or wide shot is usually employed. This use of wide shot indicates the persistence of Howell’s theatrical style in films. As Taylor puts it, “[Howell’s] adherence to attitudes and techniques drawn from the theatre was both a commitment to a ‘committed’ theatre and an attempt to make television communal in the way that all theatre inevitably is” (1994, p. 92). At the same time that the director felt that the spectators “need to see them all,” “them” meaning all the characters, as Howell herself says (quoted in TAYLOR, 1994, p. 91), she also placed a noticeable emphasis on actors’ facial and verbal expressions, by means of the close-ups as crucial lines are being said. Further, the camera in the first sequence is consciously positioned and moved, as it allows two actions at the same time. There are several examples in the first sequence of characters entering through the corridor, in the background, within the space of other characters’ heads that are in the foreground. In this way, the camera shows the dialogue of the characters who are near, and the movement of entrance of the characters who are more distant. Tânia Pellegrini argues that the camera is not neutral, since there is Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 281 always someone manipulating it and in charge of selecting and combining what is going to be shown, and how. This is true of Howell’s film, since her uses of the camera, which exposes more than one action at the same time, consciously show what is interesting to be shown as regards meanings desired to be conveyed. For example, the consciously positioned camera shows Hermione and Polixenes together, having intimate conversation, in the foreground, and Leontes is placed in the background, observing their interaction from a distance, with Camillo. In this case, specifically, the spectator can notice clearly Leontes’ suspiciousness and jealousy. It is remarkable, in this initial sequence, how Howell strategically places the camera to allow the spectator the point of view of both Leontes and Polixenes, alternately. That is, after offering the point of view of Leontes watching Hermione and Polixenes, the camera offers the point of view of Polixenes watching Hermione and Leontes and their son (through the position of the camera, the spectator visualizes that the visitor king is facing a family scene of which he does not take part in, for he is an outsider, who merely watches). Probably, such strategy is applied in order to give the spectator two visions, two perspectives, and consequently leaves it up to the spectator to decide on his/her opinion of the story and of the characters. The alternate points of view of Leontes observing a possible case of adultery (that is not confirmed by the Oracle, later), and of Polixenes observing a family together, offers the possibility to construct visions and take a positioning as regards the story. Moreover, the use of camera is particularly interesting in this sequence as regards the several “direct addressings” to the camera that Howell makes use of. Usually, such direct addressing generates or attempts to generate complicity between character and spectator. Following David Barker, camera proximity, which is “the location of the camera in relation to the performer” (1994, p. 90), can cause discomfort on the viewer or change the narrative’s meaning or focus. At the moment in which Leontes directly addresses the camera to get his feeling of jealousy off his chest, and try to gain the spectator’s complicity, there is a close-up that changes the narrative’s focus from the interaction and friendly relationship between Hermione and Polixenes, and focuses on Leontes’ speech, so as to narrate emphatically his suspicions. Still on the first sequence analyzed, I would like to point out that the costumes worn by the characters are helpful to convey the positioning of each person involved in the plot: Leontes and his servants wear black and heavy costumes, whereas Polixenes, Hermione and Hermione’s ladies wear lighter and white costumes. This specific visual element signed by Howell may 282 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 suggest that there is a villain in the story, Leontes, denounced as such through his clothing, at the same time that there are victims of this villain (that is, victims of Leontes’ jealousy), and these are revealed also through clothing. In short, there are indications that Howell created a visual counterpart of heavy versus light, black versus white, to help signal to the spectator the different motivations of the characters in interaction throughout the story. A final aspect to call attention to during the initial moments of the film is that all the time there seems to be a physical distance between the characters; that is, even dialogues take place with a noticeable space between those who are speaking. This point is important when compared to the proximity of characters in the last sequence to be analyzed. Next, as regards the second sequence under debate, the famous judgment of Hermione, it is relevant to observe that the set continues being the same previous open space, with the two white wedges working as a corridor, without the notion of a ceiling or an end, and with the stylized ceramics floor. However, Howell included special details and objects that transform the set into a new place. There is a red carpet, and a platform with red fabric in the background and a king’s throne on it. Besides, a fence surrounding the carpet area works to limit the acting space, and given the facts that take place during the trial, this same fence seems to entangle the characters, as no one can escape the horror that befalls Leontes’ kingdom (such as the death of Prince Mamillius). The positioning of the characters is very significant in the judgment scene. Leontes and his allies are placed in front of a red background (from the platform I mentioned before), and on this note it should be recalled that the red color is often associated with royalty, but also with anger, passion, and jealousy. At the same time, Hermione is placed against a white background, and still wearing a white costume; that is, she is seen through the perspective of a color usually associated with peace and innocence. Further into the positioning of the characters, it is crucial to observe that Leontes is physically above Hermione, for he is on the platform, sitting in his royal chair, whereas Hermione is standing on the floor. This visual placement of the characters signals how one acts superior, precisely for judging and deciding the future of the other one, who is placed in a submissive and passive position, being judged and humiliated. Other visual features interesting to be observed in the judgment scene are the actors’ bodies and gestures. Leontes seems to own the place and the judgment, for he is the only one to have movement in the acting space. He makes big and expansive gestures, gesticulating with all his body. Also, he Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 283 moves his royal robe, while walking towards Hermione, and then he turns his back on her and sits again. Hermione, in turn, does not walk in the acting space; she stands still and has few and small gestures, which are contained in her own body, such as extending her arm or placing her hand on her chest. In this way, Hermione’s gestures and (the absence of) body movement seem to convey the idea that she is already arrested, sentenced guilty. In this sequence, it is remarkable that Hermione makes use of the direct addressing to the camera. This could be a strategy to gain the spectator’s sympathy, since she looks at the camera when she talks about “the flatness of my misery” (her words). She addresses the spectator, directly, as if reaching or trying to reach and convince him/her that she is a victim. Indeed, the Oracle testifies her innocence, subsequently. What should be pointed out, in addition, is that previously, as I have argued, the director makes the spectator see the scene (the first scene) through the points of view of both Leontes and Polixenes through the camera’s perspective. And in the sequence being analyzed now, the judgment scene, after the direct addressing mentioned, there is a moment in which Hermione’s point of view is conveyed through the positioning of the camera. In this way, Howell allows the spectator to see different moments of the story through the eyes of each one of the participants in the tragic love entanglement. Finally, moving to the analysis of the third sequence, let us remember that this latter one is the only sequence that belongs to the restorative and comic part of the play and of the film. The easily noticeable changes in the set for this sequence help to indicate the shift from tragedy to comedy, from destruction to restoration. The previous white tree in the middle of the acting space, which looked completely dead, with no leaves on it, is presented very differently in the restorative part. In this third sequence, one can realize that restoration begins because this same tree has many greenish leaves on it and a brown trunk, an aspect that suggests or symbolizes the blossoming of nature. Besides, the floor is no longer of white ceramics; now it is green, too. In addition, the former white wedges now become yellow, and there are some bushes on the floor, around the tree and the wedges. All these elements indicate that winter (and its difficult times) is gone, and clearly symbolize that now it is spring time. Having noticed the changes in set for the restorative sequence analyzed, it is useful to observe the changes in costumes. Previously, it was argued that all characters wore either heavy and black or light and white costumes. As regards the third sequence, all the characters wear costumes in green and pastel tones. Besides, they have flowers and adornments included in their 284 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 visual composition. Both colors and elements added to the costumes seem to suggest, once more, that it is spring, a time of rebirth and replenishment, just as the characters’ destinies shall be restored shortly. During the sheep-shearing festival, in the third sequence, it is remarkable how the characters are close to each other, a lot closer than in the previous sequences. Maybe because this is a party, a celebration, the number of characters in the acting space is larger than ever in the film, and they are all happy and interacting with one another. It seems that there are more witnesses for the good things of life than for the bad ones, because the previous sequences analyzed contained fewer characters, who were spatially distanced, and this conveyed the idea of each one as an isolated individual. In the sheepshearing festival, on the other hand, the characters, in larger number and really close to one another, convey the idea of union, the idea of a people (and not of separate individuals) in celebration and communion. An interesting moment in the third sequence is when Perdita and Florizel share an intimate conversation during the festival, in which their affection and love for each other is made clear to the spectator. The characters are crouched in the middle of the crowd, and the moment is entirely theirs, for nobody else listens to their talk nor participates in it. This is important to be contrasted to another intimate conversation, this one from the first sequence, in which Hermione talks to Polixenes and, even though they are not in a love relationship as Leontes believes and as Perdita and Florizel are, still, it is a private conversation, and it has the presence of an audience. Some of the characters, like Hermione’s ladies and Leontes’ servants, are clearly involved and listening to the conversation between Hermione and Polixenes. The difference between the intimate moments, from the tragic and the comic parts of the film, shows that in the royal family intimate concerns are made public, whereas in the ordinary life of shepherds and rural people there is room for privacy. There are some other important differences between the tragic sequences analyzed before, and the comic and last sequence discussed. While in the previous sequences there was rarely a soundtrack, usually only at entrances of characters, during the sheep-shearing festival there is the sound of music all the time, as well as the sound of laughs and applause. These elements suggest happiness, and the use of dance also enhances this feeling that everything is fine. Indeed, following Patrice Pavis, in Western mise en scène music often functions to create, illustrate, and characterize an atmosphere.3 This is precisely the case in the sheep-shearing festival. Further, in regard to the comparison of the sequences, another difference is that the previous Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 285 familiar environment in the tragic part now leaves room for a popular environment. In this third sequence, the characters are no longer in the royalty of Leontes’ castle, but in a rural space that is open to everybody. A final comparison that I want to highlight between the tragic and the comic parts refers to the love entanglements. In the winter part of the film, there is a tragic and veiled love entanglement between Hermione, Leontes and Polixenes (later, the supposed adultery case between Hermione and Polixenes is denied by the Oracle; still, the network of these three characters exists and brings consequences to all). In the spring part during the sheep-shearing festival, on the other hand, there is a comic and open love entanglement between the shepherd’s son and two shepherdesses. In short, it seems that the two love triangles are completely opposite to one another: veiled X public, tragic X comic, a woman and two men X a man and two women. I would like to point out this contrast as another factor that highlights the great differences between the destructive and the restorative parts of the film. Conclusion I would like to finish this study recalling the epigraph that opened it, in which Susan Willis says that “[p]lays are written to be performed, performance is embodiment, embodiment is adaptation and interpretation” (1991, p. 86). In Howell’s made-for-TV film of Shakespeare’s The Winter’s Tale, clearly the Bard’s words gain bodies, voices, gestures, colors, movements, all of which are developed following a conception and interpretation of the source text. There are many gains, derived from the specificities of television, like the direct addressing to the camera and characters positioned in the foreground or in the background, so that I cannot agree with Wells’ belief that the medium of television has somehow “reduced” Shakespeare. On the contrary, this production of The Winter’s Tale on made-for-TV film definitely adds to the play’s history and significance, at the same time that it offers spectators and readers of Shakespeare another work of art, specifically as television film, which is as relevant and memorable as those produced on stage or screen. _________________________ Notes 1 To illustrate the fact that there was a lot of respect and little interpretation (or little innovation as regards interpretation), Taylor says of Howell’s productions that “[h]er 286 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 attitude to the printed text was the same in all six productions: a remarkable fidelity, both to its letter and to its spirit” (TAYLOR, 1994, p. 88). This suggests the belief on a so-called text’s essence (discussed in the second section above), and how there was little transgression or disturbance between the film’s visual and textual elements. 2 Yet, in the period in which Miller was the producer (when The Winter’s Tale was filmed), there was clearly less devotion to the text, as put forth by Willems. In general, though, the texts of Shakespeare worked as the film scripts for the BBC Series, which characterizes the series as a special case of adaptation. 3 Pavis mentions still other possible uses of music, amongst them to locate an action, create a counterpoint effect, and make a given situation recognizable. REFERENCES BARKER, David. Television Production Techniques as Communication. In: NEWCOMB, Horace (ed.). Television: The Critical View. New York and Oxford: Oxford University Press, 1994, p. 87-100. BULMAN, J. C. & H. R. COURSEN (eds.). Shakespeare on Television: An Anthology Of Essays and Reviews. HanNover and London: University Press of New England, 1988. DINIZ, Thais Flores Nogueira. Is Adaptation. Truly an Adaptation? Ilha do Desterro: A Journal of English Language, Literatures in English and Cultural Studies, nº 51, Florianópolis, 2006, p. 217-233. NAREMORE, James. Introduction: Film and the Reign of Adaptation. In: NAREMORE, James (ed.). Film adaptation. New Brunswick: Rutgers University Press, 2000, p.1-17. PAVIS, Patrice. Analyzing Performance: Theater, Dance, and Film. Trad. David Williams. Michigan: The University of Michigan Press, 2003. PELLEGRINI, Tânia. Narrativa Verbal e Narrativa Visual: Possíveis Aproximações. In: CAMARGO, Luís (org.). Literatura, Cinema e Televisão. São Paulo: Editora Senac São Paulo e Itaú Cultural, 2003, p. 15-35. STAM, Robert. Introduction: The Theory and Practice of Adaptation. In: STAM, Robert & RAENGO, Alessandra (eds.). Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2005, p. 1-52. TAYLOR, Neil. Two Types of Television Shakespeare. In: DAVIES, Anthony & WELLS, Stanley (eds.), Shakespeare and the Moving Image: The Plays on Film and Television. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1994, p. 86-98. WILLEMS, Michèle. Verbal-Visual, Verbal-Pictorial or Textual-Televisual? Reflections on the BBC Shakespeare Series. In: DAVIES, Anthony & WELLS, Stanley (eds.), Shakespeare and the Moving Image The Plays on Film and Television. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1994, p. 69-85. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 287 WILLIS, Susan. The BBC Shakespeare Plays: Making the Televised Canon. Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press, 1991. WORTHEN, W. B. Shakespeare and the Force of Modern Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. XAVIER, Ismail. Do Texto ao Filme: A Trama, a Cena e a Construção do Olhar no Cinema. In: CAMARGO, Luís (org.), Literatura, Cinema e Televisão. São Paulo: Editora Senac São Paulo e Itaú Cultural, 2003, p. 61-89. Artigo recebido em 12 de março de 2009. Artigo aceito em 03 de agosto de 2009. Aline de Mello Sanfelici Mestre em Letras/ Inglês e Literatura Correspondente pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Doutoranda em Letras/ Inglês e Literatura Correspondente pela UFSC sob a orientação do Prof. Dr. José Roberto O’Shea Bolsista do CNPQ - Doutorado Sanduíche na University of British Columbia (UBC) em Vancouver. José Roberto O’Shea Pós-Doutor em Letras e Artes pela Universidade de Exeter, Inglaterra. Pós-Doutor em Letras e Artes pela Universidade de Birmingham, Inglaterra. Doutor em Literatura Inglesa e Norte-Americana pela Universidade da Carolina do Norte, EUA. Professor Titular de Literatura Inglesa e Norte-Americana e de Tradução do Curso de Letras da UFSC. Professor de Pós-Graduação em Inglês e Literatura Correspondente da UFSC. 288 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 REFLEXÕES SOBRE AS LINGUAGENS CÊNICAS DE SHAKESPEARE: O DUPLO TRAVESTIMENTO EMO MERCADOR DE VENEZA Anna Stegh Camati [email protected] RESUMO: Para evidenciar as contradições do discurso patriarcal, Shakespeare astuciosamente transforma a convenção dramática do duplo disfarce em uma arma subversiva para problematizar as noções de gênero e a relações de poder na vida cotidiana. Por meio do uso criativo da estratégia do travestimento, o bardo estabelece uma confusão de identidades que contradiz e subverte a visão patriarcal que inferioriza a mulher. A representação das personagens femininas, por atores imberbes travestidos que depois se apropriam do disfarce masculino para desempenhar papeis reservados aos homens, lança uma luz extremamente esclarecedora sobre os mecanismos de construção dos comportamentos sociais. Para ilustrar as considerações críticas sobre as inovações introduzidas na cena por Shakespeare, a questão da subversão da identidade, em O mercador de Veneza, foi revisitada neste ensaio, à luz de escritos teóricos nãoliterários contemporâneos. ABSTRACT: To expose the contradictions of patriarchal discourse, Shakespeare ingenuously turns the dramatic convention of double disguise into a subversive weapon to question gender issues and power relations in daily life. By means of creative use of the crossdressing device, the bard establishes a confusion of identities which undermines and subverts the patriarchal vision of women’s inferiority. The representation of female roles by boyactors, who later appropriate the male disguise to enact social roles denied to the feminine sex, illuminates the constructed nature of social behavior. To illustrate the critical concepts concerning the theatrical innovations introduced by Shakespeare, the issue of identity subversion, in The Merchant of Venice, has been revisited in this essay, in the light of contemporary theoretical nonliterary developments. PALAVRAS-CHAVE: Shakespeare. O mercador de Veneza. Travestismo. Duplo disfarce. Identidade de gênero. Relações de poder. KEY WORDS: Shakespeare. The Merchant of Venice. Crossdressing. Double disguise. Gender. Power relations. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 289 A máscara de cada dia nos dai hoje. Tom Stoppard. Rosencrantz e Guildenstern estão mortos No tempo de Shakespeare, o teatro era uma instituição política, uma arena onde as convenções sociais e os valores estabelecidos eram questionados e desafiados: Por um lado, ele [o teatro] era chamado para se apresentar na corte, e como tal poderia parecer ser uma extensão do poder da realeza; por outro lado, constituía uma modalidade de produção cultural na qual predominavam as forças do mercado, e como tal ele ficava exposto à influência das classes subordinadas e emergentes. Não seria possível esperar, portanto, uma relação ideológica livre de ambiguidades em relação às peças: ao contrário, provavelmente os tópicos que interessavam tanto aos escritores e às plateias eram aqueles nos quais havia ideologias opostas em tensão. (DOLLIMORE; SINFIELD, 1985, p. 211)1 Os textos de Shakespeare, impregnados de teor ideológico, incluíam reflexões sobre questões diversas, dentre elas problemas de gênero e as relações de poder na vida cotidiana. No entanto, o dramaturgo tinha plena consciência que não poderia e nem deveria expressar abertamente tudo que captava ao seu redor, e que posicionamentos heterodoxos e anti-hegemônicos deveriam ser apenas sugeridos. Muito antes de Freud, Shakespeare foi um dos mais perspicazes observadores do subtexto da vida, deixando-nos entrever as motivações veladas das personagens. Ele revelou as chaves ocultas de nosso comportamento, o hiato que existe entre comportamento explícito e motivação mascarada, aspectos retomados hoje não somente por escritores contemporâneos, mas também por sociólogos, psicólogos e antropólogos. A questão das máscaras sociais permeia toda a obra de Shakespeare. A convicção de que a soma das máscaras é parte integrante do nosso eu tem sido retomada por diversos dramaturgos da atualidade, dentre eles Tom Stoppard, citado em epígrafe. Em sua reescritura de Hamlet, batizada Rosencrantz e Guildenstern estão mortos, os dois personagens-título rezam para encontrar a máscara certa para que, eventualmente, possam escapar da morte anunciada no título. Robert Ezra Park nos informa que “não é provavelmente um mero acidente histórico que a palavra ‘pessoa’, em sua acepção primeira, queira dizer máscara” (Citado em GOFFMAN, 2003, p. 27). 290 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Nas comédias de Shakespeare, onde a confusão de identidades se faz presente, o subtexto pode ser encontrado não somente no discurso e na ação, mas também na transmutação de convenções dramáticas em linguagens cênicas. Consequentemente, inúmeras possibilidades emergem das dimensões ocultas de seu discurso que nos permitem problematizar e contestar leituras críticas tradicionais. A maioria dos críticos argumenta que devido ao seu extraordinário conhecimento a respeito da natureza humana, Shakespeare conseguiu retratar com igual maestria homens e mulheres, evidenciando a capacidade das mulheres de superar os limites impostos a elas pelo sistema patriarcal. No entanto, como esclarece Marlene Soares dos Santos, a atitude de Shakespeare em relação às mulheres é complexa e requer atenção crítica: A ambivalência de Shakespeare em relação à questão da mulher deve ser contextualizada: sendo ele um homem ‘de seu tempo’, o que lhe era facultado fazer – e o que ele fez – foi apontar alguns caminhos que as mulheres encontraram para impor seus desejos e vontades dentro das limitações ideológicas da doutrina patriarcal [...]. No início da modernidade, existiam na Inglaterra diversas culturas competindo pela hegemonia e, por isso, cheias de contradições, sendo que a ideologia oficial era constantemente desafiada pelas práticas sociais atuais. Consciente acerca dos comportamentos dissidentes e das vozes em discórdia no discurso dominante, Shakespeare conseguiu incorporá-las na criação de suas personagens femininas, principalmente aquelas das comédias, apesar de que, é preciso dizer, no final elas são absorvidas pelas demandas da hegemonia social. Também é preciso lembrar que ele escreveu para o teatro comercial e, se os seus biógrafos estão certos, ele tinha muito talento para ganhar e investir dinheiro, o que significa que ele também deve ter se empenhado em agradar a parte feminina de sua platéia. (SANTOS, 2007, p. 129) Não sabemos os motivos que levaram Shakespeare a retratar as mulheres sob uma luz favorável. O que fica evidente em suas peças é que o dramaturgo transforma a convenção do travestimento2 em estratégia artística para questionar a validade da limitação de papeis femininos. Na época de Shakespeare prevalecia o mito da identidade da mulher como um dado fixo que sempre era invocado para não permitir que ela assumisse papeis diferentes daqueles considerados pré-ordenados por Deus que, segundo crenças antigas, estavam inscritos em sua própria natureza. A condição da mulher, segundo essas mesmas crenças, não era adequada para assumir papeis de destaque na sociedade, na política, nas artes, no mundo dos negócios e nas relações diplomáticas. Havia toda uma série de preconceitos Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 291 em relação à mulher, como revela a criação das estruturas de pensamento binárias, cultivada pelo poder patriarcal, sempre ávido em assegurar a hegemonia masculina. A mulher era considerada fraca, passiva, submissa, deixando-se guiar demasiadamente pela emoção; em contrapartida, o homem era visto como o exato oposto: forte, ativo, dominador, independente, sincero e verdadeiro, orientado pela razão. Por meio do uso criativo da estratégia do travestimento, o bardo estabelece uma confusão de identidades que contradiz e subverte a visão patriarcal que inferioriza a mulher. A representação das personagens femininas por atores imberbes travestidos que depois se apropriam do disfarce masculino para desempenhar papeis reservados aos homens, lança uma luz extremamente esclarecedora sobre os mecanismos de construção dos comportamentos sociais. O disfarce de homem permite a elas um desenvolvimento mais efetivo e completo como indivíduo e sujeito, liberando-as das restrições de sua condição feminina e de objeto. Em sua dramaturgia, Shakespeare já fornece indícios que os conceitos de “masculinidade” e “feminilidade” são criações culturais e, como tais, comportamentos aprendidos através do processo de socialização, que condiciona diferentemente os sexos para cumprirem funções específicas e diversas como se fossem parte de suas próprias naturezas. O autor deixa implícito e, muitas vezes, explícito, que a hierarquia sexual não é uma fatalidade biológica, porém uma construção, fruto de um processo histórico e, como tal, passível de mudança. E, esta naturalização que inferioriza o sexo feminino é constantemente questionada, criticada, ridicularizada e desacreditada nas comédias de Shakespeare. A partir dos anos 1980 e 1990, a crítica feminista deu visibilidade às personagens femininas de Shakespeare que antes não eram valorizadas ou textualizadas pela tradicional crítica shakespeariana, sendo consideradas secundárias, meros estereótipos sem importância. Elaine Showalter, Catherine Belsey, Carol Thomas Neely, Juliet Dusinberry, dentre outras, com base nas reflexões críticas de Simone de Beauvoir (1998, p. 7-23), mostraram em suas reflexões que as heroínas de Shakespeare são fortes, inteligentes, espirituosas e decididas; possuem agudeza de espírito, perspicácia, determinação, audácia, independência, versatilidade e fluência verbal. Algumas são rebeldes, desobedientes, indomáveis e incontroláveis. São personalidades marcantes que sabem o que querem e lutam para conseguir seu intento. As feministas materialistas investigam a significação da subjetividade individual feminina em Shakespeare, em contextos históricos e teóricos específicos, rejeitando quaisquer respostas embasadas no determinismo biológico 292 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 ou em fundamentos metafísicos e essencialistas. Suas investigações mostram que os textos do bardo possibilitam diferentes leituras: podem ser lidos como afirmação ou negação de ideologias sexistas. Como já foi dito anteriormente nesse ensaio, Shakespeare problematiza as questões de gênero por meio do recurso do travestimento. O discurso, que essa estratégia dramática implementa, constitui-se em linguagem de subversão, indo de encontro com a teorização das feministas mais recentes que argumentam que o corpo é uma situação (MOI, 1999, p. 117) – o corpo é concretamente experienciado enquanto significação e situado social e historicamente – ou seja, a mulher não é um dado fixo, mas um ser em constante processo, fazendo e refazendo-se através de experiências vividas e sedimentadas através do tempo e em interação com o mundo. O discurso do travestimento também pode ser relacionado com a teoria do psicólogo social Erving Goffman (1985, p. 25-76) que, em A representação do eu na vida cotidiana, considera o comportamento individual na vida diária da sociedade como uma performance do sujeito. Toma como premissa o argumento de que todo mundo está constantemente e mais ou menos conscientemente representando um papel e que o sujeito individual não é tanto o autor de sua performance quanto um produto da cena social. Em Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade, Judith Butler (2003, p. 119-201) retoma a teoria de Goffman do indivíduo que se representa (performing self) e a leva um passo adiante. Ela se interessa por formas responsáveis pela construção do gênero atribuído a indivíduos, procurando identificar a operação na qual e pela qual a ideologia constitui sujeitos. Butler também empresta idéias de Michel Foucault que, em seus escritos, afirma a existência de um corpo anterior à sua inscrição cultural e que formulou a tese de que os sujeitos são produzidos e controlados por poderes regulatórios. Seus escritos constituem premissas fundamentais para a teoria do gênero como mecanismo performativo. No capítulo quatro do livro de Butler, intitulado “Inscrições corporais, subversões performativas”, a autora tece os seguintes comentários: Se a verdade interna do gênero é uma fabricação, e se o gênero verdadeiro é uma fantasia instituída e inscrita sobre a superfície dos corpos, então parece que os gêneros não podem ser nem verdadeiros nem falsos, mas somente produzidos como efeitos da verdade de um discurso sobre a identidade primária e estável. Em Mother Camp: Female Impersonators in América, a antropóloga Esther Newton sugere que a estrutura do travestimento revela um dos principais mecanismos de fabricação através dos quais se dá a construção social do gênero. Eu sugeriria, igualmente, que Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 293 o travesti subverte inteiramente a distinção entre os espaços psíquicos interno e externo, e zomba efetivamente do modelo expressivo do gênero e da idéia de uma verdadeira identidade do gênero. (BUTLER, 2003, p.195) A autora assevera que os comportamentos característicos atribuídos ao gênero criam a idéia de gênero, e que na falta desses comportamentos, não haveria gênero nenhum, pois não existe nenhuma essência que o gênero tenda a expressar ou exteriorizar. Tendo em vista as considerações críticas especificadas acima, minha proposta é lançar um olhar mais aprofundado sobre a estratégia do duplo travestimento em O mercador de Veneza, de Shakespeare. Nesta peça, três personagens femininas representadas por atores do sexo masculino, se travestem de rapazes para cumprirem funções diversas. Através do travestismo, Shakespeare põe em xeque a noção de uma identidade original ou primária do gênero, denunciando a estereotipia dos papeis sociais e sexuais pré-estabelecidos. Em O mercador de Veneza, Pórcia, a heroína da peça, é uma rica herdeira de Belmonte, cujo pai morto continua exigindo seu direito sobre a filha além túmulo: a jovem comenta que não pode escolher quem lhe agrada, nem recusar quem não lhe agrada (p. 26)3. Porém, desde o início, fica muito claro que tudo que ela diz, entra em franca contradição com aquilo que ela faz. É mais do que óbvio que ela manipula a escolha de Bassanio no enredo das arcas por meio de uma canção cuja letra é extremamente sugestiva. E quando Bassânio acerta escolhendo a arca de chumbo, Pórcia profere um discurso de submissão e dependência, que seguramente parece afirmar os códigos da cultura do patriarcado: ela se diz frágil, insegura, sem lustro ou experiência, disposta a entregar seu espírito a Bassânio para este possa orientá-la. Senhor Bassânio, aqui me vê agora Tal como eu sou; e embora por mim mesma Não tivesse ambição de ser melhor Do que aquilo que sou, por sua causa Desejaria eu ser multiplicada Por mil no aspecto, dez mil na riqueza, Tão só pra merecer a sua estima. Queria em bens, belezas e virtudes Ser muito pródiga, mas me resumo Na resumida soma que, no todo, É uma moça sem lustro ou experiência, Mas que é feliz por ser ainda jovem Para aprender; e mais feliz ainda Por não nascer sem dotes que permitam 294 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Que venha a aprender; e felicíssima Por poder entregar o seu espírito Ao seu, para que possa orientá-la Como seu amo, seu senhor, seu rei. (p. 88) Logo em seguida, porém, assevera que era “senhor” da sua mansão e não senhora, e lhe entrega um anel, que uma vez perdido, dará a ela o direito de protesto (p. 88). Vemos que, desde o primeiro momento, ela impõe condições. E suas atitudes subsequentes, quando substitui o juiz Belário, travestida de Baltazar, decidida a desempenhar a função de advogado, não para resolver a situação de Antonio, mas para salvar seu próprio casamento, não deixam dúvidas de que ela não é frágil nem dependente, porém forte, inteligente, voluntariosa, astuta e autoritária. Em um ensaio intitulado “Patrimônio e patriarcado em O mercador de Veneza”, Carol Leventen (1991, p. 72) argumenta que o discurso de submissão de Pórcia dramatiza a força da ideologia patriarcal. Sua fala faria alguns segmentos da plateia acreditar que ela internalizou os imperativos culturais, identificando-se com a imagem feminina do patriarcalismo, a mulher ideal com a qual Jéssica é contrastada como sendo a filha rebelde e desobediente. Concordo com Leventen quando diz que Pórcia, apesar de manipular os outros o tempo todo, não desafia abertamente o sistema como Jéssica. No entanto, discordo dela quando afirma que heroína sujeitou-se inteiramente ao jogo da sorte no enredo das arcas, e que ela internallizou completamente os valores de seu pai, sendo que a maneira como ela se percebe é determinada pela vontade de seu pai (1991, p. 67). Ao contrário, acredito que fica muito claro na peça que Pórcia acumula as funções de dramaturga e diretora do terceiro ato do enredo das arcas, uma peça dentro da peça, e que seu discurso de submissão pode ser visto como uma prova do poder de dissimulação da heroína: para tornar-se desejável, ela fala exatamente aquilo que Bassânio gostaria de ouvir, visto que, em seguida, astutamente, prepara o terreno para exercer poder sobre seu futuro marido, impondo mais condições como veremos adiante. Quando Pórcia e sua criada Nerissa se travestem de homens para poder transgredir, ou seja, transitar em áreas proibidas às mulheres e assumir papéis no tribunal, e quando a heroína redige a próprio punho seu credenciamento para advogar, ela revela a capacidade de reinventar-se. Pórcia, então, profere uma fala que representa uma mudança de discurso. Ela se apropria do discurso masculino que comprova a teoria do fluxo, da constante dissolução e reconstituição do “eu”. Ela assevera que a mudança de roupa e Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 295 de comportamento fará com que todos os homens do tribunal incorram em um erro de julgamento: [...] irão julgar que nós somos dotadas De algo que não temos.4 E aposto já Que quando nos vestirmos como homens, Serei o mais bonito dos rapazes, Usando a minha adaga com mais prosa, Com voz meio rachada de menino Que vira homem e, mudando o andar, Pra dar largas passadas, vou gabar-me De lutas e conquistas. Vou mentir A respeito de damas que me amaram E que morreram por que não as quis. Depois eu me confesso arrependido, Lamento ter causado as suas mortes, Enfim, vou contar tanta mentira, Que os homens que me ouvirem vão pensar Que faz um ano que saí da escola. Conheço mil estórias como essas, Que os fanfarrões espalham pela vida, E vou usá-las. (p. 100-101) E, com efeito, assim travestida, apesar de não possuir o “falo” (adaga), mencionado em seu discurso, ela consegue manipular a lei através de truques e distorções e virar o julgamento de cabeça para baixo. O “falo” nesta instância simboliza não apenas a masculinidade, mas o poder que a masculinidade confere. O travestimento da lei, uma prerrogativa dos homens, é realizado de maneira exemplar pela heroína, cuja identidade está oculta, trocada e disfarçada. Temos aí uma inversão dos papeis tipicamente masculinos. No discurso transgressor do bardo, o “outro” sexual tem vez e voz: o travestimento da heroína demonstra que não é o sexo (condição biológica) e nem o gênero (construção social) que faz uma mulher ser mulher ou um homem ser homem (BEAUVOIR, 1978, p. 7-20). É preciso esclarecer que esse processo de construção do “eu”, que culminou com o disfarce masculino de Pórcia para assumir a identidade e o poder de dissimulação dos homens, teve por finalidade salvaguardar seu casamento, uma vez que há uma rivalidade entre ela e Antonio pelo amor de Bassânio5, argumento que pode ser comprovado pela seguinte fala de Bassânio, 296 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 na cena do julgamento, quando declara estar disposto a renunciar a tudo, inclusive ao amor de sua esposa, para preservar a vida do seu amigo, Antonio, sou casado com uma esposa Que me é mais cara que a própria vida; Porém nem ela, nem vida, nem mundo, Não me valem o mesmo que você; Eu perderia tudo, em sacrifício A esse demônio, para libertá-lo. (p. 120) Se Antonio, que por amor a Bassânio, empenhara seu próprio corpo no contrato assinado entre ele e Shylock sofresse qualquer agressão no cumprimento da lei, os laços que prendiam Bassânio a Antônio fortalecer-seiam de tal maneira que tornariam insustentável a relação matrimonial. Na esteira de seu sucesso no tribunal, a heroína de Shakespeare continua a se reinventar com o truque do anel, fetiche entregue a Bassânio no dia em que ela manipulou o jogo das arcas. Como pagamento da ação jurídica bem sucedida, Pórcia, disfarçada de advogado, solicita o anel, o mesmo anel que a seu pedido Bassânio havia prometido nunca tirar do dedo. Consegue seu intento, e na volta a Belmonte recrimina Bassânio por ter quebrado sua promessa. Este, completamente ignorante do que havia acontecido, pede clemência e jura fidelidade eterna: “Se perdoar-me o erro cometido / Eu juro que jamais serei perjuro” (p. 144). Antonio, que foi salvo por Pórcia, sente-se na obrigação moral de apoiar e justificar seu amigo: Eu empenhei meu corpo por dinheiro E, se não fosse por quem tem o anel, Estaria perdido. Mas agora, Empenho a própria alma, garantindo Que seu marido não trairá sua jura. (p. 144) Com essa vitória sobre seu rival, Pórcia apresenta o anel a seu marido, que ele reconhece ser o mesmo que ele havia dado ao doutor. Pórcia, por sua vez, faz uma provocação dizendo: “Foi ele quem m’o deu: perdão Bassânio,/ Mas, pelo anel, deitei-me com o doutor” (p. 144). Anteriormente, ela já havia feito uma ameaça ousada: Que o doutor jamais venha à minha casa, Pois já que usa a jóia que eu amava – E que você jurou usar por mim – Pode ser que eu me mostre liberal Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 297 E não lhe negue nada do que é meu, Nem mesmo o corpo, ou o leito conjugal. Eu hei de conhecê-lo, esteja certo. Portanto, fique atento. E jamais passe Uma só noite longe desta casa: Se não me vigiar, se eu ficar só, Por minha honra (que ainda é minha) Eu dormirei bem junto ao seu doutor. (p. 142-143) Esta fala contém uma ameaça explícita de traição no caso de quebra de juramento. Apesar de que no final todos os equívocos são desfeitos, a encenação desse episódio, roteirizado e dirigido por Pórcia, foi determinante para estabelecer a prioridade de sua posição como esposa sobre Antonio em relação à Bassânio, e este poder é fortalecido pelo medo da traição. Presume-se que as mulheres que frequentavam os teatros se divertiam com as heroínas rebeldes de Shakespeare, cujos comportamentos levantavam questões de identidade e diferença. Certamente, elas se deleitavam com as fantasias de poder às quais se entregavam durante o espetáculo antes de retornar para a sua vida de submissão do dia a dia. Sabe-se que muitas mulheres, no entanto, devem ter aprendido a lição e usado as estratégias aprendidas no teatro na vida real, uma vez que o travestimento era uma prática social comum entre as damas da sociedade elisabetana-jaimesca, quando queriam ser mais livres e transitar em áreas proibidas. Para o olhar masculino, no entanto, mulher vestida de homem representava uma ameaça. Ao travestir-se, havia o perigo de que ela usurpasse não somente a autoridade masculina, porém também a sua condição social – e os homens ficavam apavorados com a apropriação das mulheres de suas características (DUSINBERRE, 1996, p. xix). Shakespeare captou no ar as inquietações do período em que viveu, e sendo dotado de uma sensibilidade apurada deu corpo e voz às novas idéias. O bardo mostrou simpatia pelas mulheres que expressavam seu descontentamento através do travestimento, um artifício para subverter a autoridade constituída. Apesar de que algumas personagens das comédias proferem discursos misóginos, percebe-se o distanciamento do autor. Shakespeare, por meio da recriação da convenção do travestimento, de certa maneira, solapava e enfraquecia os preconceitos contra a mulher. Ao mostrar a teatralidade e performatividade dos comportamentos sociais, seus textos levantam questionamentos que revelam uma estrutura de poder patriarcal sob pressão. Mostra que muitas mulheres, longe de serem subservientes, tinham seus próprios meios de subversão e mecanismos de poder apesar das opressões do sistema. 298 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Shakespeare mostra grande sensibilidade ao dramatizar as relações problemáticas entre os homens e as mulheres. A estratégia do duplo disfarce, utilizado na criação de suas heroínas andróginas, elimina a diferença entre a anatomia do performer e o gênero que está sendo representado. Como argumenta Butler: [...] estamos, na verdade, na presença de três dimensões contingentes da corporeidade significante: sexo anatômico, identidade de gênero e performance de gênero. Se a anatomia do performista já é distinta de seu gênero, e se os dois se distinguem do gênero da performance, então a performance sugere uma dissonância não só entre sexo e performance, mas entre sexo e gênero, e entre gênero e performance. (2003, p. 196) Por meio da apropriação criativa e transformação da convenção do travestimento em linguagem cênica, Shakespeare dramatiza as idéias que pretendeu projetar. O dramaturgo constrói um texto performativo, no qual os elementos constitutivos, tais como convenções, elementos formais e as próprias palavras formam vozes de um complexo argumento que lhe permitiram interrogar as ortodoxias de sua cultura e questionar as atitudes misóginas do seu tempo. Notas 1 Todas as traduções de citações de obras teórico-críticas em inglês são minhas. 2 Travestimento (cross-dressing em inglês) significa vestir roupas do sexo oposto com o propósito da mulher se passar por homem e do homem se passar por mulher (DAVIDSON & WAGNER-MARTIN, 1995, p. 223). 3 Todas as referências e citações de O mercador de Veneza inseridas no texto, assinaladas apenas pelo número das páginas, são da tradução da obra de Shakespeare por Barbara Heliodora, listada nas referências. 4 Os grifos são meus. 5 Coppélia Kahn (WALLER, 1991, p.129), em um ensaio intitulado “The Cuckoo’s Note: Male Friendship and Cuckoldry in The Merchant of Venice”, afirma que “Shakespeare estrutura o enredo dos anéis de tal maneira para mostrar o paralelismo e contraste da rivalidade entre Antonio e Pórcia pela afeição de Bassânio, caracterizando o conflito entre amizade masculina e casamento que aparece em quase todas as suas peças”. REFERÊNCIAS BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. vol. 1: Fatos e mitos. Trad. Sérgio Milliet. São Paulo: Nova Fronteira, 1987. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 299 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Trad. Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. DAVIDSON, Cathy N. & WAGNER-MARTIN, Linda. The Oxford Companion to Women’s Writing in the United States. Oxford: Oxford University Press, 1995. DOLLIMORE, Jonathan; SINFIELD, Alan. History and Ideology: the Instance of Henry V. In: DRAKAKIS, John. Alternative Shakespeares. London and New York: Methuen, 1985, p. 206-227. DUSINBERRE, Juliet. Shakespeare and the Nature of Women. London: Macmillan, 1996. GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes, 2003. KAHN, Coppélia. The Cuckoo’s Note: Male Friendship and Cuckoldry in The Merchant of Venice. In: WALLER, Gary (ed.). Shakespeare’s Comedies. London: Longman, 1991, p. 128-137. LEVENTEN, Carol. Patrimony and Patriarchy in The Merchant of Venice. In: WAYNE, Valerie (ed.). The Matter of Difference: Materialist Feminist Criticism of Shakespeare. New York: Cornell University Press, 1991, p. 59-70. MOI, Toril. What is a woman and other essays. Oxford: Oxford University Press, 1999. SANTOS, Marlene Soares dos. Then and Now: Crossdressing in Shakespearean Drama. Scripta UNIANDRADE, nº 5, 2007, p. 123-136. SHAKESPEARE, William. O Mercador de Veneza. Trad. Barbara Heliodora. Rio de Janeiro: Lacerda, 1999. STYAN, J. L. Stagespace and Shakespeare Experience. In: THOMPSOM, Marvin & Ruth. Shakespeare and the Sense of Performance. Newark: University of Delaware Press, 1989. WALLER, Gary (ed.). Shakespeare’s Comedies. London: Longman, 1991. Artigo recebido em 29 de maio de 2009. Artigo aceito em 03 de agosto de 2009. Anna Stegh Camati Pós-doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Doutora em Língua Inglesa e Literaturas Inglesa e Norte-Americana pela Universidade de São Paulo (USP). Professora Titular de Literatura Inglesa e Norte-Americana da UNIANDRADE. Professora do Mestrado em Teoria Literária da UNIANDRADE. Editora da revista Scripta Uniandrade. Membro do Centro de Estudos Shakespeareanos (CESh). Membro da International Shakespeare Association (ISA). 300 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 NARRATIVA GRÁFICA E METAFICÇÃO: AS RELEITURAS DE SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO E A TEMPESTADE EM SANDMAN, DE NEIL GAIMAN Enéias Farias Tavares [email protected] RESUMO: Além de ser considerado “nosso contemporâneo” ou “o inventor do humano”, somam-se a pertinência e a validade da obra de Shakespeare hoje. Isso pode ser comprovado pelo grande número de adaptações cinematográficas e literárias que tem revisitado a obra e a biografia do autor. Desde os anos cinquenta, as narrativas gráficas ou histórias em quadrinhos têm usado Shakespeare em suas adaptações. O objetivo desse texto é analisar como Shakespeare e suas peças foram apropriados nas histórias de Sandman, do autor inglês Neil Gaiman. Tanto em Sonho de uma noite de verão como em A tempestade, Shakespeare não é apenas personagem, mas também um elemento intertextual por meio do qual Gaiman reflete sobre o próprio ato criativo. ABSTRACT: Besides Shakespeare having been considered “our contemporary” or the “inventor of the human”, the relevance and validity of his work today is widely acknowledged. This can be attested by the great number of films and literary adaptations that have revisited his plays and his biographical data. Since the fifties, the graphic novel or comic books have tended to use Shakespeare in their adaptations. The aim of this paper is to analyze how Shakespeare and his plays were appropriated by the English author Neil Gaiman in his Sandman stories. Both in A Midsummer Night’s Dream and The Tempest, Shakespeare is not only a fictional character, but also an intertextual element with which Gaiman reflects about the creative act. PALAVRAS-CHAVE: William Shakespeare. Crítica literária. História em quadrinhos. KEYWORDS: William Shakespeare. Literary criticism. Comic books. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 301 Além de Shakespeare ser considerado “nosso contemporâneo”, como argumentou Jan Kott, ou o “inventor do humano”, como afirmou Harold Bloom, é inegável a pertinência e a validade das peças do autor em nossa contemporaneidade. Seja em adaptações mais tradicionais de suas peças para o cinema, como Muito barulho por nada, de Kenneth Brannagh, ou em biografias ficcionais, como Shakespeare apaixonado, de John Madden, ou em leituras fílmicas pós-modernas, como o filme-adaptação-documentário de Al Pacino, Looking for Richard, o dramaturgo inglês continua sendo o autor literário mais traduzido para a tela. Na literatura, essa ênfase na releitura das obras e da vida de Shakespeare também continua profícua. Autores como Anthony Burgess, Robert Nye e John Updike, em romances como Nada como o sol (1964), O relato íntimo de Madame Shakespeare (1998) e Gertrudes e Claudio (2000), entre outros, tem recriado não apenas as principais peças shakespearianas como também intensificado o interesse pelo autor. No Brasil, a série Devorando Shakespeare, da editora Objetiva, já publicou as versões brasileiras de Jorge Furtado, Luis Fernando Veríssimo e Adriana Falcão para as peças Trabalhos de amor perdidos, Noite de reis e Sonho de uma noite de verão. Tratando de adaptações, não apenas a literatura como também uma mídia que une palavra e imagem tem apresentado releituras válidas do cânone shakespeariano visando apresentálo a novas audiências. Nesse caso, falamos da narrativa gráfica ou das histórias em quadrinhos. Desde a década de quarenta, editoras como Elliot Publishing, First Comics e a Marvel Comics investiram em adaptações de obras literárias clássicas para a mídia das histórias em quadrinhos infanto-juvenis. Pioneiro nessas publicações, o selo Clássicos Ilustrados privilegiou a adaptação de obras de diversos autores, Shakespeare entre eles. Atualmente, estão em fase de produção as adaptações de Hamlet, Romeu e Julieta e A tempestade para o formato mangá japonês, pela editora inglesa Self Made Hero. Tais adaptações, ao reinterpretar o texto shakespeariano, reforçam a popularidade do escritor junto ao público mais jovem. Entretanto, outra forma de pensar o texto e a própria persona do escritor na mídia da narrativa gráfica foi apresentada na revista do selo Vertigo da DC Comics, Sandman. Nessa iniciativa, Neil Gaiman evidenciou que Shakespeare poderia ser usado na mídia dos quadrinhos por abordar diretamente as peças e a biografia do autor. Com isso, Gaiman e os ilustradores do título também problematizaram aspectos culturais do período elisabetano, refletiram sobre o processo criativo do dramaturgo e também ofertaram uma 302 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 alternativa ficcional de repensar a cultura ocidental sob a ótica de sete seres responsáveis pelos principais desejos humanos. A série Sandman, publicada nos EUA entre 1989 e 1994, é uma das obras gráficas mais elogiadas e reeditadas da última década, sucesso corroborado pelas sucessivas edições dos dez volumes que compõem a saga do mestre dos sonhos. Num universo em que uma família de seres cósmicos (Destino, Morte, Sonho, Desespero, Desejo, Delírio e Destruição) se mistura a psicopatas, poetas, personagens míticos e pessoas comuns, a consciência ocidental, segundo a visão de Gaiman, se desnuda num texto repleto de referências culturais; somada à variedade de ilustradores, destacando-se o artista plástico responsável pelas capas da série, Dave McKean. Fig. 1. Capas dos contos shakespearianos de Sandman 13, 19 e 75, por Dave McKean. No primeiro volume da série, Prelúdios e noturnos, Sandman aparece pela primeira vez como uma divindade vencida, aprisionada, humilhada e enfraquecida. Em sua constituição psicológica, Morfeus, Sonho ou Oneiros, nome do deus grego dos sonhos, deve mais à divindade hebraica, tendo no Javé bíblico seu principal modelo comportamental. Silencioso e orgulhoso, caprichoso e vingativo, o herói gaimaniano é um pesadelo de vontade, poder e frieza que, no decorrer dos dez volumes da série, repensa suas decisões e desejos em função dos homens. Também vale ressaltar o elenco coadjuvante desse primeiro volume da obra de Gaiman. Caim e Abel, as Hécates, John Constantine e a Morte são apenas alguns dos muitos personagens que aparecem no primeiro volume, podendo ser classificado como um conto soturno de vingança, poder, morte e autoconsciência. Shakespeariano demais? Talvez, embora a presença ficcional Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 303 do bardo aconteça apenas no segundo volume, Casa de Bonecas, num diálogo memorável com outro dramaturgo elisabetano, Christopher Marlowe. Como fica evidente, Neil Gaiman preenche seu épico textual e gráfico com referências comuns à cultura ocidental, às vezes flertando também com a oriental, fazendo com que literatura, música, cinema, religião, filosofia e ciência se entrecruzem com os temas presentes no texto. Só em Prelúdios e noturnos, além de Shakespeare, há menção à peça Fausto de Marlowe, ao poema Terra devastada de T. S. Eliot, à obra Alice através do espelho de Lewis Carroll, à simbologia do Tarô, à doença do sono do início do século vinte, ao ocultista inglês Aleister Crowley, ao músico Elvis Costello, ao lado de referências visuais a Cristo, Elvis, Marilyn Monroe, Julio Cesar, Humphrey Bogart e John Wayne, entre outros. Diante disso, supomos que um dos objetivos de Gaiman seja criar um conto moderno que consiga perpassar uma cultura díspar e fragmentada como a nossa. Daí as interpretações de Sandman como obra pósmoderna. Fig. 02 – Gaiman, Vess, Oliff. Derpertar, p. 168. A primeira aparição da personagem William Shakespeare em Sandman se dá num capítulo intermediário de Casa de bonecas. No conto “Homens de boa fortuna”, Morfeus, a consciência antropomórfica dos sonhos, conversa com seu amigo, o imortal Hob Gadling. Um desses encontros acontece no ano de 1589, numa taverna inglesa que tem como pano de fundo uma discussão entre o maior dramaturgo naquele ano, Christopher Marlowe, e um aspirante a escritor e ator iniciante, Will Shakespeare. Nessa taverna, as conversas dos presentes tratam da composição de Fausto, a reforma religiosa de Henrique VIII, as viagens mercantis do século dezesseis e a frustração do homem de 304 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Stratford diante de seu precursor. Percebendo a angústia do escritor iniciante, Morfeus oferece a Shakespeare a realização de seu sonho: escrever histórias que perdurem por séculos. Nitidamente, o que temos numa cena de apenas quatro páginas é a reescrita da peça mais famosa de Marlowe, Fausto, para os próprios objetivos de Gaiman. Em troca dessa dádiva, Will escreveria duas peças dedicadas ao deus dos sonhos. As duas peças em questão seriam Sonho de uma noite verão e A tempestade. Não apenas por serem as únicas peças cujas tramas, pelo que se sabe, seriam criadas por Shakespeare, exceto As alegres comadres de Windsor, mas também por serem as peças prediletas de Gaiman. Soma-se a isso a temática e os elementos mágicos e/ou oníricos de Sonho e Tempestade, que poderiam ser organicamente usados por Gaiman na composição de sua própria mitologia sobre Morfeus e seus irmãos. Como resultado, a presença de Shakespeare na série Sandman seria um dos elementos que a tornariam não apenas premiada como também respeitada por críticos culturais e teóricos acadêmicos, como um exemplo de narrativa gráfica que poderia transcender seu gênero ao apresentar elementos literários, históricos e artísticos em suas páginas. O objetivo desse artigo é analisar como Neil Gaiman faz uso da persona de Shakespeare e de suas peças em Sandman. Como veremos, tanto em Sonho de uma noite de verão quanto em A tempestade, Shakespeare não é apenas personagem dos respectivos contos, mas um elemento intertextual importante, usado tanto para destacar a complexidade do protagonista do título quanto para refletir sobre o próprio ato criativo de seu autor. *** A peça Sonho de uma noite de verão foi levado à cena entre 1592 e 1595, possivelmente num casamento. Tendo como cenário os preparativos para o casamento do duque ateniense Teseu e da rainha amazona Hipólita, acompanhamos as peripécias de um grupo de atores, liderados por Bottom, que ensaiam a peça Píramo e Tisbe, além de dois casais, Hérmia e Lisandro, Demétrio e Helena, e suas aventuras amorosas. Em meio às duas tramas, temos os jogos amorosos entre o rei e a rainha das fadas, Oberon e Titânia. Entre os dois deuses, Puck, servo de Oberon, espalha a confusão não apenas em meio aos amantes, como também entre os atores, que assistem Bottom se transformar num jumento para depois receber o amor de Titânia. É interessante notar que não apenas na trama, como também em suas alusões a fadas, sátiros e poções mágicas, a peça apresenta um tom de fantasia até então inédito na Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 305 obra de Shakespeare. Refletindo sobre esses aspectos, Leslie Danton-Downer e Alan Riding escrevem: Nenhuma comédia shakespeariana oferece tamanho festejo de magia, humor, música e espetáculo quanto Sonho de uma noite de verão. O título refere-se à chegada do verão, que os elisabetanos aguardavam com comemorações de encantamento, feitiçaria e até loucura momentânea. A peça está inteiramente de acordo com tais exageros e transgressões. Barreiras entre realidade e ilusão são destruídas na floresta noturna, onde a mágica enlaça os sonhos dos amantes e feitiços são lançados sobre os atores que ensaiam sua peça. (2004, p. 199) Mágica, feitiços, mistérios, festanças, espetáculo, encantamento e loucura são alguns dos termos usados pelos autores para referirem-se à famosa comédia. Nesse contexto, Gaiman encontrou a peça perfeita para ambientar uma trama que trata de Morfeus, Shakespeare e da relação entre o mundo das fadas e o mundo dos mortais. O texto de Gaiman, ao lado da arte de Charles Vess e das cores de Steve Oliff, fez com que Sonho de uma noite de verão, terceiro capítulo do volume Terra de Sonhos, ganhasse o prêmio World Fantasy Award, em 1992, algo até então inédito para uma premiação exclusivamente literária. Qual o motivo de tamanho sucesso? O que há de especial na história de Gaiman para merecer tal menção, colocando-a ao lado de Maus, de Art Spiegelman, única história em quadrinhos a receber um Pulitzer? Primeiramente, a preocupação de Gaiman e Vess era de que o conto fosse historicamente crível. Para tanto, os artistas empreenderam uma ampla pesquisa sobre Shakespeare, sobre a peça e sobre o período elisabetano. Livros sobre a vida dos atores no período, interpretações críticas e teóricas de Sonho, documentos sobre a peste em Londres em 1593, informações sobre o cenário campestre no qual a história acontece, descrições do treinamento físico e vocal dos atores que interpretavam personagens femininas nos espetáculos do período e diversas biografias de Shakespeare, deram aos autores o suporte necessário para criar, de forma verossímil, a relação entre o dramaturgo e seus atores, além de narrar a problemática relação entre o autor e seu filho, Hamnet. O resultado é uma história que nos mostra um Shakespeare at work, para usar a expressão de James Shapiro (2005, p. xviii), de um dramaturgo preocupado com o cenário, com a encenação, com os figurinos e, sobretudo, com a recepção de seu público. Do ponto de vista estrutural, Sonho de noite de verão, de Gaiman e Vess, apresenta a mesma configuração da peça de Shakespeare. Em ambas, temos a visão do que acontece em cena, durante a apresentação da peça; nos 306 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 bastidores, quando a preocupação e a movimentação dos atores são nítidas; na primeira fileira da platéia, na qual Oberon, Titânia, Morfeus e Puck discutem a peça e o distanciamento do mundo das fadas do mundo dos homens; e na segunda fileira, composta das personagens Bevis, Peaseblossom e Skarrow, em que se acessa uma apreensão mais superficial do espetáculo. Esse jogo cênico de Gaiman e Vess, nitidamente inspirado nos elementos metaficcionais já presentes na peça de Shakespeare, possibilita uma visão panorâmica do teatro elisabetano em que cena e bastidores são mostrados. Um jogo similar pode ser observado no início do filme Henrique V, de Laurence Olivier, ou nas instruções que Hamlet dá aos atores antes da “peça dentro da peça”. Além desse jogo, também é perceptível a representação dos dois tipos de público para os quais o dramaturgo escrevia: de um lado uma platéia educada que poderia discutir os subtextos políticos, culturais e filosóficos das peças, e de outro um público menos culto, em sua maioria analfabetos, que apenas acompanhava e discutia o enredo mais óbvio do espetáculo. Além disso, há na história de Gaiman um nítido jogo linguístico que dialoga com o verso e a prosa de Shakespeare. Nela, personagens nobres, como Morfeus, Oberon e Titânia, usam o pentâmetro iâmbico enquanto que as de uma posição social inferior falam em prosa. Essa diferenciação na construção das falas das personagens foi uma escolha de Gaiman visando ilustrar as diferenças intelectuais entre diferentes grupos sociais, algo comum no teatro de Shakespeare, no qual a variação linguística correspondia à própria posição social e cultural das personagens. Em contraste, todos os outros diálogos do conto, entre os moradores do mundo das fadas, entre os atores, e mesmo entre Sandman e Shakespeare, são em prosa. Esse cuidado com a forma da linguagem é também visível no modo como Gaiman monta, de forma sutil, as falas. Essas demarcam não apenas o nível de intimidade entre as personagens do conto, como também demonstram o trabalho de composição artística de Gaiman na escrita de sua história. Quando nos afastamos dos diálogos entre Morfeus e os reis das fadas, somos levados a testemunhar a relação dos atores com o próprio Shakespeare. Entre esses, em viagem de férias com o pai, está o filho do dramaturgo, Hamnet, que morreria algum tempo depois, aos doze anos. No diálogo abaixo, Gaiman inicia na história o principal tema de sua interpretação sobre o dramaturgo: o contraste entre o mundo real e o mundo das histórias, além de demarcar as distâncias entre as expectativas de um filho e a falta de atenção de um pai regularmente distante. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 307 Fig. 03 – Gaiman, Vess, Oliff. Terra de Sonhos, p. 75. A fala de Hamnet, na qual é expresso seu distanciamento do pai em vista da obsessão do mesmo em transformar toda e qualquer vivência em histórias, é o ponto central da história de Gaiman. Curiosamente, esse diálogo não estava no roteiro original, tendo sido resultante da observação da editora Karen Berger. Em sua opinião, a história carecia de um aspecto humano mais nítido, estando muito focado em informações culturais que agradariam apenas aos “especialistas shakespearianos” (BENDER, 1999, p. 83). Especialmente nessa passagem, Gaiman trabalha com o tipo de desconexão entre um pai e um filho, visível no diálogo deles, no qual um não escuta o outro. Além disso, há também a desconexão entre as emoções de um escritor e o uso da racionalidade deste ao verbalizar artisticamente tal sofrimento. Em diversas biografias, a relação entre o escritor e seu filho é sempre mencionada. Nem tanto pelos dados factuais sobre essa relação, que praticamente inexistem, mas em contraste com a mais famosa peça do escritor, Hamlet. Refletindo sobre o possível impacto que a morte de Hamnet teve sobre a obra do autor, Park Honan, na biografia Shakespeare uma vida, escreve que embora tenha continuado, entre 1556 e 1600, a escrever comédias e peças romanas, a morte do filho o transformou. Shakespeare parece nunca ter se recuperado da perda. O desdobramento disso foi uma inteligente complexificação da sua visão do sofrimento, quando então ele passou a se identificar com os que padecem de uma dor extrema e irremediável; o sofrimento aumentou sua introspecção, ao mesmo tempo que o fez, talvez, desdenhar de qualquer sucesso mundano que pudesse alcançar. É inútil querer argumentar que Shakespeare não poderia ter escrito suas tragédias intelectualmente mais 308 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 audaciosas se seu filho não tivesse morrido; ele ainda não estava escrevendo tais peças em 1596. Mas a morte de Hamnet, essa terrível e amarga perda, tornou mais profundo o artista e o pensador: tal perda o teria ajudado a livrar-se dos últimos e persistentes inconvenientes de sua desenvoltura técnica – aquele legado de sua juventude – e a reunir forças para escrever os dramas emocionalmente mais complexos e intensos que o teatro inglês já conheceu. (2001, p. 294) Além de Honan, outro autor que dedicou páginas à relação entre a morte de Hamnet e a composição da maior peça do dramaturgo foi Stephen Greenblatt no livro Will in the World: how Shakespeare became Shakespeare. No capítulo “Um príncipe entre as tumbas”, o autor argumenta que o inexistente ritual fúnebre anglicano, em contraste com o suntuoso católico, deve ter aprofundado a dor de Shakespeare que, incapaz de prantear livremente por seu filho, compôs uma peça que trata, entre outras coisas, da morte de um pai e do sofrimento de um filho. Baseado nesse dado biográfico, Gaiman faz com que o menino Hamnet vislumbre a importância que seu pai dedica às histórias, às palavras e ao mundo do teatro, em detrimento do interesse demonstrado a ele e a sua família. Num diálogo em que o ator não escuta de fato a reclamação do menino, Hamnet surge como um dos personagens principais da história, fazendo par futuramente com Judith, a outra filha de Shakespeare presente na história A tempestade. Esse afastamento familiar é visível no diálogo abaixo em que pai e filho dialogam sem de fato escutar ou responder aos comentários um do outro. Fig. 04 – Gaiman, Vess, Oliff. Terra de Sonhos, p. 79. Em contraste com a famosa fala de Puck, usada anteriormente por Gaiman no primeiro volume de Sandman, “Senhor, como são tolos esses mortais”, percebemos essa apatia de Shakespeare no que concerne às reflexões de seu filho. Aqui, num diálogo de bastidores montado ao lado de uma cena Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 309 da própria peça, o que temos é a ironia sobre o evidente distanciamento de um pai por seu filho, tão absorto que está em seu mundo ficcional. Tolo, “como todos os mortais”, o Shakespeare de Gaiman ignora a fascinação de seu filho pelo mundo de Titânia. Sobre essa relação entre pai e filho na história de Gaiman, Joe Sander comenta: O próprio Shakespeare, como Gaiman nos pinta, escolheu estar encantado por sua arte. Ele anteriormente fez seu pacto com Sandman e dará mais atenção às histórias que conta em suas peças do que às pessoas ao redor dele. Seu filho de oito anos, Hamnet, tristemente reconhece a verdade do gracejo familiar: que Shakespeare reagiria à morte de seu próprio filho escrevendo uma peça, Hamnet. (2006. p. 33) O leitor de Gaiman sabe que a peça em questão é Hamlet. Tal revelação, nada agradável tratando-se da visão que se poderia ter de um pai ideal, não surpreende ao leitor. Antes, diluída como está no conto de Gaiman, nos remete rapidamente ao espírito trágico da construção artística: da sedução produzida pelo universo das histórias ao suplantarem a experiência real de seus criadores. O que reforça a suposição crítica de que a perda de Hamnet em 1596 possa ter relação com a composição de Hamlet, cinco anos mais tarde. Outro destaque da história de Gaiman, Vess e Oliff, está em sua estrutura e no modo como caracteres ficcionais se sobrepõem aos dados históricos e culturais do período. Embora as quatro estruturas ficcionais do conto de Gaiman apareçam em painéis diferentes, regularmente temos uma mescla de informações ou cenários num mesmo painel, como vimos na figura 03. Além das palavras de Hamnet, destaca-se um utensílio cenográfico no primeiro painel: a famosa cabeça de burro usado pelo ator que interpreta Bottom. No mesmo painel, temos um ator que interpreta Hérmia, fazendo alusão direta à forma física dos atores mais jovens que interpretavam papéis femininos. No exemplo abaixo, também nota-se essa mescla de vários elementos, onde Morfeus e Shakespeare conversam enquanto Titânia recria, na história de Gaiman, a relação que tem com o misterioso menino indiano do texto de Shakespeare. 310 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Fig. 05 – Gaiman, Vess, Oliff. Terra de Sonhos, p. 78. Nesses três quadros, ficção e realidade se entrelaçam. No primeiro painel, enquanto Sandman revela a Shakespeare sua satisfação com a peça, Titânia oferece ao pequeno Hamnet uma fruta da terra das fadas, possivelmente tentando levá-lo ao seu mundo. No segundo quadro, Shakespeare menciona não apenas o pacto que havia feito com o rei dos sonhos como também a sua disputa com Marlowe. No último painel, observa-se o olhar impassível de Sonho ao afirmar que Marlowe está morto, vítima de uma briga numa taverna em Deptford. Nesse sentido, a fala de Shakespeare, “Sonho é a melhor coisa que já escrevi”, revela a relação entre o autor e sua obra. Nesse caso, tanto a relação de Shakespeare com sua peça quanto a de Gaiman com sua história. Ao ler a discussão de Gaiman com Hy Bender, em The Sandman Companion, sobre o processo criativo dessa história, percebemos a nítida intenção do escritor britânico de relacionar os dramas de sua personagem com os seus próprios enquanto escritor. Ao mencionar a angústia de Shakespeare em transformar tudo em histórias, Gaiman relaciona-a com a sua própria angústia de não conseguir diferenciar totalmente, enquanto escritor, uma emoção vivenciada de um possível registro ficcional futuro (BENDER, 1999, p. 77). Outro indício desse embaralhamento entre o próprio autor de Sandman e Shakespeare, fica evidente quando comparamos as aparições do bardo em Sandman com suas entrevistas. Apesar de sua personagem ter muitos nomes – Sandman, Oneiros, Morfeus etc –, Gaiman sempre fala dela como “Sonho”. Assim, quando lemos, na página 78 de Terra dos sonhos, Shakespeare dizer a Sonho que Sonho é a melhor coisa que já escreveu, não nos surpreende a Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 311 ironia do próprio Gaiman ao mencionar que Sonho da série Sandman seria sua criação mais apreciada. Enquanto Shakespeare e seus atores apresentam sua peça, Gaiman compõe o diálogo entre Sandman e os reis das fadas de modo a demonstrar não apenas o distanciamento cada vez maior das velhas fantasias em contraste com o mundo racional dos homens, como também articula sua principal opinião sobre o processo criativo. Fazendo eco com a famosa fala de Teseu em Sonho sobre o “discurso do louco, do poeta e do amante”, Gaiman escreve a fala de Sonho refletindo sobre a capacidade da ficção de tornar reais as ilusões ou fantasias humanas. Fig. 06 – Gaiman, Vess, Oliff. Terra de Sonhos, p. 83. Enquanto terminam de assistir a peça, Oberon agradece pela apresentação do pequeno espetáculo, embora afirme que ela nada tenha de real. Sandman discorda dele, numa fala de nítida ambiguidade ao responder ao rei e olhar sedutoramente para Titânia, que “as grandes histórias não precisam ter acontecido para serem verdadeiras”. Pelo contrário, muitas delas permanecerão vivas, mesmo quando os verdadeiros fatos se perderem na corrente do tempo. Gaiman torna ainda mais complexa essa fala não apenas por fazer eco às palavras anteriores de Puck (GAIMAN, 2005, p. 75), mas também por exemplificar a paixão de Titânia pelo misterioso menino indiano, paixão mencionada em Sonho de uma noite de verão e “realizada” ficcionalmente na história de Gaiman, quando Titânia toma para si o filho de Shakespeare. Assim, o leitor de Sandman percebe, na própria estrutura fabular da história, 312 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 como a fantasia tanto pode ser mais marcante que a realidade quanto pode também criar e/ou modificar essa mesma realidade. A página finda com um diálogo cômico brilhante, diretamente tomado da peça de Shakespeare em que, após a reflexão de Sonho sobre realidade e fantasia, a personagem Hipólita diz que aquela era “a coisa mais estúpida que já” ouvira. Teseu responde que as melhoras comédias são sombrias e que as piores “se ajeitam se a imaginação as emendar”, palavras que, segundo Gaiman, resumem o enredo de seu conto e explicitam a natureza das personagens presentes nele (BENDER, 1999, p. 87). No fim da história de Gaiman e Vess, os seres fantásticos retornam ao mundo das fadas, deixando Puck para trás. Este finaliza o conto recitando a última fala da peça de Shakespeare. “Se nós, sombras, vos ofendemos, pensai nisto e corrigiremos. Estivestes aqui, dormindo, e as visões foram surgindo. E este fraco e tolo enredo não passou de um sonho ledo. Senhores, queiram perdoar... prometeremos melhorar” (GAIMAN, 2005, p. 85). Para os leitores de Sandman, não será surpresa encontrar a personagem no penúltimo volume da obra, Entes Queridos, quando o próprio Puck estará relacionado à morte do senhor dos sonhos. Ironicamente, não será nesse volume que nos despediremos definitivamente de Morfeus. Ele ainda aparecerá no último capítulo da série quando receberá de Shakespeare sua última peça, A tempestade, concluindo o pacto entre eles. *** A tempestade, de Shakespeare, foi composta possivelmente em 1610, tendo sua primeira apresentação em 1611 para o próprio rei James no palácio de Whitehall, e apresentando como protagonista Próspero, o antigo duque de Milão, traído e exilado numa distante ilha pelo irmão usurpador Alonso. Na ilha, Próspero dedicou-se às artes mágicas, aprendidas nos livros que levou consigo, livros que o ajudaram a dominar tanto o espírito do ar Ariel quanto o monstro primitivo da ilha, Caliban. Ao lado do mágico, sua filha Miranda também aguardava a libertação do cativeiro. A peça trata do naufrágio imposto por Próspero ao navio de seu irmão e de sua vingança contra a traição deste. Visto como uma resposta à maior peça de seu precursor, o Fausto de Marlowe, por sua temática mágica, ou ainda como um relato que problematiza as viagens de conquista pelo novo mundo, Tempestade é vista principalmente, por leitores e críticos, como a peça em que os elementos autobiográficos do autor mais se apresentam. Tal interpretação era a que mais interessava a Gaiman na composição do último capítulo de Sandman. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 313 Como Joan Gordon afirma, no artigo Prospero Framed in Neil Gaiman´s The Wake, a estrutura do último capítulo de Sandman relaciona obra, peça, autor, personagem, artista, etc, como se cada elemento da história estivesse organicamente conectado com o todo e vice-versa. Segundo a autora, “A história de Próspero é moldada pela história de Shakespeare, que é moldada pela história de Sandman, que é moldada pela narrativa do autor, que é moldada finalmente pelos leitores” (2006, p. 80). Lendo a história percebemos que esse entrelaçamento ficcional cria no leitor a sensação de que está lendo a própria gestação da história de Shakespeare. Gaiman, grande fã do conto Pierre Menard, autor de ‘Quixote’, de Jorge Luis Borges, “reescreve” a peça e a biografia de Shakespeare de tal modo que o leitor passa a observá-las em sua conexão com a história de Morfeus. Este desejava uma peça cujo rei protagonista tivesse a possibilidade, diferentemente dele, de abandonar o seu reino e o seu “livro de feitiços”. Em outra via, Shakespeare precisaria completar o pacto feito com Morfeus, além de expressar em sua arte seus próprios conflitos, advindos desse pacto, de seus problemas familiares e da angústia proveniente da velhice. Nesse enredo múltiplo, o leitor testemunha tanto a visualização da velhice de Shakespeare quanto a predição da morte do senhor dos sonhos. A estrutura da história de Sandman 75 tem algumas similaridades com a de Sonho de uma noite de verão, em Terra de sonhos. Há na história um nítido interesse de Gaiman, Vess e Daniel Vozzo, responsável pela colorização do conto, em configurar historicamente a personagem Shakespeare. Nesse sentido o enredo da história que, genericamente, é descrita como “aquela que mostra como Shakespeare escreveu sua última peça”, alude a acontecimentos sociais precisos, além de pintar um cenário verossímil dos últimos anos da vida de Shakespeare. Sobre a condição de Shakespeare em 1610, ano em que a história de Gaiman se passa, Anthony Holden afirma: Aos 47 anos, mais ou menos, Shakespeare estava de volta a Stratford, onde manteve seu caneco de barro na hospedaria local, “costumando também tomar cerveja numa determinada taverna, nos sábados à tarde”. Sua esposa Anne estava com 54 anos; as filhas, com vinte e poucos. Susanna morava na esquina de New Place, com o atarefado marido médico e uma filha pequena. Judith ainda vivia com os pais – pelo jeito, sem conseguir um marido à altura: tinha quase a mesma idade com que sua mãe, encalhada e descuidada, engravidou de seu pai, que agora teria de aprender a ser chefe de família depois de quase trinta anos de casado. Não era um papel que coubesse bem a Shakespeare. (2001, p. 241) Numa dessas súmulas que encontramos em diversas biografias do dramaturgo, esse ator, vivendo um papel estranho ao seu contentamento e 314 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 hábito, parece exemplificar perfeitamente o Shakespeare descrito por Gaiman e ilustrado por Vess. Um ator-diretor-escritor franzino, um tanto tímido, sempre cordial, mesmo diante das indelicadezas de sua esposa ou de seu amigo Ben Jonson, um homem angustiado com o rumo de sua vida e com a totalidade de sua obra. Entretanto, a história de Gaiman não apresenta apenas esse retrato apurado dos principais caracteres biográficos do autor, como também apresenta um número considerável de alusões às condições sociais da Londres do período Jacobino, à suposta homossexualidade de James I, à rusga ainda presente entre anglicanos e católicos, à revolução da pólvora em 1605, à escrita dos sonetos de Shakespeare e sua recepção no período, às dificuldades financeiras da família do dramaturgo, ao naufrágio inglês próximo às Bermudas em 1610, à natureza dos habitantes do novo mundo, ao sucesso dos ensaios de Montaigne na Inglaterra e à visão comum do período sobre as pessoas de teatro, como ilustrado na figura 7. Fig. 7 – Gaiman, Vess, Vozzo. Despertar, p. 83. Numa história que inicia com uma discussão marital, Gaiman faz Shakespeare deixar a composição de sua peça para frequentar uma das tavernas de Stratford. Lá, somos apresentados a dois outros moradores do vilarejo que formulam em seu diálogo a opinião comum sobre os dramaturgos no período elisabetano. Não tão renomados quanto os poetas, os dramaturgos eram considerados homens de profissão inglória, pouco valorizada, recebendo o título de “Corvos da praga” pelos pregadores religiosos. A razão desses insultos era que o teatro elisabetano recebia a visita de um público eclético, tanto de universitários e intelectuais, quanto de viajantes, açougueiros e prostitutas, entre muitos outros. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 315 Assim, a relação entre doença, maldição, pecado e teatro, nessa ordem, não era exceção e sim regra. Por isso o fechamento dos teatros tão logo a suspeita de peste, resultando no fechamento “definitivo” sob o regime de Oliver Cromwell, em 1642. Em cenas como essa, que perpassam o último capítulo de Despertar, Gaiman amplia a visão que temos de Shakespeare e do período em que viveu ao nos mostrar um homem comum, mal afamado, convivendo não apenas com assuntos banais como também com suas próprias preocupações enquanto pai e marido. Também é visível na história o contraste que percebemos entre Shakespeare e seus contemporâneos. Ao lado de Ben Jonson, Robert Greene, Thomas Middleton, John Webster e John Ford, o homem de Stratford era conhecido como um dramaturgo de sucesso, nada mais. Um indício dessa não exaltação de Shakespeare entre os seus é a crítica de um de seus amigos, Ben Jonson, à pouca escolaridade do autor. No diálogo entre os dois, Gaiman sublinha a pretensiosa superioridade intelectual que Jonson pode ter evidenciado diante da aparente simplicidade do colega. Após escutar a crítica da esposa, personagem sempre ao fundo e ressentida da carreira do esposo, Shakespeare recebe em sua casa a visita do antigo amigo e também dramaturgo. Fig. 8 – Gaiman, Vess, Vozzo. Despertar, p. 158. Ben Jonson (1572-1637) era um dramaturgo mediano, homem repleto de aventuras e experiências navais. Sobre a opinião que tinha de Shakespeare, Honan afirma que o dramaturgo “inventou, com uma pequena ajuda dos amigos, a imagem de um poeta de Stratford pouco culto e naturalmente talentoso que, com o seu ‘mau latim e pior grego’, cometera erros tolos e flagrantes” em sua obra (2001, p. 314). Mesmo sendo um dos que homenageariam Shakespeare no Primeiro Fólio, publicado em 1623, dedicandolhe um poema e uma elegia, Jonson expressou sua opinião a respeito da necessidade de “revisão” das peças do bardo – “ele nunca riscava uma linha já 316 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 escrita” –, além de seu esparso conhecimento das línguas eruditas de seu tempo. Além da relação do dramaturgo com Jonson, Gaiman aprofunda a personalidade da personagem Shakespeare usando uma estrutura bipolar que, de um lado vê sua biografia no ano de 1610 em sua relação com a composição de seu protagonista Próspero, e que de outro, observa a relação de Shakespeare com a filha, Judith, e com a esposa, Anne Hathaway. Na passagem abaixo, na figura 9, observamos Shakespeare lendo uma das falas mais famosas de Tempestade para sua esposa. Ao lado de Próspero, Shakespeare idealiza o casamento de sua filha Judith, na história, que futuramente casaria com o filho do taverneiro de Stratford, Tommy Quiney, um jovem mais próximo de um Caliban do que de um Ferdinando, do ponto de vista do Shakespeare de Gaiman. Projetando a si mesmo como um Próspero, destruindo seu livro, ou como um dramaturgo em fim de carreira, o Shakespeare de Gaiman sonha com uma peça que possa expressar o máximo de suas ilusões e esperanças enquanto essas contrastam nitidamente com a própria realidade. Fig. 9 – Gaiman, Vess, Vozzo. Despertar, p. 173. Biograficamente, a peça pode apresentar uma série de elementos comparativos com a vida do dramaturgo: essa seria sua última peça – embora ele compusesse mais duas ao lado de John Fletcher –, assim como o naufrágio do navio de Alonso seria o último feitiço de Próspero. Como já havia aparecido em outras comédias – Como gostais e Muito barulho por nada, entre outras – a relação entre pai e filha ganha destaque, especialmente no caso de Shakespeare, Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 317 que havia perdido seu único filho homem e cuja filha mais velha já estava casada. Porém, não é apenas nesses fatores familiares ou profissionais que Tempestade pode ser comparada à biografia do autor. Refletindo sobre essa tendência comparativo-crítica, Honan aborda outro fator que reforçaria essa aproximação: Mais ou menos como o dramaturgo, o mágico cria e disciplina um mundo quase ingovernável, conduz seu grupo ao longo de certas trilhas e põe os membros do grupo diante de situações às quais eles têm de reagir. A visão que o mágico tem da transitoriedade de todas as coisas, por exemplo, condiz com o ponto de vista que seu criador com freqüência expressa, como quando Próspero pensa na dissolução do “próprio grande globo” e de nosso “espetáculo insubstancial”, que não deixará, por fim, “nem névoa atrás de si. Somos a matéria / de que os sonhos são feitos, e nossa vida breve / conclui-se no sono”. (2001, p. 447) Como um mágico, como um feiticeiro, ou como um “anti-fausto”, para usarmos a expressão de Harold Bloom (2001, p. 803), Shakespeare e Próspero são respectivamente senhores de seus mundos imaginários e ficcionais. Shakespeare, ora autor ora diretor, no decorrer de sua experiência como homem de teatro em Londres, dirigiu sua própria companhia por mais de uma década, escrevendo, coordenando e, às vezes, também atuando. Também como Próspero – vide o sutil corte de Gaiman e Vess ao representarem a figuração do bardo e de seu protagonista na figura 8, entre outros –, Shakespeare antevê o fim de sua carreira dramatúrgica e artística. Fechando seu livro, Tempestade é a história de um mágico ou de um escritor que tem a ciência do quanto até mesmo o mais esplendoroso espetáculo precisa fechar suas cortinas. *** No decorrer dos dois contos gráficos de Gaiman, Sonho e A tempestade, percebemos que o escritor inglês não apenas repensou a estrutura ficcional e biográfica de Shakespeare como também usou a série Sandman para refletir sobre a sua experiência artística. Além da estrutura ficcional, as histórias apresentam uma temática metaficcional em que o processo de escrita é avaliado, elucidado e problematizado. Como Joan Gordon afirma (2006, p. 81), há uma nítida relação entre o próprio Gaiman e o seu Shakespeare personagem. Se aquele diretamente projeta sua própria experiência como escritor nos comentários desse, o que temos é a própria reflexão sobre o modo como experiências reais e criações ficcionais se coadunam no ato mesmo de composição de uma obra de arte. Observando essa relação em A tempestade, 318 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Wagner, Golden e Bissette, no livro Prince of Stories – The many worlds of Neil Gaiman, escrevem que a história foca a relação entre Sonho e William Shakespeare. É uma história sobre o ato da escrita e o ato de contar histórias, sobre família, e sobre a vida que você realmente leva em contraste com a vida que você deveria levar. Também é uma história sobre responsabilidades e obrigações, sobre como às vezes elas definem você, e de como às vezes elas consomem você. (2008, p. 127) Tais elementos, tanto autorais como interpretativos, são desvelados na passagem do romance gráfico em que Shakespeare é levado ao palácio de Morfeus. Lá, divindade e dramaturgo, personagem e autor, autor e personagem, dialogam sobre a origem e o objetivo dessa última peça. Questionando a si próprio sobre o seu destino se não houvesse concluído o pacto firmado, William supõe que suas experiências reais como homem, esposo, pai e amante, tiveram uma importância vital sobre a sua obra. Numa alusão a Dama Sombria dos sonetos shakespearianos, Will menciona: Fig. 10 – Gaiman, Vess, Vozzo. Despertar, p. 180. Essa fala aborda a relação entre a ficção e a “matéria”, ou seja, as experiências reais que servem de base para o universo ficcional. Como escritor, William menciona que mesmo sua “decepção, tristeza e desespero mesclavamse com um toque de prazer e contentamento por ter consciência de que mesmo essas lágrimas poderiam ser levadas ao palco”, resultando numa obra verdadeiramente humana. No primeiro diálogo com Ben Jonson (GAIMAN, 2007, p. 159), o colega censura Shakespeare por não ter feito grandes viagens, conversado com grandes homens, não ter vivenciado as múltiplas experiências de uma vida como acadêmico, soldado, viajante, etc. Censura que recebe o pequeno adendo do dramaturgo “pensei que para entender as pessoas bastasse ser uma pessoa. E eu tenho essa honra” (GAIMAN, 2007, p. 159). Quando Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 319 cotejamos essa fala da personagem Shakespeare com uma das entrevistas de Gaiman em Sandman Companion, percebemos que a relação entre os dois autores, ou melhor, entre um autor e sua personagem ficcional, é ainda mais complexa. Questionado por Hy Bender sobre o trabalho de pesquisa histórica para os contos shakespearianos, Gaiman lista rapidamente alguns livros, tanto sobre a década de 1590, período em que Sonho foi composta quanto sobre o fim da vida do autor, já aposentado da vida teatral, em Stratford. Após a rápida menção bibliográfica, o escritor estranhamente muda de assunto, dedicando-se a responder o que realmente é de seu interesse, como se Bender perguntasse “Qual a sua relação, enquanto escritor, com a sua própria visão de Shakespeare?”: Quanto a minha abordagem de Shakespeare, me baseei no que pessoalmente acho assustador sobre ser um escritor ou um contador de histórias. Quando algo terrível acontece, noventa e nove por cento de você está se sentindo terrível também, mas um por cento está se colocando de lado [...] e dizendo, “eu posso usar isso. Deixe-me ver, eu estou tão arrasado que estou chorando. Mas será que os meus olhos estão mesmo chorando, ou eles estão ardendo? Sim, eles estão ardendo, e eu posso sentir as lágrimas descendo em meu rosto. O que eu estou sentindo? Calor? Ótimo, o que mais?” Foi esse tipo de desconexão que eu quis explorar. (1999, p. 77) Baseado na resposta de Gaiman para uma pergunta que não havia sido feita, nota-se praticamente a mesma fala nos lábios de Shakespeare, sobre o sofrimento vivenciado e transformado em histórias. Refletindo sobre o termo usado por Gaiman, “desconexão”, pode-se afirmar que tanto o dramaturgo na história de Sandman quanto o próprio senhor dos sonhos são exemplos extremos dessa incapacidade de um escritor de estabelecer laços reais com os que estão ao redor dele. Shakespeare vive em seu mundo de palavras, conforme Anne Hathaway e a filha Judith apontam, em mundos imaginários cujos personagens ficcionais seriam até mais reais do que seus contemporâneos. O mesmo pode ser dito sobre Morfeus ou Sonho, o ser de muitos nomes, de muitas faces, de muitos trajes, porém de poucos laços definidos. Comentando o segundo volume de Sandman, Casa de Bonecas, Gaiman afirmou que aquele conto era sobre “as paredes que construímos para nos separar dos outros, e sobre pôr abaixo essas paredes” (BENDER, 1999, p. 41). Em outro momento, na introdução de Noites sem fim, Gaiman escreve que se pudesse resumir toda a série Sandman em uma frase, essa seria: “O Mestre 320 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 dos Sonhos aprende que uma pessoa deve mudar ou morrer, e toma sua decisão” (GAIMAN, 2006, p. 8). Nesse caso, o último diálogo entre Shakespeare e Sandman é sobre essa “desconexão”, sobre a não possibilidade do estabelecimento de vínculos com as pessoas mais próximas e, ainda, sobre a impossibilidade de uma mudança real em suas personagens. Quando questionado sobre o porquê de uma peça sobre um mago que deixa sua ilha, Sonho responde: “Porque nunca deixarei minha ilha” (2005, p. 182). Diante da resposta, Shakespeare pergunta: Fig. 11 – Gaiman, Vess, Vozzo. Despertar, p. 182. Aludindo ao poema de John Donne, Gaiman idealiza Morfeus definindo-se como uma ilha que não pode se conectar com outras. Diferente dos mortais, não caberia a uma divindade mudar. Por essa razão, sua decisão está tomada: entre mudar e morrer, sua decisão é definhar, dando lugar ao seu filho Daniel, novo regente do mundo dos sonhos. Ainda mais, não sendo um homem, não pode se ver refletido em sua própria história, mesmo sendo o “príncipe das histórias”, o príncipe de todos os sonhos. Minha conclusão sobre a última história da série Sandman é que, se de forma irônica e inteligente Gaiman faz Shakespeare escrever A tempestade para suprir a incapacidade de Sonho de ter sua própria história é porque o próprio Gaiman se coloca como um futuro bardo que escreverá as histórias de um criador onírico incapaz de ter sua própria história. *** Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 321 Desse modo inquietante e lírico, a conclusão de Sandman demonstra as razões de seu sucesso literário e narrativo gráfico, não apenas aludindo à última peça e à biografia de Shakespeare, como também, ao seu próprio autor. Além disso, o leitor desses contos mergulha não apenas na reflexão sobre o modo como concebe a expressão do humano, mas também no aprofundamento das indecisões, angústias e desapontamentos envolvidos em todo processo de criação artística. Se fôssemos ilhas, as histórias seriam as pontes que construiríamos para nos conectar aos outros, mortos ou vivos. Gaiman mostra em suas três histórias gráficas, Homens de boa fortuna, Sonho de uma noite de verão e A tempestade, tanto o desenvolvimento da personagem Shakespeare no decorrer de sua vida – a primeira relação de Marlowe, o estabelecimento como homem de teatro e sua velhice em Stratford – como também a variação de sua personagem onírica e talvez, de sua própria autoreflexão enquanto escritor. Se no primeiro conto temos um jovem Shakespeare, ansioso com seu futuro como dramaturgo, na segunda, temos um artista maduro, completamente absorto em seu trabalho ficcional, a ponto de ignorar as relações familiares de sua vida, naquele caso, com o seu próprio filho. Em contrapartida, a personagem que observamos no último capítulo de Sandman é um Shakespeare amedrontado pela morte iminente e pela vacuidade da vida e das suas realizações. Por outro lado, se na primeira história temos um Morfeus ciente de sua crescente relação de amizade com o imortal Hob Gadling e na segunda um ser preocupado com o distanciamento do mundo das fadas, na última história de Sandman, o que notamos é a incapacidade do criador onírico de criar laços, de abandonar seu reino, de ser o que qualquer mortal poderia: um indivíduo ciente de suas transformações psicológicas. Quanto a Shakespeare, o dramaturgo sobrevive à releitura de Gaiman e a de vários outros autores, cineastas e músicos, em seu caráter ficcional múltiplo, cujas obras tem tocado o imaginário popular, acadêmico e artístico já por séculos. Tanto no cinema quanto na literatura, na pintura e também na mídia das histórias em quadrinhos, o bardo inglês continua sendo, em sua impressionante capacidade imaginativa, o autor que nos ensina não apenas a observar os outros, mas, sobretudo, a observar nossa própria inquietação humana, sejam elas oníricas ou não. 322 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 REFERÊNCIAS BENDER, Hy. The Sandman Companion. New York: Vertigo, 1999. BLOOM, Harold. Shakespeare – A invenção do humano. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. GAIMAN, Neil. Casa de Bonecas. São Paulo: Conrad, 2005. ________. Despertar. São Paulo: Conrad, 2007. ________. Noites sem fim. São Paulo: Conrad, 2006. ________. Terra dos sonhos. São Paulo: Conrad, 2005. GORDON, Joan. Prospero framed in Neil Gaiman’s The wake. In: SANDERS, Joe. The Sandman Papers. Seattle: Fantagraphics Books, 2006. GREENBLATT, Stephen. Will in the world – how Shakespeare became Shakespeare. New York: Norton & Company, 2004. HOLDEN, Anthony. Shakespeare. São Paulo: Ediouro, 2003. HONAN, Park. Shakespeare – Uma vida. São Paulo: Cia das Letras, 2001. SANDERS, Joe. The Sandman Papers. Seattle: Fantagraphics Books, 2006. WAGNER, Hank; GOLDEN, Christopher; BISSETTE, Stephen R. Prince of Stories – The many worlds of Neil Gaiman. New York, St. Martin’s Press, 2008. Artigo recebido em 03 de junho de 2009. Artigo aceito em 29 de agosto de 2009. Enéias Farias Tavares Mestre em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Professor de Literatura Greco-Latina na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Crítico literário e tradutor. Membro do Centro de Estudos Shakespeareanos (CESh). Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 323 324 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 RESENHA SHAKESPEARE, NOVAS VEREDAS SOB MÚLTIPLOS OLHARES E ABORDAGENS CAMATI, Anna Stegh; MIRANDA, Célia Arns de (orgs). Shakespeare sob múltiplos olhares. Curitiba: Editora Solar do Rosário, 2009. Luiz Roberto Zanotti [email protected] Sempre que me defronto com uma diversidade de perspectivas, como nos é apresentada pelas organizadoras, Anna Stegh Camati e Célia Arns de Miranda, no compêndio Shakespeare: sob múltiplos olhares, imediatamente me vem à lembrança o romance Grande Sertão: Veredas e a sua multiplicidade de sentidos para o sertão roseano, visto que a crítica literária encontra sempre novas “veredas” na obra de Shakespeare. Esta afirmação pode ser constatada no presente conjunto de artigos incluídos nesta coletânea que oferece um amplo panorama de estudos que abarcam teoria, crítica e ensino, enfocando a poesia e a dramaturgia do bardo sob diferentes óticas e abordagens. Mas talvez, a principal importância do compêndio, seja o fato de ter sido um livro escrito não só para os especialistas e apreciadores do Shakespeare, mas também para que os leitores em geral tivessem acesso à uma obra já tão presente nas diversas mídias contemporâneas, tais como as mídias literárias, teatrais, históricas, cinematográficas, televisivas, cibernéticas, e a lista não se acaba. O primeiro ensaio, escrito por Barbara Heliodora, intitulado “A Inglaterra e o teatro elisabetano”, logo no início direciona o leitor para o que vai ser uma discussão a respeito da importância do teatro elisabetano, apresentando um fragmento do texto Como quiserem, de Shakespeare, onde o dramaturgo diz que: “O mundo é um grande palco/ E os homens e as mulheres são atores;” antecipando em muito o sociólogo Erving Goffman que em A representação do eu na vida cotidiana (1975) vai falar sobre os papéis sociais que são representados pelos indivíduos na sociedade em geral. Em “Apaixonados por Shakespeare: fato e ficção nas múltiplas faces do bardo”, Liana de Camargo Leão traz uma interessante coleção de fatos históricos relacionados à biografia de Shakespeare. Liana trata, dentro de uma abordagem da sucessão dos fatos, de uma série de episódios, provavelmente fictícios, tais como: a mudança de Shakespeare para Londres após o roubo de cervos, o trabalho de cuidar dos cavalos à porta do teatro, o seu trabalho Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 325 como advogado. No entanto, a verdade é que pouco se sabe da sua vida pessoal, fazendo com que o elemento ficcional permaneça mesmo nos estudos mais sérios. Na sequência, Fabiano DaIla Bona, no artigo “À mesa do banquete com Shakespeare: amores, vinganças e enganos”, focaliza a mesa de jantar, em suas palavras: um simples retângulo de madeira maciça, como a protagonista da maior revolução da época. O rito da mesa, presente nas tavernas londrinas, onde acontece o embate entre autores simpatizantes do classicismo contra os adeptos do eufuísmo parece ser de fundamental importância na obra de Shakespeare que vai misturar as duas correntes para fundar o seu estilo único e universal. A poesia não dramática de Shakespeare está presente na análise que Solange Ribeiro de Oliveira apresenta em “Os sonetos de Shakespeare: recriações brasileiras” onde a autora comenta, por exemplo, a tradução do verso “When I do count the clock tells the time” para “Quando a hora dobra em triste e tardo torque”, elaborada por Ivo Barroso. É interessante ainda observar as traduções que a autora oferece para comparação com outras já efetuadas, bem como as análises de ilustrações em capas de livros; alusões e interpretações projetadas pelos sonetos na mente de leitores pouco acadêmicos, o que lhe possibilita a conclusão de que as traduções dos sonetos estão no coração dos brasileiros, sejam eles cultos ou nem tanto. No ensaio “Relações transtextuais: reconceptualizações do conceito do blason nos sonetos CXXX de Shakespeare e XX de Neruda”, a autora Sigrid Renaux analisa as similaridades formais, textuais e temáticas que podem ser estabelecidas de imediato entre estes dois sonetos, usando como fio condutor o conceito do blason que é usado para descrever versos que se ocupam em detalhar partes do corpo de uma mulher. Um interessante artigo “A narrativa no teatro shakespeariano: Otelo”, de Marlene Soares dos Santos vai apontar vários episódios onde predomina a narração, tais como: quando Otelo narra para os senadores de Veneza que tipo de magia negra havia utilizado para seduzir Desdêmona; na narrativa que Iago oferece como prova palpável para a traição de Desdêmona, ou ainda na narrativa que a última faz na noite em que será assassinada, para mostrar que a narração tem suma importância não só no desenvolvimento da trama, mas também em varias passagens no desenvolvimento dos perfis psicológicos das personagens Célia Arns de Miranda busca respostas para as controvérsias geradas pelo confronto entre culturas, raças, ideologias e gêneros na obra de Shakespeare, discutindo como o dramaturgo explora em Otelo o discurso da 326 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 diferença racial, qual a relação entre linguagem e poder na tragédia, de que maneira o discurso do Otelo shakespeariano pode ser visto como um contradiscurso, quais são os indícios de que as fronteiras raciais e culturais em Otelo são excludentes e não se inter-relacionam, por que a diáspora é uma questão central da tragédia, e ainda de que forma as questões raciais transparecem nas representações de Otelo no palco. Em “Aspectos do trágico em Hamlet: desapego e sacrifício”, Lúcio Esper parte da posição de muitos estudiosos que consideram Hamlet como a primeira tragédia verdadeiramente madura de Shakespeare para desenvolver toda uma comparação com a tragédia antiga. Hamlet, contrariamente às tragédias tradicionais, onde os atos desmedidos do protagonista vão desencadear os acontecimentos de destruição, não é quem propriamente inicia a sua derrocada, mas sim a ambição de seu tio pelo poder. Outros aspectos da tragédia Hamlet ainda são destacados como as alterações ou variações inseridas por Shakespeare tais como o reconhecimento imediato do príncipe em seu dilema com o fratricídio, em oposição ao que ocorre com Édipo que só vai ter o seu processo de reconhecimento quase no final da peça, mostrando a perfectibilidade da construção da peça. A transposição do relato da morte de Ofélia para o quadro “Ophelia” (1852) de John Everett Millais é o fio condutor para o ensaio de Cristiane Busato Smith, em “A esteticização da morte da Ofélia de Shakespeare: um passeio intermidíático entre a literatura e a pintura”, para mostrar a importância que a personagem ganhou dentro do panorama cultural ao ser foco de intermináveis revisões cênicas, fílmicas, musicais, visuais e até mesmo em mídias eletrônicas como sites e blogs na internet. O artigo de Margarida Rauen, “Casos de apropriação e transformação de peças de Shakespeare”, traz uma série de elementos para a discussão do problema da tradução dos textos de Shakespeare. Rauen lembra que o imaginário das personagens do dramaturgo está muito distante de nossa época, e sem claras indicações do tradutor é praticamente impossível para a maioria dos estudantes perceber as sutilezas das metáforas e imagens. Um exemplo está nas flores que Ofélia distribui em Hamlet, os significados que elas contém de bajulação, ingratidão e arrependimento são bem difíceis de serem apreendidos por não especialistas, da mesma forma que o conhecimento sobre os humores dos séculos XVI e XVII identificados através dos quatro elementos (fogo, água, ar e fogo). Com relação às adaptações de Shakespeare para a mídia televisiva, o ensaio “Shakespeare na televisão brasileira”, de Aimara da Cunha Resende, traça um interessante paralelo sobre o que é assistir uma peça de Shakespeare Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 327 em plena luz do sol com a obrigação de imaginar espaços e tempos e o que é assistir a um drama (novela) na televisão com a extrema riqueza de recursos, onde a imaginação já não é tão importante. Neste panorama, ela revela o sentido de atualidade da novela que acaba por absorver assuntos inicialmente não presentes na trama, ou ainda, por causa da recepção do público modificar trama, personagens, etc. A autora desvenda a presença de Shakespeare nas montagens brasileiras, começando com Romeu e Julieta e Otelo da Mangueira produzidas dentro do programa Caso especial “ que apresenta uma diferença em relação às novelas principalmente pelo seu pouco tempo de duração (cerca de uma hora) – com direção de Paulo Grisoli. A primeira semelhança entre estas duas adaptações está na mudança dos locais originais para localidades brasileiras: Ouro Preto, para Romeu e Julieta, e o Rio de Janeiro, para Otelo, mas enquanto na primeira produção, Grisoli mantém a tradução literal de algumas falas, apesar do forte apelo regional e busca de uma identidade nacional, na segunda o diretor conserva o tema de origem, porém com poucos momentos de apropriação de falas. Brunilda Tempel Reichmann reflete sobre os processos criativos em “Macbeth, de Roman Polanski: três interpolações. vários questionamentos”. Para ela, o texto flui para dentro do filme, sem grandes perdas e vários ganhos, incorporando leituras e criações particulares de Polanski, bem como atualiza em forma de imagem o rico subtexto de Shakespeare. O trajeto para chegar a essa consideração passa por três interpolações que Polanski faz na obra de Shakespeare, demonstrando de uma maneira muito interessante a amplitude da obra de Shakespeare devido, principalmente, ao rico subtexto que o dramaturgo inscreve em seu texto quando adapta as fontes históricas para fazer uma crítica à violência de seu tempo. Stephan Baumgärtel em “Políticas do corpo no palco shakespeariano do séc. XX: o ator travestido como força cultural conservadora em duas montagens de Como gostais”, faz um arrazoado histórico sobre como o contexto socioeconômico influi na subjetividade desde a fase que ele chama de essencialismo puritano que estabelece essa subjetividade como universal e estável, até o surgimento de uma sociedade consumista no século XX que traz a baila o seu “projeto de identidade individual” que permite várias formas sociais de se investir na libido desde que se integre aos circuitos integrados da economia. Em “Sonho de uma noite de verão: o erudito e o circense em cena”, Anna Stegh Camati estuda a adaptação cênica do Sonho (1991), dirigida pelo encenador paranaense Marcelo Marchioro, na qual signos complexos de diversos meios e gêneros se misturam e se fundem. O fato da peça de 328 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Shakespeare ter muita ligação com a cultura popular, além de misturar elementos reais e fantásticos direcionou o encenador a escolher o circo como motivo que em seus elementos se aproxima do sonho e fantasia presentes no texto. O ensaio consegue apresentar as dificuldades que se apresentam em qualquer processo de tradução, como na transcriação de um texto dramático em espetáculo teatral, e principalmente na dramaturgia shakespeariana, onde elementos díspares da alta cultura e da cultura popular se mesclam, ocasionando um produto essencialmente híbrido. A identidade do teatro brasileiro é discutida por Roberto Ferreira da Rocha em “Hamlet com cara de Brasil: reverenciado, questionado, carnavalizado e deglutido”, onde o autor efetua um interessante trabalho de pesquisa sobre três encenações da tragédia Hamlet, identificando três momentos do processo de encenação no Brasil. Em “A dramaturgia shakespeariana no Brasil: por que e como ensinála”, Sirlei Dudalski após uma breve problematização sobre o ensino da literatura na escola, passa a apresentar a importância da relação entre aula e performance no ensino da literatura dramática e da passagem do texto ao ato, ou seja, a experiência do teatro faz com que as aulas se tornem mais interessantes e interativas Dentre as características mais marcantes da obra de Shakespeare está a sua linguagem, pela riqueza e criatividade, e é este assunto que Marcia M. P. Martins vai focalizar no seu trabalho “A tradução dos jogos de palavras shakespearianos: o caso de A megera domada”, mostrando as dificuldades encontradas nas traduções elaboradas por diferentes tradutores brasileiros no que diz respeito aos jogos de palavras introduzidos pelo escritor. As traduções de A megera domada efetuadas por Carlos Alberto Nunes (1950-58), Millôr Fernandes (1965), Cunha Medeiros e Oscar Mendes (1969), Newton Belleza (1977) e Barbara Heliodora (1998) são analisadas a luz destas dificuldades, trazendo algumas estratégias usadas pelos tradutores na procura de efeitos adequados. Neste procedimento são apontados 188 jogos de palavras na peça que foram resolvidos pelos tradutores através de recursos de recriação, reprodução, substituição, compensação, explicitação, neutralização e omissão, de uma forma que guarda uma relativa homogeneidade. O último ensaio “William Shakespeare, 1596, e Quiara Alegría Hudes, 2006: duas peças traduzidas e algumas semelhanças no processo” apresenta a reflexão de Beatriz Viégas-Faria sobre O mercador de Veneza, de William Shakespeare (1596), e Elliot: fuga para um soldado, de Quiara Alegría Hudes (2006) onde traça um paralelo entre estes dois títulos da dramaturgia em língua inglesa separados entre si por 410 anos. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 329 Dessa forma, pudemos tomar contato com os escritos destes dezoito pesquisadores que trouxeram novas veredas para a poesia e obra dramática de Shakespeare através de múltiplas óticas, linguagens e abordagens que nos auxiliam a constituir um repertório repleto de estratégias para estabelecer o diálogo com a obra de Shakespeare: uma obra em contínuo processo de renovação. Luiz Roberto Zanotti Doutorando em Literatura pela UFPR. Dramaturgo, encenador e diretor do Espaço Cultural “Jeca Kerouac” de Campo Largo. 330 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 DOSSIÊS TEMÁTICOS DAS PRÓXIMAS EDIÇÕES 2010: Escritores paranaenses 2011: Intertextos / Intermídias / Interartes 2012: Escrituras femininas contemporâneas Endereços eletrônicos para envio de trabalhos: [email protected] [email protected] Endereço para correspondência: Centro Universitário Campos de Andrade – UNIANDRADE Cidade Universitária Mestrado em Teoria Literária Scripta Uniandrade Rua Morumby 283, Santa Quitéria 81220-090 Curitiba, PR Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 331 332 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 NORMAS DA REVISTA 1 · · · · · · · · · · 2 3 Os trabalhos entregues para apreciação e possível publicação em qualquer das revistas do Centro Universitário Campos de Andrade – Uniandrade – deverão seguir os seguintes parâmetros: Ser preferencialmente inéditos. Ser redigidos em português, espanhol ou inglês. Ter no mínimo 10 páginas (cerca de 4000 palavras) e no máximo 20 páginas (cerca de 8000 palavras). Incluir dois resumos (de 100 a 120 palavras cada um), antes do início do texto, um em português e outro em língua estrangeira. Incluir, após os resumos, palavras-chave (de três a seis) em português e na língua estrangeira. Ser digitados em folha A4, com espaçamento 1,5, fonte Arial, 11. Incluir no corpo do trabalho, entre aspas, citações de até quatro linhas. Citações com mais linhas devem ser destacadas do texto, alinhadas pela margem de parágrafo, digitadas com espaçamento simples, fonte Arial, 10, e não conter aspas. Incluir referências às citações no próprio texto, entre parênteses. Exemplo: (MILLER, 2003, p. 45-47). As notas explicativas devem ser incluídas no final do texto. Seguir as normas da ABNT quanto à digitação das referências a serem incluídas depois da conclusão do texto. · Para livros, a entrada deverá ter o seguinte formato: GOMES, C. Metodologia científica. 2. ed. São Paulo: Atlântica, 2002. · Para artigos publicados em revistas e periódicos, a entrada deverá ter o seguinte formato: ALMEIDA, R. Notas sobre redação. A palavra, 2. série, Rio de Janeiro, v. 1, n. 4, p. 101-124, abr. 2003. · Para citação eletrônica, a entrada deverá ter o seguinte formato: LIMA, G. Referências de fonte eletrônica. Disponível em: <http://www.format.com.br > Acesso em: 21 set. 2006. Ser enviadas aos editores, como anexo, via e-mail, sem identificação. A identificação deve ser enviada em outro anexo e conter o título do trabalho, o nome do autor, a titulação, a instituição da titulação, a instituição à qual está vinculado, o cargo que ocupa, o e-mail e o número do telefone. Os autores deverão encaminhar parecer do Comitê de Ética de sua Instituição ou submeter seu trabalho ao Comitê de Ética da Uniandrade, se o Conselho Editorial achar necessário. O Conselho Editorial poderá recusar trabalhos que não atendam às normas incluídas acima. Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 333 4 Depois de aceitos pelo Conselho Editorial, os trabalhos de pesquisa serão submetidos ao Conselho Consultivo para leitura, análise e parecer. 5 Por via eletrônica ou postal, o Conselho Editorial comunicará ao autor a avaliação feita por membros do Conselho Consultivo. 6 Os artigos aprovados com restrições serão encaminhados para a correção dos autores. Nestes casos, a Comissão Editorial se reserva o direito de recusar o artigo, caso as alterações neles introduzidas não atendam às solicitações dos consultores. 7 Os autores dos artigos aprovados e publicados receberão dois exemplares da revista. 8 O direito de cópia referente aos artigos publicados pertence a Uniandrade. 9 O envio do artigo para publicação implica a aceitação das condições acima citadas. 334 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009 335 336 Scripta Uniandrade, n. 07, 2009
Download