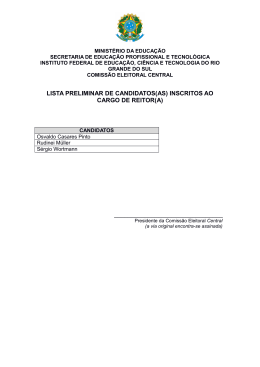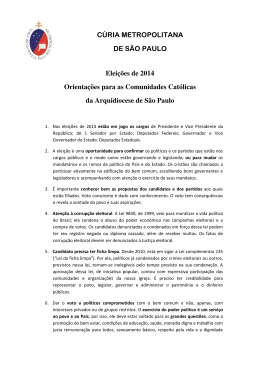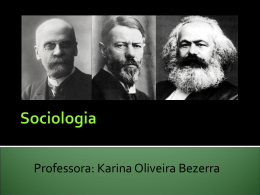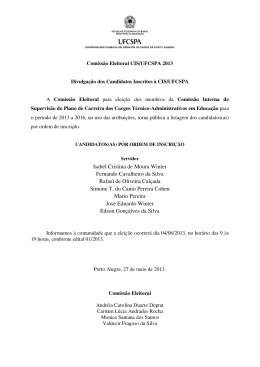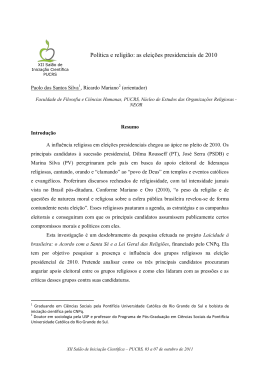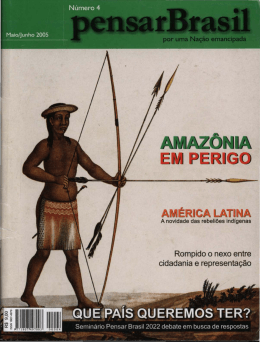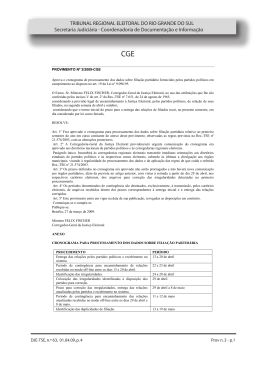DEBATES PERTINENTES para entender a sociedade contemporânea Volume 1 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Chanceler: Dom Dadeus Grings Reitor: Joaquim Clotet Vice-Reitor: Evilázio Teixeira Conselho Editorial: Antônio Carlos Hohlfeldt Elaine Turk Faria Gilberto Keller de Andrade Helenita Rosa Franco Jaderson Costa da Costa Jane Rita Caetano da Silveira Jerônimo Carlos Santos Braga Jorge Campos da Costa Jorge Luis Nicolas Audy (Presidente) José Antônio Poli de Figueiredo Jussara Maria Rosa Mendes Lauro Kopper Filho Maria Eunice Moreira Maria Lúcia Tiellet Nunes Marília Costa Morosini Ney Laert Vilar Calazans René Ernaini Gertz Ricardo Timm de Souza Ruth Maria Chittó Gauer EDIPUCRS: Jerônimo Carlos Santos Braga – Diretor Jorge Campos da Costa – Editor-chefe Hermílio Santos Organizador DEBATES PERTINENTES para entender a sociedade contemporânea Volume 1 Porto Alegre 2009 © EDIPUCRS, 2009 Capa: Deborah Cattani Diagramação: Stephanie Schmidt Skuratowski Revisão: Rafael Saraiva Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) D286 Debates pertinentes : para entender a sociedade contemporânea [recurso eletrônico] / org. Hermílio Santos. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009. v. Modo de Acesso: World Wide Web: <http://www.pucrs.br/orgaos/edipucrs/> ISBN 978-85-7430-938-5 1. Ciências Sociais. 2. Sociologia. 3. Sociedade – Século XXI. 4. Antropologia Social. I. Santos, Hermílio. II. Título. CDD 301.24 Ficha Catalográfica elaborada pelo Setor de Tratamento da Informação da BC-PUCRS Av. Ipiranga, 6681 - Prédio 33 Caixa Postal 1429 90619-900 Porto Alegre, RS - BRASIL Fone/Fax: (51) 3320-3711 E-mail: [email protected] http://www.edipucrs.com.br SUMÁRIO Apresentação........................................................................................................ 6 Hermílio Santos Justiça social e democracia na modernidade periférica .................................. 7 Emil Sobottka Violência e segurança pública em uma perspectiva sociológica .................. 25 Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo Sociedades complexas e políticas públicas .................................................... 41 Hermílio Santos Propaganda Política, Partidos e Eleições ........................................................ 68 Marcia Ribeiro Dias Política e integração na América do Sul .......................................................... 88 Maria Izabel Mallmann Pentecostais e política no Brasil: do apolitismo ao ativismo corporativista.................................................................................................... 112 Ricardo Mariano Mercado Religioso e a Internet no Brasil ....................................................... 139 Airton Jungblut Antropologia das instituições e organizações econômicas......................... 155 Lúcia Müller Há limites para a Sociologia do Conhecimento em uma “Sociedade do Conhecimento ” ? .............................................................................................. 176 Léo Peixoto Rodrigues Apresentação Com este volume iniciamos a publicação da série Debates Pertinentes. Um conjunto de três livros dedicados a analisar, por um lado, temas importantes para a compreensão das sociedades contemporâneas, por outro lado, a contribuição de autores clássicos e contemporâneos, tanto da sociologia, da ciência política quanto da antropologia, para a compreensão desses temas. Trata-se de uma iniciativa do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUCRS em parceria com o Goethe-Institut Porto Alegre. Os textos publicados neste primeiro volume, cujo subtítulo é “Para entender a sociedade contemporânea”, foram apresentados em um seminário realizado entre os dias 9 e 12 de junho de 2008 no auditório do Goethe-Institut de Porto Alegre, espaço reconhecido por fomentar o debate público e por tornar a pesquisa acadêmica acessível também à comunidade não acadêmica. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUCRS, que passa a contar com o Doutorado a partir de 2010, vem ocupando um espaço importante na produção das ciências sociais no Brasil, expresso, dentre outros indicadores, pela avaliação positiva que vem sendo conferida pela CAPES, quanto pelo papel ocupado pela Civitas – Revista de Ciências Sociais, publicada pelo PPGCS da PUCRS. Este primeiro volume da série Debates Pertinentes pretende dar maior visibilidade à contribuição dos professores e pesquisadores do PPGCS para o entendimento de problemas sociais contemporâneos, ao analisar temas sociais relevantes e que constituem objeto de pesquisas conduzidas pelos professores do PPGCS. Nesse sentido, a publicação da presente coleção tem como objetivo consolidar a contribuição teórica e de estudos empíricos conduzidos recentemente pelos autores. Além disso, a coleção visa oferecer instrumental analítico para introduzir o leitor iniciante em temas e teorias de sociologia, antropologia e ciência política. Trata-se de uma obra que poderá ser utilizada tanto nos cursos de graduação, quanto ainda do ensino médio e em certa medida também no ensino de pós-graduação, na medida em que alguns autores que serão apresentados (sobretudo no Volume 2 desta coleção) possuem poucas obras de referência publicadas no Brasil. Hermílio Santos – Organizador 6 Hermílio Santos (Org.) Justiça social e democracia na modernidade periférica Sobre a distribuição da riqueza socialmente produzida Emil A. Sobottka1 O título dado a esta apresentação, sugerido dentro da proposta de debates pertinentes que ajudem a compreender a sociedade contemporânea, foi justiça social e democracia na modernidade periférica. O subtítulo especifica a temática, ao apontar para a questão sobre como se distribui a riqueza produzida em sociedades modernas. Assim, os três grandes conceitos: justiça social, democracia e modernidade periférica podem confluir para a questão da distribuição da riqueza produzida socialmente. A referência para refletir sobre a sociedade contemporânea é a modernidade clássica, aquele modo de organizar a vida que surgiu em substituição ao período medieval. Trata-se de uma forma de organizar as relações sociais que tem entre seus traços mais característicos estar constantemente em mudança. Alguns autores interpretam algumas mudanças particulares como se elas indicassem a superação desse modelo de sociedade e o surgimento de um novo tipo; isso tem permitido a esses autores propor que a atualidade seja uma modernidade tardia, uma pós-modernidade, uma hiper-modernidade. Mas mesmo esses autores retornam à modernidade clássica como sua referência para dimensionar as transformações. Na questão de como se distribui a riqueza socialmente produzida e como se estruturam as relações sociais, também eu gostaria de começar com uma reflexão sobre aquilo que, pelo menos classicamente, se reivindica como a situação normal dentro da sociedade moderna. Começo analisando a ideia do trabalho como a forma central tanto de alocar a riqueza produzida socialmente como também o eixo constitutivo, estruturador central das relações dentro da sociedade moderna. 1 Doutor em Sociologia e Ciência Política, pesquisador do CNPq e professor do PPG em Ciências Sociais da PUCRS. O texto apresenta resultados parciais da pesquisa Reconhecimento, cidadania e democracia: Direitos sociais e política social no Brasil e na Alemanha nas últimas duas décadas, apoiada pelo CNPq e pelas Fundações Humboldt e Thyssen. Trabalho e distribuição da riqueza socialmente produzida Diferente de outros períodos históricos, na sociedade moderna, em especial aquela que se fez modernidade capitalista, o trabalho foi transformado no centro gerador e estruturador dessas duas dimensões da sociedade. Na obra denominada Princípios de filosofia do direito, um escrito do período da maturidade, Hegel reflete explicitamente sobre a questão de como a sociedade moderna que se torna individualizada, que vai perdendo certos vínculos tradicionais externos, pode encontrar novos fundamentos para se estruturar e também novos critérios para que as pessoas possam construir nela sua identidade. Hegel vê no trabalho o lugar social desses dois processos. O trabalho é visto a partir do homem que se encontra face à natureza e, mediante sua transformação, produz a partir dela meios para suprir as suas necessidades. Nessa sociedade, porém, a base do trabalho não é mais o artesanato, como em períodos históricos anteriores, e sim a divisão social e técnica: as pessoas não fazem mais "de tudo um pouco", segundo as necessidades concretas, mas se especializam em determinadas atividades. No conjunto tornou-se possível produzir muito mais – diz-se que aumentou a produtividade –, mas as pessoas individualmente passam a concentrar-se crescentemente sobre um número restrito de procedimentos. Para diversos teóricos esse novo trabalho pareceu muito centrípeto, dispersivo, individualizante, e colocou a pergunta pelo modo adequado de manter unida a sociedade agora sem os vínculos tradicionais. Quando Hegel dá ao trabalho esse lugar central nas relações sociais, ele não se refere ao avanço técnico, ao aumento da produtividade. Se isso fosse a característica central da nova forma de trabalho nessa sociedade moderna e capitalista, ela seria extremamente pobre. Hegel, ao contrário, vê nessa nova modalidade de transformar a natureza em satisfação das necessidades uma base ética (Honneth, 2008). A pessoa que trabalha não produz mais o produto na sua integridade e também não se apropria apenas da quantidade de produtos que ela produziu para suprir as suas necessidades; agora ela está inserida em processos através dos quais contribui para as necessidades dos outros e os outros contribuem para as suas necessidades. Assim forma-se uma interdependência que, segundo Hegel, deveria motivar os indivíduos a deixarem o seu ócio, a sua 8 Emil A. Sobottka preguiça de lado e a trabalharem para que, com os frutos do seu trabalho, pudessem contribuir para a satisfação das necessidades também dos outros. Assim, esse autor constrói uma ponte ética que ele julga ser capaz superar o comodismo, a eventual vontade de curtir o ócio indeterminadamente, para dar uma contribuição social. Nessa visão, não são as necessidades como tais que impelem o homem a trabalhar, num sentido mais animalesco, e sim o compromisso ético com a coletividade. Mas o novo lugar que o trabalho ocupa na sociedade não compromete eticamente de forma unilateral o indivíduo com a coletividade. Segundo Hegel, a sociedade deve corresponder a essa disposição do indivíduo, permitindo que ele receba o suficiente para sustentar adequadamente a si e a sua família. Ou seja, o indivíduo que renunciar à liberdade de curtir o ócio e se dispor a contribuir com o trabalho para a satisfação das necessidades de outros membros da sociedade tem direito à expectativa fundada de ter supridas as suas necessidades – dele e de sua família, à altura das práticas usuais no seu tempo e contexto. Dessa forma cria-se um sistema de interdependência e se estabelece um critério, uma medida padrão para alocação das riquezas em sociedade. Esse esquema de argumentação revela uma proximidade com o contratualismo: ao invés de o indivíduo tentar viver o máximo do ócio possível e apenas se contentar com alguma transformação da natureza para as suas necessidades, ele cede parte de sua liberdade para receber em troca um grau maior de satisfação das necessidades, suas e de sua família. Hegel introduz aqui uma dimensão que será vista com muita frequência na discussão das relações econômicas na sociedade moderna: a ideia de que, de alguma forma, a família e não só o indivíduo ocupa um lugar importante nas relações de trabalho. Essa reflexão de Hegel foi apropriada por Marx de um modo muito específico, colocando as relações de produção no centro da estruturação da sociedade. A sociedade capitalista, que para ele eclipsa a sociedade moderna, tem um modo peculiar de alocação da riqueza: os proprietários dos meios de produção ficam com quase tudo e trabalhadores, que na visão dele são os efetivos produtores da riqueza, ficam com tão pouco, que é insuficiente para viver e sustentar a família. Mudanças no modo de produzir que, em linguagem atual, podem ser chamados de avanços tecnológicos permitiram um aumento da Justiça social e democracia na modernidade periférica 9 geração de valor, de riqueza. Mas o poder maior dos proprietários dos meios de produção, dos donos da indústria, na hora de barganhar o preço da força de trabalho, faz com que eles possam ficar com uma parcela muito maior da riqueza e pagar uma parcela menor para aqueles que vendem sua força de trabalho. A dificuldade que Marx tem nesse contexto é encontrar critérios aceitáveis para uma distribuição diferente. Para ser aceitável, numa sociedade moderna, um critério deve satisfazer várias condições – um dos principais é não ser aleatório. Para diversos autores, como Axel Honneth (2008), os critérios precisam ser internos ao próprio processo social em questão. Intuitivamente, com base no bom senso, talvez seja possível argumentar em favor de uma distribuição mais equitativa. Mas um critério aceitável precisa ser consistente em termos teóricos. E Marx tem dificuldade em apresentar uma boa argumentação que fundamente como deveria ser a distribuição da riqueza. A argumentação feita por Hegel pode não ser convincente na atualidade, mas ela tinha uma importância para a sociedade do seu tempo: era uma fundamentação interna ao próprio processo. No momento em que o indivíduo cede algo que ele não precisaria ceder – no caso, uma parte da sua liberdade – e se dispõe a trabalhar e assim a cooperar com o bem coletivo, ele tem direito a ter a expectativa de receber dessa coletividade algo em troca. Marx não levou suficientemente a sério a necessidade de uma fundamentação, mas essa é hoje uma exigência central em quase toda teoria social. A atividade teórica dele tem sido muito mais produtiva em diagnosticar patologias sociais do que em apresentar critérios aceitáveis com os quais pudessem ser fundamentadas exigências de mudança social. Um autor que trabalhou mais nessa argumentação hegeliana foi Emile Durkheim (1984). Ele não foi muito explícito nesse sentido, mas não é difícil encontrar nele o parentesco com Hegel através daquilo que Max Weber denominou de afinidades eletivas. Durkheim retoma a ideia do trabalho como um dos pontos centrais da sociedade moderna em seu estudo sobre a divisão do trabalho social, e tenta demonstrar como o trabalho cria solidariedade mesmo na sociedade moderna – individualizada e com divisão técnica do trabalho. Segundo ele, o trabalho tradicional criava um tipo de solidariedade mecânica, por imitação, que não correspondia mais aos tempos modernos. Mas ele, tal como Hegel, 10 Emil A. Sobottka julgava infundado o temor de que a sociedade se decomporia em uma infinidade de indivíduos isolados. Exatamente a interdependência da divisão técnica do trabalho – na qual são necessárias muitas pessoas realizando tarefas parciais para produzir determinado produto – e da divisão do trabalho social – na qual as diversas funções necessárias ao bom andamento da sociedade estão amplamente distribuídas, mas de algum modo coordenadas entre si – geraria um tipo novo de solidariedade, especifico da modernidade: a solidariedade orgânica. Tudo isso é bastante conhecido. Menos conhecido possivelmente seja que na teoria de Durkheim há uma reflexão sobre a fundamentação ética que esse novo processo de estruturação das relações sociais através do trabalho exigiria. Em sintonia com a tradição liberal, ele coloca a igualdade de condições como ponto de partida eticamente normativo. Nessa tradição, a igualdade da formação para o desenvolvimento pleno das habilidades vocacionais profissionais permitiria que todas as pessoas tivessem na sua juventude, no momento da definição da sua carreira profissional, a oportunidade de ter uma formação que as habilitasse a competir no mercado em condições de igualdade e, acima de tudo, a realizar plenamente a sua vocação e não ser frustrado nela. Isso seria, a rigor já por antecipação, um dever da sociedade para com o indivíduo, para que ele possa contribuir com ela melhor depois. Seria quase como uma hipoteca que a sociedade já coloca para o indivíduo e tem depois a expectativa fundada de receber a sua contribuição de volta. Um segundo ponto que, pelo menos na tradição das ciências sociais, se enfatiza pouco na leitura de Durkheim, é sua defesa de uma remuneração do trabalho segundo o seu valor para a sociedade. Quase lá no final da obra A divisão do trabalho social (Durkheim, 1984, v. 2) há todo um subcapítulo que trata dessa questão. Nele o autor defende que trabalho não pode ser remunerado segundo os humores do mercado, de quem contrata o trabalho do assalariado, mas deve ser recompensado segundo aquilo que esse trabalho contribui para a sociedade. Portanto, o que deveria orientar a distribuição da riqueza não é o valor de mercado, mas sim a importância da função que aquele trabalho tem dentro da sociedade. Isso aproxima a argumentação de Durkheim da tese hegeliana do direito a uma compensação adequada para a renúncia feita pelo indivíduo ao deixar o ócio e contribuir para o bem de todos. Justiça social e democracia na modernidade periférica 11 Um terceiro ponto que Durkheim coloca nesse contexto merece ser enfatizado. Segundo ele, é necessário que o trabalhador possa sentir dentro do próprio processo de trabalho que ele está dando uma contribuição para a sociedade. O oposto aparece no filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin (1936), que mostra a pessoa sendo reduzida a um trabalho extremamente rotineiro, no qual quase não precisa usar mais a sua cabeça para pensar; ela apenas precisa cumprir a rotina com eficácia. Durkheim, ao contrário, reivindica uma ética, segundo a qual as atividades devem ser divididas de tal modo que quem as executa possa perceber dentro do próprio processo de trabalho que está dando uma contribuição para a sociedade. Há também aqui a preocupação de não buscar externamente, como na tradição, por exemplo, uma fundamentação para os critérios de distribuição do fruto do trabalho. Comum a Hegel é aqui a ideia de que quem trabalha consiga reconhecer dentro desse trabalho que está dando uma contribuição para a sociedade. Talvez seja possível dizer que nas reivindicações feitas por Durkheim há uma componente identitária. Esses são apenas alguns exemplos de teóricos que têm colocado o trabalho como central para a sociedade. Central não apenas para o desenvolvimento da economia, para o aumento da produtividade, para a geração de riquezas, mas também para a estruturação de relações sociais e para a conformação de aspectos éticos da convivência em sociedade. Com essas construções de critérios éticos, feitas a partir de dentro do próprio mundo de trabalho, torna-se possível dar respostas bem fundamentadas para a questão de como a riqueza deveria ser distribuída socialmente. Mas a observação de situações históricas mostra que tem sido grande a dificuldade para cumprir esses critérios. As razões para isso não podem ser analisadas aqui. Principalmente em momentos de crise, quando tem ficado evidente que havia falhas na distribuição da riqueza socialmente produzida, em muitas sociedades recorreu-se à política para construir critérios que justificassem formas de distribuição da riqueza que não fosse a via da renda salarial. Essa nova forma de distribuição da riqueza socialmente criada é a política social. 12 Emil A. Sobottka Política social e distribuição supletiva da riqueza Quando políticas sociais começaram a ser instituídas, elas tiveram várias vertentes teóricas ou políticas que buscavam justificá-las. Uma das razões mais comumente alegadas é a necessidade de um complemento ou uma correção do mercado em momentos ou situações em que este falha na alocação da riqueza. Dentro dessa maneira de pensar, o mercado capitalista em geral, e o mercado de trabalho em particular, seriam o melhor instrumento para distribuir a riqueza socialmente produzida. Apenas quando houver algum distúrbio grave seria eticamente justificável e, portanto, aceitável uma intervenção corretiva. Essa intervenção em regra é delegada ao estado, para que ele faça algum complemento ou que ajude a superar a situação que o mercado momentaneamente não conseguiu gerir. Além dos momentos de crise, outra área admitida como justificada para políticas sociais é a cobertura de certos riscos do ciclo de vida. Um desses riscos previsíveis é o período em que, em tese, cessarão as forças para o trabalho. Para cada trabalhador é estatisticamente previsível o prazo normal, dentro de determinada sociedade, até quando ele terá forças para trabalhar e se sustentar; a questão que se coloca é: o que virá depois disso? Como ele sobreviverá depois de findo seu ciclo de vida profissional, para não recair na dependência de terceiros, que é um dos grandes temores do indivíduo emancipado na modernidade? A seguridade social é uma instituição que permite ao indivíduo que ele próprio seja previdente, que faça alguma contribuição a algum fundo, ou que a coletividade reserve uma parte da riqueza social, e assim o trabalhador tenha assegurado o direito a receber o seu sustento vitalício quando deixar a vida laboral. Essa política é a aposentadoria – que muitas vezes é extensiva a determinados membros da família na forma de pensão. Através dessa política haverá uma alocação de uma parcela da riqueza social para que aquela pessoa que contribuiu para o bem da sociedade com seu trabalho possa viver e envelhecer dignamente. Há outros riscos do ciclo da vida que são previsíveis no conjunto de uma população, mas dificilmente podem ser individualizados – como enfermidade e desemprego. Entre as primeiras políticas sociais em diversos países figuram Justiça social e democracia na modernidade periférica 13 aquelas que buscavam responder à preocupação com a continuidade da renda, e, com isso, a possibilidade de seguir dando sustento à família nos casos de impossibilidade de trabalhar devido a uma enfermidade ou ao desemprego. Hoje a preocupação com o custo do tratamento de saúde ocupa o lugar central, mas nas primeiras políticas sociais de saúde a questão era a interrupção da remuneração que afetava diretamente a satisfação das necessidades do trabalhador e de sua família. Há razões históricas para que os custos do tratamento de saúde passassem a esse lugar central, como maior valorização da longevidade e o aumento do próprio custo dos tratamentos pela incorporação de tecnologia, pela maior abrangência dos tratamentos possíveis e assim por diante. Outro momento em que a política social pode cobrir riscos é o do desemprego. Dentro de certo nível de flutuação macroeconômica, o desemprego é considerado normal; ele faz parte da coordenação de oferta e procura pelo mercado. Mas mesmo que na teoria econômica se considere normal uma pequena oscilação nos níveis de emprego, quando o desemprego afeta o indivíduo, ocorre uma interrupção na renda que pode ameaçar a sua sobrevivência. Para assegurar a continuidade na satisfação das suas necessidades e de sua família, mesmo a tradição liberal passou a aceitar alguma forma de suprimento dessas necessidades via política social. Mas há também outra reivindicação na política social, uma utopia mais próxima da vertente socialista, de que a política social possa decomodificar as relações de trabalho. Essa expressão, usada por Esping-Anderson (1990), talvez fique mais compreensível se utilizada em outro contexto: o do mercado de grãos, minérios ou petróleo. Dentro desse contexto, commodity se refere a um produto com características genéricas, mais ou menos igual em qualquer lugar do mundo. Ele tem pouca variação e, portanto, não apenas seu preço será relativamente igual, mas pode ser trocado por outro sem maiores consequências. A commodity força de trabalho num mercado capitalista pode chegar a este extremo – em que as pessoas que trabalham são intercambiáveis porque aquilo que elas têm a oferecer, a sua força de trabalho, passa a ser considerado como uma mercadoria qualquer, que pode trocar por outra em qualquer momento. Isso valia por muito tempo principalmente naquelas atividades em que a qualificação, a experiência ou a habilidade técnica tinham uma importância menor. Hoje, cada vez ampliam-se 14 Emil A. Sobottka mais as áreas de atuação em que a força de trabalho passa a ser tratada como uma commodity. A consequência é que tão logo houver uma oferta um pouco mais barata, ela é substituída. A utopia de uma política social que decomodifique o trabalho seria associar não ao trabalho, mas à pessoa que o executa o direito de participar da riqueza da sociedade de tal modo, que ela não dependa direta e exclusivamente do mercado de trabalho para satisfazer as suas necessidades. A proposta não é que o ócio fosse permanente, que a pessoa deixasse de trabalhar; a ideia é que a pessoa tivesse condições de rejeitar ofertas de trabalho consideradas atentatórias a sua dignidade enquanto pessoa ou indignificantes da riqueza socialmente produzida porque a contrapartida proposta em forma de remuneração é muito baixa. Portanto, uma política social decomodificadora do trabalho criaria a situação na qual as pessoas poderiam ficar tanto tempo sem trabalhar até que alguma oferta no mercado de trabalho estivesse à altura de sua dignidade enquanto pessoa e enquanto produtoras de riqueza. Não é difícil perceber que essa reivindicação tem um horizonte utópico, ainda relativamente distante. Mas ao mesmo tempo é interessante observar que há países que se aproximaram razoavelmente desse tipo de situação. As políticas sociais na grande maioria dos países no ocidente capitalista – seja na Europa, nos EUA ou no Brasil – estão vinculadas à condição de trabalhador formal; no Brasil, inclusive, por décadas muitos direitos relativos à política social beneficiavam apenas o trabalhador urbano. Alguns poucos países, em especial os escandinavos, orientaram sua política social para o cidadão, sem restringi-la ao vendedor da força de trabalho. Com isso eles criaram espaços mais amplos de autonomia do cidadão para escolher onde ele se inserirá no mercado de trabalho – modestos quando comparados aos ideais utópicos de uma reumanização plena da mercadoria força de trabalho, mas uma valorização do cidadão. A política social coloca na pauta da discussão pública a questão da distribuição da riqueza socialmente produzida e, assim, a pergunta pela justiça social. Não se pode fazer política social sem confrontar-se com a questão sobre o que é aceitável como socialmente justo, sobre como deve ser distribuída a riqueza socialmente produzida e como devem ser supridas as necessidades das pessoas dentro da situação biológica, cultural e social da sociedade específica. Justiça social e democracia na modernidade periférica 15 Cada sociedade se confronta, ademais, com a questão sobre como agir nas situações em que a pessoa não tem possibilidade de suprir suas necessidades autonomamente. Uma contribuição interessante para essa questão é feita por Claus Offe (2005). Para esse autor existem três princípios de justiça social: ajuda, previdência e direito de cidadania. O princípio da ajuda implica em que a pessoa com necessidade tem direito a receber ajuda, e sua comunidade tem o dever moral de ajudá-la. A tradição de ajuda aos pobres é milenar (Geremek, 1991), e no Ocidente ela esteve fortemente vinculada à tradição cristã; hoje crescentemente esse dever moral de ajudar o próximo em necessidade é visto como um compromisso humanitário. O princípio da ajuda ao necessitado, no entanto, não serve como regra geral para a distribuição da riqueza na sociedade. A riqueza na sociedade moderna não se distribui por sentimentos interindividuais; para contrapor-se ao acúmulo privado são necessárias regras mais abrangentes e bem fundamentadas, são necessárias instituições que deem suporte aos princípios da igualdade e da fraternidade. O princípio da previdência está amplamente presente na política social e se refere a uma relação em que através de uma contribuição prévia o indivíduo adquire o direito a receber dessa provisão uma remuneração. Exemplos são os seguros sociais, os fundos mutualistas, a previdência social. Face ao fato que certos riscos da vida têm um grau razoável de previsibilidade de virem a ocorrer, pode-se instituir formas coletivas de contribuição para um fundo, e essa participação gera o direito de receber do seguro social uma remuneração quando for necessário. Todos contribuem enquanto podem e aqueles que necessitam recebem segundo critérios previamente estabelecidos. Esse princípio tem sido comum para antecipar-se ao desemprego, a situações de doença e ao período de aposentadoria. Os seguros sociais geralmente são amparados por legislações nas quais o estado define e zela pelo cumprimento das regras e também dá seu aval como garantidor último para as situações em que as necessidades de desencaixe forem maiores que os fundos acumulados. Eles diferem dos seguros comerciais porque não se orientam por categorias definidoras de risco, mas contêm uma dimensão redistributiva da riqueza na medida em que a contribuição 16 Emil A. Sobottka se orienta pela renda e a definição do benefício se orienta principalmente pela necessidade. Dentro do princípio da previdência há uma variante impulsionada por liberais que têm dificuldade em aceitar a socialização dos riscos e benefícios: é a previdência individual que segue o cálculo atuarial. Essa forma de previdência pode ter uma dimensão distributiva indireta, por exemplo, via incentivos fiscais para a capitalização, mas se orienta fortemente pela relação entre contribuição e benefício, deixando em plano secundário a necessidade do beneficiário. Aposentadorias complementares e planos de saúde no Brasil têm esse caráter. A contribuição independe da renda, mas se orienta pela expectativa do futuro benefício, enquanto no seguro social, ao contrário, a dimensão redistributiva prepondera. O terceiro critério de justiça social mencionado por Offe é o direito de cidadania. A agregação de direitos sociais à cidadania ocorreu basicamente ao longo do século 20. Uma de suas origens foi a responsabilidade que sociedades europeias assumiram para com ex-combatentes que perderam a capacidade para o trabalho e/ou familiares de combatentes mortos na guerra. Outra, sistematizada por T. H. Marshall (1967) para o caso da Inglaterra, vê a política social como ampliação da participação nas conquistas do processo civilizatório: os membros da comunidade podiam esperar uma participação nas condições gerais de vida por serem cidadãos daquela localidade ou região – uma noção que foi evoluindo até tornar-se uma cidadania nacional. Segundo esse princípio, o direito a participar da riqueza da sociedade é derivado da condição de ser membro dela. A maioria dos sistemas de política social, na atualidade, mesclam em maior ou menor grau esses três princípios, mas todos eles estão presentes. Contudo, para os defensores do mercado capitalista moderno a pergunta prioritária que se coloca não é pelo princípio de justiça social, mas, sim, se a política social intervém indevidamente nas regras do mercado e assim desequilibra a lei da oferta e da procura. Nas últimas décadas, os defensores radicais do mercado têm conseguido força política capaz de desfazer algumas conquistas civilizatórias nas relações sociais feitas no século 20 e tornar plausíveis para a esfera das relações de trabalho ideais dos séculos anteriores. Justiça social e democracia na modernidade periférica 17 Resistência à justiça social e processos de exclusão Há diversas preocupações e temores que eram expressos já no século 19 e que ressurgiram mais persistentemente a partir de meados do século 20, na esteira do renascimento do liberalismo conservador e que tem em Friedrich Hayek (1987) um de seus expoentes. Um desses temores é que a política social seja um sustentáculo da preguiça; não se fala em ócio, como Hegel, que é um direito do indivíduo, mas em preguiça, que tem conotação moral negativa e indicaria que a pessoa não quer cumprir com seu dever de trabalhar para descansar sobre os benefícios da política social. Assim, surge a exigência de fortalecimento de mecanismos que impeçam que as pessoas se acomodem à condição de beneficiado de alguma política social e as forcem a voltar, pela força de seu trabalho, a fazer jus à participação na riqueza socialmente produzida. Há outro temor, antigo, mas ainda presente na atualidade, de que o fortalecimento dos segmentos considerados dependentes do trabalho pudesse criar uma força política que demandaria participar mais intensamente dos assuntos públicos; como pela sua proporção no conjunto da população poderiam se constituir em maiorias, eles em algum momento colocariam em risco a estabilidade da sociedade. Os defensores desse temor não consideram que essas maiorias tenham civilidade suficiente para poder decidir sobre os destinos da nação. Esse preconceito elitista raramente admite, hoje expressamente, ser avesso à democracia por considerá-la um risco; ele aparece antes na forma de despolitização da política, como nos regimes militares da América Latina do final do século 20, ou de transformação da política social em populismo clientelista, como se os benefícios fossem devidos à generosidade do governante. Nas últimas décadas também tem sido expresso com frequência o temor de que a política social se tornaria como uma bola de neve: seus custos poderiam até começar modestos e justificáveis, mas criariam vulto até exacerbar qualquer limite e tornar inviável a produção de riqueza; chegaria o momento em que não apenas haveria mais consumidores do que criadores de riqueza, mas a proporção da riqueza apropriada privadamente seria tão pequena face àquela dada em benefício da sociedade, que deixaria de haver estímulo econômico para seguir trabalhando. Olhando a evolução estatística de alguns orçamentos públicos, 18 Emil A. Sobottka pode-se perceber efetivamente um crescimento dos gastos considerados sociais. Contudo, uma análise mais detalhada desses gastos pode revelar um panorama bem mais diferenciado: nem tudo que é apresentado como gasto social tem relação com distribuição da riqueza socialmente produzida nem está em sintonia com os princípios de justiça social. No Brasil, por exemplo, a maioria dos gastos declarados como sociais tem um efeito concentrador de riqueza; eles tiram mais riqueza de quem tem pouco para dar mais a quem já tem muito. Quem afirma isso é um relatório do Banco Mundial (World Bank, 2003); ele mostra, por exemplo, como o sistema de aposentadorias no serviço público, em particular no judiciário, é um forte concentrador de renda, que só fica atrás da política de juros. Face a esses temores, principalmente temores de que os gastos sociais se tornariam incontroláveis, foram lançadas diversas propostas de reformas. Algumas pretendiam deslegitimar a reivindicação de maior participação dos cidadãos na riqueza socialmente produzida para, depois, retirar das políticas sociais suas dimensões redistributivas. Como consequência ocorreram cortes nos orçamentos sociais e uma reorganização das prioridades de investimentos. O montante total de impostos arrecadados e de gastos governamentais não caiu; o que houve foi uma diminuição proporcional dos orçamentos sociais e uma realocação maior de recursos em outros lugares. Em alguns países, como no Brasil, pode-se observar uma migração da riqueza social arrecadada das políticas que beneficiavam os cidadãos mais necessitados em direção ao que é chamado de atração de investimento. Ou seja, a riqueza socialmente produzida é canalizada na forma de subsídios ou de benefícios fiscais para empreendimentos que prometem se instalar e gerar mais emprego e riqueza, assim empreendedores forâneos se apropriam por antecipação de uma riqueza socialmente produzida pela população local com a promessa de futuramente produzir mais riqueza. Há duas distorções nesse modelo de alocação da riqueza social. Primeiro, via de regra são concedidos a esses empreendimentos amplos benefícios fiscais, isentando-os, portanto também no futuro de participarem da mais importante forma de redistribuição da riqueza socialmente produzida em sociedades capitalistas, que são os impostos. Segundo, nos contratos de atração de investimento em regra não são previstas auditorias para conferir se essa Justiça social e democracia na modernidade periférica 19 riqueza será realmente produzida tal como prometido, nem exigências de restituição da riqueza social local em caso de descumprimento das promessas. Nas discussões públicas sobre reformas se fazem reiteradamente presentes propostas de maior mercantilização do trabalho. Sugestões de reforma em políticas sociais, na legislação trabalhista, no sistema de ensino e em outras áreas com frequência derivam da pretensão de que as pessoas sejam impulsionadas a estarem no mercado de trabalho, a venderem sua força pelo preço que o mercado quiser oferecer por ela. O resultado de muitas dessas reformas seria uma recomodificação da força de trabalho; não uma decomodificação, como era a expectativa de defensores de políticas sociais, mas uma reinserção do trabalho como commodity. Essa impulsão à maior presença das pessoas no mercado de trabalho leva, segundo as leis da oferta e da procura, a uma saturação do mercado de trabalho e a uma desvalorização da mercadoria força de trabalho. A consequência é um achatamento do rendimento que o mercado está disposto a pagar pela força de trabalho ofertada. Um risco adicional é que haja uma redução das possibilidades de venda da força de trabalho. Isso teria, para voltar a Hegel e Durkheim, a dramática consequência de impedir que esses indivíduos contribuam para o bem-estar social e assim pudessem ter a justificada expectativa de ter a recompensa de poder suprir adequadamente as necessidades suas e de sua família. Talvez nesse contexto se possa falar de riscos de exclusão social, um tema extremamente controvertido e difícil de ser definido. Niklas Luhmann (1992), quando confrontado com as limitações da teoria sistêmica por ele concebida para interpretar a situação concreta de alguns países, como os da América Latina e especialmente o Brasil, formulou a tese de que em determinadas circunstâncias há uma anteposição de critérios que interferem no funcionamento dos sistemas sociais. Essa anteposição pode provocar a exclusão social. A situação de normalidade seria a inclusão social: quando a pessoa depende de um sistema social e tem acesso aos benefícios de seu desempenho. Por exemplo: em dada circunstância a pessoa depende de uma boa formação para participar do mercado de trabalho e tem acesso ao sistema de formação que a prepara para o exercício profissional. Essa pessoa estaria, na concepção de Luhmann, incluída. Ela depende do desempenho de um sistema social e tem acesso a ele. E quando se 20 Emil A. Sobottka daria a exclusão? Na concepção de Luhmann, exclusão social não ocorre porque a pessoa está fora da sociedade, mas quando ela depende de algo dentro da sociedade e não tem acesso àquele algo. A exclusão social seria a anteposição de uma barreira ao acesso àquilo que dá plenitude à integração social; seria quando o indivíduo não consegue se colocar adequadamente naquele lugar no qual são definidas as relações sociais importantes para ele. Se for o mercado de trabalho, não consegue uma qualificação para o emprego; se for a formação, não consegue um local adequado para a formação; se forem as relações afetivas, por alguma razão a discriminação não permite que estabeleça relações afetivas. Quando essa situação se generaliza, quando desigualdade e exclusão social transcendem as facetas da vida em que se originaram e se reproduzem em outros âmbitos, então é possível que se esteja naquela situação que Marcelo Neves (1992) descreve como modernidade periférica. Para esse autor, modernidade periférica é a situação de um país, de uma sociedade que reivindica ter criado relações sociais modernas, mas tem uma estruturação deficiente das suas relações sociais concretas, porque há uma anteposição que restringe ou que facilita desproporcionalmente o acesso a recursos vitais e torna assim as perspectivas de vida muito desiguais. Para além da proposição de Luhmann, na qual a exclusão foi definida a partir da interdição do acesso a recursos vitais de um sistema social do qual o indivíduo depende, com base em Marcelo Neves pode-se falar de uma situação dupla: uma anteposição que restringe ou que facilita desproporcionalmente o acesso àqueles recursos vitais. Além da possibilidade de deficiência na organização da sociedade de modo a produzir exclusão, porque as pessoas não conseguem acesso a recursos extremamente importantes para elas, pode haver uma anteposição de privilégios para outras pessoas de tal modo que tenham acesso a todos os recursos vitais dos sistemas sociais sem dependerem deles; elas podem beneficiar-se da riqueza socialmente produzida, dos bens culturais, sociais e econômicos, sem contribuir para eles. Essas pessoas ficam acima da responsabilidade e das restrições que a sociedade moderna cria para coordenar as relações sociais dentro dela. Uma sociedade em que estão institucionalizadas formas tão díspares de acesso aos recursos vitais e a validade das normas é tão seletiva – e, por Justiça social e democracia na modernidade periférica 21 conseguinte, a desigualdade de uma esfera da vida se transmite também às outras –, não corresponde a uma sociedade moderna e democrática, ainda que gravite na periferia de sociedades modernas, pelas quais se orienta. Neves designa as pessoas com facilidades desproporcionais de sobreintegradas e aquelas que padecem com as restrições desproporcionais de subintegradas. Pode-se dizer, então, que uma modernidade periférica tem três segmentos sociais muito distintos: pessoas que contribuem e participam da riqueza socialmente produzida e se submetem às normas; aquelas pessoas sobreintegradas, que se beneficiam da riqueza, frequentemente pouco contribuem para ela e não se submetem às normas que estruturam as relações sociais; e aquelas pessoas que dependem dessa riqueza, mas têm acesso restrito ou até interditado a ela, pessoas que experimentam muito mais as restrições e punições previstas nas normas do que a proteção e garantia de seus direitos. Quando a interdição de acesso se expande para as diversas áreas da vida e se configura a pobreza extrema, a política social de cunho mais liberal se propõe a oferecer um prêmio de consolação, denominado gestão social da pobreza. Uma distribuição limitada da riqueza social é incentivada para assegurar que essas pessoas sobrevivam, e não sejam gerados focos de insatisfação social. Na modernidade periférica, um grande contingente de pessoas não consegue ser participante pleno de uma sociedade que se estrutura fundamentalmente a partir do mundo do trabalho. Então pode ocorrer que parte importante das políticas sociais não tem como fundamento o princípio da previdência nem é expressão de direitos de cidadania – os dois princípios centrais de justiça social em sociedades modernas – e, sim, fruto da transferência unilateral de renda do estado para o cidadão. Programas como o Bolsa Família são, no limite, a reedição em grande escala do princípio da ajuda apontado por Offe. Ao ser estruturado como ajuda e não como direito de cidadania, torna-se possível que essa política social, ao repartir a riqueza social com cidadãos em situação de necessidade, não leve a que o cidadão reconheça nela sua inclusão social numa sociedade que se orienta por princípios modernos de justiça social, mas seja simbolicamente apropriada e transferida como uma benesse do governante para aquelas pessoas para quem alegadamente quer fazer algum bem. Com isso, a política de transferência de riqueza social na forma de ajuda tira das pessoas a possibilidade de sentirem-se 22 Emil A. Sobottka incluídos em sua sociedade, construtores de outras riquezas sociais, mesmo que temporariamente estejam impossibilitados de gerarem riqueza econômica e recriam dependência ao torná-las devedoras de favor. Creio ser possível concluir dessas reflexões que em sociedades de modernidade periférica há atualmente duas ameaças sérias à democracia. De um lado, um conjunto pequeno de pessoas sobreintegradas, que podem participar da riqueza socialmente produzida, apropriar-se, servir-se e abusar dela, transferi-la inclusive para fora, sem terem uma vinculação orgânica com a produção e justa distribuição dessa riqueza e sem assumirem como vinculantes para si as regras que estruturam as relações sociais. E, no outro extremo, um conjunto crescente de pessoas que não são plenamente reconhecidas como cidadãos, com acesso restrito às possibilidades de produzir e usufruir da riqueza social, sendo arregimentadas por favores; para essas pessoas é dificultado o acesso ao direito de reivindicar aquilo que pelas leis lhes é assegurado e que, em tese, pelo menos, é aceito como justo dentro da sociedade: que cada pessoa, na eventualidade de alguma crise da vida, tenha supridas as suas necessidades pela sociedade da qual participa. Em sociedades como a brasileira rompeu-se o vínculo que a sociedade moderna estabelece entre aquilo que o indivíduo pode e eticamente deve contribuir para o bem-estar de toda sociedade e aquilo que justificadamente pode ter a expectativa de receber e de fato receber dela em compensação. Restabelecer esse vínculo é uma necessidade e um desafio, não apenas pela convicção de que seja uma exigência ética de justiça social, mas porque essa seria uma contribuição para a estabilização e para o aprofundamento da democracia. Referências CHAPLIN, Charles. Tempos modernos [Modern times], 1936. DURKHEIM, Emile. A divisão do trabalho social. 2 v. Lisboa: Presença, 1984. ESPING-ANDERSEN, Gosta. The three worlds of welfare capitalism. Princeton: Princeton University Press, 1990. Justiça social e democracia na modernidade periférica 23 GEREMEK, Bronislaw. Geschichte der Armut: Elend und Barmherzigkeit in Europa. München: DTV, 1991. HAYEK, Friedrich A. O caminho da servidão. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1987. HEGEL, Georg W. F. Princípios da filosofia do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1997. HONNETH, Axel. Trabalho e reconhecimento: tentativa de uma definição. Civitas, v. 8, nº 1, p. 46-67. LUHMANN, Niklas. Zur Einführung. In: Neves, Marcelo. Verfassung und Positivität des Rechts in der peripheren Moderne: Eine theoretische Betrachtung und eine Interpretation des Falls Brasilien. Berlin: Duncker & Humblot, 1992, p. 1-4. MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967. NEVES, Marcelo. Verfassung und Positivität des Rechts in der peripheren Moderne: Eine theoretische Betrachtung und eine Interpretation des Falls Brasilien. Berlin: Duncker & Humblot, 1992. OFFE, Claus. Princípios de justiça social e o futuro do estado de bem-estar social. In: SOUZA, Draiton G. ; PETERSEN, Nikolai. Globalização e justiça. v. 2. Porto Alegre: Edipucrs, 2005, p. 69-85. WORLD BANK. Inequality and economic development in Brazil. Report n. 24487BR, 2003. 24 Emil A. Sobottka Violência e segurança pública em uma perspectiva sociológica Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo 1 1. O controle social e os processos de criminalização O conceito de controle social já se encontra, pelo menos de forma indireta, nas obras dos clássicos da filosofia política. Está presente, por exemplo, na teoria do Estado de Hobbes, entendido como a limitação do agir individual exigida pela vida em sociedade. Explicitamente, o conceito de controle social é formulado pela primeira vez pelo sociólogo americano Edward A. Ross, no final do século XIX, em uma série de artigos sob o título Social Control, publicada no American Journal of Sociology, entre março e maio de 1898 (Ross, 1969, p. vii). Embora já estivesse presente, portanto, desde os primórdios do pensamento social moderno, o tema do controle social vai adquirir lugar de destaque na teoria sociológica dentro da perspectiva do estrutural-funcionalismo. Para Talcott Parsons, principal representante dessa corrente, continuidade e consenso são as características mais evidentes das sociedades. Assim como um corpo biológico consiste em várias partes especializadas, cada uma das quais contribuindo para a sustentação da vida do organismo, Parsons, seguindo Durkheim, considera que o mesmo ocorre na sociedade. Para que uma sociedade tenha continuidade ao longo do tempo, ocorre uma especialização das instituições (sistema político, religioso, familiar, educacional, econômico), que devem trabalhar em harmonia. A continuidade da sociedade depende da cooperação, que por sua vez presume um consenso geral entre seus membros a respeito de certos valores fundamentais. Parsons define a teoria do controle social como a análise dos processos do sistema social que se confrontam com as tendências desviantes, e das condições em que operam tais processos (Parsons, 1966, p. 305). O ponto de referência teórico para essa análise é o equilíbrio estável do processo social interativo. Uma vez que os fatores motivacionais desviantes estão atuando constantemente, os 1 Professor dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais e em Ciências Criminais da PUCRS. mecanismos de controle social não têm por objeto sua eliminação, apenas a limitação de suas consequências, impedindo que se propaguem além de certos limites (Parsons, 1966, p. 306). Existe grande relação, para Parsons, entre os processos de socialização e de controle social. Ambos consistem em processos de ajustamento a tensões. A partir da década de 60, o conceito de controle social foi reinterpretado pelo pensamento sociológico, no interior das novas teorias do conflito, para as quais a sociedade passa a ser compreendida como um campo de forças conflitual, em que se enfrentam diferentes grupos, com diversas estratégias de poder. Mas foi o interacionismo simbólico que, ao concentrar sua atenção sobre os aspectos definicionais da conduta humana e sobre a reação que provocam os distintos gestos significantes, produziu uma verdadeira “revolução científica” no âmbito dos estudos sociocriminológicos, provocando o deslocando do paradigma etiológico pelo paradigma do controle ou da reação social (Bergalli, 1991). Assumindo a perspectiva interacionista, Dias e Andrade (1991) sustentam que o estudo da seleção da criminalidade operada pelos mecanismos formais de controle social, e em particular pelos tribunais, deve privilegiar os conceitos e teorias de índole interacionista, permitindo captar a estrutura de uma ação eminentemente subjetiva como é a ação jurisdicional. Segundo estes autores, (...) não será, por isso, de estranhar que as teorias sociológicas que mais recentemente têm ensaiado enquadrar a acção jurisdicional - entre as mais credenciadas: teoria do papel, do grupo, da interacção simbólica, do domínio, do sistema, da organização, da decisão - sejam, todas elas, directa ou indirectamente subsidiárias da aparelhagem conceitual básica do interaccionismo. (Dias e Andrade, 1991, p. 519) O interesse dos estudos criminológicos, e em especial da sociologia criminal, se desloca da criminalidade para os processos de criminalização. O direcionamento da questão criminal para os processos de criminalização é reforçado pela análise materialista dialética, que lançou mão do instrumental metodológico marxista para compreender até que ponto a velha criminologia positivista e seus distintos objetos de conhecimento transmitiam uma visão ideologizada da criminalidade, e como o direito penal era o principal irradiador de ideologias sobre todo o sistema de controle penal. 26 Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo A partir de uma perspectiva conflitual da ordem social, o controle social passa a ser conceituado como o conjunto de mecanismos tendentes a naturalizar e normalizar uma determinada ordem social, construída pelas forças sociais dominantes (Pavarini e Pegoraro, 1995, p. 82). Essa concepção foi assumida por diversas correntes criminológicas, orientadas ora no sentido da erradicação do sistema penal tal como hoje se conhece, para voltar a formas privadas de solução dos conflitos, ora para uma restrição do sistema, através de estratégias de descriminalização e informalização, e outras ainda voltadas para a utilização do sistema para a proteção dos setores sociais vulneráveis. Essas orientações são representadas, respectivamente, pelo abolicionismo escandinavo (Mathiesen, Christie, Hulsman), pelo garantismo jurídico-penal (Baratta, Ferrajoli, Pavarini), e pelo realismo de esquerda britânico (Young, Lea, Matthews), que são as posições mais destacadas da criminologia crítica, e coincidem com uma sociologia do controle penal na revalorização de todos os níveis do sistema. 2. Níveis de realização do sistema de controle penal Os níveis de atuação das instâncias de controle social são dois: o ativo ou preventivo, mediante o processo de socialização; e o reativo ou estrito, quando atuam para coibir as formas de comportamento não desejado ou desviado. O nível reativo constitui o terreno concreto da sociologia do controle social, e se expressa por meios informais e formais. Os meios informais são de natureza psíquica (desaprovação, perda de status, etc.), física (violência privada), ou econômica (privação de emprego ou de salário). Nesse caso, as normas jurídicas atuam como limite para excluir alguns em determinadas circunstâncias. Já os meios formais de controle social reativo são constituídos por instâncias ou instituições especialmente voltadas para este fim (a lei penal, a polícia, os tribunais, as prisões, os manicômios, etc.), caracterizando o uso da coerção por instâncias centralizadas para manter a ordem social, legitimado pelo discurso do direito. Teoricamente sua atuação está prévia e estritamente estabelecida pelo direito positivo, nos códigos penais e leis processuais. Violência e segurança pública em uma perspectiva sociológica 27 Em sociedades que possuem uma organização jurídico-constitucional e um Estado de Direito, o controle penal é baseado na institucionalização normativa. O direito penal é constituído pelo conjunto de normas a partir das quais a conduta das pessoas pode ser tipificada e valorada em relação a certas pautas de dever. Nesse sentido, não há dúvida que as normas penais materiais e processuais configuram o sistema de controle jurídico-penal, embora sujeitas a descontinuidades, interrupções ou interferências quanto à sua aplicação. Para o exame das normas penais, é necessário esclarecer em que consistem e quais são os elementos que as compõem, bem como a inserção desse sistema normativo no conjunto de normas que integram uma estrutura ou ordenamento jurídico. Desde a positivação ou formalização do direito penal, esse nível constitui a preocupação central dos juristas, dando origem à teoria das normas penais. A chamada “ciência do direito penal” dedicou-se à análise lógico-formal das normas e do ordenamento, procurando tornar previsível a conduta do juiz que aplicará a norma e com isso alcançar o máximo de segurança jurídica, fundamento do Estado de Direito. Não logrou, no entanto, dar respostas decisivas sobre a origem ou gênese das normas penais, na medida em que a presença de uma norma penal em um momento concreto de uma sociedade dada deve ser buscada na individualização dos interesses e representações sociais que impulsionaram a criação da norma, e continuam sustentando sua presença no ordenamento jurídico respectivo. Uma compreensão metanormativa do direito que vá além da dogmática penal deve, portanto, partir da investigação sobre a gênese da norma e seu impacto nas relações sociais, desvelando o conteúdo de incerteza e imprevisibilidade por trás do ideal de segurança jurídica. O segundo nível de realização de um sistema de controle penal é o que envolve os momentos de aplicação concreta da legislação penal, isto é, sua eficácia. Enquanto a legitimidade de um sistema normativo diz respeito à correspondência das normas com os valores socialmente reconhecidos como justos em uma dada sociedade, e a legalidade corresponde ao juízo de fato que se emite sobre a existência formal das normas, segundo as formas e os procedimentos legalmente previstos, a eficácia é a capacidade das normas em 28 Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo encontrar uma efetiva aplicação na realidade, em relação a comportamentos concretos dos sujeitos a quem elas se dirigem. Para a análise da eficácia de determinada norma ou ordenamento jurídico, e em particular das normas penais, é preciso levar em conta o complexo de momentos em que se fragmenta o controle penal, articulado através da intervenção da polícia, do Ministério Público, dos juízes e tribunais e dos cárceres, que receberam da perspectiva interacionista a denominação de processos de criminalização. A superação do paradigma estático do estrutural-funcionalismo, promovida pelo labeling approach, abriu a possibilidade de uma visão e abordagem dinâmica e contínua do sistema penal, no qual é possível individualizar segmentos que vão desde o legislador até os órgãos judiciais e prisionais. Nessa perspectiva, os processos de criminalização promovidos pelo sistema penal se integram na mecânica de um sistema mais amplo de controle social e de seleção das condutas consideradas desviantes (Andrade, 1997, p. 210). Para a sociologia, a análise desse nível envolve não apenas o comportamento dos indivíduos cuja conduta está sujeita à aplicação das normas penais, mas fundamentalmente o comportamento daqueles que devem fazer cumprir os mandamentos e proibições penais, os operadores do sistema. Assim, uma sociologia jurídico-penal de caráter empírico deve levar em conta os aportes da sociologia das profissões e da sociologia das organizações, investigando a fundo as instâncias de aplicação das normas penais, desvelando os mecanismos que se movem no interior do aparato policial, judicial e penitenciário, democratizando o conhecimento a respeito do seu funcionamento para toda a sociedade (Bergalli, 1991, p. 36). 3. Direito e Controle Social no Estado Moderno O processo de formação do Estado moderno teve como elemento constitutivo característico o modo abstrato e formal que assumiu o discurso jurídico. O direito passa a ser considerado como um conjunto de regras gerais e abstratas, emanadas de um poder soberano, formando um sistema ou ordenamento jurídico, e não mais como um conjunto de pretensões e Violência e segurança pública em uma perspectiva sociológica 29 reivindicações particularistas, baseadas na tradição e em prerrogativas específicas. Durante o período que se estendeu da Baixa Idade Média até a Revolução Francesa, em que o Estado Moderno se consolidou, desenvolveu-se uma disputa política entre vários grupos sociais. No processo judicial, destacaram-se duas tendências: de um lado, a manutenção de jurisdições particularistas, de caráter local (as justiças das aldeias, vilas e cidades) e de caráter funcional (justiças especializadas de certas corporações); de outro lado, a par das disputas entre juízes letrados e juízes leigos, entre funcionários ou delegados reais e representantes de outros poderes locais ou senhoriais, desenvolveu-se uma definição crescente de regras procedimentais, relativas, inclusive, a provas e procedimentos de recurso, com o objetivo de racionalizar e uniformizar de tal modo o sistema judicial que os tribunais centrais pudessem exercer um poder centralizador (Lima Lopes, 1996, p. 247-248). O passo seguinte foi dado pelo estabelecimento do Estado liberal, no século XIX. Entre os séculos XVI e XVIII firmam-se os Estados nacionais, mas a vida social ainda se configura em torno de estamentos e categorias que impedem a universalização do direito de julgar uniformemente. O triunfo do Estado liberal traz consigo a promessa de universalização da cidadania: todos são iguais perante a lei, e a lei será uma só para todos. A partir daí, todos os conflitos podem ser universalmente submetidos a um único sistema de tribunais, com um único sistema de regras procedimentais desenvolvidas pouco a pouco. Do ponto de vista das instituições, o direito de julgar adquirido pelo Estado desenvolveu a profissionalização do direito, pela organização da burocracia estatal e especializada e pelo estabelecimento da força pública (polícia). O moderno Estado constitucional pode então ser visualizado como um conjunto legalmente constituído de órgãos para a criação, aplicação e cumprimento das leis. Ocorre a despersonalização do poder do Estado, que passa a fundar sua legitimidade não mais no carisma ou na tradição, mas em uma racionalidade legal, isto é, na crença na legalidade de ordenações estatuídas e no direito de mando dos chamados por essas ordenações a exercerem a autoridade (Weber, 1996, p. 172). Nesse tipo de Estado, a legitimidade deriva do fato de terem as normas sido produzidas de modo formalmente válido, com a pretensão 30 Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo de serem respeitadas por todos aqueles situados dentro do âmbito de poder daquele Estado. Entre as principais características desse tipo de Estado, está o controle centralizado dos meios de coerção. O Estado moderno se apresenta, assim, como um complexo institucional artificialmente planejado e deliberadamente erigido, que tem como característica estrutural mais destacada o monopólio da violência legítima, garantido pelo que Weber chama de um quadro coativo (Weber, 1996, p.28). O controle centralizado dos meios de coerção é fortalecido pela legitimidade que lhe confere a racionalidade jurídica, tornando a coerção mais tecnicamente sofisticada e exercida por um setor especializado do Estado. Essa característica constitui-se em um marco do que Elias denomina processo civilizador, com a adoção de formas mais racionais e previsíveis de instauração de processos e de punição pela prática de atos legalmente e previamente previstos como crimes 2. Embora reconheça que as relações de poder são sempre potenciais, instáveis e moleculares, Foucault identifica, tal como Weber e Elias, os mecanismos de racionalização que dão à máquina estatal a capacidade de governo sobre a sociedade. Para ele, no entanto, esse processo se desenvolveu através de dois polos interligados por um feixe intermediário de relações. O primeiro deles é o que se concentra no adestramento do corpo como máquina, no crescimento paralelo de sua docilidade e utilidade, na sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos, através de procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas. O segundo centrou-se no corpo-espécie, na natalidade e mortalidade, no nível de saúde, através de uma bio-política da população, do seu controle demográfico e atuarial (Foucault, 1999, p. 285 e seg.). Para Habermas, embora a compreensão formalista do direito, tomada como base de orientação por Weber, nunca tenha expressado de forma exata a realidade do fenômeno jurídico, a atualidade do diagnóstico weberiano não é fruto do acaso, uma vez que (...) a tese relativa à desformalização do direito comprovou-se como enunciado comparativo sobre uma tendência existente na 2 Sobre este tema, vide o Vol. 2 da obra O Processo Civilizador, de Norbert Elias, sobre a formação do Estado, em especial o capítulo II, “Sobre a sociogênese do Estado”, p. 87-190. Violência e segurança pública em uma perspectiva sociológica 31 autocompreensão e na prática dos especialistas em direito. (Habermas, 1997, p. 204) Segundo ele, o debate atual sobre a "desformalização" do direito toma Weber como ponto de partida, (...) pois seu questionamento da racionalidade da forma do direito visava medidas para um direito ao mesmo tempo correto e funcional. Nesta medida, sua discussão ajuda a entender os problemas que envolvem a legitimidade decorrente da legalidade. (Habermas, 1997, p. 206). Correspondendo, como paradigma teórico, aos modernos Estados liberais, a doutrina do direito como conjunto orgânico e universalmente válido de normas institucionalmente reconhecidas é progressivamente minada, com o avanço da providência estatal, por tentativas de adequar a regulamentação legal e a sua implementação pelas instâncias judiciais a um contexto no qual emergem discursos normativos rivais e se exige do Estado a execução de funções crescentemente político-administrativas. A concentração de poder nas mãos do Estado, a complexificação da sociedade e a regulamentação legal de setores cada vez mais amplos da vida social, culminam, nas sociedades urbano-industriais contemporâneas, com a crise de legitimidade de uma ordem baseada em um discurso jurídico esvaziado, paralela e simultaneamente à crise fiscal do Estado-Providência. Começam a aparecer as fissuras nesse aparato que ainda sustenta sua legitimidade em uma legalidade abstrata, constituída de acordo com normas gerais e apropriadamente promulgadas. Isso ocorre porque algumas premissas da racionalidade legal começam a ser minadas ou desgastadas (a divisão de poderes, a supremacia e generalidade da lei, etc.), frente à concentração de expectativas no polo do Poder Executivo, e dos recursos limitados de que dispõe para garantir a estabilidade social e a acumulação de capital. Além disso, na medida em que se desgasta a crença na naturalidade das hierarquias de poder ou de distribuição de riqueza existentes, a atividade governamental (inclusive a judicial) passa a depender cada vez mais de suas consequências em termos da satisfação de interesses fracionários, e a linha 32 Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo divisória entre Estado e sociedade civil começa a se tornar cada vez mais difusa, aumentando a influência e a pressão sobre as políticas governamentais e as decisões judiciais por diferentes grupos sociais, que se rebelam contra a estrita observância de normas processuais e legais. A renovação das fontes de legitimidade do Estado é, então, buscada na sua capacidade em promover o desenvolvimento industrial e o crescimento econômico, vistos como padrão necessário e suficiente para o desempenho de cada Estado, e na garantia da efetividade dos mecanismos formais de controle social para a manutenção da ordem, justificando com isso deslocamentos na linha Estado/Sociedade Civil (Poggi, 1981, p.140). A busca de prosperidade interna, como um fim em si mesmo, e a manutenção da ordem pública, tornam-se as principais justificações para a existência do Estado, e a sua fonte de legitimidade, sobrepondo-se à mera racionalidade jurídico-legal. Depois de uma fase ininterrupta de prosperidade econômica, desde o final da Segunda Guerra, que consolida o keynesianismo como política econômica de governo nas democracias liberais do Ocidente, o choque do petróleo, nos anos 70, e a crise fiscal da maioria dos Estados industrializados, aprofundou o predomínio da racionalidade instrumental sobre o ideário iluminista. Num primeiro momento, a partir do final da década de 70, o Estado passa a ser totalmente dominado pela força e os interesses da globalização capitalista. É a fase áurea do neoliberalismo, representada pelos governos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, na qual foi implementada uma ampla reestruturação produtiva nos principais centros industriais do mundo capitalista. A partir desse momento, em termos de política criminal, se fortalecem e disseminam as tendências paleorepressivas de criminalização e encarceramento, que nos E.U.A. resultaram em um crescimento geométrico da população submetida ao sistema prisional, que era de 200.000 presos na década de 70 e 30 anos depois chega a quase 2 milhões de pessoas, correspondendo a 800 presos para cada 100 mil habitantes. 4. A situação da Segurança Pública no Brasil Historicamente no Brasil as Universidades têm tido muita dificuldade para estabelecer uma agenda de pesquisa sobre a temática da segurança pública e do Violência e segurança pública em uma perspectiva sociológica 33 controle de violência, por uma série de fatores que tem a ver com a distância que, no Brasil, existe tanto entre os diferentes atores sociais que atuam nessa área – policiais, integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público – , mas também pelo fato de que a Universidade no Brasil, pela sua estrutura, pelos seus objetivos, pelas suas finalidades, teve sempre uma dificuldade muito grande de lidar com os problemas que afetam mais diretamente as populações de baixa renda. Essa dificuldade vem sendo superada nos últimos anos pela iniciativa de alguns pesquisadores da área da violência e da segurança pública, que ao realizarem suas pesquisas não têm apenas uma preocupação acadêmica, têm também uma preocupação em contribuir de alguma forma para o equacionamento desse problema social, com o incremento de mecanismos de elaboração, monitoramento e avaliação das políticas públicas de segurança. Temos na área da segurança pública no Brasil uma situação bastante paradoxal. Trata-se de uma combinação perversa entre elementos que vêm do medievo – o sistema penitenciário – e elementos de pós-modernidade. Essa combinação é perversa porque justamente o que caracteriza o que chamo de pósmodernidade no âmbito penal são algumas propostas que se vinculam às políticas de “tolerância zero” contra a criminalidade, maior intervenção punitiva contra pequenos delitos, a utilização do direito penal como remédio e solução para todos os problemas sociais, com a ampliação dessa intervenção pelo legislativo, abarcando todas as áreas nas quais se manifestam problemas sociais: meio ambiente, trânsito, conflitos interpessoais, relações de consumo, etc. Outro elemento desse contexto de pós-modernidade penal é o chamado “direito penal do inimigo”, a ideia de que para aumentar a eficiência dos mecanismos de controle penal é preciso reduzir garantias dentro do processo penal. Vale lembrar a velha máxima de que a “polícia prende e o judiciário solta”, uma forma de questionar a intervenção do judiciário, porque se pretende que o judiciário também adote uma forma de atuação mais repressiva e menos preocupada com a garantia de direitos fundamentais do acusado. Observando as taxas de encarceramento no Brasil, verificamos o enorme crescimento ocorrido na última década, que faz com que tenhamos hoje nos cárceres brasileiros 460 mil presos (no final dos anos 90 a população carcerária no Brasil estava em torno de 150 mil presos). Levando em conta os dados gerais 34 Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo do sistema carcerário, o que mais cresce é a utilização da prisão preventiva, ou seja, pessoas que estão presas sem uma condenação criminal, e que representam hoje 43% do total de presos no país. Outro elemento da pós-modernidade penal é o modelo RDD (Regime Disciplinar Diferenciado), ou seja, a ideia de que como a ressocialização não acontece, como não se consegue reintegrar socialmente, embora seja esse o propósito do encarceramento do ponto de vista das disposições legais e constitucionais, o papel da prisão seria simplesmente de contenção e não mais a recuperação ou a reinserção do indivíduo na vida social. Todas essas características são novas. Se formos pensar há 10 ou 20 anos atrás, na mentalidade social e na mentalidade dos operadores do direito, mesmo durante o período autoritário, estava ainda distante dessas características elencadas aqui. No entanto, é possível afirmar também que o Estado brasileiro não é um bloco monolítico. E também não são monolíticas as instituições policiais, o Ministério Público, a Magistratura. Em todas as corporações existem diferentes formas de intervenção. O discurso dos direitos humanos, reiteradamente apresentado, há mais de 10 anos, desde a Constituição de 88, enquanto discurso oficial, e o fato de que ano após ano, são elaborados planos, programas, projetos de segurança pública e direitos humanos incorporando todo o ideário presente na Constituição, nos remetem à pergunta: por que a maioria dessas questões fica no papel? Por que ano após ano, apesar do discurso oficial, continuam as chacinas, os homicídios, continuam todos os problemas que afetam o campo da segurança pública? É inquestionável que isso tem relação com a nossa estrutura social, com a situação de desigualdade social que ainda marca a sociedade brasileira. Sem dúvida que essas questões estruturais têm um peso importante, mas quando se fala em segurança pública é possível sustentar também que as coisas poderiam ser diferentes, mesmo se tudo o que acontece em termos de estrutura social e de educação não avançasse, nós poderíamos avançar um pouco mais na área de segurança pública se algumas coisas fossem encaminhadas, se os mecanismos de gerenciamento das agências envolvidas com a segurança fossem melhor utilizados. Violência e segurança pública em uma perspectiva sociológica 35 Mas, em primeiro lugar, o aperfeiçoamento gerencial e institucional não é tão simples, porque há diferenças entre os juízes, entre os promotores, entre os policiais, entre as pessoas que atuam nessa área: diferenças de concepção. Há no interior das instituições uma visão que é mais vinculada a ideia de que para haver segurança é preciso abrir mão de direitos, é preciso reduzir a margem de garantias individuais. Está presente nas pesquisas que tem sido feitas com operadores do direito e é perceptível no contato com policiais civis e militares, nos cursos de especialização em segurança pública promovidos por diversas universidades brasileiras em parceria com a SENASP. Há na verdade uma divisão no interior das instâncias de poder do Estado brasileiro e no interior dessas diferentes corporações, sendo que de um lado está o discurso republicano da garantia dos direitos humanos com segurança pública, mas de outro há ainda uma concepção que se conecta com parcelas importantes da opinião pública no Brasil, no sentido do endurecimento penal, de mais prisões, de presos em condições precárias, sem garantias individuais básicas. Discurso que se manifesta muitas vezes pela defesa da pena de morte, da redução da idade penal, dos direitos humanos só para “humanos direitos”. Para que se coloquem em prática as declarações programáticas e as previsões legais, é preciso enfrentar essa questão de que estamos lidando com diferentes concepções, diferentes paradigmas. E que o paradigma hoje dominante é o do endurecimento penal como resposta ao problema da violência, do crime e da insegurança pública. Nunca como hoje houve tanta gente presa. Nunca como hoje, no mundo, o sistema penal teve o papel que ele tem no sentido de que o Estado recua no campo dos direitos sociais, mas avança no campo da criminalização e do encarceramento. É preciso construir outro modelo de enfrentamento da violência e da criminalidade tanto no plano do debate teórico e normativo, quanto no dia a dia, no cotidiano. É preciso construir experiências concretas. A desconstrução do paradigma dominante ainda é uma tarefa necessária. Ainda é necessário mostrar a cada dia que prender não resolve. Pelo contrário, prender cria novos problemas e, portanto, é preciso afirmar isso. Mas é preciso ir além. É preciso apresentar soluções. Esse é o grande desafio. É preciso pensar sobre as polícias. Não há democracia sem polícia democrática. É preciso continuar a construção de uma 36 Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo polícia para a democracia, que seja técnica e gerencialmente preparada, voltada para a resolução de problemas, capaz de combater a truculência policial, de combater a corrupção interna, porque só dessa forma a polícia será respeitada pelo cidadão. Por outro lado, precisamos avançar na discussão sobre a prevenção ao delito. É preciso construir os mecanismos adequados para uma prevenção eficaz da criminalidade. Isso passa pela inclusão social para a juventude, programas de melhorias do ambiente urbano, políticas de redução das oportunidades para o crime, recolhimento e controle de armas, discussão sobre o controle da bebida alcoólica, tema polêmico, porque na verdade a forma como isso vai ser colocado em prática deve ser sempre bem pensada e feita de acordo com um debate, um processo político com a participação da comunidade, não como uma determinação que vem de cima para baixo, imposta. Precisamos pensar algumas coisas que vão tocar diretamente o sistema de justiça, porque muitos conflitos chegam ao poder judiciário, e dentro do poder judiciário precisarão ser equacionadas. As reformas da justiça, especialmente da justiça penal, tem que ser bem avaliadas, porque o sistema penal tem que se colocar enquanto mecanismo de pacificação social, de melhoria das condições de vida e segurança da população, coisa que até hoje ele não foi. Ao contrário, o sistema penal brasileiro, até hoje, foi um sistema criminógeno e voltado à sujeição criminal dos setores sociais mais vulneráveis e tidos como perigosos. Por fim, temos que pensar sobre o problema do encarceramento no Brasil. É preciso pensar a prisão a partir da perspectiva da redução de dano, porque a prisão causa dano. Temos hoje 460 mil presos, e mesmo que boa parte deles seja composta por presos provisórios, ou presos que já teriam o direito de progredir de regime, ainda assim não temos o poder de esvaziar as prisões brasileiras. A tendência é, pelo contrário, aumentar a demanda de encarceramento. Mas o Estado, caso pretenda exercer seu poder punitivo, precisa garantir também as condições carcerárias estabelecidas em lei. Sem dúvida é possível descartar a prisão como alternativa eficaz para o controle do crime, na grande maioria dos casos. Mas no momento o que nós temos são 460 mil presos, e menos de 250 mil vagas no sistema. Isso não é aceitável. O Estado Violência e segurança pública em uma perspectiva sociológica 37 Brasileiro precisa investir e garantir condições carcerárias até que se rediscuta o modelo punitivo até hoje adotado. Entra aí o debate da descarcerização. Quem está nas prisões brasileiras? O sistema prisional brasileiro é composto por 40% de presos por tráfico e 40% por roubo. Esta é a porta de entrada do sistema prisional: o pequeno vendedor de drogas é que vai preso e a pessoa que está numa situação economicamente vulnerável em meio urbano e que vai roubar e ser encarcerado. O pequeno praticante desse tipo de delito vai preso e a primeira coisa que ele tem que fazer na prisão é entrar para uma facção. Se até então ele não pertencia a facção nenhuma, a partir dali passa a fazer parte de uma e vai estabelecer relações que vão garantir sua verdadeira reinserção social, porque vão garantir uma renda e uma aceitação que a sociedade não vai lhe oferecer. O pequeno traficante e o assaltante eventual vão se tornar a mão de obra de que a criminalidade precisa para a prática de crimes maiores. Além disso, precisamos pensar num outro modelo para o tratamento das questões que chegam ao sistema penal, como deveriam ser os Juizados Especiais Criminais. Eles faliram, e a Lei Maria da Penha é a demonstração cabal dessa falência. Os delitos contra a mulher e a violência doméstica, que chegavam aos Juizados Especiais Criminais, agora não chegam mais. Na prática não se conseguiu implantar, de fato, aquilo que era sustentado em 1995, quando a lei foi criada. Essa falência se deu por problemas na lei e por problemas com os operadores do direito, ao não se conseguir abrir espaço no âmbito do sistema de justiça para a mediação de conflitos. A mediação não aconteceu porque os operadores do direito não trabalharam no sentido de uma mediação penal. O que poderia ter avançado não avançou e o que ocorre nos Juizados é um processo muito mais formal do que real de enfrentamento dos conflitos sociais, o que acabou levando ao descontentamento das vítimas, levando a uma série de problemas que fizeram com que a experiência dos Juizados Especiais Criminais esteja numa situação de impasse, a partir da entrada em vigor da lei Maria da Penha. Outra questão relevante diz respeito às penas alternativas, porque embora nós estejamos no âmbito do sistema penal, é possível pensar nesses mecanismos como mecanismos inclusivos e não de exclusão social. Incluir 38 Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo dignamente pela prisão é um desafio na prática inalcançável. Incluir por meio de uma pena alternativa sabemos que é possível, como demonstra a experiência da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre, com importantes resultados alcançados nessa perspectiva de incluir socialmente uma população que é vulnerável e que tem dificuldade de se conectar socialmente. Fato é que todos estes desafios dizem respeito a uma revolução democrática da justiça no Brasil, que redirecione a estrutura e os esforços de milhares de operadores do sistema de segurança pública e justiça criminal para objetivos diversos do foco até agora direcionado para a “manutenção da ordem pública”. Uma estrutura policial capaz de estabelecer vínculos com a comunidade e atuar na resolução de conflitos cotidianos, e de realizar a repressão qualificada da criminalidade violenta, e um sistema de justiça capaz de colocar-se perante a sociedade enquanto um canal legítimo e adequado para a mediação dos conflitos sociais são a exigência colocada para que possamos avançar no sentido da redução da violência e da garantia de direitos no Brasil. Referências Bibliográficas ANDRADE, Vera Regina Pereira. A Ilusão de Segurança Jurídica. Porto Alegre, Livraria do Advogado Ed., 1997. BERGALLI, Roberto. Sociology of Penal Control Within The Framework of The Sociology of Law. Oñati Proceedings nº 10, I.I.S.L.,1991, p. 25-45. DIAS, J.F.; A NDRADE, M.C. Criminologia: o homem delinqüente e a sociedade criminógena. Coimbra, Ed. Coimbra, 1992, 1ª reimpressão. ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador vol. 2 - Formação do Estado e Civilização. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1993 (trad. Ruy Jungamnn e Renato Janine Ribeiro). FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999. HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia Vol. II - Entre Facticidade e Validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997 (trad. Flávio Beno Siebeneichler). LIMA LOPES, José Reinaldo de. Uma Introdução à História Social e Política do Processo. In Wolkmer, A.C. (org.), Fundamentos de História do Direito. Belo Horizonte, Ed. Del Rey, 1996. Violência e segurança pública em uma perspectiva sociológica 39 PARSONS, Talcott. El Sistema Social. Madrid, Editorial Revista de Occidente, 1966. PAVARINI, Massimo ; PEGORARO, Juan. El Control Social en el Fin del Siglo. Univ. de Buenos Aires, Buenos Aires, 1995. POGGI, Gianfranco. A Evolução Do Estado Moderno - Uma Introdução Sociológica. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1981 (trad. Álvaro Cabral). ROSS, Edward Alsworth. Social Control - A survey of the foundations of order. The Press of Case Western Reserve University, Cleveland, 1969. WEBER, Max. Economia Y Sociedad - Esbozo de sociología comprensiva. México, Fondo de Cultura Económica, Segunda Edição, Décima Reimpressão, 1996 (trad. José Medina Echavarría et. alii). 40 Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo Sociedades complexas e políticas públicas Hermílio Santos * Introdução As políticas públicas constituem um dos principais resultados da ação do Estado. Contudo, algumas questões se impõem: por um lado, devemos nos perguntar se o Estado possui a legitimidade necessária para produzir efeitos no processo de políticas públicas. Com um mundo cada vez mais globalizado economicamente, o que significa dizer com atores institucionais do mercado cada vez mais potentes politicamente, e com uma sociedade civil que se diversifica tanto na sua agenda quanto na quantidade de atores relevantes, é previsível que esse cenário represente algum desafio adicional às tarefas estatais relacionadas à formulação e implementação de políticas. Por outro lado, relacionado a esse contexto, aumenta o interesse em saber como se dá a relação entre os agentes estatais e demais atores não estatais, seja do mercado, seja da sociedade civil, na produção dessas políticas. Assistimos, nas últimas décadas, em praticamente todas as democracias contemporâneas, a um processo relativamente rápido de transferência de ativos controlados pelo Estado para as mãos dos agentes do mercado. Essa realidade deixou ainda mais evidente o fato de a autoridade separar-se institucionalmente da propriedade, como já observou Przeworsky (1995). Essa separação crescente provoca não apenas uma redução na capacidade de intervenção do Estado, como também uma fonte adicional de tensão entre as principais esferas da sociedade. Assim como o caminho não está desimpedido para que os proprietários de capital definam os conteúdos das políticas, tampouco o Estado está em condições de implementar as políticas que mais lhe convém, sem qualquer pressão externa. A razão para isso, já bastante explorada por Przeworky (op. cit.), é que, no capitalismo, a capacidade de formular e implementar não necessariamente andam juntas, por dois motivos: por um lado, os governantes podem contar com a capacidade institucional de * Doutor em Ciência Política pela Freie Universität Berlin, professor do Programa de PósGraduação em Ciências Sociais da PUCRS. estabelecer seus próprios objetivos, mas podem encontrar obstáculos na implementação, devido à estrutura da economia, uma vez que a propriedade privada do capital implica que o Estado não comanda sozinho o investimento. Por outro lado, se o Estado possui a capacidade de intervir na economia, os agentes econômicos têm motivos suficientes para tentar se envolver com as políticas do Estado, já que serão afetados diretamente. Nesse sentido, quanto maior a capacidade do Estado de implementar suas preferências, menor tende a ser sua capacidade de formular políticas de forma independente. Ao lado desse incremento da capacidade de atuação política dos atores econômicos, tem-se verificado, no Brasil, a consolidação de atores sociais como atores políticos relevantes, como bem expressam os trabalhos de Leonardo Avritzer (1994) e Sérgio Costa (2002), dentre outros. Embora esses autores não coloquem em primeiro plano a capacidade de atores da sociedade civil de intervir diretamente na formulação de políticas públicas, as pesquisas empreendidas, por ambos, ajudam a entender a pressão a que estão submetidos os agentes estatais, de um lado para minimizar seu “insulamento”, de outro lado, para não se tornarem reféns de interesses econômicos robustos. Não há dúvida, contudo, que sempre haverá o risco desses interesses sociais se transformarem em mais um “cliente” do orçamento público, por meio das políticas governamentais, quando eles próprios se tornam objeto de tais políticas. O que importa aqui, no entanto, é perceber que os atores governamentais estão expostos cada vez mais a variadas frentes de negociação quando se trata de executar aquilo que, como foi dito, constitui um dos principais resultados de sua ação, que são precisamente as políticas públicas. A seguir, pretendo esboçar mais claramente os contornos desse processo de complexificação e, em seguida, expor as implicações sociais para a formulação e implementação de políticas públicas. Contextos sociais complexos Um dos aspectos centrais na interpretação das sociedades complexas fornecida por Talcott Parsons (1959) é a importância que ocupa as instituições na diferenciação dos contextos sociais, contribuindo assim para o equilíbrio e a coesão sociais, o que, segundo Parsons, seria condição indispensável para o 42 Hermílio Santos desenvolvimento das sociedades modernas. De acordo com Parsons, à medida em que as sociedades se tornam mais complexas ocorre uma diferenciação e especialização institucional, ou seja, as instituições existentes se tornam responsáveis por determinadas “funções” necessárias à persistência de uma determinada sociedade. Caso as instituições existentes em determinada sociedade não sejam capazes de satisfazê-las verificar-se-ia o surgimento de novas instituições, caso contrário, o equilíbrio e a sobrevivência dessa sociedade estariam ameaçados. Essa abordagem sistêmica, bastante difundida e influente até meados do século XX, está na origem de parte das abordagens neoinstitucionalistas, que têm atraído a atenção de um número crescente de estudiosos na sociologia, na ciência política e na economia. Assim como na abordagem parsoniana (Parsons, 1967), a interpretação neoinstitucionalista considera que as dinâmicas organizacionais não são determinadas exclusivamente ou principalmente pelos processos internos ou por sua estrutura formal. Ao lado dessas variáveis, o ambiente externo, ou seja, o contexto social no qual está inserido uma organização, assim como as demais organizações existentes, não importa quão distintas sejam, constitui um elemento indispensável para se compreender o que ocorre no interior das organizações. Isso explica, em parte, o isomorfismo institucional, que tem origem seja na regulamentação do Estado (isomorfismo coercitivo), seja na imitação de modelos de sucesso (isomorfismo mimético), seja ainda na profissionalização (isomorfismo normativo) (DiMaggio e Powell, 1991). 1 Parsons (1974) concebe as sociedades complexas como sendo compostas por quatro subsistemas (economia, político, socialização e comunidade societária), sendo que cada um deles teria uma função a cumprir. A cada um dos quatro subsistemas societários, Parsons (1959) identifica características e funções específicas, assim como instituições correspondentes. A economia é caracterizada pelas atividades de produção e circulação de bens de consumo; dessa forma, sua função é precisamente a de dar à sociedade a capacidade de adaptação, indispensável à sobrevivência e desenvolvimento de qualquer coletividade. Ao mesmo tempo, as sociedades ocidentais fizeram com que a 1 O neoinstitucionalismo tem atraído cada vez mais a atenção também de pesquisadores brasileiros. Para uma ótima interpretação do sistema de inovação brasileiro a partir dessa abordagem teórica, ver Campos, 2003. Confira também Rocha, 2005. Sociedades complexas e políticas públicas 43 complexificação dessa função se fizesse acompanhar pela consolidação, ou o surgimento, de instituições próprias para o fim de realizar a adaptação exigida. É o caso das empresas privadas e do surgimento das bolsas de valores, instituições típicas do que se convencionou chamar “mercado”. O mercado é uma esfera de socialização em que concorre uma pluralidade de interessados na troca e nas possibilidades advindas dessa troca (Weber, 1999). Na formulação de Dahrendorf (1974), bastante próxima daquela de Weber, o mercado é concebido como: um lugar de troca e competição, onde todos os presentes fazem o possível para aumentar sua própria fortuna. (...) As decisões são tomadas, naturalmente, mas só com o propósito de salvaguardar o funcionamento do mercado, isto é, a definição e a imposição das regras do jogo (Dahrendorf, 1974, 247). Convém fazer uma breve referência histórica à constituição desse espaço, o mercado. Braudel (1987) resume o longo percurso evolutivo, entre os séculos XV e XVIII, pelo qual passou a economia do Ocidente, em que as cidades ganham maior destaque, as trocas de mercadorias no âmbito internacional vão ocupando espaço, tomando um vulto ainda maior com a inclusão de produtos vindos da América, até chegar ao século XVIII, o qual assiste a um amadurecimento dos instrumentos de troca. A característica própria do mercado seria estabelecer um vínculo estreito entre a produção e o consumo, não de um único produtor ou de poucos que se conhecem e interagem a partir de seus produtos, mas, sobretudo, entre produtores e consumidores que se localizam em regiões distintas, produzindo bens distintos, estranhos uns aos outros. Essa impessoalidade, própria da economia de mercado, ainda viria a se tornar a maneira por excelência através da qual as pessoas interagem. Mas até o século XVIII a economia de mercado, mesmo presente em várias regiões, ainda não havia dominado toda a Europa; falta a ela, como afirma Braudel, espessura. Essa espessura viria não apenas quando o mercado se alastrou geograficamente – quando deixa de dominar apenas Cidades-Estado, criando mercados nacionais –, mas, sobretudo, quando a elite daqueles que controlavam o mercado alcançou visibilidade e poder político. Pela primeira vez, nos séculos XVIII e XIX, o mundo 44 Hermílio Santos passou a estar integrado na coordenação e uso dos recursos existentes no mundo. Ao compreender o mercado como um local de encontro com o objetivo da permuta ou da compra e venda, Polanyi (2000) afirma que as relações sociais estão subordinadas ao sistema econômico de tal maneira que apenas numa sociedade de mercado faz sentido a referência a uma economia de mercado. Mas de que maneira as relações sociais estão subordinadas à economia de mercado? É precisamente o mercado que propicia a socialização entre pessoas que antes não estavam impelidas à interação. É precisamente essa a particularidade da nossa época, ter no mercado o espaço de socialização entre estranhos em sociedades que se tornaram mais complexas através da mobilidade social. Se no mercado há uma incerteza baseada nas opções futuras dos concorrentes, no planejamento, ao contrário, o funcionamento do processo de alocação é previamente determinado. Para Hayek (1961), somente o mercado é capaz de oferecer espaço à liberdade, entendendo a liberdade como a condição do ser humano na qual a coerção de alguns sobre outros é reduzida tanto quanto possível. A coerção seria aquilo que se sofre em função de outrem e implica não apenas a possibilidade de provocar um dano, como também à intenção de induzir uma determinada conduta. Um indivíduo sob coerção não é aquele desprovido de suas faculdades mentais, mas sim aquele que se encontra privado da possibilidade de utilizar seus conhecimentos e recursos para alcançar seus próprios objetivos. Da mesma maneira, o controle dos elementos essenciais para a ação de um indivíduo por outrem é demonstração clara da existência de coerção. Hayek (1961) tem no sistema de mercado o ponto de partida para o exercício da vida sem coerção. Porém, afirma Hayek, em uma sociedade moderna, entretanto, o requisito essencial para a proteção do indivíduo contra a coerção não é a posse de propriedade, mas o fato de os meios materiais, que lhe permitem seguir qualquer plano de ação, não devem estar totalmente sob o controle exclusivo de outro agente (1961, 259). Aqueles desprovidos de propriedade encontram no Estado o refúgio para a garantia de sua vida; o Estado seria também proteção e alongamento do campo de escolha livre do indivíduo. Porém, o Estado deve garantir tanto a propriedade Sociedades complexas e políticas públicas 45 daqueles que a possuem quanto a vida e os bens básicos necessários à vida de todos. O limite da coerção empregada pelo Estado estaria em manter esse equilíbrio, de maneira a garantir aos indivíduos a possibilidade de desenvolver suas atividades de forma “coerente e racional”. Hayek parece admitir com isso que não existe uma sociedade ordenada pura e exclusivamente pela racionalidade do mercado. Na mesma direção, Dahrendorf (1974) afirma que para que as regras do jogo, próprias da racionalidade de mercado, sejam efetivamente válidas, é fundamental a existência de algum mecanismo compensatório, mecanismo este que não é outro senão as normas substantivas, próprias da racionalidade do planejamento. Essa compensação pode ser ilustrada pela introdução de direitos sociais como suplemento aos direitos civis e políticos. Voltando à caracterização oferecida por Parsons, temos na socialização a instância responsável pela interiorização da cultura, ou seja, todo e qualquer espaço onde se processa atividades educadoras, como a família e a escola, mas também os meios de comunicação. É nessa esfera que se dá a internalização dos valores de uma determinada sociedade. Outra esfera (ou subsistema em termos parsonianos), a comunidade societária, é responsável pela integração. Aqui devem ser localizadas analiticamente as instituições que estabelecem e mantêm as solidariedades, pois é “formada pelo conjunto dos laços que unem os atores de uma sociedade, que os tornam solidários, dependentes uns dos outros e que asseguram uma coesão pelo menos relativa do conjunto coletivo que eles compõem” (Rocher, 1976: 30). Empiricamente, a comunidade societária deve ser reconhecida nas “instituições, classes sociais, organizações, movimentos sociais, grupos de pressão que reúnem e ligam os membros de uma sociedade e através dos quais defendem seus interesses, satisfazem seus desejos, realizam seus objetivos” (Rocher, 1976: idem). Por outro lado, o subsistema político procura realizar os objetivos coletivos, bem como a mobilização de atores e recursos para tais objetivos. As instituições próprias do Estado, como o governo, devem ser entendidas como responsáveis por essa função, qual seja a consecução de objetivos. Segundo Parsons, os quatro subsistemas da sociedade economia, político, socialização e comunidade societária estão vinculados por uma rede em que circulam quatro meios de troca: moeda, poder, influência e compromisso. Para o 46 Hermílio Santos equilíbrio de uma sociedade é imprescindível haver um fluxo contínuo nesse sistema de trocas, em que todos os membros da sociedade possam contribuir, mesmo que não necessariamente de maneira simétrica. O rompimento desse fluxo ou seu mau funcionamento pode acarretar problemas sociais dos mais graves. Por exemplo, comunidades locais marginalizadas, além de sofrer as já conhecidas limitações de caráter material, estão igualmente afetadas por essa limitação no processo do sistema de trocas. Uma consequência bastante previsível é haver uma descontinuidade simbólica entre sociedade e comunidade, em que os valores correntes na sociedade estão presentes na comunidade apenas de maneira frágil, ou seja, sem que a própria comunidade possa contribuir para seu desenvolvimento. A partir dessa análise estrutural-funcionalista de Parsons, podemos agora apresentar de maneira mais explícita o que corresponderia a um contexto social complexo. Haveria aqui um equilíbrio entre os diferentes subsistemas, com funções e instituições diferenciadas. Trata-se de um contexto bastante complexo, caracterizado ao mesmo tempo pela diferenciação e integração de suas estruturas e funções. Empiricamente, significa contar com um mercado funcionando sem grandes restrições, ou pelo menos que tais restrições não impliquem uma inaceitável intromissão do Estado. Esse equilíbrio implica, por outro lado, que o papel do Estado não seja exercido com uma “contaminação” excessiva por parte de interesses privados. Ao mesmo tempo, numa tal realidade típico-ideal democrática, as instituições da comunidade societária e aquelas responsáveis pela socialização terão liberdade de ação sem estarem “colonizadas” nem pelo mercado nem pelo Estado. Como se vê, trata-se de um equilíbrio improvável, mas que, para efeitos analíticos, pode ser útil para localizar as sociedades existentes em algum ponto, seja se aproximando ou se distanciando de tal equilíbrio. A questão relevante que deve se colocar a essa altura é saber de que maneira, diante de um contexto social tão diversificado, as políticas públicas são formuladas e implementadas. Sociedades complexas e políticas públicas 47 Políticas públicas em contextos sociais complexos Diante da alta complexificação das sociedades contemporâneas, marcadas por um contexto institucional cada vez mais diferenciado, ocorre não uma dispersão ou fragmentação institucional. Ao contrário, tal diferenciação tem sido acompanhada por um grau crescente de interação e intercâmbio entre as distintas instituições. Essa interação tem provocado um novo tipo de atuação das organizações, que tem sido conhecido como rede (Castells, 2000), que implica numa flexibilização da organização vertical, combinando-a com uma atuação horizontalizada, ou seja, em cooperação ou intercâmbio com outras organizações. Alguns autores, como Marin e Mayntz (1991), ao analisarem um tipo específico de rede, como as redes de políticas públicas, chamam a atenção para o fato de que essas não podem ser definidas unicamente através de sua interação interorganizacional, mas também pela sua função, a saber, a formulação e implementação de medidas, na qual é identificada a presença de redes – através da observação de atores que participam das negociações e consultas antes que as decisões sejam tomadas –, essas se concentram em temas setoriais ou específicos (como, por exemplo, no apoio ao desenvolvimento de novas tecnologias), em que se observa uma relação de interdependência entre elas. Por rede de políticas públicas entende-se a caracterização geral do processo de formulação de políticas na qual membros de uma ou mais comunidades de políticas estabelecem uma relação de interdependência. Essa concepção do processo de formulação de políticas públicas tem como pano de fundo uma compreensão da sociedade em que diferentes atores interagem de uma maneira relativamente descentralizada. Isso significa que as políticas públicas são o resultado de uma complexa interação entre agências estatais e organizações não estatais. Rejeita-se com isso a abordagem que parte do Estado como o único ator relevante nesse processo. A iniciativa para que um tema seja objeto de política pública pode ser tomada não apenas pelo Estado, mas também por agentes não estatais. Aqui se estabelece uma distinção marcante entre a formulação de políticas através de rede de políticas públicas, de um lado, e através de dirigismo estatal, por outro lado. A formulação via rede não se baseia em comando e ordem, mas em negociação e intercâmbio. Esse 48 Hermílio Santos intercâmbio não significa, contudo, que todos os atores se beneficiem igualmente da relação daí decorrente ou que exista simetria quanto aos recursos (capital, conhecimento, capilaridade social, legitimidade pública, etc.) acumulados por cada um desses atores. Ao contrário do que possa parecer, o Estado envolvido no processo de políticas públicas através de rede não é um Estado prisioneiro e fragilizado em sua ação. Trata-se de um Estado que perdeu suas pretensões de dirigismo, mas que não abdicou de seu papel de formulador e implementador de políticas. Entretanto, esse papel tradicional passa a ser combinado com uma nova maneira de processar as demandas, a saber, quando atores não estatais passam a estar incluídos, ex ante, na identificação de problemas e na proposição de soluções, inclusive com alguns desses atores assumindo parcela da responsabilidade em sua implementação. A figura 1, abaixo, ilustra a constituição de redes de políticas públicas. Note-se que a posição dos atores é determinada pela intensidade de contatos estabelecidos por cada um deles. Aquelas instituições localizadas mais ao centro são precisamente as que, nesse caso específico, ocuparam um papel mais relevante (Schneider, 2005: 44). Cabe chamar a atenção para o fato de que o posicionamento dos distintos atores relativamente aos demais atores representados na figura não é fixo. Ao contrário, esse posicionamento é dinâmico, determinado em razão do envolvimento dos atores em torno de temas específicos, como é o caso da reforma do setor de telecomunicações na Alemanha. Esse tipo de representação é bastante útil para tornar visível precisamente a estrutura sistêmica de articulação de atores institucionais posicionados em distintas esferas da sociedade. Além disso, permite concluir que a posição de um ator específico, na rede, não depende exclusivamente do seu acúmulo de recursos financeiros, mas em grande medida do seu interesse sobre um tema específico que seja objeto de articulação dos atores em rede. A posição de cada um dos atores depende, também, da capacidade de estabelecer contatos com os demais atores relevantes. Sociedades complexas e políticas públicas 49 Governo e Administração Partidos políticos Sindicatos Associações econômicas Grandes empresas Figura 1: A rede de políticas públicas na reforma das telecomunicações na Alemanha Fonte: Schneider, 2005: 48 Quando se trata de otimizar os processos de inovação, por exemplo, os arranjos institucionais em rede parecem cumprir um papel fundamental. Ao contrário de Schumpeter, para quem o empreendedor exerce um papel decisivo nos processos de inovação pelo fato de assumir riscos (Hämäläinen e Schienstock, 2000:3), diversos autores têm sustentado a tese de que as redes de inovação ocupariam, hoje, esse lugar central no processo de inovação (Rammert, 2005). O argumento principal é de que no contexto das economias modernas, a inovação dependeria, sobretudo, de coordenação e cooperação intraorganizacional, além de um fluxo intenso de comunicação entre as instituições envolvidas (Hämäläinen e Schienstock, 2000:6). Mas por que razão as instituições buscariam a cooperação com outras instituições? Não se trataria, por certo, num mundo competitivo, de altruísmo. Uma resposta “calculadora” fornecida pelo neoinstitucionalismo seria de que “elas [as instituições] afetam os comportamentos (...) ao oferecerem aos atores uma certeza mais ou menos grande quanto ao comportamento presente e vindouro dos outros atores” (Hall e Taylor, 2003: 197). Com isso, a atuação em rede tende a reduzir as incertezas envolvidas nos processos de inovação. Nesse novo cenário, marcado pela 50 Hermílio Santos constituição de redes, a posição do Estado como impulsionador da inovação passa por severas transformações. Rammert (2005) sustenta a tese de que o Estado perde...seu papel central na política de inovação. A pluralidade dos participantes no processo de desenvolvimento técnico exige uma estrutura descentralizada de `governança`. Ele se vê crescentemente compelido ao simples papel de intermediário e moderador (Rammert, 2005: 10). Nesse sentido, a participação na rede implica, por um lado, na aceitação, implícita ou explícita, da ideia de heterarquia, ou seja, a existência de uma diversidade de interesses, atores e recursos, sem que exista entre eles o estabelecimento, ex ante, da relevância e da proeminência de cada um deles. Isso não significa, por outro lado, que exista simetria entre os distintos atores envolvidos, mas tão somente que nenhum deles é capaz de alcançar, sozinho, seus objetivos e de que existe, aí, uma dependência mútua (Kasza, 2004: 1). Convém chamar a atenção para o fato de que esse tipo de arranjo pressupõe algumas pré-condições, dentre elas a de que o contexto político seja suficientemente despolarizado a fim de permitir que se crie um ambiente de confiança mútua entre os distintos tipos de instituições relevantes. Além disso, onde se observam tais arranjos há um contexto institucional bem desenvolvido e diversificado, em que os recursos necessários não estão centralizados em poucos atores. Ao contrário, onde se apresenta um ambiente institucional precarizado, ocorre a presença do que poderíamos denominar de oligopólio dos recursos relevantes (capital, conhecimento, capilaridade, capacidade de formação, etc.), impedindo assim a constituição de redes. Esse novo formato de processamento e alocação de recursos oferece um ambiente promissor para a formulação e implementação de políticas públicas, em especial àquelas voltadas à criação de ambientes inovadores. No Brasil, ainda são escassas as análises do processo de constituição de redes de políticas públicas. Diferentemente da grande maioria da literatura que trata da temática – que concentra a análise por um lado na capacidade do Estado de se articular com outros atores e, por outro lado, na incapacidade do Estado de prover todos os recursos necessários à formulação e implementação de políticas públicas –, no Brasil, não se poderia analisar essa realidade desconsiderando o Sociedades complexas e políticas públicas 51 desenvolvimento recente das organizações da sociedade civil, assim como a atuação dos grupos de interesse. De acordo com Avritzer (1994), o surgimento da sociedade civil no Brasil associa-se a três fenômenos fundamentais: a) ao surgimento de atores sociais modernos e democráticos; b) à retomada da idéia, realizada por esses autores, de constituição de um espaço intermediário entre estado e sociedade e c) à constituição de estruturas legais apropriadas para a institucionalização das reivindicações da sociedade civil. Os dois primeiros fenômenos estão vinculados ao surgimento de novos atores sociais, decorrência do rápido processo de modernização pelo qual passou a sociedade brasileira durante o regime militar. Nesse processo verifica-se não apenas um crescimento quantitativo de novos atores, mas também que esses novos atores constituíram-se social, cultural e politicamente de maneira diferenciada, na medida em que a urbanização crescente provocou a introdução de novos hábitos. Ao lado da constituição de um associativismo civil urbano, outros dois movimentos exerceram um papel fundamental nesse processo, tratase do novo sindicalismo e do associativismo profissional de classe média. Diferentemente das abordagens correntes sobre as redes de políticas públicas, que focam a análise na capacidade ou mesmo na incapacidade do Estado em dar conta, sozinho, da formulação e da implementação das políticas, é preciso que ampliemos a configuração da análise a fim de incluir também a capacidade dos atores não estatais em contribuir nesse processo. Não se trata de estabelecer condições normativas para a cooperação de atores diversos na execução de atividades públicas, mas tão somente alargar o escopo analítico para dar conta de uma realidade que, em alguns contextos, vai se tornando mais complexa. A maior complexidade aqui se refere ao fato de responsabilidades no ciclo de políticas públicas estarem sendo, em muitos casos, compartilhadas entre atores públicos, privados e da sociedade civil. Nesse caso, se por um lado a execução das políticas tem a capacidade de, potencialmente, ganhar em eficiência, por outro lado, tem o efeito de introduzir novos elementos a desafiar a legitimação democrática da autoridade pública. Como afirmado anteriormente, o ciclo de políticas públicas em sociedades mais complexas são igualmente um campo de atuação de grupos de interesse. Clive Thomas (1993a) sustenta haver uma tendência à homogeneização da 52 Hermílio Santos atividade de grupos de interesse no processo de formulação de política industrial, pelo menos nos países altamente industrializados ou, como ele prefere “pósindustrializados”. Sua tese se baseia, sobretudo, na observação de grupos de interesse econômicos, sem, no entanto, levar em consideração os grupos que representam ramos da indústria, como a indústria automobilística ou têxtil, alguns dos mais afetados pelo processo de globalização, dentre outros. É preciso que se pergunte como os grupos de interesse setoriais agem e como eles contribuem para o processo de formulação de políticas, quais os fatores específicos a influenciar as formas de atuação dessas organizações e por quê. É preciso ir um pouco adiante, colocando questões mais explícitas e investigar os canais de acesso à disposição dos grupos setoriais para que possam exercer um papel relevante na formulação de políticas. Quais são as estratégias e táticas dessas organizações? Quais recursos estão à disposição delas? Há algum tipo de interdependência entre os formuladores de políticas e os grupos de interesse setoriais? Em uma abordagem comparativa, deve-se investigar as semelhanças e diferenças entre grupos que representam setores industriais distintos em um mesmo país. Entre os cientistas políticos não há qualquer consenso em torno da definição de grupos de interesse. Ao definir tais atores sociais, são empregadas diferentes expressões para caracterizar as mesmas organizações, como grupos de pressão e lobby. Mais que uma simples incompatibilidade de conceitos, tratase ou de uma apreensão diferenciada de um fenômeno sócio-político ou de uma má-compreensão do problema investigado. Grupos de interesse são organizações apartadas do governo – embora muitas vezes em estreito contato ou parceria com órgãos governamentais –, cujo objetivo é exercer influência sobre políticas públicas (Wilson 1990: 1; 1992: 80). “Pressão” é empregada quando os canais de acesso para um grupo estiverem obstruídos ou quando for ínfima a possibilidade do grupo ter seus interesses levados em consideração pelos tomadores de decisão. O termo em inglês lobby é uma metáfora do vestíbulo diante da sala de reunião dos parlamentares e referese a uma atividade particular dos grupos de interesse, a tentativa de influenciar a deliberação de novas leis (Beyme 1980: 11). Pressão e lobby indicam, portanto, Sociedades complexas e políticas públicas 53 possíveis técnicas que podem ser empregadas pelos grupos para influenciar as decisões, não possuindo qualquer caráter de definição. Apesar de alguns autores concederem aos partidos políticos o mesmo status dos grupos de interesse, há na verdade uma série de diferenças entre ambos. Os grupos de interesse se diferenciam dos partidos, sobretudo, pelo fato dos primeiros não terem a pretensão de administrar diretamente o aparelho estatal (Hartmann 1985; Wilson 1992: 80). Os grupos de interesse podem ser classificados de diversas maneiras, como, por exemplo, pelo tipo de interesse representado, a intensidade de organização do grupo e o campo de ação prioritário (J. Weber 1977: 75; Heinze 1981: 57). No processo de formulação de política industrial o critério mais relevante é o primeiro deles, ou seja, o tipo de interesse, que pode ser dividido entre econômicos e não econômicos ou promocionais. Entre os primeiros, encontram-se aquelas organizações que colocam em primeiro plano questões econômicas, como associações de empresários ou industriais e sindicatos de trabalhadores. Organizações não econômicas são aquelas que aspiram a objetivos culturais, religiosos, humanitários ou políticos (J. Weber 1977: 75), embora possam eventualmente lidar com problemas econômicos. Por destinatários entende-se os possíveis interlocutores de um grupo de interesse. Um grupo pode tentar ganhar os mais importantes destinatários como interlocutores, como o congresso, o chefe do executivo, a burocracia estatal, os partidos e a opinião pública (figura 2). Nem todos os interlocutores têm, entretanto, a mesma importância para um mesmo grupo. A relevância de um destinatário depende de muitos fatores, como, por exemplo, do tipo de grupo de interesse, da estrutura e do papel do destinatário em um sistema político determinado e os objetivos gerais e específicos perseguidos pelo grupo. 54 Hermílio Santos Chefe do Executivo Congresso Nacional Burocracia Ministerial Destinatários Partidos Políticos Informações Petições Contato Pessoal Pacote de Votos Doações Contato Pessoal Opinião Pública Petições Apoio (ou sabotagem) de Medidas Contato Pessoal Conhecimento especializado Informações Demonstrações Declarações Imprensa Própria Instrumentos Grupos de Interesse Influência Imediata Influência Intermediária Figura 2: Destinatários e instrumentos dos grupos de interesse Fonte: Traduzido e modificado a partir de Rudzio 1983: 245 De que maneira os grupos de interesse econômicos contribuem para o processo de formulação de medidas de políticas públicas? Por um lado, a presença de grupos de interesse é percebida em geral somente quando tentam sabotar medidas deliberadas. Por outro lado, muitas medidas podem ser implementadas de maneira mais barata e mais eficiente caso os grupos de interesse, cujos interesses estejam diretamente em questão, cooperem (Wilson 1992: 82). Parto do princípio de que em cenários de alta competitividade econômica as medidas setoriais têm maior chance de serem implementadas se, primeiro, as medidas não forem implementadas à revelia ou contra os planos dos setores correspondentes e, segundo, se o setor industrial – seja através de sua associação representativa, seja através das companhias mais importantes do setor –tiver a possibilidade de pelo menos aceitar as medidas antes de elas serem implementadas. Com isso podem tanto o Estado quanto os setores industriais realizar seus projetos de maneira mais transparente, já que sua participação é garantida de antemão, sem que o acesso seja “comprado”. Sociedades complexas e políticas públicas 55 Na tentativa de cumprir suas funções de maneira a mais eficiente possível, os grupos de interesse procuram transformar seus recursos – finanças, quota de filiação e informações – em poder político, de modo que possam desenvolver relações interpessoais com os diferentes participantes do processo político (Thomas 1993b: 28). Uma questão central para o grupo é saber distinguir em cada momento qual tipo de informação poderá elevar suas possibilidades de acesso aos formuladores. Trata-se assim de uma questão empírica cujos critérios devem ser estabelecidos de acordo com as circunstâncias. Responder a essa questão hoje significaria ser capaz de reconhecer a questão em que está centrada a atual competitividade industrial. A partir daí o grupo articula seus recursos de maneira a otimizar sua ação, tanto para os seus membros quanto para os formuladores de políticas. Isso se aplica caso o grupo se recuse a seguir o caminho mais “fácil”, que seria conseguir do governo vantagens de curto prazo, via lobby. Com poucas exceções, grande parte das pesquisas que lidam com os efeitos e significado de grupos de interesse se dedicam a investigar a ação das chamadas federações (umbrella organizations, ou associações que abrigam outras associações) sobre temas macroeconômicos. Entretanto, cada vez com maior frequência as questões econômicas são tratadas de maneira segmentada, isto é, percebe-se que a competição global atua diferentemente sobre os setores produtivos de um país. Com isso, os diversos setores são tratados de maneira diferenciada, quando e se medidas são implementadas. Uma das consequências da globalização é o surgimento de desafios para setores específicos e firmas e menos para a economia de um país como um todo. Daí que cada setor deva ser tratado e analisado separadamente. Cawson (1986 e 1985) soube reconhecer isso. Ele foi um dos primeiros autores a introduzir a investigação de arranjos de interesse que se dão ao nível médio (meso level) para o tratamento de problemas de determinados setores industriais. Embora Cawson tenha apenas se dedicado a analisar as intermediações de tipo neocorporatista, ele apontou para novas perspectivas quando afirmou que as organizações de interesse não agregam “interesses de classe”, mas sim as mais específicas preocupações de tipos particulares de interesse (Cawson 1985: 2). Essa afirmação significa um desestímulo para 56 Hermílio Santos aquelas abordagens que veem o fantasma dos grupos de interesse por todos os lados como controladores monolíticos das questões econômicas mais relevantes. Estudos recentes apontam para a tendência de se estudar todo o processo de formulação de políticas. A principal preocupação está na tentativa de oferecer uma visão geral da participação dos diferentes atores ou da investigação das relações entre eles. Essa linha de pesquisa tem se tornado mais frequente desde meados da década de 80 e é caracterizada pela análise das comunidades de políticas (policy communities) e das redes de políticas (policy networks). Ambas as expressões são definidas e empregadas de maneiras distintas. Na definição de Wilks e Wright (1987), uma comunidade de política pública (policy community) é um grupo de atores – ou de atores potenciais – a partir de um mesmo universo de políticas públicas (policy universe). Os componentes de um universo de políticas compreendem todos os atores com interesse direto ou indireto em um mesmo foco de políticas (por exemplo, um produto específico, um tipo de serviço ou tecnologia, um mercado determinado ou ainda tamanho da empresa – multinacional, média ou microempresa). Dessa maneira é possível identificar, descrever e comparar um “universo de política industrial”, um “universo de política educacional” ou um “universo de política de saúde”, entre outros (Wright 1988: 605). Em cada um desses universos, por exemplo, de política industrial, podem ser identificados alguns setores, como químico, telecomunicações, siderúrgico, etc. As medidas de política industrial, entretanto, nem sempre são formuladas dentro ou para um único desses setores, mas através da interação entre os atores de cada um desses campos. Em função disso deve ser introduzido o conceito de redes de políticas públicas (policy networks), para que possamos obter uma melhor compreensão desse processo. Por rede de políticas públicas (policy network) entende-se a caracterização geral do processo de formulação de políticas na qual membros de uma ou mais comunidades de políticas estabelecem uma relação de interdependência (Wilks e Wright 1987: 299; Wright 1988: 606 ss.; Coleman 1994: 276). Marin e Mayntz chamam a atenção para o fato de que redes de políticas não podem ser definidas unicamente através de sua interação interorganizacional, mas também através de sua função, a saber, a formulação e implementação de medidas (Marin e Mayntz 1991: 16). Ambos os autores chamam igualmente a atenção para o fato de que Sociedades complexas e políticas públicas 57 onde é identificada a presença de redes – através da observação de atores que participam das negociações e consultas antes que as decisões sejam tomadas –, essas se concentram em temas setoriais ou específicos (como, por exemplo, no apoio ao desenvolvimento de novas tecnologias) e não em torno de controvérsias macroeconômicas (Marin e Mayntz 1991: 19). Quais seriam então as condições ideais para o surgimento de redes no processo de formulação de políticas públicas ou mais precisamente de medidas de política industrial? A condição mais evidente é a presença de questões de políticas públicas (policy issues) (Wright 1988: 606), isto é, um tema deve se tornar objeto de um tratamento diferenciado por parte do governo. Isso significa que sua importância deve ser reconhecida e confirmada por diferentes atores. A iniciativa para que um tema seja objeto de política pública pode ser tomada não apenas pelo Estado, mas também por agentes não estatais. Aqui se estabelece uma distinção marcante entre a formulação de políticas através de rede de políticas, de um lado, e através de dirigismo estatal, por outro lado. A formulação via rede de políticas não se baseia em comando e ordem, mas em negociação e intercâmbio (Kenis 1991: 299). Esse intercâmbio não significa porém que todos os atores se beneficiem igualmente da relação daí decorrente (Schneider 1990: 175) ou que exista uma relação simétrica entre eles. Três outros aspectos relevantes para a presença de rede de políticas devem ser nomeados aqui. A saber, as variáveis gerais do país (country variables), como, por exemplo, a orientação tradicional de política econômica, o grau de politização de reestruturação industrial e o papel de agências estatais na economia; as variáveis do setor em questão (como a interdependência e integração pessoal e/ou organizacional numa indústria) assim como as condições estruturais e conjunturais do setor (competição intraindustrial, existência e atividade de associação de interesse) (Kenis 1991: 307). Isso deixa evidente que na análise de redes de políticas os grupos de interesse são apenas um entre possíveis participantes do processo de formulação de políticas públicas (Lehmbruch 1991: 134). Na literatura recente são identificados alguns tipos de redes de políticas. As mais importantes dentre elas são as redes neopluralistas e as neocorporativistas. 58 Hermílio Santos Rede de tipo neopluralista Parte das definições disponíveis do processo neopluralista de formulação de políticas é fornecida por seus críticos. O equívoco de leitura mais comum dessa perspectiva, por parte dos seus críticos, é a afirmação de que no arranjo neopluralista a possibilidade de influenciar o processo de formulação estaria dividida entre diferentes grupos de forma equilibrada. Tal interpretação não é dada pelos próprios neopluralistas. É possível que os autores neopluralistas não sejam capazes de entender sempre a realidade a qual pretendem analisar, mas não são ingênuos ao ponto de sustentar que as possibilidades estejam igualmente distribuídas entre os diferentes atores envolvidos. Para os neopluralistas, nem todos os grupos têm acesso semelhante ao processo de formulação, em função, sobretudo, da qualidade e quantidade dos recursos à disposição dos mesmos (Christiansen e Dowding 1994: 15). Além dos recursos financeiros, de organização e de informação, um outro recurso ocupa um lugar central, a saber, a legitimidade. Um grupo deve credenciar-se como legítimo para que possa ganhar acesso ao processo de formulação. O fato de ser legítimo concede ao grupo o status de insider. Essa legitimidade não é dada pelo Estado, mas o grupo deve ser “amplamente aceito como tendo o direito de participar” (Dahl 1986: 180, tradução minha). Dahl (1986), como ademais a maioria dos pluralistas, não deixa evidente qual instância forneceria essa legitimidade. Fundamental, contudo, não seria nomear uma instância legitimadora, mas reconhecer que essa legitimidade não é dada apenas pelo Estado. Na perspectiva neopluralista, o processo de formulação de políticas públicas em uma sociedade democrática é caracterizado pela existência de uma concorrência entre diferentes grupos (a analogia com a economia de mercado não é coincidência). Nesse cenário competitivo disputam indivíduos, partidos políticos e grupos de interesse antes que o governo formule e implemente suas políticas (Thomas 1993a: 7). Grande parte dos autores neopluralistas concedem aos grupos de interesse um papel central no processo político, pois esses possuem um volume considerável de poder (Smith 1990: 302). Em função disso os grupos de interesse assumem um papel relevante na definição de policy outcomes. Diferentemente de algumas interpretações, os grupos de interesse são Sociedades complexas e políticas públicas 59 encarados pelos neopluralistas enquanto um dentre outros atores importantes na arena política. No fundo, coloca-se a concepção pluralista de divisão do poder na sociedade, a saber, enquanto disperso entre distintos atores. Entretanto, os atores que se filiam a essa corrente reconhecem que os empresários possuem uma posição privilegiada nesse processo ou que pelo menos deveriam possuir (Lindblom 1977: 175). Dessa maneira de conceber a representação de interesse não se deve concluir que não seja possível o surgimento de redes. Como poderia então ser concebida uma rede de políticas de tipo neopluralista? Se lembrarmos da legitimidade como elemento importante para a participação no processo de formulação de políticas deveria ser concebida uma rede par excellence, ou seja, uma estrutura em que distintos atores tomam parte sem que um deles exerça um papel central. Isso significaria que mesmo quando os atores envolvidos não possuam igualdade de acesso ao processo de formulação não haveria um ator que assumiria o papel de legitimador da participação de atores interessados. Essa maneira de conceber o processo de formulação de políticas provocou e provoca ainda inúmeras críticas. A crítica mais frequente é que os pluralistas fracassam em sua tentativa de análise em função de sua incompreensão do processo político contemporâneo. Tais críticas são elaboradas, sobretudo, pela abordagem neocorporatista. Rede de tipo neocorporativista A perspectiva neocorporatista surgiu quase como uma reação às perspectivas “passadas”, em especial ao pluralismo e ao corporativismo estatal. Embora o artigo de Schmitter Still the Century of Corporatism? (1979) seja um dos artigos mais importantes para o debate neocorporativista, as contribuições de Lehmbruch (1979a; 1979b) são mais apropriadas para representar a perspectiva neocorporatista na discussão em torno do processo de formulação de políticas públicas. Schmitter define neocorporatismo enquanto um sistema de representação de interesses. Para Lehmbruch, mais que uma simples articulação de interesses, o neocorporativismo é: 60 Hermílio Santos um modelo institucionalizado de formulação de políticas, no qual grandes organizações de interesse cooperam umas com as outras e com autoridades públicas não apenas na articulação (ou mesmo ‘intermediação’) de interesses, mas – em suas formas desenvolvidas – na ‘alocação autorizada de valores’ e na implementação de tais políticas (Lehmbruch 1979a: 150, tradução minha). O desacordo entre ambos os autores está menos no aspecto conceitual, como pode parecer num primeiro momento, mas fundamentalmente na realidade observada. Enquanto Schmitter lida com os arranjos políticos em torno do Estado, Lehmbruch tenta apreender o processo de surgimento de políticas públicas. A diferença entre ambas as perspectivas é de fato bastante sutil, para alguns inexistente. Porém, o resultado das articulações em torno da administração do Estado nem sempre pode ser transposto automaticamente para o processo de formulação de políticas. Isso significa que ambas as abordagens não representariam interpretações contrapostas de uma mesma realidade. Diferentemente dos neopluralistas, o papel do Estado é especialmente salientado pelos adeptos da corrente neocorporatista. Entre os autores neocorporatistas, o Estado não é definido de maneira uniforme, mas sua autonomia em relação aos grupos de interesse é um ponto convergente entre suas diferentes abordagens. O Estado não é concebido simplesmente como uma arena na qual competem interesses divergentes, senão que o Estado teria sua própria iniciativa, interesses e políticas (Meier e Nedelman 1979). Isso não quer significar que o Estado seja totalmente independente e autônomo e que os grupos de interesse lhe estejam subordinados, mas que o Estado possui a autoridade de definir os canais de acesso, assim como quais atores podem e devem participar. Para Meier e Nedelman (1979), o papel a ser exercido pelos grupos de interesse não estariam de maneira alguma estabelecidos de antemão. Isso dependeria de duas condições, a saber, a maneira predominante através da qual os atores definem a interação entre eles (entre grupos de interesse e Estado) e a maneira dominante através da qual os atores definem a situação na qual essa interação ocorre. Em arranjos setoriais de tipo neocorporatista os grupos são capazes de mediar a relação Estado/membros dos grupos (Young, 1990). Assim, é possível conceber a rede de políticas de tipo neocorporatista como um arranjo em que participam atores em quantidade limitada e tendo o Estado como ponto Sociedades complexas e políticas públicas 61 de convergência, isto é, como elemento central no processo de formulação de políticas. Quando se trata de analisar o papel dos grupos de interesse organizados em ambos os tipos de redes, não é simplesmente uma divergência de conceitos quando as teorias pluralistas acentuam a atividade de representação dos grupos de interesses, em oposição à intermediação, acentuada pelos autores neocorporatistas. Intermediação incorpora em seu significado – muito mais que o conceito de representação – um processo complexo e dinâmico. As teorias neocorporatistas reconhecem, assim, uma contribuição mais ativa dos grupos de interesse na formulação de políticas, pois para essa corrente os interesses coletivos não são dados, mas são “definidos” por instituições sociais (Streeck 1994). Em função disso é determinado o significado dos grupos organizados tanto para os membros quanto para o processo de surgimento de redes. Aquelas associações que conseguem fortalecer seu campo de ação através do intercâmbio político com o Estado podem “governar” o interesse dos seus membros ao contrário de simplesmente representá-lo (Streeck 1994). É improvável que uma organização de interesse goze de um status permanente e estável, tanto diante dos seus membros quanto diante dos seus destinatários. Com isso fica claro que a controvérsia entre intermediação e representação é um problema empírico e dinâmico. Intermediação ou representação de interesses pode ocorrer em níveis distintos, por exemplo, nos níveis macro, meso (médio) ou micro. Para a análise de setores industriais específicos é relevante que a análise se concentre ao nível meso da representação ou intermediação de interesse. Por um lado, a abordagem de redes de políticas oferece uma visão razoável de todo o processo de formulação de políticas públicas, tanto no que se refere ao papel exercido pelos participantes da rede de políticas quanto no que se refere à maneira em que eles interagem. Por outro lado, raramente é possível obter uma compreensão precisa do papel de cada ator relevante envolvido nesse processo, já que essa abordagem se limita à descrição da participação de possíveis atores em uma rede. É bastante plausível afirmar que os grupos de interesse tornaram-se ativos em novas áreas, mas é também fato que o sucesso de tais organizações está 62 Hermílio Santos intimamente relacionado com a ausência de polos contrários organizados (Petracca 1992). Resta saber, entretanto, até que ponto grupos de interesse podem cumprir um papel relevante em um cenário cada vez mais competitivo – inclusive entre os membros de cada grupo. Uma resposta satisfatória a esse tipo de questão somente será possível a partir de investigação empírica da atividade de associações setoriais e dos desafios contemporâneos com os quais determinada indústria está confrontada. Conclusão Nosso empreendimento aqui foi oferecer uma análise da produção de políticas públicas em sociedades consideradas “complexas”. O Estado contemporâneo – mais que antes – está envolvido em um processo intenso de trocas com as demais instâncias da sociedade. E assim tem sido cada vez mais; não exatamente, ou pelo menos não exclusivamente, pela incapacidade do Estado de responder sozinho às demandas lançadas à autoridade pública. Ao contrário, essa forte interação do Estado com a sociedade civil e o mercado se dá, por outro lado, também e principalmente pela maturidade dessas últimas instâncias, que têm acumulado nas democracias contemporâneas – no Brasil inclusive – conhecimento e capilaridade suficientes para intervir nesse processo de produção de políticas públicas. Além disso, essa maturidade tem-se demonstrado pela complexificação, pluralidade e solidez institucional apresentada tanto pelo mercado quanto pela sociedade civil. O cenário com o qual estamos confrontados não é de falência do Estado – como fazem crer algumas interpretações –, mas, ao contrário, de um cenário em que instituições das distintas esferas da sociedade assumem crescentemente papéis relevantes na produção de políticas públicas. Em nossa análise acentuamos os aspectos institucionais no processo de produção de conhecimento. Ainda que de forma preliminar, apontamos o papel cada vez mais central que vai ocupando os arranjos institucionais em rede no processo de inovação. Diferentemente do que defendem alguns autores, arranjos institucionais em rede tornam-se cada vez mais determinantes no processo de formulação e de implementação de políticas públicas em razão da sua Sociedades complexas e políticas públicas 63 capacidade de, em um ambiente competitivo, reduzir as incertezas envolvidas nesse processo. A redução das incertezas ocorre não apenas por propiciar uma maior cooperação entre diferentes organizações, mas também por criar constrangimentos para a ação das organizações engajadas no ciclo de políticas públicas. Porém, esse processo não se dá sem a presença de desafios, para os quais o debate em torno aos mecanismos democráticos de condução das sociedades deve estar atento, tendo em vista que atores não estatais, embora portadores de recursos relevantes e indispensáveis à solução de problemas identificados como merecedores de atenção pública, não estão submetidos aos mesmos mecanismos de legitimação democrática, como o é o caso de boa parte das instituições estatais. Referências Bibliográficas AVRITZER, Leonardo. Modelos de Sociedade Civil: uma análise da especificidade do caso brasileiro. Ensaios de Teoria e Filosofia Política. Antonio Mitre (org.), DCP/UFMG, 1994. BEYME, Klaus von. Interessengruppen in der Demokratie. München: R. Riper & Co. Verlag, 1980. BRAUDEL, Fernand. A dinâmica do capitalismo. Rio de Janeiro, Rocco, 1987. COSTA, Sérgio. As cores de Ercília: esfera pública, democracia, configurações pós-nacionais. Belo Horizonte, UFMG, 2002. CAMPOS, Maria Letícia Duarte. Sistema estadual de inovação: estrutura organizacional, constrangimentos e oportunidades institucionais no processo de desenvolvimento de Minas Gerais. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte, Fundação João Pinheiro, 2003 (mimeo). CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo, Paz e Terra, 2000. CAWSON, A. Introduction - Varieties of corporatism: The importance of mesolevel of interest intermediation. In: A. Cawson (org.). Organized interest and the State: Studies in meso corporatism. London: Sage, 1985. CAWSON, A. Corporatism and political theory. Oxford: Basil Blackwell, 1986. CHRISTIANSEN, L.; DOWDING, K. Pluralism or state autonomy? The case of Amnesty International (British Section): The insider/outsider group. Political Studies, XLII, p.15-24, 1994. 64 Hermílio Santos COLEMAN, W. D. Policy convergence in banking: A comparative study. Policy Studies, XLII, p. 274-292, 1994. DAHL, R. Rethinking Who Governs? New Haven revisited. In: R. Waste (org.). Community power: Directions for future research. Beverly Hills: Sage, 1986. DAHRENDORF, Ralf. Ensaios de teoria da sociedade. Rio de Janeiro, Zahar, 1974. DiMAGGIO, Paul J.; POWELL, Walter W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, in: DiMAGGIO, Paul J.;POWELL, Walter W. (org.), The new institutionalism in organizational analysis. Chicago, The University of Chicago Press, 1991. HALL, Peter A. ; TAYLOR, Rosemary C.R. As três versões do neoinstitucionalismo. Lua Nova, nº 58, 2003. HÄMÄLÄINEN, Timo J. ; SCHIENSTOCK, Gerd. Innovation networks and network policies. Mimeo, 2000. HARTMANN, J. Verbände in der westlichen Industriegesellschaft. Frankfurt am Main: Campus, 1985. HAYEK, Friedrich. Los fundamentos de la libertad. Valencia, Fomento de Cultura, 1961. HEINZE, R. G. Verbändepolitik und Neokorporatismus. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1981. KASZA, Artur. Innovation networks, policy networks, and regional development in transition economies. A conceptual review and research perspectives. Artigo apresentado na EPSNET Conference, Prague, 18-19 June, 2004. KENIS, P. The preconditions for policy networks: Some findings from a threecountry study on industrial restructuring. In: B. Marin e R. Mayntz (orgs.). Policy networks - Empirical evidence and theoretical considerations. Frankfurt am Main: Campus, 1991. LEHMBRUCH, G. The organization of society, administrative strategies, and policy networks. In: CZADA, R.; WINDHOFF-HÉRITIER, A. (orgs.). Political choice. Frankfurt am Main: Campus, 1991. LEHMBRUCH, G. Liberal corporatism and party government. In: SCHMITTER, P.; LEHMBRUCH, G. (orgs.). Trends toward corporatist intermediation. London: Sage Publications, 1979a. LEHMBRUCH, G. Consociational democracy, class conflict, and the new corporatism. In: SCHMITTER, P.; LEHMBRUCH, G. (orgs.). Trends toward corporatist intermediation. London: Sage Publications, 1979b. Sociedades complexas e políticas públicas 65 LINDBLOM, C. E. Politics and markets. New York: Basic Books, 1977. MARIN, B.; MAYNTZ, R. Introduction: Studying policy networks. In: B. Marin e R. Mayntz (orgs.). Policy networks: Empirical evidence and theoretical considerations. Frankfurt am Main: Campus, 1991. MEIER, K.G.; NEDELMAN, B. Theories of contemporary corporatism static or dynamic? In: SCHMITTER, P.; LEHMBRUCH, G. (orgs.). Trends toward corporatist intermediation. London: Sage Publications, 1979. PARSONS, Talcott. The social system. Glencoe, The Free Press, 1959. PARSONS, Talcott. Sugestões para um tratado sociológico da teoria da organização, in: Etzioni, Amitai (org.), Organizações complexas – Estudo das organizações em face dos problemas sociais. São Paulo, Editora Atlas, 1967. PARSONS, Talcott. O sistema das sociedades modernas. São Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1974. POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens da nossa época. Rio de Janeiro, Campus, 2000. PRZEWORSKY, Adam. Estado e Economia no Capitalismo. Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1995. PETRACCA, M. P. The future of an interest group society. In: PETRACCA, M. P. (org.). The politics of interests. Boulder: Westview Press, 1983. RAMMERT, Werner. Innovation im Netz, http://www.tuberlin.de/~soziologie/Crew/rammert/articles/Innovation_im_Netz.html ROCHA, Carlos Vasconcelos. Neoinstitucionalismo como modelo de análise para as políticas públicas: algumas observações, Civitas, Vol. 5, Nr. 1, 2005. ROCHER, Guy. Talcott Parsons e a sociologia americana. São Paulo, Francisco Alves, 1976. RUDZIO, W. Das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Opladen: Leske e Budrich, 1983. SCHMITTER, P. C. Still the century of corporatism? In: SCHMITTER, P.; LEHMBRUCH, G. (orgs.). Trends toward corporatist intermediation. London: Sage Publications, 1979. SCHNEIDER, V. Control as a generalized exchange medium within the policy process? A theoretical interpretation of a policy analysis on chemical control. In: MARIN, B. (org.). Governance and generalized exchange. Frankfurt am Main: Campus, 1990. 66 Hermílio Santos SCHNEIDER, Volker. Redes de políticas públicas e a condução de sociedades complexas, tradução de Hermílio Santos. Civitas, Vol. 5, Nr. 1, 2005. SMITH, M.J. Pluralism, reformed pluralism and neopluralism: The role of pressure groups in policy-making. Political Studies, XXXVIII, p. 302-322, 1990. STREECK, W. Einleitung des Herausgebers: Staat und Verbände: Neue Fragen. Neue Antworten? In: STREECK, W. (org.). Staat und Verbände. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1994. THOMAS, C. Understanding and comparing interest groups in Western democracies. In: THOMAS, C. (org.). First world interest groups. Westport: Greenwood Press, 1993. WEBER, J. Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1977. WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasília: UnB, 1999. WILKS, S.; WRIGHT, M. (orgs.). Comparative government-industry relations. Oxford: Claredon Press, 1987. WILSON, G. K. Interest groups. Oxford: Basil Blackwell, 1990. WILSON, G. K. American interest groups in comparative perspective. In: PETRACCA, M. (org.). Interest groups transformed. Boulder: Westview Press, 1992. WRIGHT, M. Policy community, policy network and comparative industrial policies. Political Studies, XXXVI, p.593-612, 1988. YOUNG, B. Does the American dairy industry fit the meso-corporatism model? Political Studies, XXXVIII, p.72-82, 1990. Sociedades complexas e políticas públicas 67 Propaganda Política, Partidos e Eleições 1 Marcia Ribeiro Dias Introdução Nos últimos vinte anos, a Comunicação Política vem se consolidando como um campo de investigação interdisciplinar no Brasil, reunindo cientistas políticos e estudiosos da comunicação social (Rubim & Azevedo, 1998). A institucionalização desse campo também é evidente e pode ser comprovada através da criação de associações e grupos de pesquisa, cujos membros interagem em congressos e encontros nacionais e internacionais. Considerada sob diversas perspectivas, a propaganda política na televisão vem se constituindo em tema central de diversos trabalhos nesse campo. Alguns têm como objeto a evolução da legislação eleitoral e seu impacto sobre as formas de propaganda política (Duarte, 1980; Albuquerque, 1995; Miguel, 1997 E 2002); outros consideram o problema à luz da sua dimensão ética (Gomes, 1994a) ou retórica (Gomes, 1994b; Figueiredo, Aldé, Dias e Jorge, 1998). Alguns trabalhos têm procurado desenvolver categorias analíticas acerca da gramática da propaganda política na televisão (Fausto Neto, 1990; Albuquerque, 1999), ao passo que outros têm se concentrado na análise da atuação dos consultores profissionais no processo de produção da propaganda política na televisão. Finalmente, há aqueles que se ocupam da relação que se estabelece, no Brasil, entre os partidos políticos e a propaganda política na televisão (Schmitt, Carneiro e Kushnir, 1999; Albuquerque e Dias, 2002; Dias, 2005; Dias, 2007). A importância de se estudar tal relação é evidente, particularmente quando se considera que, no Brasil, a tarefa de gerir a propaganda política na televisão é destinada aos partidos e não diretamente aos candidatos. Entre estudiosos da área de comunicação política, tornou-se consensual o uso do “argumento da substituição” a fim de definir a relação entre os partidos políticos e os meios de comunicação de massa no mundo democrático 1 Este capítulo é uma releitura de um paper apresentado em parceria com Afonso de Albuquerque no XXVIº Encontro Anual da Anpocs. Agradeço a Afonso as contribuições dadas na elaboração original deste texto. contemporâneo (Albuquerque e Dias, 2002). Esse seria um modelo explicativo genérico cujo mote estaria no deslocamento de algumas das funções clássicas dos partidos para a esfera de atuação dos meios de comunicação, especialmente da televisão. O “argumento da substituição” pode ser resumido como sendo o produto da convergência de dois pressupostos distintos: o primeiro deles aponta para o declínio do papel dos partidos políticos como protagonistas da representação política, enquanto o segundo refere-se à crescente importância dos meios de comunicação de massa como atores políticos. O principal problema que aqui se identifica é o fato de que essa literatura tende a colocar esses dois pressupostos em uma relação causal, isto é, atribui o declínio dos partidos políticos ao aumento da importância dos meios de comunicação na dinâmica política. Entretanto, partidos políticos e meios de comunicação não são instituições que se substituem no tempo, mas que convivem, articulam e alteram dinamicamente seus padrões de interação. Nesse sentido, argumentamos a favor da independência desses dois pressupostos, eliminando a relação de causalidade entre ambos. Acreditamos que as estratégias de cada um desses atores na construção de seus padrões de interação irão variar de acordo com o contexto político-institucional, ou seja, com o formato das regras que orientam suas ações. Sustentamos que, embora útil para dar conta de alguns aspectos gerais da realidade política contemporânea, o “argumento da substituição” perde em eficácia quando aplicado à análise de fenômenos ou realidades políticas específicas, como seria o caso da propaganda política televisiva no Brasil. O caso brasileiro, especialmente no que se refere à propaganda política na televisão, apresenta importantes limites à aplicação do “argumento da substituição”. Por um lado, a solidez nunca foi um atributo do sistema partidário brasileiro, porém, tampouco há evidências consistentes de um declínio da importância dos partidos políticos nas últimas décadas. Por outro lado, no caso específico da propaganda política na televisão, a legislação brasileira proporciona aos partidos políticos acesso gratuito à mesma, espaço no qual, estes podem construir suas estratégias livremente. Assim, apesar de se reconhecer a influência crescente da televisão na vida política brasileira, não se pode considerá-la um Propaganda Política, Partidos e Eleições 69 agente autônomo, uma vez que formatos e conteúdos da propaganda são construídos por agentes partidários. Desse modo, analisar a propaganda política que é veiculada no Brasil exige uma análise de seus sistemas eleitoral e partidário, tendo em vista o modo como se conciliam exigências contraditórias de caráter coletivista e individualista durante a campanha eleitoral. Se, por um lado, o sistema eleitoral brasileiro, “centrado no candidato” (Samuels, 1997), fornece um forte estímulo para as estratégias individualistas de campanha, por outro lado, o modelo de propaganda política na televisão vigente obriga a que os interesses individuais dos candidatos se subordinem às estratégias coletivas dos partidos, uma vez que o tempo na televisão é destinado a estes. Assim, é possível que o formato brasileiro de propaganda política na televisão funcione antes como um instrumento de reforço do que de declínio do papel que os partidos políticos desempenham no processo eleitoral. Na primeira parte do texto discutimos o “argumento da substituição” e seus limites de aplicabilidade ao caso brasileiro. Nesse sentido serão discutidos os trabalhos que, no Brasil, buscam reproduzir o caráter generalizante desse argumento a fim de compreender e explicar sua atual dinâmica político-eleitoral. Em seguida, a apropriação do “argumento da substituição” será problematizado, considerando os sistemas partidário e eleitoral brasileiros, assim como seu modelo de propaganda política na televisão, que garante ao partido político o poder de definir o uso mais apropriado desse instrumento para a captação de votos. Sobre os limites de aplicabilidade do argumento da substituição Nas duas últimas décadas, diversos pesquisadores têm abordado um mesmo fenômeno: a importância crescente do papel desempenhado pelos meios de comunicação de massa como intermediários da relação entre os cidadãos e o Estado, em detrimento dos partidos políticos. Em geral, o diagnóstico desses autores a respeito da relação que se estabelece entre a mídia e os partidos aponta para uma dinâmica de substituição, ou seja, os partidos estariam sendo substituídos, em muitas de suas prerrogativas clássicas, pelos meios de 70 Marcia Ribeiro Dias comunicação. Assim, as tarefas de informação política, formação da opinião pública, controle e fiscalização dos agentes políticos, entre outras, estariam sendo incorporadas pela imprensa escrita e televisiva, especialmente em sua dimensão jornalística. Partidos políticos, por sua vez, estariam em franco declínio como intermediários na relação entre sociedade e Estado, como fiadores da ação de representantes ou difusores de informação e formadores de opinião. Um exemplo particularmente influente de generalização do argumento da substituição, ao menos entre os pesquisadores brasileiros, é o estudo de Bernard Manin (1995) sobre as metamorfoses do governo representativo, especialmente o diagnóstico de transformação da “Democracia de Partidos” em uma “Democracia de Público”. O trabalho de Manin se esmera em construir uma tipologia das formas do governo representativo. A fim de proceder a essa tarefa, o autor trata de identificar quais seriam os princípios dessa forma de governo, percorrendo toda uma literatura, produzida a partir do final do século XVIII, que se constituiria na base ideológica de suas instituições. 2 Dessa literatura, Manin extrai quatro princípios do governo representativo, ou seja, quatro condições para que um governo seja considerado representativo: (1) a escolha dos governantes pelos governados; (2) a independência parcial dos representantes com relação à vontade dos representados; (3) a liberdade de opinião pública, seja ela favorável ou contrária à condução do governo pelos representantes; (4) a utilização do debate como mecanismo para a tomada de decisão coletiva. A partir de então, Manin constrói um modelo no qual identifica três tipos de governo representativo: o governo parlamentar, a democracia de partidos e a democracia de público. Cada uma dessas modalidades do governo representativo obedece a uma série de condições históricas, a partir de uma perspectiva evolutiva do mundo ocidental, sendo que o aparecimento de cada nova modalidade implica necessariamente no fim da anterior. Em outras palavras, segundo Manin, assim como a “democracia de partidos” substituiu o “governo parlamentar”, a “democracia de público” substituiu a “democracia de partidos”. Manin observa que o fim da era do governo dos “notáveis” foi marcado pela 2 Os principais autores contemplados no estudo de Manin são: Edmund Burke, John Stuart Mill, os Federalistas, James Madison, Alexander Hamilton e John Jay, e Emmanuel Siéyès. Propaganda Política, Partidos e Eleições 71 crescente importância dos partidos na arena representativa. De modo equivalente, notou que o fim da era dos partidos, caracterizado pelo declínio na importância dessas instituições como intermediárias da relação entre representantes e representados, foi acompanhado pela ascensão da importância dos meios de comunicação no exercício da mesma tarefa. O “argumento da substituição”, discutido neste trabalho, apresenta-se no texto de Manin em sua forma pura. O trabalho de Manin, sem dúvida alguma, consiste em um esforço téorico-analítico importante e é capaz de explicar a trajetória do formato do governo representativo em algumas realidades históricas específicas; é o caso de boa parte dos países da Europa Ocidental e América do Norte. Além disso, fornece uma agenda de discussões teóricas passíveis de serem incorporadas, ao menos em parte, à investigação de outras realidades. O que aqui se contesta é a aplicação integral do modelo para explicar as atuais dinâmicas política e institucional brasileiras, como é o caso de Azevedo (2002) e Veiga (2002), cujos trabalhos serão comentados a seguir. Em sua análise da cobertura da imprensa paulistana sobre a campanha eleitoral no município de São Paulo, Azevedo (2002) parte da premissa de que a conjuntura brasileira atual pode ser descrita como uma “democracia de público”. O autor menciona a debilidade histórica dos partidos políticos brasileiros com muita propriedade, mas não explora a evidência de que essa debilidade não é um fato novo e que, assim, não pode ser explicado pela centralidade da mídia na dinâmica política atual. Além disso, ao analisar a propaganda eleitoral na televisão, afirma que seu formato não favorece a imagem partidária e sim a personalização da competição eleitoral, desconsiderando o fato de que a legislação brasileira confere aos partidos políticos o espaço na TV e que estes, portanto, têm autonomia para definir suas estratégias comunicativas: se prioritariamente individualistas ou coletivistas. O tempo na TV pertence aos partidos que, livres da “Lei Falcão”, podem conferir aos seus programas o formato que sua criatividade e recursos financeiros permitirem. Não existe um formato pré-estabelecido para a propaganda política no HGPE e os recursos audiovisuais não se limitam a aproximar candidato e eleitor através de imagens “em close”: tais recursos podem ser utilizados na propagação de ideias e programas de governo. As campanhas presidenciais de 2002 e 2006 foram exemplares nesse sentido: os 72 Marcia Ribeiro Dias três candidatos mais bem-sucedidos eleitoralmente, Lula (2002 e 2006), Serra (2002) e Alckmin (2006), exploraram prioritariamente o conteúdo programático em suas campanhas na televisão. Além do fato de que as campanhas para cargos legislativos, distribuídos na proporção dos votos obtidos pelos partidos, apresentam uma série de estratégias que nada tem a ver com personalismo político, como o investimento nos votos de legenda e a vinculação entre as ideias do candidato “proporcional” às propostas de governo do candidato “majoritário”. No segundo caso, no qual se analisa o papel dos partidos na atual democracia brasileira, Luciana Veiga também associa o conceito de “democracia de público” à nossa conjuntura política recente, afirmando que nos encontramos em um momento de transição entre a “democracia de partidos” e a “democracia de público”, razão pela qual “os partidos ainda influenciam as decisões políticas”. Segundo a autora, no período anterior à década de 80, ou seja, durante a ditadura militar, vivíamos no Brasil uma democracia de partidos, sem apresentar evidências nesse sentido. As circunstâncias políticas do período militar contrariam os fundamentos de uma democracia partidária, acima de tudo, pelo fato de que não era uma democracia. Mesmo se considerando a sobrevivência de um sistema representativo na manutenção de eleições para cargos legislativos, o sistema bipartidário compulsório, no qual a livre organização de interesses através de partidos políticos com o fim de influenciar as decisões do Estado estava vetada ou comprimida em uma lógica dual, é o inverso do que caracteriza uma democracia de partidos. Finalmente, do ponto de vista do comportamento eleitoral, verificar que alguns eleitores votavam fielmente no MDB e transmitiam essa preferência a seus descendentes, não nos parece o bastante para configurar uma democracia de partidos. Seria preciso demonstrar que outros eleitores se identificavam igualmente com a ARENA, e mesmo assim seria uma associação precária dada a imobilidade do sistema partidário, representada pela admissão exclusiva de dois partidos. Por outro lado, Veiga apresenta dados significativos da influência dos partidos na conjuntura eleitoral recente e em nenhum momento revela que tal influência encontre-se em declínio. Nesse sentido, não há evidência em seu trabalho que aponte para um diagnóstico de transição para uma “democracia de público”, na qual os partidos possam ser descartados. Propaganda Política, Partidos e Eleições 73 O que pretendo com este capítulo é considerar as condições específicas dos sistemas partidário e eleitoral brasileiros e de seu modelo de propaganda política na televisão. A hipótese é de que é possível encontrar resultados diferentes dos encontrados por Manin, na medida em que consideramos circunstâncias históricas e institucionais distintas. Considerações acerca dos sistemas partidário e eleitoral brasileiros O sistema eleitoral brasileiro conjuga duas lógicas operacionais distintas: a majoritária, que se aplica à disputa por cargos executivos (presidente, governadores, prefeitos) e ao Senado; e a proporcional, que se aplica à disputa aos cargos legislativos (deputados federais, deputados estaduais e vereadores). Abordaremos as características gerais de cada uma dessas lógicas a fim de discutir suas implicações sobre o sistema partidário brasileiro. O sistema eleitoral majoritário funciona em dois turnos, com exceção para as cidades com menos de 200 mil eleitores, operando, assim, em turno único. O sistema de dois turnos tem como objetivo possibilitar a formação de uma maioria absoluta (50% + 1) de preferências eleitorais em torno do candidato vitorioso. Esse sistema tem como virtude maximizar a representação política, na medida em que responde às preferências de mais da metade da população votante. Em um sistema eleitoral de turno único, especialmente quando consideramos um sistema multipartidário como o brasileiro, em que a maioria relativa (a maior das minorias) garante a vitória a um dos candidatos, a representação política pode ficar deficitária, pois um candidato vitorioso com 35% dos votos não corresponde à vontade de 65% dos eleitores. Maurice Duverger (1970) já demonstrou que um sistema majoritário de dois turnos estimula a multiplicação do número de legendas partidárias, na medida em que amplia as chances de vitória de uma candidatura inicialmente minoritária, mas que em um segundo turno pode agregar as preferências destinadas a candidaturas derrotadas no primeiro turno das eleições. Um sistema de dois turnos, portanto, favorece a formação de alianças entre partidos, ampliando o pluralismo de ideias e a representatividade dos eleitos. 74 Marcia Ribeiro Dias Teoricamente, são dadas aos eleitores duas chances de manifestar suas preferências: no primeiro turno, o eleitor manifestaria a sua preferência por um determinado candidato; no segundo turno, escolheria entre os dois mais votados aquele que mais se aproxima das suas preferências. O que se tem visto no Brasil nos últimos anos, entretanto, é uma distorção dessa lógica através do chamado “voto útil”. Muitos eleitores manifestam ter abdicado de sua preferência inicial para, estrategicamente, impedir a ida de um candidato, nefasto aos seus olhos, para o segundo turno ou para enviar outro candidato que tenha mais chances de vencer o adversário majoritário indesejável. Isso se deve, fundamentalmente, ao crescimento dos institutos de opinião pública e da multiplicação de pesquisas de intenção de voto, que permitem ao eleitor conhecer as tendências gerais do voto antes das eleições. Quem se beneficia com essa lógica? As maiores legendas partidárias brasileiras, que nas duas últimas eleições para governador e presidente da república controlaram a maioria das disputas de segundo turno, concentrando o sistema partidário brasileiro. Desde 1994, PT e PSDB vêm disputando os primeiros lugares na corrida presidencial. Em 1998, 13 estados levaram a eleição para governador ao segundo turno; desses casos, apenas no Amapá verificou-se a presença de um partido pequeno na disputa, o PSB. Em 2002, as grandes legendas controlaram 12 das 14 disputas programadas para o segundo turno nos estados. Em 2006, das 10 disputas para governos estaduais ocorridas em segundo turno, apenas uma contou com a participação de um partido pequeno, o PPS no Rio de Janeiro. Importa ressaltar a vitória de pequenos partidos ainda no primeiro turno das eleições estaduais. Em 1998, o PSB venceu as eleições em Alagoas. Em 2002, o PPS venceu no Amazonas e no Mato Grosso; o PSB venceu em Alagoas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em 2006, o PPS venceu duas disputas eleitorais ainda no primeiro turno: Mato Grosso e Rondônia. Finalmente, o PSB e o PPS foram duas das legendas que mais cresceram no período, estando na legislatura de 2006 entre as legendas com maiores bancadas na Câmara Federal. O que isso significa? Que considerando as características específicas de um determinado sistema político podemos encontrar resultados contrários aos previstos em uma teoria abrangente, como a de Duverger. No caso brasileiro, o sistema eleitoral de Propaganda Política, Partidos e Eleições 75 dois turnos tem concentrado o sistema partidário através do cálculo estratégico do “voto útil”, favorecido pela valorização dos resultados de pesquisas de intenção de voto nesse país. O sistema majoritário que vigora para a constituição do Senado brasileiro opera por maioria relativa, ou seja, não há segundo turno para o preenchimento desses cargos. O mandato dos senadores é de oito anos, mas as eleições ocorrem a cada quatro anos: um terço dos cargos é disputado em um ano e dois terços nas eleições seguintes. Quando há duas vagas em disputa, o eleitor pode escolher dois nomes para ocuparem essas vagas, estando vetada a possibilidade de voto cumulativo, ou seja, de o eleitor votar duas vezes em um mesmo candidato. O voto cumulativo tem a propriedade de mensurar a intensidade das preferências eleitorais: um eleitor que prefere intensamente um candidato pode destinar a ele seus dois votos, enquanto outro eleitor não tão intenso, provavelmente, irá destinar seus votos a candidatos diferentes. O voto cumulativo pode ser um instrumento para pequenos partidos que detenham poucos, mas sinceros eleitores, podendo lançar apenas um candidato e nele concentrar seus votos. Portanto, as eleições para o Senado brasileiro conjugam dois mecanismos desfavoráveis à apresentação de candidatos pelos pequenos partidos: o sistema de turno único e a impossibilidade de voto cumulativo. Finalmente, os cargos legislativos são ocupados pela regra da proporcionalidade, o que em linhas gerais significa dizer que cada partido ou coligação obterá um número de cadeiras proporcional ao seu número de votos. Isso, em linhas muito gerais, porque como bem apontou Jairo Nicolau, o sistema representativo brasileiro apresenta distorções bastante significativas, como a ocorrida nas eleições de 1994 em que PFL e PT obtiveram o mesmo percentual de votos, mas o primeiro angariou 40 cadeiras a mais do que o segundo. 3 O resultado da eleição de 2002 trouxe um fato estarrecedor para grande parte da opinião pública, motivação para o artigo de Nicolau: a eleição de cinco deputados do PRONA de São Paulo que obtiveram votações ínfimas se comparadas a de muitos candidatos não eleitos no mesmo estado. Por que isso aconteceu? Em virtude de uma das poucas regras do sistema eleitoral brasileiro que fortalece o sistema partidário e inibe o personalismo político. Calculado o 3 Artigo publicado no Jornal O Globo, de 11 de outubro de 2002. 76 Marcia Ribeiro Dias quociente eleitoral, número de votos necessários para a obtenção de uma cadeira no legislativo, os votos de cada partido ou coligação de partidos são somados a fim de se calcular o número de cadeiras obtidas por cada um deles. Essas cadeiras serão destinadas aos candidatos mais votados individualmente no partido ou coligação, voltando a favorecer a lógica personalista. Enéas Carneiro angariou sozinho mais de 1,6 milhões de votos do eleitorado paulistano, quantidade suficiente para elegê-lo e a mais cinco candidatos. Em tese, não houve qualquer distorção no sistema representativo nesse caso: os eleitores que deram seus votos a Enéas e elegeram “ilustres desconhecidos” não teriam perdido seus votos se imperasse a lógica partidária, ou seja, se todos os eleitos agissem de forma concertada, seguindo a orientação do líder do partido e da bancada: o próprio Enéas Carneiro. É razoável pensar que, dados os distintos mecanismos eleitorais, as estratégias comunicativas dos partidos políticos nos programas gratuitos na televisão apresentem variações importantes entre as faixas destinadas a cada cargo em disputa. Na próxima seção serão avaliadas as características do modelo de propaganda política na televisão e suas implicações para a construção de um modelo analítico da construção da imagem partidária na dinâmica eleitoral brasileira. A propaganda política na televisão brasileira No Brasil, a concessão de horário gratuito para a propaganda política na televisão teve sua origem ainda no início da década de 1960. Naquela época seu impacto eleitoral não foi significativo, uma vez que a televisão ainda não se encontrava disseminada na sociedade brasileira. A partir da instauração do regime militar em 1964, teve início o processo de consolidação de uma infraestrutura nacional de telecomunicações; entretanto, tal processo se deu em um contexto de desvalorização das eleições na vida política nacional. Foi somente a partir de 1985, com a redemocratização, que a propaganda política na televisão passou a ser politicamente relevante. Em linhas gerais, um conjunto de regras para a propaganda eleitoral na televisão tem se mantido constante: o tempo para a propaganda política é Propaganda Política, Partidos e Eleições 77 concedido gratuitamente aos partidos políticos, em blocos situados à parte da programação normal (Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral ou HGPE), em quantidades proporcionais às dimensões de suas bancadas parlamentares federal, estadual e municipal. Desde 1996, um novo formato foi acrescentado à propaganda política na televisão (spots): inserções curtas, de 30 ou 60 segundos, veiculadas nos intervalos comerciais ao longo da programação normal. O modelo brasileiro de propaganda política na televisão combina a gratuidade do acesso à televisão com uma considerável eficácia comunicativa, favorecida pela ampla liberdade no uso dos recursos comunicativos da comunicação que, com algumas exceções 4, tem sido contemplada pelas diversas legislações eleitorais desde 1985. Tal eficácia comunicativa, entretanto, irá depender da capacidade dos partidos de lidar com os desafios específicos apresentados pelo HGPE e pelos spots políticos. O primeiro desafio diz respeito à inserção da propaganda política no fluxo da programação televisiva. Diferentemente dos spots de 30 e 60 segundos, que se inserem com naturalidade nos intervalos comerciais da programação normal, o HGPE é exibido em um bloco à parte, podendo ser percebido como uma interrupção da programação normal; percepção esta que é reforçada pelo discurso de alguns canais de televisão que a definem para o público como “propaganda obrigatória” 5. O que está em questão, nesse caso, é o fato de que a propaganda política na televisão deve assumir o formato de um programa televisivo, incorporando a estrutura comunicativa que lhe é própria. Cabe ao agente político e a sua assessoria de comunicação encontrar soluções criativas para, sem evidenciar uma ruptura em relação a um fluxo de programação, já legitimado pelo hábito, transformar o telespectador em eleitor, sem destituí-lo de sua condição primeira. Além disso, o fato de os programas do HGPE agregarem 4 o A Lei n 8.713, de 30 de setembro de 1993, proibiu o uso de trucagens, montagens, animações, imagens externas e a presença de outras pessoas que não os próprios candidatos e seus vices nos programas. A justificativa oficial para tais restrições foi que elas possibilitariam uma melhora no nível dos programas do HGPE. Na prática, elas implicaram em uma marginalização do HGPE na campanha eleitoral, o que favoreceu a candidatura de Fernando Henrique Cardoso, apresentado pela imprensa como o grande responsável pelo sucesso do Plano Real. (cf. Albuquerque; 1995 e Miguel, 1997). 5 Caracterizar a propaganda eleitoral na televisão como obrigatória é uma estratégia dos canais para associá-la a um componente autoritário, tentando deslegitimá-la junto à opinião pública. Fato é que a propaganda eleitoral é obrigatória para os canais de televisão aberta e não ao telespectador, que poderá ocupar aquele tempo com outra atividade qualquer. 78 Marcia Ribeiro Dias as alternativas eleitorais disponíveis em um bloco contínuo obriga cada uma delas a lidar constantemente com a dimensão competitiva e a administrar problemas relativos ao excesso de informação. O segundo desafio que deve ser enfrentado na elaboração da propaganda eleitoral refere-se ao fato de que seus quadros temporais são pré-definidos, assim como a ordem de apresentação é determinada pela Justiça Eleitoral. Não se pode esquecer ainda que a propaganda eleitoral deve ser dinâmica, observando e incorporando pautas propostas por adversários ou pela própria mídia, e evoluir em conformidade com a proximidade do pleito eleitoral. Nesse sentido, os programas do HGPE desenvolveram uma gramática própria, baseada na articulação de diversas mensagens em um mesmo programa. Geralmente, as mensagens que compõem os programas do HGPE cumprem três funções básicas, denominadas através das seguintes categorias: campanha, metacampanha e auxiliar. As mensagens de campanha têm como objetivo debater temas e apresentar a si próprio e aos candidatos positivamente e os adversários negativamente. As mensagens de metacampanha têm como objetivo fornecer relatos sobre a campanha eleitoral, bem como promover o engajamento dos telespectadores no esforço de campanha. As mensagens auxiliares, por sua vez, se destinam a estruturar a propaganda de partidos e candidatos como um programa de televisão, bem como ajudam a fornecer uma unidade estilística a esses programas (Albuquerque, 1999). Para além desses desafios genéricos, os partidos políticos devem lidar ainda com outros, relativos à natureza específica do pleito e dos cargos em disputa. No primeiro caso, as condições de exposição dos candidatos são melhores no caso de eleições “solteiras”, quando apenas um cargo está disponível à concorrência entre candidatos. Entretanto, no Brasil, guardadas algumas exceções pontuais 6, as eleições são “casadas”, ou seja, os cargos executivos e legislativos correspondentes são disputados simultaneamente. O problema apresenta maior complexidade no caso de eleições gerais, nas quais têm lugar simultaneamente disputas para cargos executivos e legislativos em âmbito nacional e estadual. Já no segundo turno das eleições ocorre uma melhora significativa das condições de visibilidade dos candidatos, não apenas 6 Constituem-se exceções as eleições para prefeito em 1985 e para presidente em 1989. Propaganda Política, Partidos e Eleições 79 porque a disputa se resume aos cargos executivos, mas também porque o número de candidatos se vê reduzido a dois por cargo. No segundo caso, as condições de exposição dos candidatos são muito superiores nas eleições majoritárias, especialmente para cargos executivos, do que nas proporcionais, uma vez que, nestas, não apenas o número de candidatos é muito maior, mas cada candidato concorre com todos os demais, inclusive com os do próprio partido. Diante das questões acima colocadas, uma análise das estratégias dos partidos políticos na construção de suas imagens no HGPE não pode desconsiderá-las. É o que se pretende na seção conclusiva deste trabalho. Estratégias dos partidos no uso da televisão A fim de maximizar suas chances eleitorais e revelar suas posições para a sociedade, os partidos políticos podem recorrer a variadas estratégias eleitorais, com diferentes consequências no que concerne à propaganda política na televisão. Uma das decisões relevantes, nesse sentido, diz respeito às coligações partidárias. São várias as razões que podem levar um partido a ingressar em uma coligação partidária: articular acordos que garantam a governabilidade, em caso de vitória; formar uma frente ampla a fim de enfrentar adversários poderosos; ultrapassar o quociente eleitoral e eleger representantes, no caso de partidos pequenos; ou vincular-se à imagem de um candidato popular. Entretanto, a principal razão, que importa aos objetivos deste capítulo, relaciona-se ao fato de que a conquista de tempo para a propaganda política na televisão tem se constituído em fator de estímulo às coligações partidárias. A decisão de coligar-se, no entanto, deve levar em conta alguns problemas a ela associados. Em primeiro lugar, elas podem se constituir como um fator de diluição da identidade dos partidos coligados, seja porque eles apresentem perfis ideológicos muito distintos, seja porque partidos minoritários tendem a ter a sua identidade partidária apagada em benefício da identidade do partido líder da coligação, quando há razoável afinidade ideológica. Ainda assim, os benefícios advindos da coligação podem ser capazes de superar os referidos problemas. Uma chapa majoritária que coligue dois ou três 80 Marcia Ribeiro Dias grandes partidos, com diferenças ideológicas significativas, não necessariamente assume a identidade do partido líder. A aliança PSDB – PFL foi exemplar nesse sentido. Inicialmente os dois partidos posicionavam-se em campos opostos no eixo ideológico, mas o conteúdo programático da aliança tendeu claramente para a centro-direita, posição ocupada pelo PFL. Os benefícios deste último, em termos de crescimento de bancada parlamentar, foram evidentes. Nesse caso quem perdeu em identidade foi o PSDB; é possível dizer que esse partido é identificado muito mais com a estabilidade econômica gerada pelo Plano Real, pelas políticas implementadas durante a era FHC, do que com um conteúdo programático específico ou com o tipo de interesses que representa. 7 Em contrapartida, o PSDB manteve-se no poder central por oito anos consecutivos e expandiu sua bancada parlamentar nesse período. No caso dos pequenos partidos, algumas estratégias de preservação de uma identidade própria frente ao partido líder da coligação podem ser adotadas. O PC do B é um partido que pode ser citado como bem-sucedido na tarefa de preservação da identidade e sobrevivência política. Há muitos anos esse partido vem adotando estratégias de coligação nacional e regional, lançando um pequeno número de candidatos e sempre os mesmos, ao ponto da imagem desses candidatos se fundirem à imagem do próprio partido. Esse tipo de estratégia tem sido eficaz na captação de votos, pois o PC do B, geralmente, concentra sua votação em poucos candidatos com ampla visibilidade, colocando-os entre os mais votados da coligação e, portanto, aptos a adquirirem cadeiras legislativas. Podemos comparar esse caso ao do antigo PCB que primou, em suas estratégias, em apresentar um amplo número de candidatos e não obteve sucesso eleitoral. O PCB perdeu em identidade, mudou sua sigla para PPS e hoje pouco resguarda da imagem do “partido mais antigo do Brasil”, slogan de antigas campanhas. Sendo assim, do ponto de vista da propaganda política na televisão, a determinação do número de candidatos que comporão a chapa dos partidos para as eleições proporcionais é uma das questões mais relevantes. Essa questão assume uma relevância ainda maior no caso das coligações partidárias, uma vez 7 Ver Veiga (2002), sobre a dificuldade do eleitor em definir uma identidade para o PSDB e a clareza com relação ao PFL. Propaganda Política, Partidos e Eleições 81 que nesse caso, à competição intrapartidária soma-se a competição entre os partidos que compõem a coligação. Desse modo, a atomização dos votos entre os candidatos de um mesmo partido pode levar a que nenhum deles seja eleito, em benefício de outros partidos que compõem a coligação e que utilizem estratégias de concentração em um pequeno número de candidatos. As eleições constituem, nas sociedades democráticas, momentos privilegiados da disputa interpartidária: nelas, os partidos se confrontam tendo como objetivo a conquista do eleitorado. As eleições, no entanto, são momentos cruciais também do ponto de vista da dimensão intrapartidária. Tão importante para os partidos quanto conquistar terreno é assegurar a manutenção da unidade partidária. As eleições colocam em questão também o problema do equilíbrio de poder entre as correntes que constituem cada partido político. Independentemente do resultado das urnas, o modo de atuação dos partidos políticos, durante o processo eleitoral, pode ter consequências importantes do ponto de vista da política intrapartidária. Escolhidos os candidatos, pode ocorrer que alguns deles sejam considerados candidatos preferenciais do partido e sejam privilegiados na alocação dos seus recursos. O acesso à propaganda política na televisão constitui um parâmetro privilegiado para a avaliação de tal escolha já que os candidatos não podem obter acesso à propaganda política na televisão senão através dos partidos políticos. As escolhas dos partidos se tornam ainda mais visíveis quando se considera a quantidade de tempo disponibilizada para cada candidato, os apoios políticos e os recursos comunicativos a eles destinados. Os modos de alocação dos recursos do partido, especialmente o tempo para a propaganda política na televisão, e seus impactos sobre a vida política intrapartidária podem variar significativamente entre os partidos. É possível afirmar que os diferentes tipos de arranjos institucionais intrapartidários (Lacerda, 2002) constituem um elemento importante a ser considerado na explicação do fenômeno. Como foi dito acima, as eleições no Brasil são “casadas”, ou seja, os cargos Executivos e Legislativos correspondentes são disputados simultaneamente: Presidente da República e Congresso Nacional; Governadores e Assembleias Legislativas; Prefeitos e Câmaras Municipais. As eleições 82 Marcia Ribeiro Dias nacionais ocorrem simultaneamente às eleições estaduais, o que determina uma mescla de estratégias nacionais e regionais que se influenciam mutuamente. As eleições municipais têm uma natureza estritamente local, sendo que as estratégias comunicativas regulam-se prioritariamente por atributos específicos de cada localidade. Nesse contexto, um primeiro aspeto deve ser ressaltado: o grau de fatores nacionais e regionais que incidirão sobre a propaganda eleitoral para cada cargo em disputa. Na faixa destinada ao cargo de Presidente da República, os fatores utilizados pelos partidos em disputa terão caráter fundamentalmente nacional, estando contemplados fatores regionais apenas na medida em que o candidato ou partido menciona suas experiências governativas como exemplares do que será feito em âmbito nacional. No outro extremo, localiza-se a faixa destinada ao cargo de deputado estadual, sobre a qual incidirão quase que exclusivamente fatores propriamente regionais. Nas faixas destinadas aos cargos de deputados federais e senadores são encontrados os maiores índices de mescla entre fatores nacionais e regionais: os fatores nacionais se justificam pela centralidade das atribuições associadas a esses cargos; os fatores regionais pela representação de interesses regionais no nível federal. A faixa destinada ao cargo de governador é a que mais apresentará variação na utilização de fatores nacionais e regionais de estado para estado; tudo dependerá da convergência ou divergência entre os partidos que disputam o pleito regional e aqueles que disputam o pleito nacional. Dificilmente uma campanha para governador deixará de mencionar em seus programas o candidato nacional do mesmo partido, buscando afeiçoar suas propostas em âmbito regional ao projeto nacional. Mas, quando o partido em disputa pelo cargo de governador não possui candidato próprio para presidente, mesmo que esteja na base de apoio de um candidato de outro partido, a identificação entre as propostas nacional e regional será francamente atenuada. O segundo aspecto que deve ser ressaltado em uma análise das estratégias de propaganda dos partidos na televisão é o tipo de cargo em disputa e a regra eleitoral a ele associada. A primeira diferença está entre os cargos Executivos e Legislativos. A natureza do poder da Presidência da República e dos Governos estaduais é individual, ou seja, as prerrogativas institucionais e a responsabilidade política recaem exclusivamente sobre os ocupantes destes Propaganda Política, Partidos e Eleições 83 cargos. São eles que escolhem ministros e secretários para auxiliá-los na tarefa governativa, podendo substituí-los a qualquer descontentamento com seu desempenho. A natureza do poder legislativo, ao contrário, é coletiva. A tomada de decisões, nesse caso, depende da construção de consensos majoritários em torno de determinadas propostas; sendo assim, a responsabilidade política pelas decisões tomadas não pode ser atribuída a nenhum de seus membros individualmente. Da mesma forma, poucos são os benefícios privados, em termos de capitalização de votos, que podem ser extraídos pelos legisladores das decisões que foram tomadas coletivamente. Nesse sentido, teoricamente, as estratégias discursivas no HGPE para cargos Executivos seriam mais permeáveis à valorização de atributos individuais do candidato, enquanto que para cargos Legislativos primariam pelas “vocações” partidárias. Quanto ao tipo de regra eleitoral atribuída a cada cargo em disputa, a principal diferença está no fato de que em candidaturas majoritárias cada partido apresenta apenas um candidato, enquanto que em candidaturas proporcionais o partido ou coligação poderá apresentar tantos candidatos quanto forem as vagas disponíveis. No caso de haver duas vagas em concorrência pela regra majoritária, como ocorre periodicamente para o Senado, o partido poderá apresentar até dois candidatos. No caso da regra majoritária, que se configura em um “jogo de soma zero”, as chances de vitória de cada partido são reduzidas, inibindo, muitas vezes, a apresentação de candidatos próprios por partidos pequenos. Isso quer dizer que um significativo número de partidos optará por apresentar candidatos apenas para os cargos proporcionais, podendo ou não apoiar o candidato majoritário de outro partido. Nas candidaturas proporcionais, dependendo do tamanho do partido, das alianças que estabelece, do grau de coesão ou dispersão intrapartidária, o partido montará sua estratégia de campanha, seja na seleção do número de candidatos, seja na construção de seu discurso no HGPE. Finalmente, um último aspecto deve ser ressaltado na construção de uma metodologia de análise para as campanhas eleitorais na televisão: as estratégias dos partidos podem variar significativamente do primeiro para o segundo turno das eleições. A modificação de estratégia irá ocorrer em função da redução do número de candidatos em disputa para o mesmo cargo, fortalecendo, muitas vezes, a identidade política de cada candidatura. 84 Marcia Ribeiro Dias Vimos até aqui que o uso estratégico da televisão para a propaganda política dos partidos é um problema complexo, que envolve um sem-número de variáveis relativas às estratégias dos partidos políticos, aos problemas decorrentes das características particulares do sistema eleitoral brasileiro e aos desafios específicos que se apresentam no uso da televisão para a transmissão de mensagens políticas. A tarefa que se apresenta à análise é identificar as principais opções estratégicas que se apresentam aos partidos no tocante ao uso da televisão, estabelecer parâmetros consistentes que permitam identificá-las e relacioná-las de modo efetivo a essas variáveis. As discussões empreendidas ao longo deste texto certamente não esgotam a problemática do uso partidário da propaganda eleitoral na televisão. Colocaramse algumas questões como pontos de partida para a construção de uma metodologia de análise adequada ao problema brasileiro. Menos do que delimitar conclusões a respeito da temática referida, optou-se por discutir os critérios analíticos que não podem ser descartados: uma análise da propaganda política na televisão brasileira terá de se confrontar, necessariamente, com os desafios impostos pelos seus sistemas partidário e eleitoral e, ainda, como o próprio modelo de propaganda determinado pela legislação brasileira. Referências Bibliográficas ALBUQUERQUE, Afonso de (1995). Política versus televisão: o horário gratuito na campanha presidencial de 1994. Comunicação & Política, n.s., vol I, n° 3, p. 49-54. ALBUQUERQUE, Afonso de (1999). Aqui você vê a verdade na tevê: a propaganda política na televisão. Niterói: MCII (Publicações do Mestrado em Comunicação, Imagem e Informação), 1999. ALBUQUERQUE, A. de e DIAS, M. R. Propaganda Política e Construção da Imagem Partidária no Brasil. Revista Civitas, vol. 2, nº. 2, p. 309-326, 2002. DIAS, Marcia R. Projeção da imagem partidária nas estratégias de campanha na televisão: uma análise do HGPE 2002. Dados, Rio de Janeiro, v. 48, n. 1, p. 147183, 2005. ______. Partidos Protagonistas e Partidos Coadjuvantes: uma análise da construção da imagem partidária no HGPE 2006. In: 31º Encontro Anual da Anpocs, 2007, Caxambu. 31º Encontro Anual da Anpocs, 2007. Propaganda Política, Partidos e Eleições 85 AZEVEDO, Fernando A. Imprensa e Política: a cobertura eleitoral dos jornais paulistas no pleito de 2000. Paper apresentado ao 3º Encontro da ABCP. 2002 DUARTE, Celina Rabello . A Lei Falcão: antecedentes e impacto in LAMOUNIER, Bolivar (org.): Voto de desconfiança, eleições e mudança política no Brasil: 19701979. Petrópolis, Vozes, p. 173-216. 1980 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 1970 FAUSTO NETO, Antônio. O presidente da televisão: a construção do sujeito e do discurso político no guia eleitoral Comunicação e política, ano 9, n° 11, p. 7-27. 1990 FIGUEIREDO, Marcus; ALDÉ, Alessandra; DIAS, Heloísa ; JORGE, Vladimir. Estrátégias de Persuasão em Eleições Majoritárias: uma proposta metodológica para o estudo da propaganda eleitoral. Rio de Janeiro: IUPERJ, p. 58 (Série Estudos, 100). GOMES, Wilson. Propaganda política, ética e democracia. In MATOS, Heloíza (org.) Mídia, eleições e democracia. São Paulo: Scritta, p. 53-90. 1994a GOMES, Wilson. Estratégia retórica e Ética da Argumentação na Propaganda Política. In NETO, Antonio Fausto; BRAGA, José Luiz ; PORTO, Sérgio Dayrell (org.) Brasil: comunicação, cultura e política. Rio de Janeiro, Diadorim, p. 117133. 1994b LACERDA, Alan D. F. De. O PT e a unidade partidária como problema. Dados, vol. 45, nº 1, p. 39–76. 2002 MANIN, Bernard. As metamorfoses do governo representativo. Revista Brasileira de Ciências Sociais no 29, ano 10, p. 5-34. 1995 MIGUEL, Luis Felipe. O campeão da união: o discurso de Fernando Henrique na campanha de 1994. Comunicação & Política, vol V, no 1, nova série, p. 49-82. 1997 MIGUEL, Luis Felipe. Política e mídia no Brasil: episódios da história recente. Brasília: Plano, 2002. NICOLAU, Jairo. O deputado Vanderley e a reforma política. O Globo on-line, 11 de outubro de 2002. RUBIM, Antonio Albino Canelas; AZEVEDO, Fernando Antônio. Mídia e política no Brasil: textos e agenda de pesquisa. Lua Nova - Revista de Cultura e Política, no 43, 1998, p. 189-216. SAMUELS, David. Determinantes do Voto Partidário em Sistemas Eleitorais Centrados no Candidato: evidências sobre o Brasil. DADOS, vol. 40, nº 3, pág. 493 – 533. 1997 86 Marcia Ribeiro Dias SCHMITT, R.; CARNEIRO, L. P. ; KUSCHNIR, K. Estratégias de Campanha no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral em Eleições Proporcionais. Dados, Vol. 42, Nº 2, p. 277-297. 1999 VEIGA, Luciana F. Os Partidos políticos na democracia (de público) brasileira. Paper apresentado ao 3º Encontro da ABCP. 2002 Propaganda Política, Partidos e Eleições 87 Política e integração na América do Sul Maria Izabel Mallmann ∗ Introdução Até recentemente, mais precisamente até a última década do século XX, a ideia de América do Sul como unidade identitária não existia. Essa região era definida meramente em termos geográficos. A identidade regional era evocada a partir da suposta latino-americanidade que uniria em torno de um destino comum todos os países ao sul do Rio Grande com raízes históricas e culturais semelhantes. A construção do discurso identitário sul-americano coincidiu, não gratuitamente, com os desafios postos aos países da região, particularmente ao Brasil, pelas transformações mundiais do pós Guerra Fria e pela globalização, entre outros fatores. Tratava-se, nos anos 90, de encontrar um modo de projeção internacional que conciliasse desenvolvimento e abertura econômica, diferentemente do que ocorrera nas décadas precedentes, quando vigoraram políticas mais protecionistas. A década de 90, pelo menos em sua primeira metade, foi marcada pelo entusiasmo quanto às potencialidades da integração econômica e comercial. Discutiam-se as novas possíveis clivagens mundiais que não seriam, logicamente, de natureza política e ideológica, já que o capitalismo perdera seu maior oponente, o socialismo soviético. Formavam-se os chamados blocos econômicos. Nas Américas, duas novas frentes de integração surgiram: o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o North Free Trade Agreement (Nafta). O México, um dos mais importantes países latino-americanos aderiu ao Nafta, com cujos países membro, Estados Unidos e Canadá, mantinha fluxos comerciais relevantes. Ao Brasil, não interessava percorrer o mesmo caminho nem eventualmente “perder” outros parceiros para arranjos de integração semelhantes. Isso fez com que o país adotasse uma estratégia de projeção ∗ Doutora em Ciência Política pela Sorbonne, Paris III. Professora do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Membro do grupo de pesquisa Relações e Organizações Internacionais da PUCRS. E-mail: [email protected] regional mais ofensiva, buscando estabelecer e preservar seus interesses nos países sul-americanos, formando uma espécie de anteparo para etapas futuras de integração internacional. Em 1993, o Brasil propõe o alargamento do Mercosul à Comunidade Andina (CAN), de forma a constituir um bloco sul-americano. Embora essa proposta tenha sido assumida pelo Mercosul, em 1994, ela não progrediu antes do final daquela década. Em 1998, quando se iniciavam as negociações para a implantação da Associação de Livre Comércio das Américas (ALCA), proposta pelos Estados Unidos alguns anos antes, foram retomadas pelo Brasil as iniciativas para concretizar o projeto de integração sul-americana. Muito foi realizado nesse sentido, como será visto no decorrer deste capítulo. Nos últimos anos, não apenas as trocas comerciais, mas também projetos comuns de infraestrutura e de exploração energética aprofundaram a interdependência entre os países sul-americanos. Isso, contudo, não proscreveu o déficit interno de integração social, econômica e política em cada um desses países, nem tampouco suprimiu as desconfianças mútuas acerca das intenções de cada um, particularmente das do Brasil em relação aos demais. Hoje, transcorridos apenas alguns anos desde a opção sul-americanista do Brasil e quando afloram preocupantes conflitos capazes de questionar seriamente as relações regionais, cabe perguntar acerca da capacidade das políticas de integração e de aprofundamento da interdependência para evitar os piores desdobramentos de tais eventos. Neste capítulo, caracteriza-se a América do Sul, tal como delimitada pela política externa brasileira; listam-se e classificam-se as iniciativas de integração e os conflitos em curso, e, finalmente, recorre-se às teorias liberais da integração regional e da interdependência para explorar a potencialidade dos mecanismos de cooperação e de institucionalização das relações para prevenir conflitos. 1. Projeto sul-americano Como foi mencionado acima, a América do Sul como uma unidade de referência, com algum caráter identitário, começou a ser esboçada discursivamente pelo Brasil no início dos anos 90 e, em termos práticos, a partir do final daquela década. Política e integração na América do Sul 89 Os acontecimentos que marcam essa trajetória foram iniciados durante a VII Cúpula do Grupo do Rio 1 realizada em Santiago, em 1993. Na ocasião, Fernando Henrique Cardoso, então ministro do governo Itamar Franco, lançou a ideia de uma área de livre comércio que abrangesse todos os países sulamericanos. Essa proposta, encampada pelo Mercosul no ano seguinte, passou a materializar-se anos mais tarde em resposta a crescentes pressões externas, especialmente advindas do processo de negociação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). O acordo quadro firmado entre Mercosul e CAN, em 1998, foi um esforço no sentido de projetar uma via de integração atenta às características e potencialidades sul-americanas. A partir de 2000, inicia-se uma sequência de reuniões de presidentes sulamericanos com a intenção de constituir um espaço sul-americano que incluísse Chile, Suriname e Guiana, além dos países membros do Mercosul e da CAN (Almeida, 2002, p. 100). A I Cúpula de Presidentes Sul-Americanos foi realizada naquele ano, em Brasília, por iniciativa do já então presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, e aprovou, juntamente com o Comunicado de Brasília, um Plano de Ação, base para a criação da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) 2. Com isso, iniciava-se uma ofensiva coordenada para superar problemas endêmicos regionais. Em julho de 2002, foi realizada em Guayaquil, Equador, a II Cúpula de Presidentes SulAmericanos. Na ocasião, já era possível identificar claramente, no discurso diplomático do Brasil, o escopo da América do Sul. Ela incluía todos os países com os quais o Brasil tem fronteiras, mais Chile e Equador (Santos, 2005, p. 102). Com a mudança de governo no Brasil, em 2003, a via sul-americana de integração foi confirmada e novos canais facilitadores foram criados. A III Cúpula 1 O Grupo do Rio é uma instância diplomática latino-americana que reúne atualmente Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela e CARICOM (http//pt.wikipedia.og/wiki/Grupo- do-Rio). O Grupo do Rio originou-se do Grupo de Contadora (México, Colômbia, Venezuela e Panamá) e do Grupo de Apoio a Contadora (Argentina, Brasil, Peru e Uruguai) criados respectivamente em 1983 e 1985 para tratar da crise centro-americana deflagrada pela situação política na Nicarágua. Sobre esse assunto, ver MALLMANN, 2008. 2 A IIRSA é um programa de integração que busca viabilizar a comunicação e os fluxos intra e extrarregionais. Conforme informações oficiais (www.iirsa.org), a Iniciativa contempla projetos em infraestrutura, transportes, energia e comunicações. A Agenda de Implementação Consensuada 2005-2010 é constituída por 31 projetos de integração aprovados pelos países em 2004. 90 Maria Izabel Mallmann que teve lugar em Cuzco, Peru, em 2004, respalda a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Sul-americana (IIRSA), mas introduz modificações que tornam o Estado mais presente na definição e no financiamento dos projetos. Naquela ocasião, foi lançada a Comunidade de Nações Sul-americanas (CASA) com vistas a dotar o processo de integração de um espaço político apropriado a sua coordenação. Esse espaço teve, contudo, vida curta. Em abril de 2007, durante a I Cúpula Energética da América Latina, realizada em Ilha Margarita, Venezuela, foi criada a União de Nações Sul-americanas (UNASUL), em substituição a CASA. Essa mudança reflete a correlação de forças regional de meados da desta da década marcada pela ascensão da Venezuela de Hugo Chávez. 2. Assimetrias sul-americanas Em termos agregados, os principais indicadores socioeconômicos da região impressionam: os doze países 3 que constituem a América do Sul possuem uma extensão de 17 milhões de Km2, população de mais 380 milhões de pessoas, e PIB superior a 1 trilhão e meio de dólares. Contudo, se vistos mais de perto, percebe-se que sua distribuição é muito assimétrica. Em conjunto, Argentina, Brasil e Venezuela, detêm 70% da superfície total, 67% da população e 78% do PIB. Sozinho, o Brasil detém 40% da superfície total, 50% população e 45% do PIB. A quase totalidade dos países sul-americanos é agroexportadora, com baixos índices de industrialização e diversificação econômica. De todos, o Brasil é o único em que os manufaturados superam pouco mais de 50% do total das exportações. Nos países andinos, em cujas exportações pesam significativamente os bens energéticos e os minérios, o percentual de bens primários chega a atingir entre 80 e 90% das exportações. Essas assimetrias são, em grande medida, responsáveis pelas dificuldades interpostas ao processo de integração regional. Assimetrias de recursos de poder constituem, por si mesmas, grandes obstáculos à integração na medida em que interpõem aos típicos e complexos processos de alienação de soberania, problemas adicionais relativos a desigual geração e distribuição de benefícios. Cabe lembrar que acentuadas assimetrias 3 Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Política e integração na América do Sul 91 potencializam as já esperadas desconfianças a respeito do uso que eventualmente possa ser feito dos diferenciais de poder. A preocupação com a maximização do poder de alguns pode inviabilizar processos que suponham ampla distribuição de benefícios. No caso da América do Sul, a posição privilegiada do Brasil em praticamente todas as rubricas de poder, leva a que seus ganhos relativos se afigurem como desproporcionais e ameaçadores ao equilíbrio regional. Para o progresso da integração, essa situação recomenda que o Brasil exerça uma liderança branda, como, aliás, vem fazendo, contribuindo para minimizar as disparidades mesmo que isso implique em sacrifício de posições em termos absolutos. Além disso, seria desejável que instâncias supranacionais fossem criadas de modo a diluir o peso das partes. Contudo, antes disso, seria preciso vencer o sentimento soberanista que permeia as elites nacionais de modo a que se formasse algum consenso em torno da ideia regional. 3. Situação política sul-americana Como os demais países da América Latina, também os sul-americanos apresentam um quadro político apenas recentemente estabilizado, pelo menos do ponto de vista procedimental. Com muitas limitações no que diz respeito a qualquer ideal de democracia, os países sul-americanos ingressaram na onda de democratização iniciada nos anos 70 na Europa com as transições em Portugal, Espanha e Grécia. Primeiro foi o caso do Equador com a eleição de Jaime Rodóz em 1979; no ano seguinte, Jaime Balaúnde Terry foi eleito no Peru; em 1982, Hernán Silez Suazo foi eleito na Bolívia; em 1983, após a Guerra das Malvinas, Raúl Alfonsín foi eleito na Argentina; em 1985, Brasil e Uruguai elegeram respectivamente José Sarney e Julio Maria Sanguinetti; em 1989, Patrício Aylwin foi eleito no Chile e, no mesmo ano, Andrés Rodrigues chega ao poder no Paraguai mediante um golpe de Estado. Isso não foi pouco tendo em vista um passado regional dominado por regimes de exceção (Dabène, 2003, p. 208, Coutinho, 2008, p. 75). Na década de 60 ocorreram, em toda América Latina, os golpes de Estado preventivos com o intuito de evitar a propagação da experiência cubana. Na América do Sul, tais golpes iniciaram-se na Argentina e no Peru, em 1962, e se 92 Maria Izabel Mallmann repetiram nesses países em 1966 e 1968 respectivamente; no Brasil e na Bolívia os golpes ocorreram em 1964. Na década subsequente, ocorreram os golpes terroristas, assim denominados pela excepcionalidade da repressão que exerceram em nome de uma desejada purificação política (Dabène, 2003, p. 208). A sequência de golpes de Estado foi a seguinte: na Bolívia em 1971, no Chile e no Uruguai em 1973, no Peru em 1975, na Argentina e no Equador em 1976. O recorrente apelo a esse expediente, para a resolução dos impasses políticos, valoriza sua relativa ausência nos últimos anos apesar de, conforme salienta Coutinho, ele ainda ser aparentemente operacional a certos interesses em alguns países, notadamente no Paraguai e na Venezuela. Esse último país curiosamente fora, juntamente com a Colômbia, o paradigma de estabilidade política nos períodos de exceção acima evocados. Atualmente, os dois situam-se como os mais instáveis segundo a classificação de Coutinho (2008, p. 75). Nota-se, contudo, que desde as transições à democracia acima arroladas e apesar dos percalços, as instituições democráticas têm sido sistematicamente confirmadas na América do Sul4. 4. Os conflitos sul-americanos A relativa estabilidade política é perturbada por conflitos historicamente mal resolvidos, oriundos, em parte, da precária integração interna das sociedades sulamericanas, mas, também, das assimetrias regionais. Isso tem vindo fortemente à tona devido à ascensão de forças políticas até então apenas marginalmente integradas à vida política. Em alguns países, notadamente na Venezuela, na Bolívia, no Equador e no Paraguai, essa mudança política gerou importantes embates internos, em alguns casos devido à maneira como ocorre essa inclusão. Em todos os casos, vigora a via eleitoral. Porém, o teor das políticas emancipatórias assim como a forma com que são implementadas tem gerado conflitos. Deixada de lado a discussão acerca do perfil ideológico desses governos (Cruz Jr., 2008), o que convém reter é que eles expressam demandas 4 Aguarda-se para 2009-2010 uma rodada de quatorze pleitos eleitorais na região. Política e integração na América do Sul 93 historicamente reprimidas que, para serem contempladas, mudam significativamente as prioridades nacionais. Os países mais assolados por crises institucionais, conforme identificados acima, são também os que apresentam retórica mais à esquerda (socialismo do século XXI na Venezuela) e também, em certa medida, de acordo com Cruz Jr., realizam mudanças mais coerentes com o que seria uma plataforma de esquerda (Bolívia). Além disso, esses países têm apresentado as performances externas mais hostis, notadamente em relação ao Brasil. Da perspectiva do Brasil, essas performances colocam em xeque compromissos assumidos e estreitamente vinculados à estratégia de integração regional do país. A aposta havida em torno do aprofundamento da interdependência sulamericana nas áreas de infraestrutura e energética sofre limitações face às mudanças políticas ocorridas na região. Governos fortemente nacionalistas e dependentes de uma retórica e de formas de ação espetaculares inauguraram, nesta primeira década do século XXI, um período de hostilidades nas relações regionais cujos desfechos só não são mais catastróficos devido ao equilíbrio com que a diplomacia dos demais países, notadamente a do Brasil e a do Chile, é conduzida. No que concerne os interesses diretos do Brasil, os focos de tensão emanam das performances da Bolívia, do Paraguai, do Equador e da Venezuela. Os esforços de projeção regional da Venezuela, combinados com o perfil político do governo Chávez, introduziram uma clivagem política na América do Sul que, na melhor das hipóteses, incidem negativamente sobre a política de integração do Brasil, na medida em que a questionam como sendo essencialmente comercialista, econômica e pouco solidária. Hugo Chávez propõe a Alternativa Bolivariana para as Américas (ALBA), cujo teor é basicamente político e de ajuda bilateral e, em torno desse projeto, reúne os governos da Bolívia e do Equador de forma mais direta, mas também o do Paraguai. O governo boliviano de Evo Morales, por sua vez, busca introduzir, além de mudanças políticas que contemplem a inclusão dos povos indígenas daquele país, a reapropriação dos recursos naturais por parte do Estado. Essa política incidiu diretamente sobre as atividades da Petrobrás naquele país e a forma como a orientação governamental foi implementada, com ocupação militar das instalações da empresa brasileira e 94 Maria Izabel Mallmann com uma retórica hostil, maculou a confiança mútua necessária às parcerias internacionais. Da mesma forma, o mau desempenho da empreiteira brasileira Odebrecht no Equador foi tratado de forma exageradamente hostil, assim como as atividades da Petrobrás naquele país. O Equador ameaçou suspender os pagamentos ao BNDES contraídos para financiamento da obra realizada pela Odebrecht. Finalmente, o Paraguai exige a renegociação do Tratado de Assunção que estabelece os termos da exploração dos recursos da hidrelétrica de Itaipu contrariamente ao que defende o Brasil que se dispõe a cooperar com o desenvolvimento do Paraguai em outras frentes como ampliação das redes de transmissão de energia, desenvolvimento agrícola, entre outras. Face a esses contenciosos, o Brasil tem reconhecido o direito desses países em reaver a propriedade sobre seus recursos naturais e tem manifestado o entendimento de que o teor agressivo e hostil dos discursos e ações atende a necessidades políticas internas relacionadas a momentos eleitorais. Por outro lado, o governo brasileiro tem sido irredutível quanto a seus direitos juridicamente respaldados tanto pelo Tratado de Assunção no que se refere às demandas do Paraguai, como pelo Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR) 5 no que diz respeito ao contencioso com o Equador acerca do empréstimo do BNDES aquele país 6. No entanto, as consequências desses episódios ultrapassam a dimensão binacional e pontual em torno de questões específicas. Elas incidem sobre a credibilidade dos países envolvidos, sobre sua capacidade para cumprir compromissos e acordos, o que compromete a confiança regional necessária à progressão da integração. 5 O CCR é um sistema de compensação de pagamentos criado em 1982 para contornar os problemas de liquidez de divisas na região. Os Bancos Centrais são os signatários do Convênio que reúne 12 países da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI): Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e República Dominicana (http://www.bcb.gov.br). 6 O Equador contraiu dívida junto ao BNDES para a construção da usina hidrelétrica de San Francisco pela empresa brasileira Odebrecht. Houve graves problemas técnicos na obra entregue, o governo Equatoriano ameaçou suspender os pagamentos ao banco brasileiro e recorreu à arbitragem internacional. Política e integração na América do Sul 95 5. A dimensão socioeconômica Muito da instabilidade política que semeia incertezas quanto ao desempenho externo dos países sul-americanos diz respeito aos históricos índices de desigualdade presentes em todos os países da região. Observa-se que ao longo dos anos 90, o desemprego, as desigualdades e a violência seguiram aumentando ininterruptamente, apesar da recuperação econômica nos primeiros anos da década, não tendo sido possível reaver os índices do final dos anos 70 (Dabène, 2003). Dados recentes da Cepal indicam que há países na América do Sul em que mais de 30% (Bolívia) da população vive em situação de pobreza e até 15% em situação de indigência. Nesses quesitos, Chile (6.3% e 1.7%) e Uruguai (6.0% e 1.0%) são os que apresentam menores índices, Bolívia e Paraguai (29.5% e 13.1%) são os casos mais preocupantes. O percentual de pessoas cujo consumo energético alimentar situa-se abaixo dos níveis internacionalmente aceitos é particularmente elevado na Bolívia (23%), Venezuela (18%), Colômbia (13%), Paraguai (15%) e Peru (12%). Da mesma forma, o analfabetismo urbano é muito elevado em todos os países, apresentando índices medianamente aceitáveis apenas na Argentina (1.4%) e no Chile (2.8%). Segundo a Cepal, quatriênio compreendido entre 2003 e 2006 foi o de melhor desempenho econômico e social da América Latina nos últimos 25 anos, com isso os índices sociais tendem a apresentar alguma recuperação. Mesmo assim, os números absolutos são alarmantes. Tendencialmente, em 2006, o número de pobres e indigentes deveria situar-se em torno de 205 e 79 milhões de pessoas, respectivamente (Cepal, Anuário Estatístico 2006). Frente a esses índices, entende-se que a agenda interna dos países seja sobrecarregada por problemas de ordem social e política. Somam-se aos problemas estruturais, as sucessivas crises internacionais e os efeitos perversos dos modelos econômicos implantados, de modo que os esforços dos governos para fazer frente às demandas sociais não têm sido suficientes sequer para recuperar o padrão perdido nas últimas décadas. Essa pesada agenda interna reduz a capacidade de proposição externa e de engajamento regional comprometedor de autonomia por parte dos Estados para quem os ganhos 96 Maria Izabel Mallmann imediatos, por menores que sejam, são mais importantes diante da possibilidade de maiores ganhos futuros. Acrescente-se a isso o fato de que, uma estrutura socioeconômica desigual debilita as capacidades individuais, fragiliza os direitos políticos, propicia relações autoritárias generalizadas e, com isso, distorce o exercício da cidadania e da accountability, próprios de uma democracia estável (O’Donnell 2000, p. 359). Diante disso, é compreensível o permanente estado de ebulição e instabilidade política na maioria dos países da região, apesar da regularidade eleitoral. De 1979 a 1990, ocorreram treze transições para a democracia e entre meados de 2005 e final de 2006, quatorze processos eleitorais foram realizados na América Latina, destes, nove ocorreram na América do Sul onde houve avanço significativo de diferentes versões de esquerda em resposta às frustrantes experiências liberais da década anterior. Mesmo assim, permanece como um dos maiores desafios dos países sul-americanos, a consolidação de suas democracias, o que supõe ir além das garantias institucionais formais e perpassar a sociedade com políticas adequadas de inclusão social e econômica que habilite os indivíduos ao exercício da cidadania. Portanto, acompanham os desafios de natureza econômica e social aqueles propriamente políticos e institucionais que repousam sobre a necessidade de suprimir os chamados “campos negativos” (sociedade incivil e sociedade política pouco submetida) que a redemocratização, por si só, não consegue remover (Mendez, 2000, p. 12). Para tanto, é necessário “Um Estado legal democrático forte que estenda seu poder regulatório sobre a totalidade de seu território e por todos os setores sociais” (O’Donnell, 2000, p. 358). Ocorre que os países sul-americanos carecem desse Estado legal democrático forte, no sentido de que age através da sociedade e configura um poder infraestrutural capaz de implementar decisões em todo o seu território, independentemente de quem as tome, ou seja, um Estado eficiente (Mann, 2006). Além disso, segundo Mann, aos problemas estruturais decorrentes do déficit histórico de eficiência do Estado, refletido na carência de alcance e de infraestrutura, sobrepõem-se os problemas de situação, tais como a produção de drogas e a questão da dívida externa (Mann, 2006). Sobrepõem-se também outros desafios como os oriundos da violência urbana, das transformações do Política e integração na América do Sul 97 espaço público e significativamente, sobretudo na região andina, do novo despertar das etnias7. Esses fatores tornam o processo político mais instável e subtraem garantias quanto à continuidade dos compromissos. Em alguns países da América do Sul a inclusão política de segmentos historicamente excluídos dos processos decisórios tem introduzido variáveis cujos desdobramentos são bastante imprevisíveis ou, pelo menos, reorientam as expectativas quanto à condução das relações regionais. Se isso, em si, não significa necessariamente o total abandono dos compromissos assumidos, pelo menos, reduz a confiança mútua regional, tão cara aos processos de integração e imprescindível para a resolução não violenta de conflitos em situações de interdependência complexa. Mais uma vez, sob certo ponto de vista, instituições regionais legítimas se fazem desejar. 6. Teorias da integração Os processos de integração regional podem ser analisados pelas principais teorias das relações internacionais. Os enfoques realistas enfatizam o potencial estratégico de tais iniciativas, ao passo que as abordagens liberais, cujas contribuições são aqui privilegiadas, preocupam-se particularmente com as condições e mecanismos institucionais que favorecem ou não a progressão de arranjos cooperativos. De modo geral, entre os analistas da integração regional, pertencentes à matriz liberal, há uma difundida compreensão de que processos desse tipo dependem da existência de alguns fatores identificados a partir de estudos clássicos desenvolvidos sobre a realidade europeia. Como será visto neste tópico, alguns desses fatores são a existência de interesses ou objetivos compartilhados, 7 O Panorama Social da América Latina 2006, produzido pela Cepal, destaca a irrupção dos povos indígenas como ativos atores sociais e políticos e o processo de consolidação de normativa internacional sobre seus direitos e suas conseqüências no que diz respeito a políticas públicas. O documento aponta para a “complexidade e heterogeneidade das dinâmicas da população indígena”, para a “persistente desigualdade que os afeta” e para o desafio das democracias do século XXI “em matéria de reformas estatais e de políticas tendentes a superar as brechas de aplicação dos direitos individuais e coletivos dos povos indígenas” (Cepal, 2006). A redemocratização favoreceu a ascensão política desses segmentos surgidos antes da democratização da década de 1980 e da liberalização dos anos 1990 (Trejo, 2006, p. 265). 98 Maria Izabel Mallmann a adesão a valores similares e o desenvolvimento de normas e regras comuns. Ou ainda, de acordo com Karl Deutsch, maturidade institucional, disposição para superar diferenças, percepção comum das ameaças externas, previsibilidade de comportamento, responsabilização mútua e regulação política. Tanto Ernest Haas como David Mitrany identificaram como importante para a integração a existência de partidos políticos, grupos de interesse, elites políticas e burocráticas interessadas em seu sucesso. Haas também alertou para a necessidade de mecanismos legitimadores da transferência das lealdades do plano nacional para o supranacional. Quanto aos mecanismos do processo integrador, importante contribuição foi dada com o desenvolvimento por Mitrany e Haas dos conceitos de “ramificação”, “respingamento” ou spillover. A partir dos anos 70, foi desenvolvido por Joseph Nye e Robert Keohane o conceito de interdependência complexa que daria sequência às reflexões acerca da integração não apenas em âmbito regional, mas mundial. Abaixo, esses conceitos serão brevemente abordados. Os interesses e objetivos estratégicos da Europa após a II Guerra Mundial estiveram voltados para a busca da paz e da segurança. Os entendimentos iniciais que marcaram a primeira fase da integração europeia buscavam encontrar um arranjo institucional que assegurasse o convívio pacífico entre os países e, ao mesmo tempo, neutralizasse as ameaças externas vindas tanto do expansionismo soviético quanto da hegemonia dos Estados Unidos. Com isso, foi possível assegurar o longo período de estabilidade e prosperidade que se prolonga aos dias de hoje. Karl Deutsch, um dos pensadores mais proeminentes sobre o assunto, defendeu a formação de uma comunidade de segurança, capaz simultaneamente de assegurar, por meios diplomáticos, a paz entre seus membros e de debelar, por meio militar, as ameaças externas. As condições necessárias para tanto, seriam a existência de maturidade institucional, disposição dos membros para superar diferenças e percepção comum das ameaças externas (Deutsch, 1984, Griffitz, 2004, p. 260; Dougherty, Pfaltzgraff, 2003, p. 648). Embora nem a Europa destroçada pela Guerra apresentasse as condições para tanto, haja vista a derrota do projeto de constituição de uma Comunidade Europeia de Defesa, fica claro que, dessa perspectiva, a adesão a valores similares, a percepção de Política e integração na América do Sul 99 constrangimentos externos comuns e a superação de desconfianças mútuas favorece o avanço da integração. Os estudos de Deutsch levaram à identificação de dois tipos de comunidades de segurança: as amalgamadas seriam aquelas nas quais houve a supressão das unidades previamente independentes e a criação de um governo comum, seriam os Estados-nação; as comunidades de segurança pluralistas seriam aquelas em que as partes manteriam a independência jurídica (Dougherty e Pfalzgraff, 2003, p. 660-1). A formação de comunidades de segurança pluralistas exige, segundo ele, três condições essenciais: compatibilidade de valores, previsibilidade mútua dos comportamentos das unidades e responsabilização mútua – capacidade de trabalhar em estreita colaboração de forma a responder aos assuntos mais urgentes. Essas condições, como veremos, se mostrarão relevantes para a análise das experiências atuais de integração. Deutsch também teve a clara percepção, que a partir dos anos 70 se fará presente no pensamento interdependentista, de que o mero aumento das trocas não conduz obrigatoriamente à integração. Ao contrário, segundo ele, transações mais intensas aumentam as possibilidades de conflito. Para Deutsch a regulação política seria imprescindível na medida em que facilitaria a resolução de tais conflitos. Ela decorreria do aumento das pressões oriundas do crescimento das trocas entre populações de diferentes áreas geográficas sobre as instituições existentes. Essas tenderiam a integrar-se na regulação das áreas de interesse comum. Em outros termos, a intensificação das transações políticas, culturais e econômicas aumentaria as pressões para que as instituições se adaptassem (Griffitz, 2004, p. 259). Mais tarde, teóricos da interdependência retomarão essa ideia para ressaltar a importância das instituições na conformação de uma ordem internacional mutuamente confiável. As teses de Deutsch quanto à necessidade de regulação política avançaram em grande medida em reação ao que se propugnava para a Europa nos anos 40. As teses funcionalistas de David Mitrany, desenvolvidas naqueles anos, preconizavam a minimização da esfera política em benefício da esfera técnica uma vez que aquele autor identificava as causas das guerras na ambição dos Estados pelo poder. Isso, segundo ele, poderia ser contornado pela sujeição da esfera política à esfera técnica. Mitrany considerava que havia no mundo mais 100 Maria Izabel Mallmann assuntos técnicos do que políticos e que a solução dos mesmos seria necessariamente cooperativa e superaria os limites das fronteiras estatais. Tais assuntos seriam melhor resolvidos por funcionários técnicos especializados do que por políticos. Para ele, a paz não seria assegurada por tratados ou acordos que meramente definissem as relações entre os Estados; para assegurá-la, seria necessário fundi-los, através da conexão de interesses comuns em diversos domínios técnicos, ou áreas temáticas que teriam o mérito de, ao multiplicaremse, reduzir o poder do Estado. Desenvolvendo-se por etapas, as atividades tecnicamente organizadas acabariam por constituir instâncias de paz crescentemente profundas e extensas que decorreriam não de alianças que tornam a paz provisória, mas de atividades que tornariam os compromissos irreversíveis 8. Para o autor, o processo integrador incluiria inicialmente tarefas funcionais específicas e disporia de potencial para se expandir para outros setores (ramificação) podendo conduzir à união política. Nesse processo, seria de fundamental importância o papel dos partidos políticos e grupos de interesse e o grau em que as elites políticas dariam ou não seu apoio à integração. Segundo Dougherty e Pfaltzgraff, para Mitrany a cooperação seria o meio adequado para atender a necessidades específicas e, através delas, estariam criadas as bases para a formação e consolidação de regimes e instituições internacionais. Haveria uma espécie de “aprendizado cooperativo”, no qual a cooperação em uma determinada área levaria à cooperação em outra e diminuiria a possibilidade de guerra. Em outros termos, “Da cooperação funcional resultaria o fundamento para as instituições do tipo das organizações e regimes internacionais baseados no multilateralismo e que deveriam reduzir a importância do Estado” (Dougherty e Pfaltzgraff, 2003, p. 651). Embora tivesse como horizonte os ideais da supranacionalidade, Ernest Haas identificou na dimensão política o fator essencial da integração, uma vez que, para ele, ela é “um processo pelo qual os atores políticos em diversos cenários nacionais distintos são persuadidos a trocar suas lealdades, expectativas e atividades políticas por um novo centro mais amplo, cujas instituições possuem ou demandam jurisdição sobre os Estados nacionais pré-existentes” (Haas apud 8 A paz o e desenvolvimento funcional da organização internacional, originalmente publicado nos números 5, 6 e 7 de L’avenir, em 1944. Trechos desse texto são reproduzidos em BRAILLARD, Philippe. 1990, p. 566-584. Política e integração na América do Sul 101 Dougherty, Pfaltzgraff, 2003, p. 648). Haas identificava na própria dinâmica da integração os fatores que fragilizariam as resistências nacionalistas à integração. Na medida em que o processo avançasse, através do “respingamento” ou “ramificação”9 de um domínio a outro, geraria mais e mais interesses compartidos, mais demandas por regulação e mais confiança nas novas estruturas institucionais. Essas eram por ele consideradas fundamentais para mediar os inevitáveis conflitos advindos da repartição dos benefícios. Tais instituições deveriam gozar de relativa autonomia e repousariam sobre o compromisso mútuo dos Estados de respeitar as regras consensualmente aceitas (Dougherty, Pfaltzgraff, 2003). Essa preocupação de Haas remete à de Deutsch quanto á dimensão regulatória necessária ao sucesso da integração. Outro aspecto relevante ao estudo da integração foi apontado por Haas a partir da análise do processo de criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA). Ele identificou que a decisão de prosseguir ou não a integração a partir daquela experiência dependeu em grande medida das expectativas de grupos de interesse envolvidos. Haas, assim como Mitrany, deu importância às elites e aos especialistas das burocracias nacionais para a execução da integração. Segundo Dougherty e Pfaltzgraff, “Haas assumiu que a integração prosseguia como resultado do trabalho das elites relevantes nos setores governamentais e privado por razões pragmáticas como a expectativa de que a eliminação das barreiras comerciais aumenta mercados e lucro” (Haas apud Dougherty, Pfaltzgraff, 2003, p. 651-2), daí a importância dos bons resultados e dos ganhos concretos para balisar as decisões quanto ao aprofundamento e à ampliação ou não da integração. Esse aspecto ressalta a importância das críticas quanto à condução de tais processos exclusivamente por segmentos governamentais, como tem sido recorrente no Brasil. Adicionalmente, Haas registrou que o interesse baseado em considerações pragmáticas pode ser efêmero se não for acompanhado de empenho ideológico e filosófico similar ao nacionalismo e à identidade nacional dentro dos Estados (Dougherty, Pfaltzgraff, 9 2003, p. 654). Também essa ideia pode ser A partir do conceito de ramificação de Mitrany, Haas desenvolveu o de spillover querendo, com ele, dizer que “as decisões iniciais ramificam para novos contextos funcionais, envolvem sempre mais pessoas, exigem sempre mais contatos e consultas entre burocracias que procuram dar solução aos novos problemas que derivam dos compromissos anteriores” (Dougherty, Pfaltzgraff, 2003, p. 653). 102 Maria Izabel Mallmann especialmente útil para a análise do processo sul-americano de integração, uma vez que algumas iniciativas podem ser arroladas como esforços nesse sentido. Como foi mencionado acima, a partir dos anos 70, foram desenvolvidas novas reflexões acerca da integração, dessa vez já com preocupações relativas ao escopo internacional do fenômeno. Joseph Nye e Robert Keohane (1984) desenvolveram o conceito de interdependência complexa para analisar as situações então crescentemente perceptíveis em que “atores e acontecimentos situados em diferentes partes de um sistema se afetam mutuamente” (Nye, 2002, p. 225). A interdependência complexa é, segundo Nye, um tipo ideal que possui três características básicas. Em primeiro lugar, as sociedades são conectadas por múltiplos canais que podem ser agrupados em categorias de relações: interestatais, transgovernamentais e transnacionais. Em segundo lugar, a variada agenda internacional que decorre das conexões acima citadas carece de uma hierarquia definida a priori, que estipule prioridades em termos de assuntos militares ou econômicos, por exemplo. Em terceiro lugar, a possibilidade do uso da força militar é minimizada em tais situações justamente porque não só muda a natureza do conflito como sua possibilidade de articulação sob a rubrica da soberania nacional (Nye, 2002, p. 236-7). Contrariamente ao que se poderia supor, em situações de interdependência complexa, aumentam as possibilidades e a complexidade dos conflitos, uma vez que envolvem variadas formas de poder. As situações de interdependência complexa, por decorrerem da combinação de dependências mútuas em diferentes áreas temáticas, dificilmente fazem coincidir as fragilidades e as fortalezas em cada uma delas, gerando equilíbrios instáveis. Além disso, segundo os autores, esse tipo de interdependência, por misturar questões nacionais e estrangeiras, “dá origem a coligações muito mais complexas, padrões de conflito mais intrincados e uma forma diferente de distribuição dos ganhos em relação à que existia no passado” (Nye, 2002, p. 228). Aos Estados nessa situação podem interessar os ganhos absolutos e relativos de seus pares. Esse é o caso de Estados comprometidos com estratégias de integração regional, em que desproporcionais ganhos individuais dificilmente redundam em benefícios para o andamento do processo como um todo. Política e integração na América do Sul 103 Portanto, o conceito alude a situações em que variados e mais numerosos agentes atuam em diferentes contextos cuja relevância não é definida a priori, mas em função dos interesses de tais agentes e, em que tal riqueza de conexões, gera compromissos mútuos desautorizando crescentemente o uso da força para a resolução dos conflitos. Isso por várias razões, entre elas pelo fato de os conflitos serem de natureza específica, não agrupáveis sob a rubrica da soberania nacional, e exigirem tratamento compatível. Nesses termos, o aumento da interdependência favorece a integração na medida em que exige numerosos e variados canais de comunicação aptos à gestão dos interesses e à resolução não violenta dos conflitos. O conceito de interdependência complexa permite apreender as situações de interdependência em função de quatro atributos básicos: origem, benefícios, custos relativos e simetria (Nye, 2002, p. 225). Quanto à origem, ela pode ser ambiental econômica e militar, entre outras. A interdependência militar decorre da competição que conta com a existência objetiva dos arsenais e com a dependência mútua das políticas de segurança, armamento e defesa. Nesse domínio, a interdependência pode ser danosa à paz se favorecer a escalada armamentista. A dependência econômica é necessariamente mais diversificada dado o variado número de agentes e interesses que envolve, mas incide também sobre as escolhas de políticas internas de desenvolvimento. Ambas são vulneráveis a fatores que influenciam a percepção dos agentes. Ou seja, a percepção da diplomacia quanto às ameaças reais pode tanto aumentar quanto reduzir a interdependência militar. Da mesma forma, a percepção dos decisores quanto às ameaças e oportunidades econômicas afeta o grau de interdependência na medida em que pode induzi-los a providenciar ou não a redução de suas vulnerabilidades, entre ouros fatores. Esse aspecto da percepção é muito relevante em casos em que se iniciam processos de aproximação e de aprofundamento da interdependência quando a confiança mútua é importante para encorajar a troca dos ganhos certos das estratégias individuais pelas incertezas de um cenário de maior interdependência como é o da integração regional. É justamente sobre essa dimensão perceptiva que incidem as estratégias de dissuasão implementadas por potenciais perdedores 104 em alguma Maria Izabel Mallmann situação de interdependência. O sucesso nas manipulações de assimetrias, práticas recorrentes em situações de interdependência, depende de percepções bem informadas a respeito das possibilidades de sucesso de tais ações que, quando inseridas em uma estratégia de integração, deverão ser balizadas por limites, cuja transgressão pode comprometer de forma indesejada o processo. Os benefícios da interdependência podem ser tanto de soma zero como de soma não nula. No primeiro caso, a perda de uma parte é o ganho de outra. No segundo, quando se trata de uma soma positiva, ambas as partes ganham e, quando se trata de uma soma negativa, ambas perdem. A interdependência engendra tanto situações competitivas de soma zero, como situações cooperativas de soma positiva (Nye, 2002, p. 227-8), para cujo desfecho a intenção dos agentes é decisiva. Em situações de integração regional, o compromisso das partes em relação aos objetivos e metas comuns deveria, em princípio, balizar as decisões dos agentes levando em consideração os resultados desejados em uma perspectiva de longo prazo, uma vez que, conforme Nye (2002, p. 226), é nesse prazo dilatado que os efeitos das escolhas sociais se fazem sentir. Nesses termos, pode-se estimar as dificuldades que países menos favorecidos enfrentam para realizar suas escolhas, uma vez que as necessidades presentes podem fazer com que os menores ganhos imediatos imponham-se às vantagens futuras. É importante observar que as situações de interdependência não geram necessariamente benefícios de modo a melhorar a posição de todos os envolvidos. Os aspectos políticos da interdependência consistem justamente na incerteza acerca de sua distribuição. “O não prestar atenção à desigualdade dos benefícios e dos conflitos que surgem acerca da distribuição de ganhos relativos, leva a que (se omitam) os aspectos políticos da interdependência” (Nye, 2002, p. 227). Tais aspectos são relevantes precisamente porque os benefícios gerados conjuntamente tendem a desencorajar os conflitos, embora não necessariamente o façam. O conflito pode advir do fato de que nem sempre os Estados estão mais interessados nos ganhos absolutos da interdependência. Com frequência, preocupa-os mais a sua vulnerabilidade em relação ao uso que os rivais farão de seus ganhos relativamente mais elevados. Porém, mesmo que seja impossível suprimir essa desconfiança, quando há adesão das partes a um projeto comum Política e integração na América do Sul 105 de integração, ela tende a ser minimizada face a garantias mútuas quanto ao uso das vantagens relativas. Quanto aos custos da interdependência, eles estão relacionados à sensibilidade a curto prazo e à vulnerabilidade a longo prazo dos envolvidos. A sensibilidade diz respeito à importância e à rapidez com que se propagam os efeitos da dependência. A vulnerabilidade está relacionada aos custos relativos de um país para alterar a estrutura de um sistema de interdependência, saindo do sistema ou alterando as regras do jogo. O mais vulnerável é o que incorreria em custos mais elevados nessa operação. O mais sensível não é necessariamente o mais vulnerável e vice-versa. A vulnerabilidade é uma questão de grau, depende da capacidade de uma sociedade para responder rapidamente à mudança e também da disponibilidade de substitutos e/ou de fontes alternativas de abastecimento (Nye, 2002, p. 229). Uma situação de interdependência desejável para o sucesso de um processo de integração seria a que combina alto grau de sensibilidade, com baixa vulnerabilidade das partes. A alta sensibilidade generalizada, decorrente de elevados índices de interdependência, tenderia a aumentar a responsabilidade de cada um em relação aos demais. Por sua vez, a baixa vulnerabilidade de cada um suporia a existência de importantes capacidades individuais o que tornaria sustentável a situação de interdependência. Quanto à simetria da interdependência, diz respeito aos graus de dependência mútua. Quanto mais simétrica a interdependência, mais raras são as ocorrências de extremos, características das situações assimétricas. Segundo Nye, a dimensão política da interdependência supõe a prática frequente de manipulação das assimetrias o que se constitui em fonte de poder. Em casos de interdependência envolvendo várias áreas, a manipulação é comumente realizada relacionando as questões, o que pode produzir efeitos significativos dependendo da intensidade do conflito. Nesse âmbito, as instituições internacionais são frequentemente usadas pelos Estados para estabelecer regras que influenciem o relacionamento das questões (Nye, 2002). Havendo regimes diferenciados para o tratamento das principais questões – capital, comércio, meio ambiente, etc – as partes militarmente mais fortes podem atuar no sentido de prejudicar as negociações nesses regimes caso venham a ser derrotadas contundentemente 106 Maria Izabel Mallmann em um deles. Contudo, a rede de interdependência também pode contê-las. Portanto, a manipulação da interdependência econômica nem sempre é vencida pelo maior Estado. Esse é o caso, por exemplo, de quando um Estado menor possui interesse maior em relação a uma questão que o dispõe a ir até as últimas consequências na negociação (Nye, 2000,). Uma iniciativa de integração que envolva importantes e numerosas assimetrias desigualmente distribuídas entre as partes é de difícil consecução, sendo necessário, nesses casos, que as normas e regras sejam estabelecidas de modo a minimizar tais disparidades. Se poucos delas se beneficiam e se são mínimas as vantagens de reverter esse quadro, a tendência é que a integração não ocorra. Os estudos relativos à interdependência complexa levaram ao desenvolvimento de um conceito correlato extremamente relevante para a análise de processos de integração, o de regime internacional. Esse conceito foi consolidado nos anos 80 a partir da definição formulada por Krasner para quem um regime internacional consiste num conjunto de princípios, normas e regras, e procedimentos de tomada de decisões em torno dos quais convergem as expectativas dos atores em determinada área das relações internacionais. O autor define os princípios como sendo as crenças, convicções que orientam a ação; as normas como alusivas aos direitos e obrigações que conformam os padrões de comportamento; as regras como prescrições ou proscrições específicas para a ação, e os procedimentos de tomada de decisões como práticas de fazer e implementar escolhas coletivas (Krasner, 1983, p. 2). O conceito foi desenvolvido como recurso analítico para explicar os mecanismos responsáveis pela convergência das expectativas dos agentes em áreas específicas das relações internacionais em um momento histórico em que as condições técnicas permitem a multiplicação de agentes e temas e o aprofundamento da interdependência. Para cada área temática (comércio, meio ambiente, finanças, entre outras) há agentes, normas, regras e procedimentos específicos que vinculam as realidades interna e internacional. Os regimes contribuiriam para entender a operacionalização da interdependência, ou seja, para “analisar a extensão e o modo como são aproximadas ocorrências internas e externas e como (o fenômeno) contribui para ampliar a porosidade das fronteiras no atual contexto internacional” (Rocha, 2006, p. 88 e 91). Por isso, é útil trabalhar Política e integração na América do Sul 107 com o conceito de regimes internacionais do ângulo da intermediação, senão da síntese, entre o ambiente externo e o doméstico de um país. O conceito se presta também para entender os atuais processos de integração regional extraeuropeus que respondem mais a estímulos descentralizados do que a comandos políticos centrais. Através de processos sociais, culturais e econômicos as normas, regras e procedimentos emanadas dos regimes são internalizadas e, com isso, generalizase a expectativa de que os agentes tenderão a reproduzi-las dotando o processo como um todo de estabilidade e previsibilidade (Rocha, 2006, p. 90). Contudo, essa relação não é estática, entre agente e estrutura existem determinações mútuas. Conforme Rocha, as normas não são apenas variáveis intervenientes, elas são constitutivas de estruturas e também de agentes internacionais. Com isso, “... as estruturas vão se transformando para acomodar interesses da maioria dos agentes [...] e os agentes também são forçados a redefinir o modo como eles se inserem na comunidade internacional” (Rocha, 2006, p. 84). Por isso, estimase que o envolvimento de um número crescente de agentes em áreas temáticas variadas (comércio, meio ambiente, infraestrutura, energia, entre outros) tende a institucionalizar situações de interdependência conformando espaços que demandam regulação no âmbito propriamente político, ou seja, na esfera de estruturação dos Estados. Essa situação tenderia, em tese, a impelir os agentes políticos – Estados – a aderirem, por sua vez, a regimes políticos regionais crescentemente alienantes de soberania, ou seja, a aprofundarem a integração. Na América do Sul, esse movimento rumo à criação e consolidação de estruturas mutuamente comprometedoras da soberania encontra importantes obstáculos. À frágil identidade regional, às históricas desconfianças mútuas somam-se fatores de ordem interna aos Estados e comuns à região e também fatores dissuasivos externos que retardam a criação de instituições supranacionais. Considerações finais O período que se estende de 1993, quando o Brasil lança a ideia de uma integração sul-americana, a 2007, quando a iniciativa brasileira sofre alguns reveses, é relevante para entender o processo de integração a partir das 108 Maria Izabel Mallmann vicissitudes do cenário político regional. Ao lado de importantes condicionantes externos, aspectos da realidade regional, em maior ou menor grau comuns a todos os Estados, sobrecarregam as agendas nacionais e dificultam os processos de regionalização. As assimetrias regionais que revelam significativas disparidades na distribuição de recursos de poder, o déficit democrático responsável pela permanente instabilidade política e a fragilidade infraestrutural dos Estados que deixa à deriva importantes segmentos sociais são ordens de problemas que dificultam a formação e consensos nacionais a favor da integração regional. Nesse contexto, as condições necessárias para o sucesso da integração encontram-se debilitadas na América do Sul. Em decorrência das assimetrias regionais, da competição por liderança e das agendas sociais internas multiplicam-se e diversificam-se os focos de conflito e os obstáculos à integração. Os fatores acima evocados como sendo fundamentais a um processo de integração como a existência de interesses ou objetivos compartilhados, a adesão a valores similares, o desenvolvimento de normas e regras comuns, a maturidade institucional, a disposição para superar diferenças, a percepção comum das ameaças externas, a previsibilidade de comportamento, a responsabilização mútua e a regulação política, se encontram severamente ameaçados pelas crises políticas e rivalidades regionais. A crise que se abateu sobre as finanças e a economia mundial pode, por um lado, subtrair recursos a estratégias políticas aventureiras, mas, por outro lado, tende a exacerbar os já agudos problemas sociais da região. Nesses termos, apesar de ser forçoso reconhecer que a integração sul-americana progrediu muito nas últimas décadas e que a política externa do Brasil parece irreversivelmente propensa a manter a região como prioridade, deve-se admitir que é possível que se ingresse em um período de estagnação desse processo. Referências Bibliográficas ALMEIDA, Paulo Roberto. Os primeiros anos do século XXI. O Brasil e as relações internacionais contemporâneas. São Paulo: Paz e Terra, 2002. Política e integração na América do Sul 109 COUTINHO, Marcelo. Crise Institucional e Mudança Política na América do Sul. Rio de janeiro: Marcelo Coutinho, 2008. CRUZ Jr., Ademar Seabra da. Fazendo o caminho ao andar: aportes introdutórios para a caracterização da esquerda Latino-Americana no começo do século XXI. In: LIMA, Maria Regina Soares de (Org.). Desempenho de governos progressistas no Cone-Sul: agendas alternativas ao neo-liberalismo. Rio de Janeiro: Edições IUPERJ, 2008. DABÈNE, Olivier. América Latina no século XX. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. DEUTSCH, Karl W. Análise das relações internacionais. 2ª. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1982. DOUGHERTY, James; PFALTZGRAFF, Robert. Relações internacionais. As teorias em confronto. Lisboa: Gradiva, 2003. GRIFFITZ, Martin. 50 grandes estrategistas das relações internacionais. São Paulo: Contexto, 2004. HASENCLEVER, Andréas; MAYER, Peter ; RITTBERGER, Volker. Theories of international regimes. 1a ed. Cambrige: Cambridge University Press, 1997. KEOHANE, Robert O. After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984. KRASNER, Stephen D. (Org.). International Regimes. Ithaca and London: Cornell University Press, 1983. MALLMANN, Maria Izabel. Os ganhos da década perdida. Democracia e diplomacia regional na América Latina. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. MANN, Michel . A crise do Estado-nação latino americano. In: DOMINGUES, José Maurício; MANEIRO, María (Orgs.). América Latina Hoje. Conceitos e interpretações. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 163-193. MENDEZ, J. Introdução. In: MENDEZ, J. O’DONNELL; G., PINHEIRO, P. S.; (orgs.). Democracia, violência e injustiça. O não-estado de direito na América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 337-373. MITRANY, David. Trechos de A paz o e desenvolvimento funcional da organização internacional. In: BRAILLARD, Philippe (1990). Teorias das Relações Internacionais. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1990, p. 566-584. NYE, Joseph. Compreender os conflitos internacionais. Uma introdução à teoria e à história. Lisboa: Gradiva, 2002. 110 Maria Izabel Mallmann O’DONNELL, Guillermo. Poliarquias: a (in) efetividade da lei na América Latina. Uma conclusão parcial. In: MENDEZ, J., O’DONNELL; G., PINHEIRO, P. S., (Orgs.). Democracia, violência e injustiça. O não-estado de direito na América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 337-373. ROCHA, Antônio Jorge Ramalho. Relações Internacionais. Teorias e agendas. Brasília: IBRI, 2006. SANTOS, Luís Cláudio Villafañe G. Brasil: Americano, Latino-Americano ou SulAmericano? Cuadernos del CLAEH, Montevidéu, 2ª série, v. 28, p. 87-107, 2005. TREJO, Guillermo. Etnia e mobilização social: uma revisão teórica com aplicações à “quarta onda” de mobilizações indígenas na América Latina. In: DOMINGUES, José Maurício ; MANEIRO, María (Orgs.). América Latina Hoje. Conceitos e interpretações. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 225275. Política e integração na América do Sul 111 Pentecostais e política no Brasil: do apolitismo ao ativismo corporativista Ricardo Mariano (PUCRS) 1 O capítulo aborda o ativismo político dos pentecostais no Brasil, conferindo destaque à sua inserção e participação na política partidária no Congresso Nacional, a atuação corporativista das igrejas Assembleia de Deus e Universal do Reino de Deus, a criação e atuação da Frente Parlamentar Evangélica e a nova bancada evangélica, fragilizada pelo escândalo das sanguessugas. Antes disso, discorre sumariamente sobre esse movimento religioso no país, realçando sua expansão demográfica e sua diversidade interna. Nascido nos Estados Unidos no começo do século XX, o pentecostalismo distingue-se teologicamente do protestantismo histórico por seu firme propósito de resgatar e reviver crenças e práticas do cristianismo primitivo relatadas na Bíblia. Para tanto, prega a contemporaneidade da manifestação dos dons do Espírito Santo, entre os quais destaca os dons de línguas, cura e discernimento de espíritos. Avessos à erudição e ao liberalismo teológico, os pentecostais creem que Deus continua curando enfermos, expulsando demônios, realizando milagres, concedendo bênçãos e dons espirituais a seus leais servos. De cunho popular, taumatúrgico e mágico, essa religião cristã encontrou solo fértil no Brasil, em que completará um século de existência em 2010 e no qual cresce aceleradamente desde os anos 50. Sua expansão acelera-se mais ainda a partir da década de 80, momento em que esses religiosos passaram a conquistar, em parte como efeito do próprio recrudescimento de seu avanço demográfico, crescente visibilidade pública, espaço na mídia eletrônica e, para surpresa geral, poder político e partidário. Os pentecostais somavam 3,9 milhões em 1980; 8,8 milhões em 1991 e 18 milhões em 2000, conforme os Censos Demográficos do IBGE. Desde 1980, dobram de tamanho a cada década. Em 2007, o Instituto Datafolha divulgou os seguintes dados de um survey que realizou sobre religião no Brasil com brasileiros acima de 16 anos: os católicos caíram para 64% da população; os 1 Doutor em sociologia pela USP e professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUCRS. evangélicos 2 subiram para 22%, dos quais 17% eram pentecostais e 5% protestantes. Atualmente, portanto, são mais de 40 milhões de evangélicos no país, sendo quase 80% deles pentecostais. 17% da população brasileira representam cerca de 32 milhões de pessoas, o que faz do Brasil o maior país pentecostal do planeta em números absolutos. A título de comparação, segundo pesquisa do Pew Research Center, os EUA, berço desse movimento religioso, tinham apenas 5,8 milhões de pentecostais em 2006. Presente em todo o território nacional, o pentecostalismo cresce majoritariamente nos bairros e periferias pobres das regiões metropolitanas. Cresce na pobreza, mas nem por isso deixa de dispor de uma parcela de seguidores de classe média e mesmo média alta. Comparados à média da população brasileira, os pentecostais congregam mais mulheres que homens, mais crianças e adolescentes que adultos, mais negros, pardos e indígenas do que brancos, detêm maior proporção de pessoas com cursos de alfabetização de adultos, antigo primário e primeiro grau; ocupam mais empregos domésticos com e sem carteira de trabalho e, em sua maioria, auferem até três salários mínimos de renda mensal (Jacob, 2003: 39-69). Existem centenas de igrejas pentecostais no país. Contudo, não obstante a fragmentação institucional, seus adeptos não estão dispersos, pulverizados por uma infinidade de igrejas. Conforme o Censo Demográfico de 2000, cinco denominações pentecostais concentram aproximadamente 85% de seus fiéis: Assembleia de Deus (8.418.154 adeptos), Congregação Cristã no Brasil, (2.489.079), Universal do Reino de Deus (2.101.884), Evangelho Quadrangular (1.318.812) e Deus é Amor (774.827). Tal concentração, porém, não resulta em qualquer tipo de homogeneidade, dado que esse movimento religioso apresenta elevada diversidade comportamental. Isso, interna nos por sua planos vez, doutrinário, resulta em organizacional variegadas e estratégias proselitistas, diferentes públicos-alvo, distintas relações com os poderes públicos, com a política partidária e com os meios de comunicação de massa. 2 Na América Latina, o termo evangélico abrange as igrejas cristãs oriundas da Reforma Protestante europeia do século XVI e de suas cisões e correntes posteriores. No Brasil, o termo designa, conjuntamente, as igrejas protestantes históricas (Luterana, Presbiteriana, Congregacional, Anglicana, Metodista e Batista) e todas as pentecostais, destacando-se Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Deus é Amor e Universal do Reino de Deus. Pentecostais e política no Brasil 113 Atuação política O declínio católico, a expansão evangélica, a relação distinta que esses grupos religiosos mantiveram com a ditadura militar e a política de segurança nacional e, em seguida, com o movimento pela redemocratização do país contribuíram para alterar as relações destes grupos religiosos entre si e com o Estado. Nesse período, a Igreja Católica, ao opor-se à ditadura militar e defender os direitos humanos a partir de 1968, perdeu, como ator religioso, a exclusividade na relação e no estabelecimento de diálogo e negociação com os dirigentes políticos e estatais. Os militares aproximaram-se dos evangélicos, sendo que muitos de seus pastores realizaram cursos na Escola Superior de Guerra. Mesmo no auge da repressão, os governos militares, já privados do apoio católico, continuaram logrando manter o apoio – com exceção da cúpula luterana – de líderes protestantes e pentecostais. Em parte, isso ocorreu em razão de que esses religiosos, em sua maioria, eram visceralmente anticomunistas e, na condição de minoria discriminada, almejavam reconhecimento social, apoio governamental e recursos públicos. Até o final dos anos 70, os espaços legítimos de atuação dos crentes, segundo a visão predominante nesse meio religioso, restringiam-se, em boa medida, à igreja, à casa e ao trabalho (Brandão, 1980). Para combater a corrupção mundana e manter-se passo a passo no caminho estreito da salvação, apregoava o lema “crente não se mete em política”, já que percebia a política como diabólica e corruptora. Em suma, o pentecostalismo mantinha um comportamento já tradicional de não participação na política partidária. Em razão disso, a literatura acadêmica da época considerava-o passivo, alienado, alienante e conservador no campo político (D’Epinay, 1970; Camargo, 1973). Classificação que levava em conta igualmente sua oposição religiosa ao comunismo (por receio de perseguição religiosa), seu apoio ao regime militar e sua tendência a votar nos candidatos do governo. E, em contraste, muitos pesquisadores consideravam a resistência da esquerda católica à ditadura como modelo exemplar de atuação política para os demais grupos religiosos, os quais, cumpre observar, naquele contexto detinham menor condição de opor-se ao regime militar por não contar com a tradição, com o poder eclesiástico, com o peso demográfico, com a 114 Ricardo Mariano legitimidade institucional e religiosa da Igreja Católica e nem muito menos com o apoio que esta angariava no exterior. Algumas iniciativas individuais, avulsas e isoladas, dão início à participação de pentecostais na política partidária nas eleições de 1978, momento em que ainda prevaleciam análises e avaliações acadêmicas enfatizando sua alienação política (Alves, 1978). Aos poucos esse grupo religioso foi abrindo-se à participação política. Em maio de 1981, o Mensageiro da Paz, jornal oficial da Assembleia de Deus, por exemplo, permitiu aos pastores candidatarem-se desde que se licenciassem do pastorado (Baptista, 2009). Nas eleições municipais de 1982, observa-se a ampliação do número de candidaturas de pentecostais, fenômeno registrado pontualmente por pesquisas empíricas realizadas por Soares (1983; 1985), Stoll (1983) e Kliewer (1982), que contestaram a pecha de alienados atribuída preconceituosamente a esses religiosos pela literatura acadêmica anterior. Até o início dos anos 80, portanto, os pentecostais brasileiros se autoexcluíram deliberada e majoritariamente da política partidária. Foram poucas as exceções, sendo a principal delas a eleição de dois parlamentares apoiados oficialmente pela Igreja O Brasil para Cristo nos anos 60. No pleito de 1982, a participação política pentecostal não foi dirigida por lideranças denominacionais e nem contou com seu apoio oficial. Surpreendentemente, em meados da década de 80 grandes igrejas pentecostais brasileiras romperam com sua tradição quietista, ingressando de modo organizado no jogo político partidário nacional em defesa de seus interesses corporativos e de seus ideais e valores religiosos. Adotaram um novo lema para mobilizar os fiéis: “irmão vota em irmão”. Lema que intitulou livro do evangélico Josué Sylvestre (1986), escrito com o objetivo de propor e defender a guinada ideológica e política de seus irmãos de fé na Constituinte. O marco dessa mudança ocorreu justamente na Assembleia Constituinte, quando a cúpula eclesiástica da Assembleia de Deus, temendo que a nova Carta Magna restringisse sua liberdade religiosa e restabelecesse a Igreja Católica como religião oficial do Estado – boatos alarmistas e persecutórios que seus próprios dirigentes e membros contribuíram para disseminar por todo o país –, mobilizou suas bases pastorais para apoiar o lançamento de candidaturas oficiais na maioria dos estados brasileiros, estratégia que conseguiu eleger 13 deputados Pentecostais e política no Brasil 115 federais (Mariano e Pierucci, 1992). Em razão do esforço eleitoral da Assembleia de Deus e de outras denominações, da legislatura de 1982 para a de 1986 o número de deputados federais pentecostais saltou de dois para 18, crescimento de 900% de sua representação no Congresso Nacional, que, somados aos 14 deputados protestantes eleitos, resultou numa bancada de 32 evangélicos, fenômeno que chamou a atenção da imprensa e de sociólogos da religião (Pierucci, 1989). Para dimensionar o sucesso pentecostal no pleito de 1986, cumpre observar que, entre 1910 e 1982, esses religiosos haviam eleito apenas cinco deputados federais. A representação política dos evangélicos no Congresso Nacional até então fora efetuada por presbiterianos (36 deputados federais), batistas (25), luteranos (15), congregacionais (9) e metodistas (9), concentrados nas regiões Sudeste e Sul, em especial nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (Freston, 1994, p. 30). Na legislatura de 1987 a 1990, ocorreu, portanto, uma mudança radical na representação política dos evangélicos na Câmara Federal: os parlamentares pentecostais tornaram-se maioria, assumindo, de forma inédita e inesperada, o protagonismo político no campo evangélico. Protagonismo que se manteve nas legislaturas seguintes, sob a liderança das igrejas Assembleia de Deus e Universal do Reino de Deus. Mudança tão brusca demandou, por parte de seus responsáveis, considerável esforço para justificá-la. Pastores e parlamentares pentecostais justificaram o ingresso na política partidária por ocasião da Constituinte, alegando, além do propósito de assegurar sua liberdade religiosa e de impedir que a Igreja Católica voltasse à condição de religião oficial do Estado, que grupos adversários, como homossexuais, feministas, macumbeiros e católicos entre outros, defenderiam seus interesses por ocasião da elaboração da nova Carta Magna do país (Sylvestre, 1986). Por isso, sua presença e participação na Constituinte era crucial, para combater, sobretudo, a descriminalização do aborto e do consumo de drogas, a união civil de homossexuais e a imoralidade, defender a moral cristã, a família, os bons costumes, a liberdade religiosa e de culto e inserir símbolos religiosos (Bíblia) na nova Constituição. Tratava-se, portanto, de ingressar na política partidária para defender sua liberdade religiosa e a moralidade cristã tradicional e para fazer oposição direta a seus adversários religiosos e laicos. 116 Ricardo Mariano Apesar de sua ênfase discursiva na moralização da política, vários parlamentares evangélicos, unidos ao bloco conservador denominado Centrão, protagonizaram escândalos variados de fisiologismo e malversação de recursos públicos, entre os quais a venda de votos para assegurar mandato de cinco anos a José Sarney, em troca de emissoras de rádio e recursos financeiros a fundo perdido (Pierucci, 1989). Apesar de majoritariamente associada ao Centrão, a bancada evangélica contava com uma minoria de parlamentares politicamente progressista, vinculada, em sua maior parte, a denominações protestantes tradicionais. Quanto ao perfil dos políticos pentecostais no Congresso Nacional nas últimas duas décadas, observa-se que parte considerável deles é composta por proprietários de veículos de comunicação, pastores e bispos, filhos e genros de pastores, cantores gospel, radialistas, televangelistas e empresários (Freston, 1994; Baptista, 2007). Cerca de metade deles é candidato oficial das igrejas, a maioria dos quais da Assembleia de Deus, da Universal do Reino de Deus e da Evangelho Quadrangular, cujos candidatos são escolhidos e apoiados pela denominação. Isto contribui para reforçar o caráter corporativista de sua atuação parlamentar e para diminuir sua autonomia política em relação às lideranças eclesiásticas, que, assim, podem exigir a defesa de seus interesses institucionais e exercer influência e tutela sobre seus mandatos. Apesar do crescente empenho eleitoral desses religiosos, cabe observar que a Congregação Cristã no Brasil e Deus é Amor, duas das maiores denominações pentecostais do país, mantêm-se afastadas da política partidária. Não apoiam candidaturas ao legislativo e aos cargos do executivo nem permitem que seus adeptos se lancem como candidatos. De modo semelhante, muitos pastores e fiéis da Assembleia de Deus e de outras igrejas pentecostais mantêmse avessos à mobilização política de suas cúpulas eclesiásticas, seja por princípio religioso ou ético, seja por opção política, seja por temerem eventuais efeitos deletérios da participação na política partidária sobre sua denominação (Burity, 2005). Os vários casos de corrupção denunciados nas últimas duas décadas envolvendo parlamentares evangélicos, majoritariamente pentecostais, reforçam, para muitos crentes, o acerto da posição pentecostal tradicional de separar rigorosamente as fronteiras entre igreja e política. Por essas razões, revela-se Pentecostais e política no Brasil 117 superestimada a suposta obediência eleitoral do rebanho pentecostal. Isto é, há muito de mistificação na ideia de que o rebanho pentecostal converte-se automaticamente a cada eleição em rebanho eleitoral. Ideia disseminada por líderes pentecostais quando negociam o apoio eleitoral de suas denominações a políticos e partidos diversos, e reproduzida frequentemente por órgãos da imprensa. Mas o fato é que muitos fiéis e pastores continuam resistindo a aderir às orientações eleitorais das lideranças pastorais. Tanto que, vinte anos depois do ingresso da Assembleia de Deus na política partidária, uma das tarefas principais do Conselho Político Nacional da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB) continua sendo a de “promover a conscientização política dos membros das Assembleias de Deus” sobre a necessidade de eleger parlamentares assembleianos. Não obstante o apolitismo de certas igrejas e da resistência de muitos pastores e fiéis de acatar as orientações políticas e eleitorais de suas lideranças, a acentuada expansão demográfica dos pentecostais, seu recente ativismo político, seu relativo sucesso eleitoral e sua notória disposição de participar nos poderes públicos acabaram por tornar esses religiosos atores relevantes no jogo político local e nacional nas últimas duas décadas. De modo que já não é mais possível compreender a vida política e a democracia brasileira sem considerar a atuação política dos evangélicos, especialmente dos pentecostais, não somente por seu peso demográfico e eleitoral, mas, sobretudo, porque algumas grandes igrejas pentecostais, como Assembleia de Deus e Universal do Reino de Deus, participam ativamente das eleições majoritárias desde a redemocratização do país. Para tanto, apoiam ou rejeitam candidatos e, às vezes, com candidaturas próprias, caso, por exemplo, de Marcelo Crivella (PRB/RJ) ao governo do Estado e à prefeitura do Rio de Janeiro. A atuação na esfera legislativa se dá inclusive por meio da constituição de frentes parlamentares e de partidos políticos evangélicos, como o Partido Republicano Brasileiro (PRB), criado e liderado por membros e políticos da Igreja Universal e o Partido Social Cristão (PSC), que, desde 2005, estabeleceu parceria com as Assembleias de Deus no Brasil. Diverso do que ocorreu nas eleições para a Constituinte duas décadas atrás, hoje não causam maiores surpresas a quem quer que seja a mobilização política pentecostal, os invariáveis apoios eleitorais que concedem a candidatos à 118 Ricardo Mariano presidência da República e a governos estaduais e municipais, nem suas alianças e barganhas com autoridades governamentais. A cada pleito, sua atividade eleitoral é tida como certa, evidente, inescapável. Por sua onipresença e crescente relevância, tornou-se pauta obrigatória da grande imprensa. No conjunto, não é mais vista necessariamente como algo insólito, surpreendente, “folclórico”, inócuo, ilegítimo. Embora seja objeto de preconceitos, cause certos temores (de irrupção deletéria, por exemplo, de um fundamentalismo evangélico na democracia brasileira) e desagrade abertamente a muitos, especialmente aos defensores mais radicais da laicidade estatal, para os quais toda e qualquer religião deve ficar confinada à vida privada ou à particularidade das consciências individuais, a participação pentecostal na política partidária já foi, pode-se dizer, “naturalizada” na opinião pública. É cada vez mais encarada, portanto, como algo que faz parte da dinâmica da democracia brasileira e como recurso que compõe parte da ação estratégica desse grupo religioso minoritário em solo nacional em busca de poder, recursos, privilégios, reconhecimento e legitimidade, frente a um mercado religioso competitivo e dominado por uma religião hegemônica. A cultura política brasileira tem contribuído decisivamente para naturalizar e, o que é ainda mais importante, reforçar o ativismo político pentecostal. Basta observar a enorme receptividade que esses religiosos, em seus distintos desígnios e projetos políticos, encontram por parte dos candidatos, partidos e governantes de todas as colorações ideológicas. A cada eleição, o apoio eleitoral do rebanho evangélico é disputado avidamente por candidatos a cargos legislativos e executivos, incluindo, invariavelmente, a maioria dos que concorrem à presidência da República, fenômeno notório desde o início da redemocratização, isto é, desde as eleições presidenciais de 1989 (Mariano e Pierucci, 1992). Os governantes, por sua vez, cobram apoio político a seus mandatos em troca da concessão de recursos públicos para emendas de parlamentares evangélicos, da implementação de políticas públicas em parceria com igrejas, da modificação da legislação para beneficiá-las, como no caso do novo Código Civil. Assim, o crescente ativismo político pentecostal não enfrenta maiores obstáculos no cotidiano da democracia nacional. Pelo contrário, é sistematicamente requerido, estimulado, cobrado e barganhado por considerável parte da classe política brasileira, o que tem como efeito imediato reforçar, Pentecostais e política no Brasil 119 incrementar e legitimar a presença, a participação, a influência, o poder de pressão e de barganha desses religiosos na esfera pública, espaço no qual também atuam intensamente por meio de suas emissoras e redes de rádio e tevê, de jornais, revistas, gravadoras e mercado editorial. A desprivatização política desse movimento religioso, portanto, não conta tão somente com a forte disposição de líderes eclesiásticos pentecostais para participar da política. Valese também do denodado empenho de candidatos, partidos e governantes para enredá-los no jogo político-partidário, nas relações de clientelismo, enfim, no sistema de representação político brasileiro. Um exemplo disso foi a campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores à presidência da República em 2006 estabelecer como uma de suas “prioridades” a conquista do voto evangélico, eleitorado religioso que foi assediado também por outros candidatos, como Geraldo Alckmin (PSDB/SP), mas com pouca eficácia (Mariano, Hoff, Dantas, 2006). Empenhada na realização de tal objetivo, a campanha petista não poupou esforços: Luiz Inácio Lula da Silva participou de reuniões e eventos públicos com evangélicos, contou com comitês de campanha destinados exclusivamente a esse segmento religioso, pediu votos e orações desses religiosos e prometeu estabelecer um “canal direto” com a comunidade evangélica. Em carta enviada aos evangélicos, Lula prometeu ampliar ainda as parcerias na área social do governo federal com suas denominações. 3 Durante encontro com 30 cantores evangélicos no Palácio Alvorada já no segundo turno – evento organizado pelo bispo e senador Marcello Crivella (PRB/RJ), sobrinho do líder da Igreja Universal do Reino de Deus, para manifestar apoio à sua reeleição –, Lula afirmou: “Quis Deus que fosse esse, que era chamado de demônio, que fosse lá sancionar o Código Civil que permite total liberdade de religião neste país”. 4 Conforme a propaganda eleitoral do site do Partido dos Trabalhadores, o Governo Lula “sancionou a lei que garante a liberdade de culto no país”, em referência direta à alteração do Código Civil – proposta e defendida pela Frente Parlamentar Evangélica –, que alterou a personalidade jurídica das organizações religiosas, deixando de classificá-las como associações e, assim, livrando-as da 3 4 http://politica.dgabc.com.br/materia.asp?materia=546212 Folha de S. Paulo, 10/10/2006. 120 Ricardo Mariano imposição de novas exigências legais 5 (Mariano, 2006). Ao longo da campanha eleitoral de 2006, a sanção presidencial do Projeto de Lei que alterou o Código Civil foi acionada sistematicamente por Lula para persuadir lideranças evangélicas sobre os benefícios que auferiram em seu primeiro mandato e, com isso, convencê-las do potencial proveito de seu segundo mandato para elas. Entre tais benefícios auferidos, reportagem do jornal Folha de S. Paulo, de 18 de junho de 2006, revela que o Governo Lula, tal como vários governos anteriores, concedeu emissoras de rádio e tevê para igrejas e parlamentares evangélicos. A campanha petista visava igualmente superar de vez as resistências e forte oposição manifestas pelos pentecostais ao PT e a seu “eterno” candidato presidencial em eleições passadas, sobretudo nos pleitos de 1989, 1994 e 1998, ocasiões em que o Partido dos Trabalhadores e Lula foram severamente demonizados e objeto de preconceitos, discriminações e temores diversos por parte desse grupo religioso. Em 2006, a campanha petista surtiu efeito e venceu tais resistências, ampliando sua base de apoio político nos meios pentecostais. O percentual de evangélicos com intenção de votar no petista no primeiro turno cresceu 59% entre setembro de 2002 e julho de 2006, segundo o Datafolha. 6 Entre os pentecostais, a intenção de voto em Lula saltou de 27% para 43%, subindo para 52% com o início do horário eleitoral gratuito no rádio e na tevê 7 (Mariano, Hoff, Dantas, 2006). Num Estado democrático de direito, uma das formas de resolver problemas legais e mediar conflitos consiste em apelar para o judiciário. No Brasil, os cultos afro-brasileiros, por exemplo, recorrem cada vez com mais frequência ao judiciário para denunciar pessoas e igrejas pentecostais que os caluniam, demonizam e, em certos casos, invadem seus terreiros. Além de recorrer ao judiciário, num contexto pluralista e de acirrada concorrência, os grupos religiosos dependem, muitas vezes, de sua atuação política – seja por meio da pressão e do lobby, seja mediante a realização de alianças, de compromissos, da participação direta na política partidária e até de confrontos com representantes do legislativo 5 http://www.lulapresidente.org.br/noticia.php?codico=504 Folha de S. Paulo, 18/8/2006. 7 http://www.valoronline.com.br/valoreconomico/285/primeirocaderno/politica/Orfaos+de+Garotinho +evangelicos+dividem-se+entre+Lula+e+Alckmin, 60,3891265.html 6 Pentecostais e política no Brasil 121 e do executivo – para defender seus interesses institucionais e religiosos, seus valores morais, suas práticas rituais, seus direitos e sua liberdade religiosa. Para os grupos evangélicos, a atuação política se torna mais premente à medida que a regulação jurídico-política ou estatal tem avançado célere sobre áreas da esfera privada, áreas sobre as quais pretendem evangelizar e homogeneizar moralmente segundo os ditames bíblicos, mas que, à sua revelia e contra sua vontade, podem assumir configurações completamente distintas de suas doutrinas. Isso ocorre toda vez que o executivo e o legislativo propõem a adoção de políticas públicas ou a alteração da legislação referente, por exemplo, à distribuição de métodos anticoncepcionais (inclusive nas escolas), ao controle da natalidade, à descriminalização e legalização do aborto, à união civil de pessoas do mesmo sexo, ao combate à homofobia, à permissão do uso de células embrionárias em pesquisas científicas, à aprovação da pena de morte etc. Atualmente, grande parte dos dirigentes evangélicos parece ter adquirido plena consciência da importância do uso do poder político como instrumento na defesa de seus interesses, valores e moralidade. Tal compreensão de como se processam as relações de poder numa democracia tem servido igualmente para induzir e justificar seu paulatino enraizamento, sua permanência e seu ativismo no jogo político e na vida pública. Daí que, a despeito do desgaste de imagem das igrejas pentecostais decorrente de denúncias e escândalos8 envolvendo seus representantes políticos desde a Constituinte, é improvável que propostas apolíticas, quietistas e de privatização do religioso readquiram a supremacia ideológica nas cúpulas das denominações pentecostais e revertam seu crescente ativismo político. Avanços e tropeços Nas duas décadas seguintes à Constituinte, o conjunto dos evangélicos, sob a liderança dos pentecostais, ampliou sua representação política no Congresso Nacional, mas não de forma linear, já que tiveram altos e baixos no 8 Ocorreram escândalos envolvendo parlamentares evangélicos na Constituinte, na CPI dos Anões do Orçamento e, mais recentemente, na CPMI das Sanguessugas, que denunciou 26 deputados e um senador evangélicos como participantes da máfia das sanguessugas, atingindo quase a metade da bancada evangélica no Congresso Nacional. 122 Ricardo Mariano período, em razão principalmente da irrupção de casos de corrupção. Em 1990, por conta dos escândalos de fisiologismo e corrupção envolvendo diversos parlamentares evangélicos durante a Constituinte e pela menor arregimentação e mobilização pré-eleitoral da Assembleia de Deus, a bancada evangélica caiu para 23 deputados federais. Em 1994, elegeram-se 30, sendo 26 deputados e 4 senadores. Em 1998, foram 49 parlamentares. Em 2002, alcançaram 59 deputados federais e quatro senadores, a maior bancada evangélica formada até então, dobrando o número de parlamentares eleitos na Constituinte de 1988. Em 2006, a expectativa geral dos evangélicos era a de ampliar ainda mais o número de seus representantes na Câmara dos Deputados. Mas o escândalo das sanguessugas – denúncias de superfaturamento e distribuição de propinas na compra de ambulâncias por prefeituras –, eclodido em plena campanha política, prejudicou fortemente seu desempenho eleitoral. Em 10 de agosto de 2006, a CPMI das Sanguessugas aprovou o relatório recomendando a abertura de processo de cassação de 26 deputados e um senador evangélicos, o que representava quase a metade da Frente Parlamentar Evangélica (Mariano, Hoff e Dantas, 2006a). Para dilapidar ainda mais sua reputação política e religiosa nesse episódio, alguns parlamentares evangélicos foram denunciados como os principais artífices da máfia das sanguessugas. Esse grave incidente feriu o elevado orgulho moral desse grupo religioso minoritário no país, que se julga detentor de uma ética superior porque derivada, a seu ver, de sua união exclusiva ou monopólica com o Deus verdadeiro. Tal autoavaliação moral sempre constituiu poderosa bandeira eleitoral brandida por candidatos evangélicos para legitimar seu ingresso e participação na política partidária e para conquistar a preferência eleitoral de seus irmãos de fé, uma vez que seu projeto político consiste justamente em evangelizar e moralizar a política partidária mediante a eleição de seus “homens de Deus”. Diante do escândalo, tamanha autoestima sectária resultou numa espécie de ressaca moral nesse meio religioso e, no plano eleitoral, num impacto negativo para as pretensões políticas de candidatos e algumas cúpulas eclesiásticas nas eleições de 2006. Os fiéis não perdoaram seus representantes políticos denunciados. Dos 60 membros da Frente Parlamentar Evangélica, somente 15 foram reeleitos. Nenhum dos acusados pela CPMI conseguiu reeleger-se. As igrejas mais Pentecostais e política no Brasil 123 atingidas pelo escândalo foram justamente aquelas dotadas de ativismo político mais destacado e maior êxito eleitoral: Assembleia de Deus e Universal do Reino de Deus. Dos 22 deputados federais da Assembleia de Deus, 10 foram acusados de participar da máfia das sanguessugas. Dos 16 deputados da Universal, 14 foram denunciados. Como resultado, a Assembleia caiu de 22 para 16 deputados. A Universal declinou de 16 para 7 deputados. 9 No cômputo final, o tamanho da bancada caiu de 60 para 49 deputados federais, número que inclui os suplentes que posteriormente assumiram mandatos. Com isso, foram eleitos 16 deputados da Assembleia de Deus, 11 batistas, sete da Universal, três luteranos (um dos quais, o gaúcho Júlio Redecker, morreu num acidente aéreo), dois da Maranata, dois da Sara Nossa Terra, dois da Internacional da Graça de Deus, um da Comunidade do Carisma, um da Renascer em Cristo, um presbiteriano e um da Cristã Evangélica. Nesta legislatura, ao todo a bancada evangélica no Congresso Nacional é composta por 34 parlamentares pentecostais e 14 protestantes, vinculados a 13 denominações e a 12 partidos políticos, sendo maior a participação do PMDB, com nove integrantes, seguido pelo PR, com sete, pelo DEM, com seis, pelo PSC, com cinco, e pelo PT, PRB e PTB, com três cada, entre outras agremiações partidárias. Dos 49 eleitos, cinco são do sexo feminino. Quanto a seu perfil social e profissional, cerca de 80% deles possuem curso superior completo e seis superior incompleto, sendo que 12 formaram-se em teologia e nove efetuaram mais de um curso superior. Quinze são empresários e doze trabalham com mídia eletrônica como apresentadores de programas de rádio e televisão, cantores e compositores e funcionários de emissoras evangélicas. Universal do Reino de Deus e Assembleia de Deus reagiram de formas distintas para lidar com a crise desencadeada pelas denúncias. A Universal, escaldada por vasta série de escândalos políticos, empresariais e religiosos pregressos, afastou imediatamente os parlamentares denunciados e retirou-lhes seu apoio eleitoral. Já a Assembleia de Deus, apesar de instaurar sindicância interna para apurar os fatos, insistiu em apoiar oficialmente vários políticos 9 A derrocada eleitoral da Universal em 2006 sob o impacto do escândalo das sanguessugas constitui forte inflexão em sua meteórica ascensão política. Em 1986, elegeu um deputado federal. Em 1990, foram três. Quatro anos depois, seis. Em 1998, 17 deputados federais, sendo 14 da própria igreja. Em 2002, elegeu 16 deputados federais e um senador (Oro, 2003, p. 53-54). 124 Ricardo Mariano acusados pela CPMI. O presidente do Conselho Político Nacional da CGADB, pastor Ronaldo Fonseca, afirmou que sete denunciados da igreja eram inocentes e julgou que sua acusação constituía uma jogada de seus adversários políticos, visando reduzir o tamanho da bancada evangélica para facilitar a aprovação de projetos polêmicos, como a descriminalização do aborto. 10 A solução adotada pelo comando político assembleiano, portanto, foi lançar mão de uma tese conspiratória e persecutória para lidar com o problema e tentar abafar o caso no interior da denominação. A decisão tomada, além de pôr sob suspeita a própria autoridade moral da liderança política da denominação e de demonstrar sua inabilidade para atuar como relações públicas e proteger a imagem da igreja, não surtiu os efeitos desejados, uma vez que o eleitorado assembleiano decidiu punir nas urnas os candidatos da igreja denunciados pela CMPI. Coube aos fiéis e eleitores assembleianos estabelecerem uma barreira ética aos candidatos denunciados da denominação. O escândalo suscitou críticas atrozes nos meios evangélicos, como as do pastor Ricardo Gondim, líder da Assembleia de Deus Betesda, segundo o qual “o Brasil descobriu que tem lobos vestidos de pastores”. 11 No artigo, Gondim defendeu ser preciso realizar uma “reforma ética entre os evangélicos”. Nesse intento, admoestou os líderes evangélicos a não “permanecerem de braços cruzados, corporativamente defendendo meliantes fantasiados de sacerdotes”. Frente Parlamentar Evangélica Como estratégia para minimizar os efeitos deletérios sobre seus representantes parlamentares e suas denominações em decorrência das gravíssimas denúncias da CPMI contra metade da bancada evangélica, bispo Robson Rodovalho (DEM/DF), líder da Sara Nossa Terra, logo após sua eleição a deputado federal em 2006 ventilou a proposta de substituir a Frente Parlamentar Evangélica pela criação de uma frente parlamentar cristã, incluindo os políticos católicos, proposta que não vingou. 12 A Frente Parlamentar Evangélica foi 10 http://www.congressoemfoco.com.br/Noticia.aspx?id=10539 http://www.alcnoticias.org/articulo.asp?artCode=4669&lanCode=3 12 http://congressoemfoco.ig.com.br/Noticia.aspx?id=10542 11 Pentecostais e política no Brasil 125 mantida na atual legislatura, sendo sua diretoria substituída completamente, já que seu presidente anterior (Adelor Vieira) e três vice-presidentes não conseguiram se reeleger, sugados ralo abaixo pelas acusações da CPMI. A Frente Parlamentar saiu fragilizada do escândalo das sanguessugas. Para sua presidência no biênio 2007/2008, foi eleito, por unanimidade, o bispo Manoel Ferreira, líder da Convenção Nacional de Madureira das Assembleias de Deus (Conamad), em 14 de março de 2007. Na gestão seguinte, o vice de Manoel Ferreira, o deputado assembleiano João Campos (PSDB/GO), assumiu a presidência da Frente. Manoel Ferreira (PTB/RJ) e João Campos (PSDB/GO) não perderam tempo na defesa dos interesses institucionais e corporativos das igrejas evangélicas. Já no início do mandato afirmaram ter conseguido “junto ao líder do Governo na Câmara dos Deputados, deputado José Múcio Monteiro (PTB/PE), negociar acordo para inclusão do Artigo 24 na MPV 335/2006, possibilitando a regularização dos templos religiosos edificados em áreas públicas da União”. 13 A Frente Parlamentar Evangélica, criada em 18 de setembro de 2003, de caráter suprapartidário e supradenominacional e presente nos estados, celebra um culto semanal às quartas-feiras e realiza reuniões mensais, nas quais parte de seus membros discute temas de interesse de suas igrejas, recebe orientação e articula estratégias coletivas de ação. Para assessorá-la e monitorar os assuntos do interesse das denominações, a Frente Parlamentar Evangélica criou o Grupo de Assessoria Parlamentar Evangélica (GAPE), composto por assessores de deputados evangélicos. 14 Na legislatura passada, o GAPE, que deixou de funcionar posteriormente, monitorava propostas do governo e projetos de lei, por exemplo, sobre a união civil de pessoas de mesmo sexo, a descriminalização do aborto, a lei da biossegurança, o Estatuto da Cidade, os meios de comunicação, visando orientar a reação e atuação parlamentar dos deputados evangélicos. Como afirma o deputado João Campos, a Frente tem “como missão influenciar as políticas públicas do governo, defendendo a sociedade e a família no que diz respeito à moral e aos bons costumes”. 15 Em entrevista 16, o Deputado Federal 13 http://joaocampos.com.br/site?pg=materia.php&id=130. Sobre a Frente Parlamentar Evangélica e o GAPE, ver Baptista (2007). 15 http://www.joaocampos.com.br/site?pg=materia.php&id=111 16 Concedida a meu ex-bolsista de iniciação científica Toty Ypiranga de Souza Dantas. 14 126 Ricardo Mariano Adelor Vieira (PMDB/SC), ex-presidente da Frente, enfatiza o papel da entidade: “Hoje, nenhum projeto de maior envergadura que tenha qualquer indício de polêmica é levado ao Plenário sem que a Frente Parlamentar Evangélica também passe a discutir o projeto com as próprias lideranças (partidárias) e com a própria Mesa Diretora”. A Frente Parlamentar Evangélica constituía a terceira maior frente parlamentar do Congresso Nacional na legislatura passada, situação que lhe conferiu o privilégio até de sabatinar os sete candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, em 27 de setembro de 2005, véspera da eleição de Aldo Rebelo, sobre temas do aborto, união civil entre pessoas do mesmo sexo e o Estatuto das Cidades. 17 Tamanho poder da Frente Parlamentar facilitou à sua liderança também o acesso a ministros e ao próprio presidente da República. A Frente Parlamentar Evangélica, contudo, não detém o poder de obrigar seus membros a votar uniformemente e nem se propõe a isso. Na verdade, os deputados evangélicos tendem a votar de forma relativamente homogênea, superando sua diversidade partidária e concorrência denominacional, apenas em votações relativas à defesa da moral cristã e aos interesses corporativos de suas igrejas. Nos demais casos, seus membros seguem prioritariamente orientação partidária, as dinâmicas do processo legislativo e acordos políticos, ou razões de foro íntimo. Apesar de não serem tolhidos pela Frente a votar uniformemente, os deputados evangélicos são monitorados pelos coordenadores políticos das denominações (em especial, Assembleia de Deus, Igreja Universal e Evangelho Quadrangular) e pelas lideranças da Frente Parlamentar. Os que foram eleitos como representantes oficiais de igrejas, sofrem pressão de suas lideranças eclesiásticas para exercer mandatos em estrita fidelidade às crenças e aos valores religiosos e interesses institucionais de suas denominações. Eles, portanto, não seguem apenas seus princípios religiosos quando está em pauta a votação de projetos que envolvam a moralidade cristã tradicional e os interesses corporativos de suas igrejas. Nesses casos, além da orientação de seus partidos, das injunções do Governo Federal e da pressão de grupos rivais (como feministas, homossexuais, das áreas da saúde, ciência, educação, que se 17 http://www.adelorvieira.com.br/index.php?pag=ver_noticia&codigo=220. Em 21 de março de 2007, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arlindo Chinaglia, participou de culto da Frente Parlamentar Evangélica. Pentecostais e política no Brasil 127 orientam por argumentos e valores laicistas), eles são invariavelmente submetidos a forte monitoramento e controle por parte dos dirigentes eclesiásticos que os selecionaram e apoiaram como candidatos oficiais e dos membros da Frente Parlamentar Evangélica ou dos que compartilham de sua identidade religiosa no parlamento. Mais que isso. Para tentar reassegurar futuramente o apoio oficial da denominação e a própria reeleição, precisam fazer jus à confiança neles depositada e à autoridade que lhes foi delegada, necessitando, portanto, mostrar serviço a seus padrinhos políticos e cabos eleitorais e comprovar sua intransigência na defesa do Evangelho, da família, da moral e dos bons costumes. Decorre disso, em parte, o elevado conservadorismo moral e a radicalidade de alguns deputados evangélicos na defesa de certas bandeiras corporativas. Seguem, abaixo, os dois principais exemplos denominacionais de atuação política corporativista. Corporativismo É conhecida a disciplina eleitoral e política dos pastores da Igreja Universal. A denominação realiza campanha para que seus membros jovens obtenham título de eleitor a partir dos 16 anos; faz recenseamento eleitoral de seus membros; a partir desses dados e da avaliação do quociente eleitoral dos partidos, os dirigentes políticos regionais e nacionais estabelecem quantos candidatos ao legislativo a denominação pode lançar em cada município ou estado; distribui seus candidatos por mais de um partido; publiciza os candidatos escolhidos nos cultos, nos meios de comunicação da igreja, em seus eventos de massa e também por meio da distribuição de “santinhos” e da fixação de banners nos templos; treina os fiéis a votarem em seus candidatos durante os cultos por meio do uso de urnas eletrônicas disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (Oro, 2003). Além disso, emprega artifícios discursivos, santificando os candidatos oficiais da igreja e demonizando os adversários políticos. Durante culto ocorrido na sede da Igreja Universal, em Porto Alegre, em 26 de julho de 2006, por exemplo, um pastor, que realizava campanha eleitoral para o bispo Paulo Roberto (PTB/RS), alertou os fiéis: “Se derem votos aos incrédulos, um deputado endemoniado vai prejudicar você”. O alerta maniqueísta não dá margem 128 Ricardo Mariano a dúvidas: votar no candidato da igreja significa apoiar Deus na luta contra o Diabo. Caso contrário, os fiéis colaboram com o Diabo, o que implica que eles terão de arcar com o ônus de contribuir com a eleição de um endemoniado. A férrea e eficaz disciplina político-partidária da Universal vigorou incólume enquanto sua coordenação política esteve sob o comando do bispo e deputado federal Carlos Rodrigues (PL/RJ). Rodrigues mandava e desmandava. Detinha enorme poder sobre a escolha dos candidatos e sobre os deputados da igreja, chegando a definir seus partidos, sua votação no parlamento, suas posições políticas e até os funcionários de seus gabinetes (Baptista, 2009). Ele coordenava e liderava a bancada com mão de ferro. Dificilmente algo do gênero será reproduzido por outra igreja pentecostal, e mesmo pela própria Universal depois da exclusão de Rodrigues da denominação. De todo modo, a criação, em agosto de 2001, do projeto Cidadania AD Brasil pela Comissão Política Nacional da CGADB demonstra cabalmente a tentativa das lideranças eclesiásticas e políticas da denominação de controlar a atividade parlamentar de seus representantes políticos, medida que tende a reforçar ainda mais seu corporativismo. 18 A tentativa de exercer tal controle e tutela sobre o mandato de seus representantes políticos não se dá de forma personalizada, como ocorria na Universal, mas por meio da institucionalização de um projeto político corporativo. O projeto Cidadania AD Brasil foi criado com o propósito de ampliar, monitorar e controlar a bancada parlamentar da denominação. Sua estrutura organizacional é composta pelo Conselho Político Nacional, pelos Conselhos Políticos das Convenções e Ministérios estaduais e do Distrito Federal ligados à CGADB, gradação de instâncias que, de certa forma, dilui um pouco o poder político do Conselho Nacional. O documento do projeto Cidadania AD Brasil apresenta justificativas para sua criação, entre elas, “a crise moral porque passa a nação brasileira, evidenciada principalmente na programação, quase sempre de baixo nível, da tv brasileira e demais meios de comunicação”; e a necessidade de “manter a vigilância na defesa da liberdade religiosa” e a de “neutralizar, enquanto evangélicos, leis nocivas que venham agredir essa liberdade”. Entre suas competências, o Conselho Político Nacional trata de: “fornecer uma estrutura de 18 Sobre o projeto Cidadania AD Brasil, ver Soares Filho (2006). Pentecostais e política no Brasil 129 campanha para os candidatos” (oficiais da denominação), “assessorar o candidato eleito durante o desempenho do seu mandato”, “organizar o Fórum Nacional de Políticos das Assembleias de Deus”, “coordenar a escolha de um líder da bancada na Câmara Federal”. O documento estabelece os “critérios de escolha dos candidatos”. O candidato oficial da igreja deve “assinar o Termo de Compromisso em que se explicitarão as obrigações e direitos do interessado”, deve declarar o “compromisso de posicionar-se intransigentemente contra a prática do aborto, a legalização da união dita conjugal de pessoas do mesmo sexo e a corrupção de qualquer natureza” e declarar que “defenderá, constantemente, a liberdade de culto e outros interesses das Assembleias de Deus e demais igrejas”. O “manual de orientação para candidatos” é peremptório quanto ao objetivo corporativista do mandato parlamentar dos políticos assembleianos também, ao estabelecer que eles devem “defender a igreja e os evangélicos, prioritariamente, tendo em mente a discriminação com que sempre foram tratados pelos governantes”. O processo de escolha dos candidatos, reza o documento, deve ser conduzido da seguinte forma. O pastor deve criar uma comissão local representativa da igreja, com a incumbência de ouvir os candidatos e, em seguida, indicar os de sua preferência ao pastor, a quem, por sua vez, cabe encaminhar os nomes selecionados à Comissão Política Municipal ou à Comissão Política Estadual. Na prática, as bases de fiéis e pastores detêm pouco poder decisório, não somente em razão do caciquismo assembleiano, mas também porque os políticos da denominação levam vantagem sobre os candidatos sem experiência parlamentar, por conta do critério que considera “candidato nato o político detentor de mandato” cuja atuação estiver em conformidade com os critérios de escolha definidos pelos conselhos políticos da CGADB. Da mesma forma, os filhos e genros de pastores presidentes de ministérios da Assembleia de Deus, bem como cantores, radialistas, televangelistas e empresários, costumam ter a preferência para receber a bênção hierárquica da candidatura oficial. Na campanha eleitoral, os pastores devem seguir as orientações das comissões políticas estadual e municipal, que, em princípio, os proíbem de usar o púlpito e os cultos para apresentar propostas eleitorais e os ameaçam de punição pela Convenção Estadual e pela CGADB em caso de desonrarem o compromisso 130 Ricardo Mariano com o candidato oficial. Isso significa que os pastores estão proibidos de apoiar candidaturas avulsas, não oficiais. Nesse quesito, a Assembleia de Deus procura seguir os passos da Universal, visando reservar, embora com eficácia muito inferior, o apoio eleitoral de seus pastores exclusivamente aos candidatos oficiais da igreja. Seguem, abaixo, alguns exemplos da atuação política corporativista de parlamentares pentecostais no Congresso Nacional. Antes, porém, cumpre observar que corporativismo e clientelismo (para não dizer patrimonialismo e fisiologismo) são práticas políticas tradicionais na cultura política brasileira, e não prerrogativas dos políticos pentecostais (Machado, 2006, p. 46). Contudo, corporativismo e clientelismo tendem a ser reforçados pela adoção, por parte da Assembleia de Deus, da Universal e de outras igrejas, de representação política acentuadamente corporativista no campo político partidário. Modelo de atuação política que, como vimos, não é consensual e enfrenta certa rejeição nesse meio religioso. O pastor assembleiano e deputado federal Milton Cardias (PTB/RS) apresentou o Projeto de Lei 1794/03, estabelecendo a obrigatoriedade das redes abertas de televisão de veicularem programas religiosos cristãos em horário nobre, por no mínimo três horas diárias. 19 Em 5 de maio de 2005, Cardias apresentou a indicação 5078/2005 sugerindo ao Ministério da Educação a inclusão da teoria do criacionismo no currículo (nas aulas de ciências e de história) das escolas de ensino fundamental e médio. Já o deputado pastor Reinaldo (PTB/RS), em 9 de maio de 2006, sugeriu ao Poder Executivo, através da indicação 8897/2006, a distribuição de obras do Novo Testamento nas escolas públicas. Em entrevista, o ex-deputado federal assembleiano Neuton Lima (PTB/SP), asseverou: “Nós alteramos a lei (do silêncio). O projeto já foi aprovado na Câmara e está (em tramitação) no Senado, incluído aí a permissão do uso da corneta externa para divulgação das atividades religiosas de todas as denominações. Aqui na Câmara já foi aprovada a alteração da lei do silêncio, e eu sou o autor do projeto.” O senador Marcelo Crivella (PRB/RJ) propôs projeto, aprovado no Senado, que dispensa a exigência prévia de Estudo de Impacto de Vizinhança para imóveis destinados a igrejas e templos religiosos, visando mudar a Lei nº 10.257, de 2001, do Estatuto da Cidade. O projeto nº 7.649 de 2006, em tramitação na Câmara 19 http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/asp270120049993.htm Pentecostais e política no Brasil 131 dos Deputados, foi rejeitado na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O projeto Cidadania AD Brasil, além de demonstrar o corporativismo denominacional e o empenho assembleiano para controlar o mandato de seus representantes políticos, revela que as motivações e justificativas apresentadas pela liderança da Assembleia de Deus para participar na política partidária continuam praticamente as mesmas da época da Constituinte. Isto é, permanecem insistindo na necessidade de irmão votar em irmão para proteger os interesses corporativos da igreja, defendê-la das ameaças à liberdade religiosa, à família e à moral cristã e para moralizar a vida pública. Nos últimos anos, porém, a ênfase sobre os perigos à sua liberdade cada vez mais tem recaído sobre a ação do Estado ou sobre mudanças provenientes do ordenamento jurídico e político. Exemplo emblemático disso foi a reação assembleiana e evangélica à entrada em vigor do novo Código Civil em janeiro de 2003. Liberdade religiosa e laicidade As observações do advogado batista Gilberto Garcia, conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, nos permitem compreender, em parte, os insistentes reclamos pentecostais sobre as ameaças à sua liberdade religiosa levadas a cabo pelo próprio Estado brasileiro: Há um grande número de líderes evangélicos que gostaria que a Igreja fosse totalmente imune a qualquer interferência do Estado, não estando a organização religiosa submissa a qualquer regramento legal, numa perspectiva de que o Estado não deveria intervir em questões envolvendo a Igreja. Mas também existe um número expressivo de igrejas que não têm conhecimento sobre as questões organizacionais que atinem a Instituição de Fé, e, por isso, necessitamos atuar na conscientização de que, nas questões associativas, tributárias, trabalhistas, criminais, civis, patrimoniais, administrativas, financeiras etc., a Igreja está submissa ao Estado devendo cumprir as regras legais. 20 Os pentecostais frequentemente percebem sua liberdade religiosa sob constante ameaça por parte de iniciativas políticas oriundas dos agentes estatais, 20 http://www.institutojetro.com.br/lendoentrevista.asp 132 Ricardo Mariano entre outras razões, de um lado, por certo desconhecimento das relações jurídicas e hierárquicas entre igreja e Estado e suas implicações, de outro, pela tendência irrefreável de absolutizar o princípio da liberdade religiosa desconsiderando que toda liberdade numa democracia é necessariamente regrada pelo direito positivo e, portanto, juridicamente limitada (Blancarte, 2003). Em parte, por conta de certo desconhecimento jurídico, da absolutização da liberdade religiosa (uma vez que é ela que permite à igreja realizar os desígnios divinos) e por colocar seus interesses institucionais acima de quaisquer medidas estatais e políticas públicas, muitos desses religiosos interpretam como ameaça direta à sua liberdade religiosa o Estatuto das Cidades (no caso, a lei de Estudo de Impacto de Vizinhança), o novo Código Civil, a Lei do Silêncio, as políticas de direitos humanos do Governo Federal para criminalizar a homofobia e certos dispositivos contidos nas leis de edificação dos templos. O temor mais recente dos evangélicos em relação à perda de sua liberdade religiosa – e, no caso em questão, à ampliação de privilégios estatais à Igreja Católica, o que significa discriminação estatal – envolveu o acordo (contendo 20 artigos) entre a República brasileira e a Santa Sé, assinado pelo presidente Lula em 13 de novembro de 2008 em audiência no palácio apostólico do Vaticano e, posteriormente, submetido à tramitação no Congresso Nacional. O texto atende à velha demanda da CNBB e, mais recentemente, do papa Bento XVI. Entre outros tópicos, trata do estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil, do ensino religioso nas escolas públicas e da destinação de espaços para templos no território, da proteção estatal de lugares de culto católicos. Deputados da Frente Parlamentar Evangélica, contando com o apoio de militantes e grupos laicistas nessa batalha, manifestaram franca oposição ao acordo. O pastor assembleiano e deputado Pedro Ribeiro (PMDB-CE), membro da Frente Parlamentar Evangélica, defende que “o acordo fere a laicidade, a isonomia e a soberania nacional, além da liberdade religiosa. Com ele, se explicita o reconhecimento do ensino católico nas salas de aula”, denuncia Ribeiro. 21 Apesar de ser vinculado à Frente Parlamentar Evangélica e membro de uma denominação cuja atuação política corporativista parece ter por objetivos confessionalizar a política partidária e conquistar o Estado para Cristo, o deputado 21 http://jbonline.terra.com.br/pextra/2009/03/31/e310329131.asp Pentecostais e política no Brasil 133 pentecostal defende a laicidade estatal. Diante do caso específico em pauta, a razão de sua manifestação em prol da laicidade é óbvia: impedir o acordo entre Estado brasileiro e Vaticano em benefício da Igreja Católica. A oportuna conversão laicista do referido deputado não causa maiores surpresas, já que a laicidade estatal apregoa o tratamento isonômico do Estado aos diferentes grupos religiosos sob sua jurisdição, preceito que interessa sobremaneira às religiões minoritárias, que tentam por todos os meios evitar sua discriminação, sobretudo recorrendo aos recursos legais à disposição. Por outro lado, porém, o ideal do Estado laico, oriundo do velho liberalismo político que tanto mobilizou e ainda mobiliza diversos grupos laicistas, especialmente acadêmicos, não é neutro em relação a outros valores e interesses, uma vez que a laicidade estatal está ligada “aos valores da República, da democracia, da tolerância, da liberdade e da pluralidade” (Blancarte, 2000). De modo que a defesa e afirmação da laicidade estatal e de seu corolário volta e meia opõe-se frontalmente a diversos valores, princípios e interesses dos grupos religiosos, sobretudo daqueles agressivamente proselitistas, antiecumênicos e dotados de pretensões universalistas. Com efeito, opõe-se radicalmente à confessionalização da política partidária e da esfera pública. O caráter agonístico do processo de secularização e, em particular da laicização jurídico-política, em diferentes contextos históricos por si só demonstra a inexistência de neutralidade axiológica na constituição do Estado laico e na implementação de políticas públicas laicistas, que ocorrem geralmente às custas do declínio do poder eclesiástico na esfera pública e, em especial, no ensino público. Num Estado democrático de direito, as diferentes agremiações religiosas detêm, formalmente, o pleno direito a divulgar suas doutrinas religiosas e seus valores morais, a defender seus interesses institucionais, a vocalizar suas preferências políticas e a desempenhar certos papéis na esfera pública, entre os quais sobressai o tradicional papel assistencial. A separação jurídica entre Estado e Igreja, portanto, não implica necessariamente a privatização do religioso ou a sua circunscrição à particularidade das consciências privadas nem resulta automaticamente no impedimento de que ambos colaborem no interesse do bem comum. Por outro lado, porém, cabe aos agentes do Estado democrático zelar pelo respeito à tolerância, à liberdade, ao pluralismo, à isonomia no tratamento 134 Ricardo Mariano governamental concedido aos diferentes grupos religiosos. Para tanto, muitas vezes ao Estado cumpre evitar que a religião dominante em especial, mas não somente ela, abuse de seu poder religioso, econômico, midiático e político para discriminar e perseguir seus concorrentes religiosos ou minorias sexuais, ou, como ocorre de forma atávica com grupos dotados de pendores fundamentalistas, integristas e sectários, para tentar impor suas práticas particulares e sua moralidade estrita e restritiva ao conjunto dos cidadãos. A laicidade estatal visa, portanto, assegurar a efetividade de práticas e valores democráticos, como a liberdade, a tolerância e a isonomia no tratamento dos diferentes grupos religiosos, sem interferir em suas disputas por mercado religioso, a não ser quando suas ações ultrapassam os limites legais. De modo que o zelo estatal pelo respeito à tolerância, à liberdade e ao pluralismo – quando exercido legitimamente em conformidade com os instrumentos jurídico-políticos à sua disposição – constitui o instrumento central dos Estados democráticos de direito para assegurar a própria efetividade dessas práticas, valores e preceitos democráticos. Na prática, nenhum Estado nacional é neutro em matéria religiosa, muito menos o brasileiro. Como se sabe, o Estado brasileiro tradicionalmente apresentou uma série de vínculos com a Igreja Católica, que foi braço religioso e ideológico do colonialismo português nas terras do Pau-Brasil e religião oficial do Império, antes de sua separação do Estado com o advento da República. Mesmo com a separação laicista, nosso Estado jamais promoveu a privatização do religioso, e ainda perseguiu e discriminou religiões minoritárias, especialmente as afro-brasileiras. A Constituição de 1934, expressando o fortalecimento institucional e político da Igreja Católica na República velha e a fragilidade política do governo Vargas, estabeleceu a “colaboração de interesse público” entre igreja e Estado no país. Tal dispositivo jurídico fez retroceder a laicidade estatal e fortaleceu os laços do Estado com a Igreja no período republicano, laço que se esgarçou somente com o recrudescimento da ditadura militar em 1968. As relações entre política e religião, da mesma forma, grassaram em diferentes fases e contextos da vida política nacional. Com o avanço numérico dos pentecostais e seu ingresso no jogo político partidário, eles, além de formarem sua própria representação parlamentar, tornaram-se interlocutores, Pentecostais e política no Brasil 135 aliados, parceiros e cabos eleitorais de políticos profissionais e de governantes de plantão. A partir da Constituinte de 1988, as alianças e disputas dos representantes parlamentares desse movimento religioso com os agentes públicos estatais passaram a ocorrer no próprio interior das instituições políticas brasileiras, sobretudo legislativas. Eles se unem volta e meia aos representantes católicos no Congresso Nacional contra projetos de lei que contrariam a moral cristã tradicional. Frequentemente, ambos enfrentam juntos os grupos, bandeiras, projetos e políticas públicas laicistas na esfera pública. O Acordo bilateral e internacional do governo Lula com o Vaticano assinado em 13 de novembro de 2008, porém, colocou evangélicos e católicos em lados diametralmente opostos no parlamento. Num primeiro momento, para tentar impedir a aprovação do Acordo no Congresso Nacional, parlamentares pentecostais, ironicamente, se lançaram como ardorosos defensores da laicidade. Laicidade que, várias décadas atrás foi defendida genuinamente por seus antepassados protestantes em solo nacional, tanto em razão de seu liberalismo político como, estrategicamente, por seu diminuto tamanho numérico numa nação então quase inteiramente católica. Em seguida, diante da força política do pleito católico e de sua provável aprovação no Congresso Nacional, surgiu a iniciativa, tomada por um parlamentar da Igreja Universal, de recorrer a outro expediente: lançar um projeto de lei copiando o teor do Acordo católico com o Estado para beneficiar os evangélicos e, de quebra, demais grupos religiosos. Nomeado Lei Geral das Religiões, o projeto fia-se na defesa de tratamento isonômico que o Estado brasileiro, por ser laico, deve conceder aos diferentes grupos religiosos e na crença de que deputados federais e senadores não teriam coragem política de discriminar negativamente evangélicos e demais grupos religiosos, opondo-se à aprovação de seu projeto de lei, cujo conteúdo assemelha-se ao acordado pela Santa Sé com o governo brasileiro. Nesta matéria não é a liberdade religiosa dos evangélicos que está sendo colocada em xeque. A aprovação do Acordo somente com a Igreja Católica representa uma discriminação estatal, isto é, a concessão de um tratamento privilegiado pelo Estado ao grupo religioso hegemônico em detrimento dos demais. O que se verifica neste episódio é que a consolidada situação de pluralismo religioso no país, de um lado, e a crescente representação política dos 136 Ricardo Mariano evangélicos, de outro, colocam sérios obstáculos à continuidade e à consecução de tratamento discriminatório por parte dos agentes públicos. Pressionados, eles se vêem constrangidos a rejeitá-lo ou, em caso de aprová-lo, a efetuar medidas compensatórias. Portanto, é ao princípio da laicidade que recorrem os grupos religiosos minoritários no Brasil, incluídos os que procuram confessinalizar a política e a esfera pública, quando se vêem discriminados pelo Estado ou na iminência de sê-lo. Assim, por vias tortas, colaboram para fortalecer a laicidade estatal. Por outro lado, seus pleitos (e seu projeto político corporativista) e os da religião hegemônica neste caso específico contribuem para minimizar a laicidade estatal ao proporem, por exemplo, a confessionalização da disciplina de ensino religioso (disciplina que já confronta a laicidade do ensino público). A atuação política dos pentecostais pode contribuir tanto para favorecer como para prejudicar a laicidade estatal no Brasil. De modo geral, porém, as igrejas e políticos pentecostais (ao lado da Igreja Católica), por conta de suas orientações e propostas tradicionalistas em questões de ordem moral, estão entre os principais adversários dos grupos laicistas do país. Referências bibliográficas BLANCARTE, Roberto. La laicidad mexicana; retos y perspectivas. http://www.laneta.apc.org/sisex/en/blancarte.htm, 2000. ______. Discriminación por motivos religiosos y Estado laico: elementos para una discusión. Estúdios Sociológicos, México, vol. XXI, n. 62, mayo-agosto de 2003. BAPTISTA, Saulo. Pentecostais e neopentecostais na política brasileira: um estudo sobre cultura política, Estado e atores coletivos religiosos no Brasil. São Bernardo: Instituto Metodista Izabela Hendrix; Annablume, 2009. BOHN, Simone R. Evangélicos no Brasil. Perfil socioeconômico, afinidades ideológicas e determinantes do comportamento eleitoral. Opinião Pública, outubro. 2004. BURITY, Joanildo A. Religião, voto e instituições políticas: notas sobre os evangélicos nas eleições 2002. In: BURITY, Joanildo A.; MACHADO, Maria das Dores C. Os votos de Deus: evangélicos, política e eleições no Brasil. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2005. Pentecostais e política no Brasil 137 CAMARGO, Candido Procopio F. de. (Org.). Católicos, protestantes, espíritas. Petrópolis: Vozes, 1973. D’EPINAY, Christian Lalive. O refúgio das massas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970. FRESTON, Paul. Protestantes e política no Brasil: da Constituinte ao impeachment. Campinas, Tese de Doutorado em sociologia, IFCH-Unicamp, 1993. ______. Evangélicos na política do Brasil: História ambígua e desafio ético. Curitiba: Encontrão, 1994. JACOB, Cesar Romero et al. Atlas da filiação religiosa e indicadores sociais no Brasil. Rio de Janeiro: PUC-Rio; São Paulo, Loyola, 2003. MACHADO, Maria das Dores Campos. Política e religião. A participação dos evangélicos nas eleições. Rio de Janeiro: FGV, 2006. MARIANO, Ricardo; PIERUCCI, Antônio Flávio. O envolvimento dos pentecostais na eleição de Collor. Novos Estudos Cebrap, n. 34, 1992, p. 92-106. MARIANO, Ricardo. A reação dos evangélicos ao novo Código Civil. Civitas. Revista de Ciências Sociais, v. 6, n. 2, 2006. MARIANO, R.; HOFF, Márcio; DANTAS, Toty Ypiranga de Souza. Evangélicos sanguessugas, presidenciáveis e candidatos gaúchos: a disputa pelo voto dos grupos religiosos. Debates do NER (UFRGS), v. 7, p. 65-78, 2006a. ORO, Ari Pedro. A política da Universal e seus reflexos nos campos religioso e político brasileiros. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 18, n. 53, outubro. 2003. PIERUCCI, Antônio Flávio. Representantes de Deus em Brasília: a bancada evangélica na Constituinte. Ciências Sociais Hoje, 1989. São Paulo: Vértice / Revista dos Tribunais, ANPOCS, 1989, p. 104-132. SOARES FILHO, Kleber Torres. Assembléia de Deus na política brasileira: do apoliticismo ao projeto “Cidadania AD Brasil”. São Paulo, ECA-USP, 2006. SYLVESTRE, Josué. Irmão vota em irmão. Os evangélicos, a Constituinte e a Bíblia. Brasilia: Pergaminho, 1986. 138 Ricardo Mariano Mercado Religioso e a Internet no Brasil Airton Luiz Jungblut No Brasil só é possível notar a configuração daquilo que antropólogos e sociólogos da religião chamam de uma “situação de mercado” ou de “situação pluralista e concorrencial” da religião em meados do século XX (Mariano, 2003:115). Com a modernização tecnológica dos meios de comunicação de massa, esse processo visivelmente se acelerou e ganhou novas dinâmicas. Já está bem documentado na literatura especializada o uso que diversos grupos religiosos fizeram nas últimas décadas dos meios de comunicação de massa para posicionarem-se mercadologicamente nesse novo nicho que surgiu. Contudo, em relação ao impacto mercadológico que o uso religioso da comunicação mediada por computador (Internet), ainda se nota uma grande carência de pesquisas e análises. A intenção neste capítulo é abordar esse tema a luz de algumas reflexões preliminares sobre a noção de “mercado religioso” proposta por Peter Berger e de análises das lógicas que animam os usos da Internet, em geral, e o uso que indivíduos e grupos religiosos vêm fazendo dessa mídia, em particular. 1. Secularização, mercado religioso e individualismo Segundo Berger, um dos autores que mais se notabilizou por postular que a secularização e o desencantamento do mundo têm explicações no próprio processo de desenvolvimento da religião ocidental, seria a tradição judaico-cristã que traria consigo o gérmem desencadeador desses processos. Isso teria ocorrido em parte pela “transcendentalização de Deus” operada por essa tradição desde o Antigo Testamento. Ao propor um Deus que “está fora do cosmos”, o Antigo Testamento teria criado condições para o desencantamento do mundo e isso traria consequências para a valorização do indivíduo como sujeito histórico. Conforme diz Berger: Pode-se dizer que a transcendentalização de Deus e o concomitante ”desencantamento do mundo” abriram um “espaço” para a história, como arena das ações divinas e humanas. Aquelas são realizadas por um Deus que está inteiramente fora do mundo; estas pressupõem uma considerável individuação na concepção do homem. O homem aparece como ator histórico diante da face de Deus (o que é muito diferente, diga-se de passagem, do homem como ator diante do destino, como na tragédia grega). Assim, os homens são vistos cada vez menos como representantes de coletividades concebidas mitologicamente, como era típico do pensamento arcaico. Mas, são vistos como indivíduos únicos e distintos que desempenham atos importantes como indivíduos. (Berger, 1985:131) O autor, no entanto, ressalva que não se trata de afirmar que o Antigo Testamento manifeste antecipadamente aquilo que conhecemos como individualismo moderno, mas, antes sim, que com ele “cria-se um quadro de referência religioso para a concepção do indivíduo, sua dignidade e sua liberdade de ação” e que isso tem inegável importância para a “história do mundo” (op. cit. p. 131/2). Além da “transcendentalização de Deus” e da consequente “historicização” da ação individual no mundo a ela associada, Berger também vê no Antigo Testamento um “traço de racionalização ética”. Esses escritos sagrados trariam em si ensinamentos éticos capazes de impor racionalidade à vida e isso, junto com os fatores anteriores, seria como que o tripé que permitiria afirmar que o desencantamento e a secularização do mundo encontram-se em estado germinal na própria tradição judaico-cristã. Falando desse terceiro traço, Berger afirma: Um elemento de racionalização estava presente desde o início, sobretudo por causa do caráter antimágico do javismo. Esse elemento foi ‘mantido’ tanto pelo grupo sacerdotal quanto pelo profético. A ética sacerdotal (como se vê no Deuteronômio, na sua expressão monumental) era racionalizante ao excluir do culto qualquer elemento mágico ou orgiástico e também ao desenvolver a lei religiosa (torah) como a disciplina fundamental da vida cotidiana. A ética profética era racionalizante ao insistir na totalidade da vida como serviço de Deus, impondo, assim, uma estrutura coesa e, ipso facto, racional a todo o espectro das atividades cotidianas. (Berger, 1985:132/3) Berger sugere, então, que esse traço de racionalização da vida cotidiana do qual o Antigo Testamento teria fornecido os princípios tenha se tornado “eficaz na formação do Ocidente moderno por meio de sua transmissão pelo cristianismo” (op. cit. p. 133). Contudo, adverte para o fato de que o catolicismo 140 Airton Luiz Jungblut durante o período que dominou monopolisticamente a cristandade ocidental teria representado “um passo atrás em termos de secularização da religião do Antigo Testamento”. Isso teria ocorrido porque o catolicismo com sua doutrina trinitarista e com seu “encarnacionismo” teria repovoado o espaço entre o homem e Deus por uma série de mediadores (anjos, santos, Maria, etc.) que teriam alterado significativamente o modelo judaico de transcendentalização de Deus e com isso “reencantado” ou “remitologizado” o mundo (op. cit. p. 134). Além disso, segundo esse autor, o catolicismo teria barrado o processo de racionalização ética presente no judaísmo: Na verdade, o catolicismo latino absorveu um legalismo altamente racional herdado de Roma, mas seu penetrante sistema sacramental proporcionou inúmeras ”saídas” da total racionalização da vida postulada pelo profetismo do Antigo Testamento ou pelo judaísmo rabínico. O absolutismo ético do tipo profético foi segregado de modo mais ou menos seguro nas instituições monásticas e, assim, evitou-se que ”contaminasse” o corpo da cristandade como um todo. Novamente, modificou-se e abrandou-se a rigidez das concepções religiosas israelitas, exceto para aqueles poucos que escolheram a vida ascética. A nível teórico, pode-se dizer que a visão católica da lei natural representa uma ”renaturalização” da ética; num certo sentido, seria um retorno à continuidade divino-humana do ma’at egípcio do qual Israel saiu para o deserto de Iahweh. A nível prático, a piedade e a moral católicas proporcionavam um tipo de vida que tornava desnecessária qualquer racionalização radical do mundo. (Berger, 1985:135) Por outro lado, o catolicismo, conforme coloca o autor, teria permanecido “inteiramente histórico em sua visão de mundo” ao manter operante a teodiceia bíblica, o que teria contribuído para conservar, ao menos de forma latente, seu “ímpeto revolucionário” potencialmente secularizante, permitindo, ao menos teoricamente, a ação transformadora na história (op. cit. p. 135). Além disso, segundo Berger, o catolicismo contribuiu involuntariamente com a secularização ao instituir-se – e isso de forma inédita na história da religião – segundo um modelo de “especialização institucional de religião”, ou seja, estruturando-se como “uma instituição especificamente relacionada à religião em contraposição a todas as outras instituições da sociedade” (op. cit. p. 135-6). Mas, segundo Berger, é com a Reforma protestante que efetivamente o cristianismo, ou uma parte importante dele, retoma “aquelas forças secularizantes Mercado Religioso e a Internet no Brasil 141 que tinham sido ‘contidas’ pelo catolicismo, não apenas voltando ao Antigo Testamento nesse processo, mas indo além dele” (op. cit. p. 137). Se Berger não chega a explicar detalhadamente, no texto que aqui está se utilizando, como isso veio a ocorrer, muito provavelmente é porque deve ter tido em mente todo o quadro construído por Weber, no qual o protestantismo aparece como o instituidor de uma ética religiosa de relacionamento com o mundo que teria contribuído profundamente para a instituição da racionalidade moderna, particularmente aquela requerida pela empresa capitalista. O que Berger acrescenta de original à compreensão do papel do protestantismo no processo de secularização está relacionado fundamentalmente à importância do pluralismo provocado pela emergência desse movimento no seio da religião ocidental. Segundo Berger, existiria na tradição cristã ocidental um “potencial pluralístico” que só encontra sua possibilidade de emergência quando se rompe o monopólio religioso da Igreja Católica sobre o cristianismo e quebrase a sua unidade com o advento da Reforma protestante. Essa situação irrompe, segundo o autor, a partir das Guerras de Religião. Estas, apesar de serem guerras pelo “controle monopolístico sobre seus territórios”, entre protestantes e católicos, têm o mérito histórico de romper definitivamente com a unidade da cristandade ocidental. Assim, houve condições para que tivesse início “um processo que facilitou muito futuras fragmentações e que, mais por razões práticas que por razões ideológicas, levou a uma crescente tolerância a grupos religiosos divergentes, quer entre os católicos, quer entre os protestantes” (op. cit. p. 148). Esse pluralismo surgido com a Reforma protestante desenvolve-se, contudo, mais eficientemente nos Estados Unidos, resultando, segundo Berger, “no estabelecimento de um sistema de denominações mutuamente tolerantes que persistiu até hoje” e, dado o sucesso deste sistema em organizar a pluralidade religiosa, acabou por virar “um produto de exportação com atração internacional” (op. cit. p. 148-9). Mas, o que torna o sistema denominacionalista de interesse para se compreender a secularização é a natureza competitiva que o caracteriza: No tipo americano de denominacionalismo (…), diferentes grupos religiosos, todos com o mesmo status legal, competem uns com os outros. O pluralismo, todavia, não se limita a esse tipo de 142 Airton Luiz Jungblut competição intra-religiosa. Como resultado da secularização, os grupos religiosos também são levados a competir com vários rivais não-religiosos na tarefa de definir o mundo, alguns dos quais altamente organizados (como os sistemas de valores modernos do ‘individualismo’ ou da emancipação sexual). (Berger, 1985:149) Mas essa situação tendeu a se consolidar, segundo Berger, para além das sociedades cujo denominacionalismo é o sistema de relacionamento entre os diversos grupos religiosos existentes. Ela seria operante em qualquer lugar onde “ex-monopólios religiosos são forçados a lidar na definição da realidade com rivais socialmente poderosos e legalmente tolerados” (op. cit. p. 149). O que, em outras palavras, significa dizer que ocorre onde tenha se consolidado um Estado laico, ou seja, onde a religião tenha se transformado numa esfera social autônoma em relação a outras que compõem a sociedade. O importante dessa situação em que o pluralismo torna-se uma realidade a ser administrada pelos diversos grupos religiosos é que ela passa a se fundamentar numa lógica de mercado como demonstra Berger: A característica-chave de todas as situações pluralistas, quaisquer que sejam os detalhes de seu pano de fundo histórico, é que os ex-monopólios religiosos não podem mais contar com a submissão de suas populações. A submissão é voluntária e, assim, por definição, não é segura. Resulta daí que a tradição religiosa, que antigamente podia ser imposta pela autoridade, agora tem que ser colocada no mercado. Ela tem que ser “vendida” para uma clientela que não está mais obrigada a “comprar”. A situação pluralista é, acima de tudo, uma situação de mercado. Nela, as instituições religiosas tornam-se agências de mercado e as tradições religiosas tornam-se comodidades de consumo. E, de qualquer forma, grande parte da atividade religiosa nessa situação vem a ser dominada pela lógica da economia de mercado. (Berger, 1985:149) Essa situação, segundo o que mostra Berger, torna a existência dos grupos religiosos sujeita a uma série de cálculos mercadológicos. Uma vez que é preciso disputar fiéis, torna-se necessário, entre outras coisas, uma certa racionalização burocrática para fazer frente às necessidades de manutenção e expansão dos grupos religiosos. É preciso, por exemplo, estar atento às tendências do mercado e, nesse exercício, até mesmo as influências mundanas tendem a modificar os conteúdos dos apelos dos grupos religiosos, pois, em última análise, o que está Mercado Religioso e a Internet no Brasil 143 em jogo é “a dinâmica da preferência do consumidor” (op. cit. p. 156). Outrossim, nesse processo em que os conteúdos religiosos passam a ser relativizados como meros produtos de consumo, a religião parece efetivamente ter sua existência orientada para a interioridade do indivíduo: A situação pluralista multiplica o número de estruturas de plausibilidade concorrentes. Ipso facto, relativisa seus conteúdos religiosos. Mais especificamente, os conteúdos religiosos são ”desobjetivados”, isto é, são desprovidos de seu status como realidade objetiva e evidente na consciência. Tornaram-se ‘subjetivados’ num duplo sentido: sua ‘realidade’ torna-se um assunto ‘privado’ dos indivíduos, isto é, perde a qualidade de plausibilidade intersubjetiva evidente por si mesma (‘não se pode mais conversar’ sobre religião, portanto); por outro lado, na medida em que ela ainda é mantida pelo indivíduo, ela é apreendida como sendo enraizada na consciência deste e não em facticidades do mundo exterior – a religião não se refere mais ao cosmos ou à história, mas à Existenz individual ou à psicologia. (Berger, 1985:162) Retomando os pontos levantados até aqui, tem-se, então, um quadro que mostra que em escala considerável a tradição judaico-cristã a partir de certos aspectos contidos em sua cosmovisão, e dentro dela, mais efetivamente o protestantismo, contribuíram com processos que direta ou indiretamente favoreceram o desenvolvimento do individualismo ocidental. Como se viu, o Antigo Testamento carrega em si os gérmens da uma visão de mundo que postula que o indivíduo é concebido como sujeito ativo na história, já que Deus estaria fora do Mundo (transcendentalizado) e que não existiria nenhum tipo de mediações entre ele e os homens, nem práticas rituais que pudessem interferir magicamente nos destinos humanos. Além disso, o conteúdo ético dessas escrituras sagradas postula uma ação racionalizante na vida cotidiana, o que em si favorece a secularização e o desencantamento do mundo e, além disso, como demonstra Weber no caso específico do protestantismo, conduz ao individualismo, já que ao racionalizar a ação do homem no mundo este tende a privilegiar relações do tipo individualistas-empresariais em detrimento as de tipo familiar comunal. Embora, como demonstra Berger, o catolicismo tenha, durante os vários séculos em que monopolizou a cristandade no ocidente, agido como um inibidor dessas tendências secularizantes, desencantadoras e individualizantes na 144 Airton Luiz Jungblut tradição judaico-cristã ocidental, elas irromperam com toda a energia com a Reforma protestante. Esse movimento, além de ter retomado e desencadeado a efetiva consolidação dessas tendências, fez ainda quebrar a unidade monopolística da cristandade ocidental da qual o catolicismo era o gerenciador. Com isso emergiu o pluralismo na religião ocidental o que levou posteriormente a que os diversos grupos dispersos na pluralidade tivessem que se valer de uma lógica de mercado. Ocorre, então, que mais uma vez o individualismo moderno se beneficia dessa transformação, pois como demonstra Berger, o pluralismo, ao transformar as pessoas em consumidores de “produtos” religiosos oferecidos pelas diversas agências do sagrado disponíveis no mercado, multiplica as “estruturas de plausibilidade”, as possibilidades de crença a partir de conteúdos religiosos variados, ao gosto do consumidor. Por consequência, a religião se transforma numa crença experimentada muito mais individualmente do que coletivamente, já que é o indivíduo que, em última instância, é que detém o poder de arbitrar o que é ou não passível de ser aceito como plausível em relação à religião. Mesmo fazendo parte de coletividades religiosas – o que, diga-se de passagem, para muitos não é nem mais necessário – é o indivíduo quem decide quais traços religiosos expressos na coletividade são os que devem ser enfatizados, relegados em segundo plano ou ignorados. O indivíduo, em última instância, transforma-se no gestor quase absoluto da cosmovisão de que se diz crente. Trata-se, portanto, de um poder adquirido pelo indivíduo, de autonomia individual frente às tradições religiosas. 2. Comunicação mediada por computador e mercado religioso Religião e comunicação costumam andar juntas. A história da humanidade está repleta de exemplos dessa articulação, principalmente quando resulta bem sucedida. As grandes religiões que mais se disseminaram pelo planeta são casos exemplares a atestar os benefícios do uso de estratégias comunicativas na difusão de mensagens salvacionistas. Basta lembrar o sucesso que “religiões do livro” como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo tiveram. No cristianismo, impossível não lembrar também dos proveitos que o protestantismo soube tirar no século XVI da Revolução Gutemberguiana – fato que Lutero considerou “a maior Mercado Religioso e a Internet no Brasil 145 graça de Deus” (Briggs & Burke, 2004:38) – e também da expansão do pentecostalismo norte-americano através do televangelismo (rádio e televisão) no século XX (Cf. Gurtwirth, 1998). Nos dias atuais, quando assistimos aos Meios de Comunicação de Massa (MCM) cederem espaço à Comunicação Mediada por Computador (CMC) tornase bastante pertinente indagar do uso que os grupos religiosos estão fazendo, principalmente, da Internet. Análises realizadas anteriormente (Jungblut, 2002 e 2008), dos usos que os grupos religiosos têm feito da Internet no Brasil, apontam para uma utilização desajeitada e pouco eficiente dos recursos possibilitados pela Internet, por parte de grupos religiosos institucionalizados e tradicionais, ao passo que é visível uma utilização mais eficiente desses recursos por parte de indivíduos autônomos, sejam eles vinculados ou não a grupos e tradições consolidadas. Até onde nos é possível verificar essa é uma realidade internacional. O que se quer dizer com isso é que o uso religioso eficiente da Internet tem sido mundialmente muito mais individual do que institucional. Mais do que isso, se desconfia que essa mídia não se presta a “grandes eventos” religiosos que congreguem, apesar das facilidades tecnológicas favoráveis, um número elevado de participantes simultâneos. Por essa razão, não se prestando a realizar aquilo que Durkheim considerava de fundamental importância para a existência da religião: o culto público que permite a sociedade sentir seus efeitos quando indivíduos que a compõem estão reunidos e agem em comum (Durkheim 1989:495). Até alguns meses atrás, não se tinha notícia de nenhum evento religioso na Internet de grande procura e repercussão que pudéssemos enquadrar nessa categoria. Quando se indaga sobre as razões dessa situação, torna-se oportuno atentar para algumas lógicas que imperam nesse novo território criado pela CMC, o chamado “ciberespaço”. 3. Algumas das lógicas do ciberespaço que devem ser lembradas aqui Nos últimos anos, têm se acumulado uma série de diagnósticos sociológicos e antropológicos a respeito das lógicas culturais, sociais e comunicacionais que imperam nesse ambiente denominado ciberespaço surgido através da emergente comunicação mediada por computador. Alguns desses 146 Airton Luiz Jungblut diagnósticos, de lembrança oportuna para a análise aqui pretendida, apontam para o fato de que o ciberespaço tornou-se um território livre para manifestações com uma radicalidade nunca antes experimentada - de todas as alteridades existentes no mundo globalizado; um espaço em que qualquer pessoa dotada de um mínimo de recursos consegue disponibilizar a centenas de milhões de pessoas informações que considera relevantes a qualquer causa ou finalidade. Isso ocorre devido ao fato de que todo o indivíduo na Internet tem o poder de se transformar facilmente em publicador eficiente de textos seus ou de outras pessoas. Para alguns analistas, isso torna finalmente realizável uma antiga ambição das democracias modernas de tornar todo indivíduo efetivamente livre para manifestar suas ideias, sejam lá quais forem. Essa característica do ciberespaço deve-se ao fato de que, ao contrário dos MCM (Meios de Comunicação de Massa), que possui uma arquitetura unidirecional um-paramuitos (um emissor / muitos receptores), a CMC (Comunicação Mediada por Computador) possui uma arquitetura preponderantemente bidirecional muitospara-muitos (quase sempre todos são, simultaneamente, emissores e receptores). A consequência mais notável disso, conforme observa W. Daniel Hillis, é o surgimento de uma energética e democratizante polifonia comunicacional: … ao contrário do que acontece nos meios de transmissão [Meios de Comunicação de Massa], talvez haja mais bocas do que orelhas na Internet. Isso é possível porque a Internet reduz o limiar de publicação, o limiar de extração de informações. As pessoas desconfiam das instituições. Não gostam de ter sua voz limitada pelas instituições. A idéia de que podem ter o poder nas próprias mãos e divulgar algo na Net se adapta ao clima desses tempos, que exige autoconfiança. A energia da Web não vem das pessoas que estão buscando informações. Vem das pessoas que têm informações que desejam enviar ou que oferecem mecanismos para fornecer essas informações a outras pessoas. (Hillis, 1997:109) Por ser, então, o ciberespaço um território tão favorecedor dessa polifonia democratizante de que se fala, há, também, quem o perceba como recurso tecnológico a serviço das intensas reflexividades identitárias que seriam experimentadas pelo indivíduo contemporâneo. Verdadeira “tecnologia do eu”, o ciberespaço, ao disponibilizar uma interminável fonte de material de confrontação identitária, onde qualquer posicionamento pode ser defendido e/ou contestado, Mercado Religioso e a Internet no Brasil 147 seria o espaço mais apropriado possível na atualidade para as permanentes experiências construções e reconstruções do eu contemporâneo. Esses exercícios acabam por potencializar, em função do meio, atitudes reflexivas que tendem para arranjos identitários conjuntivos “idiossinscréticos” (Sanchis, 1997:104-105) e permanentemente provisórios. Segundo Luis Baggioline: O nomadismo da rede e o modo de construir subjetividades no ciberespaço, se parecem mais a uma identidade baseada na possibilidade, no poder ser, que na diferença e no dever ser. A ‘construção de si’ deixa de ser opositiva e disjuntiva (este ou aquele), e se funda nas possíveis conjunções (este e aquele), o que permite a constituição de identidades simultâneas, em contínuo movimento de reconstrução.” (Baggiolini, 1997) É preciso lembrar, contudo, que um território com essas características favorece muito mais os cotejamentos identitários individuais do que as formulações identitárias mais tradicionais e sancionadas por consensos coletivamente institucionalizados. O ciberespaço, paraíso da permanente reformulação identitária individual, seria, assim, lugar fecundo para processos destradicionalizantes e desinstitucionalizantes como aqueles que assistimos no global mercado religioso dos dias atuais. Vejamos agora, então, como indivíduos e grupos religiosos brasileiros têm se servido dessas lógicas ciberespaciais para ostentarem mercadologicamente suas identidades. 4. O uso religioso da Internet no Brasil O propósito, mais específico, neste subitem, é socializar algumas observações e análises produzidas nestes últimos dez anos a respeito da utilização que indivíduos, grupos e instituições têm feito da Internet para tornar públicas no Brasil suas crenças e traços identitários religiosos. Com isso pretende-se contribuir para a compreensão do, até certo ponto, recente mercado religioso brasileiro, observando mais atentamente o impacto dessa nova mídia nesse processo. É oportuno, inicialmente, apresentar o cenário observado há dez anos, quando a Internet começa a se popularizar no Brasil. O conhecimento desse 148 Airton Luiz Jungblut cenário permite compreender melhor o processo de utilização religiosa dessa mídia até os dias atuais. Naquele momento a maioria dos neófitos em Internet que estavam a se apropriar dessa tecnologia o faziam quase que exclusivamente através de uma utilização simplificada da Web. Assim, além da consulta e/ou publicação de informações apropriadas às interfaces fornecidas pelas páginas da Web, também os recursos de interação comunicativa síncrona (chats) ou assíncronas (listas de discussão ou grupos de notícias) – que possuem desde o início da internet plataformas próprias – ganhavam suas versões adaptadas e simplificadas na Web: os “web-chats” e os “web-fóruns”, respectivamente. Estes se mostravam mais amigáveis e populares. Naquele período a utilização de espaços evangélicos de publicação e a presença de seus representantes em interação na Internet brasileira eram bem mais visíveis do que a de qualquer outro grupo religioso. Vinham depois, nesse ranking, distantes, os espíritas e, bem mais longínquos ainda, os católicos e grupos esotéricos. Grupos afro-brasileiros eram praticamente invisíveis nesse momento. Nas páginas da Web a forma de visibilidade mais comum das identidades religiosas ocorria através de páginas institucionais e, em menor grau, páginas pessoais. No caso dos espíritas eram, quase sempre, páginas institucionais. Nos web-chats religiosos, que não eram até então segmentados confessionalmente e estavam alojados em portais de grandes provedores, a presença evangélica era, de longe, a mais marcante. Na maior parte do tempo, o debate era entre crentes evangélicos, de um lado e descrentes, ateus, agnósticos, etc., de outro. A mesma situação se repetia em relação aos chamados “fóruns de debate” alojados em portais da web. Além disso, outros recursos que não a web – tais como canais de chat do tipo IRC, grupos de notícia e listas de discussão via e-mail – também eram, de longe, nesse período, mais eficazmente utilizados por grupos ou indivíduos evangélicos, sendo seguidos, também nesse caso, por grupos e indivíduos espíritas. Note-se que se interessavam mais pela Internet, um ambiente comunicativo baseado principalmente em mensagens escritas, grupos religiosos – evangélicos e espíritas – que possuem uma tradição de valorização da cultura escrita e, eis ai talvez o porquê de se sentirem tão mais vontade nesse ambiente. Mercado Religioso e a Internet no Brasil 149 Eram eles que mais avidamente se lançavam à exploração do ciberespaço brasileiro. Passado cerca de dez anos tem-se uma situação um tanto distinta. Em primeiro lugar assiste-se ao ingresso cada vez mais perceptível de uma infinidade de outros grupos religiosos antes invisíveis. Páginas católicas, esotéricas e, também, afro-brasileiras, gradativamente, vão se disseminando por todos os lados desse ciberespaço brasileiro ao ponto de ser bastante temerário na atualidade afirmar quem, entre indivíduos e grupos religiosos em questão, demonstra estar melhor se utilizando das possibilidades de publicação da web no Brasil. É preciso destacar também que nestes dez anos – em que houve um substancial crescimento do ciberespaço brasileiro e do número de seus frequentadores – nota-se também um crescente interesse dos chamados portais comerciais de acesso a conteúdos pelo que poderíamos chamar de “filão religioso”. De um primeiro momento em que uns pouquíssimos portais disponibilizavam uma ou duas salas de chat ou algum fórum para assuntos religiosos (geralmente genérico, não segmentado confessionalmente) se passou para uma situação na qual é dada especial e privilegiada atenção a esse tipo de interesse. Isso pode ser notado principalmente pela proliferação de chats e fóruns de debates de assuntos religiosos em vários portais de conteúdo que antes não atendiam a essa demanda e pela crescente oferta segmentada aos públicos interessados nesse assunto (antes uma única opção genérica tal como “religião”; agora cada vez mais uma segmentação confessional no qual “evangélicos”, “católicos”, “espíritas”, etc. têm seus próprios espaços). Bastante interessante também é o repentino uso que as casas de religião afro-brasileiras passaram a fazer da Web. De uma situação de quase que total invisibilidade, há cerca de dez anos atrás, o número de páginas pessoais ou institucionais deste segmento religioso cresceu surpreendentemente. Observando as características dessas páginas (que, geralmente, são muito simples e têm como intenção básica a mera publicidade dos serviços oferecidos nessas casas de religião) percebe-se que se trata de uma utilização ainda bastante acanhada dessa mídia. A impressão que passam muitas dessas páginas é que foram criadas apenas para satisfazer os fetiches tecnológicos que o uso da Internet 150 Airton Luiz Jungblut parece provocar na subcultura afro-brasileira como item atribuidor de prestigio social para quem dela faz uso. Mas algumas coisas também se mantiveram substancialmente inalteradas nestes últimos dez anos. Para citar apenas aquilo que considero mais importante menciono a forma com que espíritas e evangélicos – os dois grupos religiosos que, muito provavelmente, mais se utilizam da Internet no Brasil – utilizam-se dos recursos virtuais-comunitários possibilitados no ciberespaço. Refiro-me a formação das chamadas “comunidades virtuais” através de comunicação mediada por computador de características síncronas (chats, second life, etc.) ou assíncronas (grupos de notícia, listas de discussão via e-mail, web-fóruns e sites de relacionamentos tipo Orkut). Esses tipos de utilização da Internet são, de longe, melhor potencializados por grupos ou indivíduos pertencentes a esses dois segmentos religiosos. Através desses recursos de interatividade e sociabilidade no ciberespaço lida-se com uma forma – bem mais dinâmica e atraente do que a mera publicação de textos em páginas da Web – de ostentação e de negociação identitária de cunho religioso. Mas é preciso dizer que embora façam uma utilização muito parecida desses recursos, evangélicos e espíritas têm padrões de comportamento diferentes em suas respectivas comunidades virtuais. Em se tratando de evangélicos, tenho notado que aqueles indivíduos e grupos próximos às modalidades pentecostais ou renovadas e que estão numa faixa etária que vai dos 15 aos 25 anos, demonstram maior interesse por comunidades virtuais possibilitadas através de recursos síncronos de comunicação (chats). Já os evangélicos ligados a modalidades mais tradicionais e de faixas etárias mais elevadas do que a anterior tendem a preferir as comunidades que se formam através de formas assíncronas de comunicação (grupos de notícias e listas de discussão, web-fóruns e sites de relacionamentos tipo Orkut). No primeiro caso, tratam-se de interações comunicativas muito mais extramuros (debates e interlocuções com intenções proselitistas com indivíduos de outras crenças ou descrentes) e, no segundo, interações intramuros (debates entre evangélicos a cerca de questões doutrinárias, principalmente). Em termos de visibilidade é o primeiro tipo de atitude interativa que mais se destaca no ciberespaço brasileiro. Cabe comentar que a imensa maioria dos evangélicos que se tornam visíveis na internet, quer seja em suas próprias comunidades virtuais, Mercado Religioso e a Internet no Brasil 151 quer seja em espaços alheio, parecem fazê-lo com o intuito muito mais de divulgarem sua fé do que de discutirem intramuros seus fundamentos teológicos, litúrgicos, etc. Os espíritas, por sua vez, que aparentemente se situam numa faixa etária que vai dos 20 aos 40 anos, normalmente não manifestam comportamentos distintos entre o uso que fazem de chats, listas de discussão e sites de relacionamento (ou, também, web-fóruns e grupos de notícias). Procuram manter debates disciplinados com alto nível de exigência intelectual dos participantes. São, mormente, debates orientados, quase que exclusivamente, para questões referentes às interpretações dos livros espíritas. É comum não demonstrarem interesse por polêmicas com integrantes de outras religiões ou cosmovisões (ateus, por exemplo). Nos poucos casos em que é possível vê-los utilizando-se de chats – veículo em que, em princípio, é mais difícil manter debates disciplinados – o fazem usando plataformas que permitem a imposição de atos disciplinadores (Messenger Groups, por exemplo). Se fossemos classificar e/ou qualificar de maneira esquemática as formas como as principais modalidades religiosas aparecem na Internet brasileira teríamos algo como: Católicos: presença preponderantemente institucional (páginas de dioceses, organizações católicas, serviços de acesso a Internet, etc.); pouca interatividade individual e de relacionamentos extramuros (é difícil encontrar pessoas identificadas com o catolicismo em chats ou listas de discussão, por exemplo). Afro-brasileiros: visibilidade publicitária (a maioria das páginas na web têm como intenção, por exemplo, informar local e horário de atendimento dos médiuns, mostrar fotos dos estabelecimentos e dos médiuns, etc.); comercial (há um bom número de páginas de lojas de artigos religiosos afrobrasileiros, também editoras e livrarias); praticamente nenhuma interatividade individual (não se notou nenhuma lista de discussão nem chat importante deste segmento; a presença de indivíduos identificados com essas religiões de um modo geral é bastante rara); Espíritas: presença institucional bastante marcante (possuem uma considerável rede de páginas, algumas entre as quais bastante complexas onde se disponibilizam, por exemplo, livros espíritas completos em formato digitalizado); muita interatividade individual de relacionamentos preponderantemente intramuros (os espíritas tem um bom número de listas de 152 Airton Luiz Jungblut discussão e chats e mostram-se bastante apaixonados por debates mediados por redes de computares); Evangélicos: formas bastante diversificadas de visibilidade; institucional (muitas páginas de igrejas locais, regionais, nacionais ou mesmos internacionais; um grande número também de páginas de organizações ecumênicas, para-eclesiásticas, interdenominacionais, etc.); publicitária e/ou comercial (um número considerável de páginas na web com publicidade de livrarias e lojas de discos evangélicos, por exemplo); pessoal (um grande número de páginas pessoais visando a divulgação da fé evangélica); intensa interatividade individual de relacionamentos extra e intramuros (grupo religioso que, seguramente, mais se lança a interatividade comunicativa via internet, buscando não só a formação de comunidades de crentes como também o trabalho conversionista); Esotérica: oracular (um número cada vez maior de sites, oferecendo serviços de oráculo tais como, tarô, astrologia, numerologia, etc.); pessoal (as páginas divulgando assuntos esotéricos na web são geralmente pessoais); média interatividade individual intra e extramuros (possuem listas de discussão e chats que não chegam a atrair muita atenção e são, muitas vezes, vedadas a estranhos). *** A título de conclusão cabem aqui algumas rápidas considerações. O monitoramento que o autor vem fazendo, há cerca de dez anos, do uso da Internet por indivíduos e grupos religiosos brasileiros tem levado a percepção de que são mais eficientes no uso dessa mídia aquelas modalidades que, primeiramente, têm uma tradição de uso da cultura escrita na forma de vivenciarem sua fé (caso dos espíritas, evangélicos e, mais recentemente, esotéricos). Em segundo lugar, destacam-se aqueles grupos e indivíduos que tomam como obrigação religiosa o proselitismo militante. Nesse caso, os evangélicos estão sozinhos na dianteira, pois, no Brasil atual, empenham-se, como ninguém mais, numa gigantesca mobilização pela expansão de seu rebanho e a Internet, como já havia acontecido com o rádio e a TV, se tornou um front no qual esses religiosos gastam muito de sua energia conversionista. Diferentemente de outros grupos, eles agem escancaradamente segundo a lógica do mercado, fazendo com que cada grupo ou indivíduo evangélico potencialize, Mercado Religioso e a Internet no Brasil 153 ao máximo, na Internet, os apelos salvacionistas dessa modalidade de cristianismo. Referências bibliográficas: BAGGIOLINI, Luis. Desterritorialización y globalización: la constitución de las nuevas redes virtuales. Trabalho apresentado nas “III Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación”, Mendoza, Argentina, 1997. <http://www.geocities.com/CollegePark/5025/mesa3d.htm> (11/03/ 99). BERGER, Peter Ludwig. O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião. São Paulo: Ed. Paulinas, 1985 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à Internet. Rio de Janeiro, 2004. DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa: o sistema totêmico na Austrália. São Paulo: Ed. Paulinas, 1989. GURTWIRTH, Jacques. L’Eglise életronique: la saga des télévangélistes.Paris: Bayard Éditions, 1998. HILLIS, W. Daniel. Depoimento a John Brockman. In: Brockman, John. Digerati: encontros com a elite digital. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 107-114. JUNGBLUT, Airton L. . Os evangélicos brasileiros e a colonização da Internet. Ciencias Sociales y Religión Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, nº 4, p. 149-166, 2002 JUNGBLUT, Airton L. The use of the Internet for religious groups in Brazil. Trabalho apresentado no First ISA Forum of Sociology. Barcelona, 2008. MARIANO, Ricardo. Efeitos da secularização do Estado, do pluralismo e do mercado religiosos sobre as igrejas pentecostais. Civitas, Vol. 3, Nº 1, 2003. p. 111-125. SANCHIS, Pierre. O campo religioso contemporâneo no Brasil. In: ORO, A. P.; STEIL, C. A. (orgs.) Globalização e Religião. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 103-116. 154 Airton Luiz Jungblut Antropologia das instituições e organizações econômicas Lúcia Helena Alves Müller Atualmente, podemos encontrar um número cada vez maior de pesquisadores, grupos de trabalho, livros e artigos dedicados à abordagem antropológica de temas relacionados com o mundo empresarial, com os mercados, com o dinheiro em suas mais diversas formas, com o consumo e com as diversas modalidades de crédito. Mas o que uma disciplina como a antropologia, tradicionalmente associada ao estudo das sociedades tribais, das sociedades tradicionais, dos grupos sociais situados à margem do sistema econômico global; uma disciplina que costuma tratar das diferenças culturais e dos processos identitários, tem a dizer sobre temas como esses, que conformam o que costumamos identificar como sendo “a economia”? Na verdade, são assuntos tão importantes que não deveriam ser deixados ao cargo exclusivo de economistas e administradores. Mas, com certeza, o interesse dos antropólogos por esses temas está relacionado com mudanças que ocorreram no âmbito da própria antropologia, bem como com transformações sofridas pelos objetos de estudo que tradicionalmente definiam essa disciplina. Paradoxal parece ser o fato da maior parte dos grupos de pesquisadores que hoje trabalha sobre as temáticas citadas não localizar seus estudos como integrantes do campo nomeado pela expressão “antropologia econômica”. Além disso, embora a temática econômica tenha sido objeto de reflexão por parte de autores considerados clássicos da antropologia (Malinowski, 1984; Mauss, 1974) e, ao menos no Brasil, tenha sido um conteúdo obrigatório na formação dos antropólogos até o final dos anos 70, ao longo das últimas décadas, ela praticamente sumiu dos currículos acadêmicos. Este texto tem com objetivo refletir sobre essas mudanças e seus aparentes paradoxos, além de traçar um rápido panorama do que a antropologia contemporânea vem produzindo sobre as instituições, organizações, práticas e representações relacionadas ao que a nossa sociedade classifica como “economia”. A antropologia econômica Na antropologia, a constituição da temática econômica como um campo de estudos específico se deu através de um debate historicamente situado, que teve seu momento mais intenso na década de 60. A expressão “antropologia econômica” ficou de tal modo associada a esse debate, a ponto de Puillon (1978:12) poder mesmo afirmar: “falar seriamente de Antropologia Econômica é, pois, em nossa opinião, analisar um momento de uma investigação em Ciência Social que se desenvolveu nos anos sessenta (...)”. Analisar a investigação em Ciência Social que se desenvolveu nos anos 60 é deparar-se inevitavelmente com o debate formalistas X substantivistas. Podemos deduzir, portanto, que a expressão antropologia econômica nomeia o debate que colocou frente a frente diferentes perspectivas teóricas, embora as trajetórias dessas perspectivas não estejam circunscritas a ele. Para compreendermos plenamente esse debate seria necessário localizar as questões que lhe deram forma e relacioná-las com as perspectivas teóricas que nele estiveram envolvidas. Sendo essa uma tarefa ambiciosa demais para um ensaio como esse, limitar-me-ei a considerar as questões gerais que o animaram a fim de refletir sobre sua pertinência para a abordagem da "economia" na sociedade contemporânea. O que pode nos surpreender na leitura da bibliografia referente ao período áureo dos debates formadores desse campo é que ela nos induz a pensar que, no âmbito da antropologia, o embate envolvendo a perspectiva formalista e a substantivista deu-se, na realidade, a partir de polêmicas desenvolvidas entre antropólogos de orientação teórica marxista (em geral, franceses) e antropólogos anglo-saxões (ingleses e norte-americanos), inspirados pela teoria dominante na ciência econômica (chamada de neoclássica ou liberal), os quais, a partir da década de 50, passaram a dirigir suas atenções para temas classificados como econômicos na vida das sociedades ditas primitivas e tradicionais. Os antropólogos chamados de formalistas (talvez devêssemos dizer “acusados de”) eram aqueles que definiram seu tema de estudo baseados nos pressupostos teóricos estabelecidos pela ciência econômica, como fez Raymond Firth, ao definir a tarefa do antropólogo como sendo a de “(...) dar assistência na 156 Lúcia Helena Alves Müller tradução de proposições gerais da teoria econômica em termos que se apliquem aos tipos particulares de sociedade por que se interessa e que comumente não aparecem na observação do economista.” E como premissas fundamentais da teoria econômica, “a natureza variada e extensível de objetivos da conduta humana a multiplicidade de fins; a limitação de meios para satisfazê-los o fato da escassez; e a necessidade de escolher entre eles o exercício da preferência.” (Firth, 1974) Em suas críticas aos antropólogos formalistas, os antropólogos de orientação marxistas lançaram mão de proposições substantivistas. A perspectiva substantivista não se confunde, no entanto, com a marxista. O que elas têm em comum é o questionamento das premissas teóricas da economia neoclássica, ou seja, a crítica à naturalização dos princípios que regem a sociedade capitalista ocidental. Para ambas, a relativização histórica e cultural desses princípios é o passo inicial e fundamental, tanto para a compreensão de outras sociedades, quanto para o questionamento da própria organização social capitalista. Os substantivistas, ou institucionalistas, são assim chamados por questionarem a definição "formal" de economia, vendo nela uma generalização imprópria de princípios que regem apenas um tipo específico de sociedade: a sociedade de mercado capitalista. Em contrapartida, eles propõem uma definição "substantiva" de economia: “(...) um processo institucionalizado de interações entre o homem e seu meio, que se traduzem pelo fornecimento contínuo dos meios materiais que permitem a satisfação das suas necessidades.” (Polanyi apud Pouillon, 1978:53). A principal diferença entre essas perspectivas está na abordagem que os marxistas dão aos fenômenos econômicos das sociedades não capitalistas. O conceito fundamental da teoria marxista, que é o de "modo de produção", condicionou os estudos empreendidos por esses antropólogos a concentrarem seu foco em fenômenos diretamente ligados à esfera da produção material, por considerá-la a esfera determinante, em última instância, da vida social. Assim, sua preocupação fundamental foi a de identificar os mecanismos de reprodução e de transformação dos diferentes modos de produção: É este conceito de modo de produção que constitui o conceito maior da antropologia econômica. A missão desta é determinar os Antropologia das instituições e organizações econômicas 157 tipos de modo de produção que subsistem nas sociedades que estuda e que se transformam ao contacto e sob a dominação da economia mundial capitalista. Mas o conceito de modo de produção implica mais do que um estudo da economia dessas sociedades. Na sua ambição teórica última, a antropologia visa a descoberta das leis de determinação da vida social pela economia. (Godelier, 1974:245) A aplicação de conceitos que foram produzidos a partir do estudo da sociedade capitalista ao estudo das chamadas sociedades primitivas, cujos resultados teóricos não nos cabe aqui avaliar, não deixou de provocar, também, a relativização dos próprios conceitos marxistas. Assim, por exemplo, o conceito de infraestrutura teve de ser alargado para incluir as relações de parentesco, fundamentais para a ordenação da produção nas sociedades tribais (Godelier). Os conceitos de classe social e de exploração tiveram que ser adaptados para dar conta de fenômenos tais como os das chamadas sociedades de linhagem (Meillasoux). A perspectiva substantivista desenvolveu-se a partir das obras de Karl Polanyi, que não era economista nem antropólogo. Essas foram publicadas a partir da década de 40, tendo como base seus estudos de história econômica e sua ferrenha crítica ao pensamento econômico liberal, dominante na Europa até a primeira guerra mundial. Apesar de também privilegiar o estudo de temas econômicos, Polanyi não o fez a partir do que seria uma lógica econômica e sim, social. Dessa forma, sua abordagem opõe-se claramente à perspectiva formalista, por negar os princípios postulados pela teoria econômica neoclássica: A economia do homem está submersa em suas relações sociais. Ele não age desta forma para salvaguardar seu interesse individual na posse dos bens materiais. Ele age assim para salvaguardar sua situação social, suas exigências sociais, seu patrimônio social. (Polanyi, 1980:61). Por outro lado, a ênfase na dimensão institucional da sociedade, também a distingue claramente da perspectiva marxista: Existe a doutrina igualmente equívoca da natureza essencialmente econômica dos interesses de classe. Embora a sociedade humana seja naturalmente condicionada por fatores econômicos, as motivações dos indivíduos humanos só excepcionalmente são determinadas pelas necessidades do 158 Lúcia Helena Alves Müller desejo de auto-satisfação material. O fato da sociedade do século dezenove ser organizada a partir do pressuposto de que tal motivação poderia tornar-se universal foi uma peculiaridade da época. (Polanyi, 1980:157) Segundo Polanyi, as práticas de mercado sempre existiram, mas quase sempre de forma marginal, e submetidas a outros tipos de relações sociais. Sendo assim, para esse autor, os princípios da economia condensados na noção de homo economicus, não podem ser tomados como princípios universais. Por outro lado, o autor questiona a teoria marxista por centrar-se exclusivamente em fenômenos ligados aos processos de produção. Contrapondo-se a essas perspectivas, ele propõe a concepção substantiva de economia, que englobaria todos os fenômenos sociais que dizem respeito à produção, à distribuição e ao consumo de bens, e que, em cada sociedade, são organizados de formas institucionalmente diversas. A partir dessa concepção “institucionalista”, Polanyi propôs uma tipologia das formas de integração social que informam os sistemas econômicos em diferentes sociedades: reciprocidade, distribuição e mercado. Assim, o debate que envolveu as diferentes perspectivas que conformaram o campo de estudos que ficou conhecido como “antropologia econômica” girou em torno das divergências quanto à própria definição do objeto "fenômenos econômicos". Essas divergências não impediram, no entanto, que as pesquisas levadas a cabo pelos antropólogos, a partir das diferentes correntes teóricas envolvidas no debate, produzissem um grande volume de estudos que, ao nível empírico, foram produzidos a partir dos mesmos campos de pesquisa e trataram dos mesmos temas, isto é: a produção, a distribuição e o consumo de bens materiais, em sociedades não capitalistas. O fato de vivermos em uma sociedade cada vez mais interconectada, em que não há mais grupos sociais isolados, uma vez que estamos, todos, de alguma forma, vinculados à sociedade de mercado ou, ao menos, sob sua influência, torna compreensível a perda de espaço que a antropologia econômica sofreu no campo acadêmico ao longo dos anos, na medida em que seu campo de estudos, as sociedades ditas primitivas e tradicionais, deixaram de ser percebidas como tal. Temáticas relacionadas a práticas e instituições econômicas continuaram a ser abordadas pelos antropólogos, mas deixaram de ser o foco principal de suas Antropologia das instituições e organizações econômicas 159 análises, à exceção, talvez única, dos estudos sobre comunidades camponesas, sobretudo aquelas envolvidas em processos identitários de caráter étnico. O fato de não se poder mais definir e classificar as sociedades contemporâneas com base na oposição primitivas/simples/tradicionais X modernas/complexas/dinâmicas fez com que os antropólogos passassem a considerar todas as sociedades, inclusiva a sua própria, como campo de pesquisa. Essas mudanças colocaram em xeque as formas tradicionais de se fazer antropologia e impedem que se pense a relação com as outras ciências sociais em termos de fronteiras absolutas, na medida em que não há mais tema ou campo de estudos específicos. O que continua, com certeza, a definir a abordagem antropológica é a hipótese da “alteridade”, elemento constituinte de todos os objetos de pesquisa dessa área do conhecimento, o que, em termos de abordagem, se traduz em compromisso do pesquisador com o exercício da relativização e com a busca de formas de compreensão que englobem o ponto de vista do “outro” (Oliveira, 1996). Assim, mesmo quando estudam a sua própria sociedade, os antropólogos procuram colocá-la em perspectiva, através da comparação, caso contrário, não estarão fazendo antropologia. O processo de mudanças na definição do campo e nas práticas de pesquisa antropológica não abarcou de forma homogênea todos os campos temáticos. Além disso, a hegemonia das novas correntes teóricas, como o estruturalismo e a antropologia interpretativa ou hermenêutica, que colocavam o foco na dimensão simbólica da vida social, e o crescimento do interesse por temas definidos a partir de outras problemáticas sociais, como o processo de urbanização e o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, por exemplo, também contribuíram para que, ao longo das últimas décadas do século XX, as temáticas pertencentes ao campo da antropologia econômica perdessem espaço na pesquisa acadêmica. Não por acaso, foi ao longo desse período, que os cursos de ciências sociais excluíram de seus currículos a obrigatoriedade das disciplinas dedicadas a conteúdos relativos à ciência econômica. 160 Lúcia Helena Alves Müller A “nova” sociologia econômica Enquanto o interesse por temas econômicos saia da cena principal da antropologia, na sociologia, iniciava-se o processo de retomada desse interesse. Uma das vertentes desse processo teve origem nos Estados Unidos na década de 80, e acabou por conformar o campo de estudos que hoje é conhecido como “nova sociologia econômica”. A “nova sociologia econômica” também se desenvolveu a partir da crítica ao predomínio de premissas e concepções teóricas de inspiração neoclássica (individualismo metodológico, teoria da escolha racional), que vinham se tornando dominantes não apenas na análise de fenômenos tradicionalmente considerados como pertencentes à esfera econômica (os mercados), mas também na abordagem de temas tradicionalmente vistos como objetos específicos das ciências sociais: política, religião, relações matrimoniais, etc. Os estudos que são identificados como pertencentes à “nova sociologia econômica” são bastante diversificados em termos de temas, objetos e abordagens. O que eles têm em comum é o fato de atribuírem às sociedades capitalistas a mesma característica que Polanyi atribuiu às sociedades ditas primitivas ou tradicionais, isto é, a de que, nelas, a economia está “imersa” (embebedness) na vida social (Granovetter, 2007). O crescimento dessa corrente e sua capacidade de revalorizar temáticas econômicas no âmbito da sociologia acabou por interpelar pesquisadores que, embora também tivessem um grande interesse por temas econômicos e já tivessem formulado teorias sociológicas que contemplassem esses temas, não se identificavam como pertencentes a um campo de estudos dessa forma definido. Foi o que aconteceu com Pierre Bourdieu (2000; 2005), com sua teoria dos campos, e com Luc Boltanski (1991; 2002), em seus trabalhos sobre os princípios de coordenação constitutivos da sociedade capitalista na história recente. Sem falar na corrente que se formou em torno do M.A.U.S.S. (Moviment Anti-utilitariste dans les Sciences Sociales), cuja principal proposta é a construção do “paradigma do dom”, em oposição aos paradigmas classificados como utilitaristas, que estariam dominando o senso comum e as ciências sociais. Desde 1988, a Revue du MAUS publica trabalhos que buscam valorizar as contribuições de Mauss e Antropologia das instituições e organizações econômicas 161 Polanyi, que criticam a noção de desenvolvimento e que tratam de formas alternativas de organização da economia (renda mínima, economia solidária, etc.). Não se pode dizer que essas diferentes correntes dialoguem aberta e diretamente entre si, mas seus integrantes se interpelam mutuamente e já se reconhecem como participantes de um campo comum, voltado para o estudo sociológico dos fenômenos, instituições, práticas e representações econômicos, vividos na sociedade contemporânea. Como apontaram Kirchner e Monteiro (2002), citando Lévesque et al. (1997), a principal diferença entre a corrente norte-americana e as correntes francesas está no fato de que a “nova sociologia econômica” está mais próxima da ciência econômica, disciplina da qual ela busca se distinguir e com a qual procura, ao mesmo tempo, dialogar. Já as correntes sociológicas francesas que abordam temas econômicos têm como principal interlocutor a própria sociologia em suas vertentes teóricas estruturalistas e marxistas, e como projeto, a crítica ou, até mesmo, substituição da ciência econômica por uma “economia sociológica”, segundo a leitura que Raud (2007) faz de Lebaron (2001). Na área da sociologia, da década de 80 para cá, houve um claro processo de institucionalização da sociologia econômica como campo de pesquisa. Isso aconteceu de forma mais intensa nos Estados Unidos (Swedberg, 2004), mas também está acontecendo em outros países, como no Brasil, onde a sociologia econômica vem se tornando um campo de estudos cada vez mais importante e renovador em termos de temáticas e abordagens. Não nos cabe fazer uma revisão ou avaliação dessa produção, apenas ressaltar que esse processo está acontecendo sem excluir o intercâmbio com outros campos de pesquisa, como o da sociologia do trabalho, o da sociologia de empresas (Kirchner e Monteiro 2002), mas também com outras disciplinas, como a antropologia e a própria ciência econômica. Entre os autores tidos como pertencentes ao campo da “nova sociologia econômica” norte-americana, Viviana Zelizer é uma das que mais tem inspirado os pesquisadores brasileiros. Seus trabalhos também estão desempenhando um papel muito importante na interlocução entre esse campo de pesquisa e a antropologia. 162 Lúcia Helena Alves Müller Conhecendo um pouco da obra dessa pesquisadora, torna-se fácil identificar as razões dessa aproximação. Em seu livro intitulado The social meaning of money, Zelizer (1994) aborda a economia doméstica dos norteamericanos, e demonstra como, em uma sociedade capitalista totalmente monetarizada, o dinheiro é pensado, nomeado, valorizado e usado de formas muito distintas. As pessoas atribuem diferentes sentidos e valores ao dinheiro, dependendo de como ele é obtido e em quê vai ser gasto (comida, doações, poupança, etc.) Zelizer critica radicalmente a separação a apriori entre o que seria o “mundo econômico” e as outras dimensões da vida social. Ela questiona, inclusive, certas concepções vigentes na antropologia que percebem as práticas econômicas como subordinadas a lógicas culturais. Para essa pesquisadora, é preciso levar a ideia de que “a economia” é socialmente construída até suas últimas consequências, o que significa supor que os mercados são tão diferenciados quanto as sociedades que os constituem. Zelizer realizou diversos estudos voltados para essas questões. Em um deles (Zelizer 1992), a autora mostra como, ao longo da história norte-americana, ocorreram mudanças nas concepções e práticas relacionadas à adoção de crianças, práticas essas que acabaram por conformar um mercado em que é negociado algo que, segundo nosso senso comum, não pode ser tratado como mercadoria: os bebês. O trabalho demonstra que, no final do século XIX, os pais biológicos é que tinham que pagar para que outras pessoas cuidassem de seus filhos. E a quantia paga era menor, caso se tratasse de meninos, já que eles poderiam ser mais facilmente utilizados como mão de obra. Pela mesma razão, os mais velhos eram os preferidos pelos candidatos a pais adotivos. Ao longo do século XX, aconteceram diversas transformações nas formas de se perceber o papel das crianças na família e, consequentemente, no sentido atribuído à adoção. Hoje, quem paga pelas crianças são aqueles que querem adotá-las, para poderem usufruir afetivamente de sua companhia. Nesse caso, quanto mais jovens forem elas, maior o valor a ser pago. Além disso, as meninas são mais desejadas em função das representações dominantes a respeito de sua maior adaptabilidade e docilidade. Antropologia das instituições e organizações econômicas 163 Mais recentemente, Zelizer (2005) produziu uma interessante reflexão sobre como são construídas e negociadas as fronteiras entre as relações monetarizadas e as relações consideradas como pertencentes ao plano da intimidade. Para desenvolver suas ideias, a autora acompanhou o andamento das negociações relativas a um fundo, que foi criado pelo governo norte-americano com o objetivo de indenizar os familiares das vítimas do atentado ao World Trade Center, ocorrido em Nova Iorque, em 11 de setembro de 2001. Zelizer analisou as reivindicações feitas a esse fundo, por pessoas que se viam como possíveis contemplados, e mostra que as demandas eram denominadas e legitimadas de forma diversas, conforme eram concebidos os laços pessoais sobre os quais se apoiavam. A mesma coisa acontecia com as formas de nomear as próprias indenizações e de calcular o seu valor. Por exemplo, uma mulher que perdera o marido no atentado, demandava uma compensação relativa à participação que o salário do marido falecido tinha nos gastos domésticos; alguém que tinha um filho com uma pessoa que morreu, reivindicava um valor que cobrisse os gastos necessários à educação da criança até a sua formatura. Entre as demandas, também havia quem reivindicasse o custeio do cuidado de um parente idoso ou doente que estava aos cuidados da pessoa falecida; outros que reivindicavam uma compensação pelo sofrimento gerado pela perda de uma pessoa com quem tinha uma relação afetivamente importante. Enfim, os candidatos apresentavam diferentes concepções de dano, às quais correspondiam diferentes concepções de demandas, diferentes formas de cálculo e diferentes meios de pagamento, a adequação entre esses elementos é o que podia, ou não, tornar legítimas as reivindicações feitas. As análises de Zelizer problematizam a ideia dominante, tanto no senso comum quanto no pensamento acadêmico, da existência de uma fronteira fixa entre as relações sociais e as relações econômicas, sobretudo aquelas mediadas pelo dinheiro, sendo que as ultrapassagens dessa fronteira seriam, por princípio, ilegítimas porque deturpadoras dos processos econômicos, ou profanadoras das relações de caráter íntimo. Assim, Zelizer nos faz ver que essas fronteiras são socialmente construídas contextualizados. 164 Lúcia Helena Alves Müller em processos simbólicos historicamente A “nova sociologia econômica” trouxe para o centro do debate contemporâneo temas, conceitos e instrumentos analíticos que, até pouco tempo atrás, eram de uso quase que exclusivos dos antropólogos (a dimensão simbólica da vida social, as relações informais, as redes, o parentesco, a reciprocidade, a abordagem etnográfica). Mas onde ficaram eles ao longo desse processo? A antropologia e a sociedade contemporânea Como já foi dito anteriormente, ao tomar a sociedade contemporânea como campo de estudos, a antropologia organizou-se em novas áreas temáticas nas quais os fenômenos econômicos estavam certamente presentes, mas não constituíam mais a problemática principal. Só mais recentemente os antropólogos começaram perceber que, assim como aconteceu com outros campos temáticos clássicos (Monteiro, 1991), os conceitos, instrumentos e dados produzidos a partir do estudo das sociedades “primitivas” ou tradicionais também podiam ser muito úteis na abordagem dos fenômenos que, em nossa sociedade, são classificados como econômicos, e que estão no centro da vida social contemporânea. Mas para compreendermos até que ponto a “antropologia econômica”, isto é, as questões envolvidas no debate que constituiu esse campo de pesquisa nas décadas de 50-60 (formalistas X substantivistas e marxistas) podem contribuir para a abordagem antropológica de temas econômicos da sociedade contemporânea, temos que refletir sobre qual o significado de se propor essa sociedade como objeto de estudos antropológicos, para cada uma das perspectivas envolvidas. Se ao falarmos em "sociedade contemporânea" estamos nos referindo a uma multiplicidade de formações sociais articuladas fundamentalmente por relações de caráter econômico – o chamado sistema capitalista global – para a perspectiva formalista, a proposta não faria sentido, já que a ciência econômica, disciplina na qual se originaram os pressupostos teóricos que orientam essa perspectiva, seria o campo científico apropriado para o estudo dos fenômenos econômicos que se desenvolvem nessa sociedade. Apesar das diferenças radicais que a opõe à corrente formalista, a perspectiva marxista também definiria a especificidade do estudo antropológico a Antropologia das instituições e organizações econômicas 165 partir de seu campo de estudo: as sociedades “primitivas”. Sendo assim, um estudo sobre fenômenos econômicos da sociedade contemporânea não se distinguiria por ser, ou não, antropológico, mas por ter, ou não, uma orientação teórica marxista. Não há dúvidas de que essa teoria produziu um instrumental muito eficiente para a compreensão do processo de expansão e reprodução do sistema capitalista, o qual não pode, de maneira alguma, ser ignorado se quisermos compreender a formação do que chamamos de sociedade contemporânea, sobretudo em relação à incorporação e articulação de sociedades ao sistema global 1. Por outro lado, para abordarmos os fenômenos econômicos que definem a especificidade dessa sociedade, temos, necessariamente, que considerar os conhecimentos produzidos a partir dos pressupostos teóricos que fundamentam a ciência econômica, na medida em que eles dão conta de aspectos importantes de seu funcionamento (Godelier, s.d. p.40), mesmo se interpretarmos esses conhecimentos como a auto-concepção do sistema capitalista (Sahlins, 1979). Entretanto, se partirmos do princípio de que a especificidade da antropologia não está no fato dela se dedicar a um determinado campo de estudo (sociedades “primitivas” ou grupos periféricos em relação à sociedade capitalista), mas na ótica através da qual os antropólogos constroem seus objetos de pesquisa em qualquer tipo de sociedade (inclusive a nossa); se tivermos sempre em mente que a especificidade da abordagem antropológica está no exercício de colocar diferentes sociedades ou universos simbólicos em perspectiva recíproca, podemos dizer que, entre as correntes participantes do debate chamado de “antropologia econômica”, a chamada substantivista seria a mais claramente afinada com a abordagem antropológica, pois, não tendo como pressuposto o primado universal da economia (seja como esfera social específica e/ou determinante, seja como princípio universal das práticas: o chamado homo economicus) para a compreensão da sociedade, ela encaminha necessariamente à relativização das próprias categorias e noções com as quais se pode abordar os fenômenos que classificamos como econômicos. Na antropologia, essa perspectiva inspirou abordagens que colocaram o foco da análise sobre a dimensão social do que chamamos de "fenômenos 1 Sobre esse tema, ver entrevista com Eric Wolf, em Ribeiro (1985). 166 Lúcia Helena Alves Müller econômicos". De forma mais radical, ela está na base das abordagens que veem a noção de economia, ela própria, como sistema de representações, como em Dumont (2000) ou, ainda, como conformando um sistema cultural passível de uma análise simbólica, como em Sahlins (1979). Levada às últimas consequências, a perspectiva substantivista colocou em xeque a possibilidade de se pensar em "antropologia econômica" como um campo específico, na medida em que dilui o seu objeto em problemáticas mais amplas e diversificadas, mesmo que esses objetos se situem numa sociedade que se estrutura material e simbolicamente a partir do que chamamos de “economia”. Antropologia da economia A partir do que foi exposto até aqui, torna-se mais compreensível que os cada vez mais numerosos antropólogos que estudam instituições, organizações, práticas e representações relacionadas com o que chamamos de “economia” tenham certa dificuldade ou, até mesmo, resistência em identificar seu campo de pesquisa através da expressão “antropologia econômica”. Em geral, eles buscam definir suas temáticas de forma mais restrita, utilizando expressões como: “os usos do dinheiro” (Bloch, 1994), “temas econômicos” (Bazin 2001), “etnografia econômica” (Dufy e Weber, 2007). Não é à toa que essa temática só reapareceu de forma mais autônoma nos eventos acadêmicos brasileiros da área da antropologia muito recentemente e, mesmo assim, definida através de expressões tais como “etnografias do capitalismo” ou “antropologia da economia”. E sobre o que tratam os trabalhos desses antropólogos, independentemente dos termos utilizados para nomear seu campo temático? Tratam de temas como os mercados, a vida empresarial, questões relativas à propriedade, ao trabalho, ao dinheiro, ao crédito, ao consumo, enfim, tudo àquilo que também interessa aos economistas, aos pesquisadores filiados à sociologia econômica, sem falar nas outras disciplinas, como a psicologia, a administração, a comunicação e, porque não?, a ciência econômica. As diferenças, que não são absolutas, podem ser identificadas, como já foi dito, na definição do objeto e nas formas de abordagem de cada área do Antropologia das instituições e organizações econômicas 167 conhecimento. Embora as publicações ainda não sejam muito numerosas, os anais dos principais eventos acadêmicos de antropologia ocorridos no Brasil e em outros países da América Latina estão cada vez mais repletos de trabalhos sobre mercados formais e informais, legais e ilegais; locais e globais, mercados ou outros tipos de transações em que se troca aquilo que, de acordo com o senso comum, “não tem preço” (sexo, confiança, cuidados pessoais, poderes mágicos, etc.); práticas e representações acerca do dinheiro; dimensões simbólicas da vida empresarial (conflitos, processos de construção e desconstrução de identidades, de ideologias, etc.), práticas de consumo, as relações entre economia e religião, entre economia e parentesco, entre economia e concepções da natureza, economia e gênero, economia e identidade étnica, etc. Não sendo possível descrever todos esses temas num texto como esse, limito-me a exemplificar algumas possibilidades de abordagem de temas econômicos a partir da antropologia, através da exposição de alguns resultados de um projeto de pesquisa que se encontra em andamento. O tema geral desse projeto é o processo, que teve início recentemente no Brasil, de crescimento da oferta de crédito ao consumidor de baixa renda. O objetivo é buscar compreender de que maneira determinados grupos da sociedade brasileira estão sendo incorporados ao mercado de consumo, via a oferta de crédito, sendo que esse processo é acompanhado de uma incorporação desses grupos ao chamado sistema financeiro, isto é, do crescimento do uso de instrumentos como contas bancárias, cartões de crédito, etc. 2. Esse processo foi estimulado por uma política de governo que visava alavancar o crescimento econômico, via estímulo ao consumo de massa e, também, promover a chamada “inclusão financeira”, que agentes internacionais de fomento ao desenvolvimento veem como um indicador de avaliação do grau de inclusão social. Essas políticas, aliadas ao interesse comercial de instituições financeiras e de empresas de varejo pelo público de baixa renda, produziram uma mudança no perfil dos consumidores e induziram a financeirização da vida econômica de grupos sociais que não estavam, até então, habituados ao uso desses instrumentos para geri-la. 2 O projeto tem o título de “Me dá um dinheiro ai? Crédito e inclusão financeira sob a ótica de grupos populares”. Essa pesquisa contou com financiamento do CNPq. 168 Lúcia Helena Alves Müller Para a realização dessa pesquisa, escolhemos enfocar primeiramente algumas das diversas formas de crédito que se encontravam disponíveis para os grupos de baixa renda. Uma dessas formas foi o penhor, modalidade de crédito muito tradicional, mas cujo uso vem crescendo enormemente no Brasil, tendo batido recordes em termos número de usuários e de volume de empréstimos nos anos de 2007 e 2008 (Müller e Vicente, 2007). O penhor pode cobrar juros mais baixos do que outras modalidades de crédito porque garante o valor fornecido com ouro e pedras preciosas que ficam sob sua custódia. Já foi possível penhorar objetos e eletrodomésticos, mas essa modalidade de penhor foi desativada em função do ritmo cada vez mais veloz da obsolescência tecnológica, que fazia com que os aparelhos penhorados se desvalorizem muito rapidamente. Por pressupor a posse de joias, tendemos a pensar que o penhor está disponível somente para quem tem alto poder aquisitivo. No entanto, a média do valor dos empréstimos realizados através dessa modalidade de crédito é bastante baixa, sendo que, em algumas agências da Caixa Econômica Federal, instituição financeira que tem exclusividade na prestação desse serviço, ela não ultrapassava R$ 150,00, no ano de 2007. Já na modalidade chamada de “micropenhor”, o valor máximo emprestado era de R$ 600,00, e esse tipo de empréstimo só estava disponível para quem possuísse conta bancária com saldo inferior a R$ 1.000,00. Trata-se, portanto, de pessoas com pouca renda e que, eventualmente, só têm uma aliança ou anel para penhorar. Ou, então, de pessoas pertencentes a certos segmentos da classe média que se encontram em claro processo de perda de poder aquisitivo ou, mesmo, de franco empobrecimento (funcionários públicos, aposentados, desempregados). O fato da grande maioria dos contratos do penhor (70%) ser feita para o pagamento de dívidas, e não para a aquisição de bens ou para responder a outro tipo de necessidade de crédito, também reforça essas ideias. O estudo do penhor nos obrigou a ver como as questões relacionadas com as fronteiras entre o espaço das relações monetarizadas e o espaço da intimidade (Zelizer, 2005) podem estar inseridas no centro da economia capitalista. Trata-se de um instrumento de crédito que faz parte dos instrumentos financeiros, e que está sendo valorizado pelo governo como uma forma de diminuir os juros e de fornecer mais crédito à população. Seu funcionamento está vinculado à dinâmica Antropologia das instituições e organizações econômicas 169 de circuitos globais, como o do mercado de ouro e de pedras preciosas, que são produtos negociados e cotados em bolsas de commodities. O funcionamento do penhor também está ligado à dinâmica de sistemas mundializados, como o que dita os modelos das joias, num processo que inicia junto aos grandes designers, as grandes marcas, passando pela reprodução legal ou ilegalmente feitas pelas griffes locais, por pequenos joalheiros e por vendedores ambulantes que oferecem joias e “semi-joias” aos funcionários de empresas e repartições públicas, chegando aos compradores de “ouro usado” (muitas vezes frutos de roubos e extorsão) que circulam pelas nas esquinas das grandes cidades. Outro dado muito importante que esse estudo traz para a reflexão é o de que, segundo a própria Caixa, 80% das pessoas que frequentam o penhor são mulheres. Estamos falando, portanto, de uma instituição cujo funcionamento tem um viés de gênero muito marcado. São quase sempre as mulheres que ganham, compram ou detêm as joias. Elas formam um patrimônio que passa de geração em geração, através das mulheres. Assim, as mulheres não podem ser vistas necessariamente como proprietárias das joias, mas como suas guardiãs, pois não se pode simplesmente vender o anel de casamento “da vovó” sem correr o risco de sofrer cobranças dos demais membros da família. A herança das joias também é um assunto de âmbito familiar. As joias “da vovó” não passam para qualquer mulher e, sobretudo, não ultrapassam as fronteiras da consanguinidade (se não há filhas ou irmãs, as joias passam diretamente para as netas ou até para sobrinhas, mas dificilmente vão ser transferidas para noras ou cunhadas). Os homens compram as joias para ofertar às mulheres. Nessas circunstâncias, as joias podem simbolizar seus sentimentos e o valor que eles atribuem às mulheres e à sua relação com elas. Ao usar a joia, as mulheres exibem publicamente essas avaliações. Quando uma mulher mostra um anel que ganhou do namorado, na verdade, ela está querendo demonstrar o valor que ele lhe atribui. Esse tipo de compreensão gera discordâncias e decepções nas ocasiões em que as pessoas vão ao penhor pensando que suas joias têm muito valor e o avaliador da Caixa conclui que ela tem pouca ou nenhuma quantidade de ouro ou, ainda, que a pedra incrustada na joia não é um diamante. 170 Lúcia Helena Alves Müller Como modalidade de crédito, o penhor só existe porque as pessoas compram joias. E, como vimos, as pessoas não compram, presenteiam, vendem ou penhoram joias pautadas pela lógica financeira ou pela dinâmica do mercado, mas por outros códigos. Como exemplo, podemos tomar o caso de mulheres que penhoram suas joias quando se separam dos maridos, e não as resgatam, deixando que elas sejam leiloadas por falta de pagamento. Através desse ato, essas mulheres transformam em “apenas” dinheiro aquilo que simbolizava uma relação que afetivamente não vale mais nada. Outro exemplo são as mulheres que penhoram joias que, segundo elas, lhes foram ofertadas justamente porque seus maridos não as amam mais. Elas aceitam trocar sua tolerância em relação às infidelidades do marido por joias que são penhoradas para que elas possam usar o dinheiro, sem culpa. Vemos, então, que as operações de crédito através do penhor envolvem questões muito complexas: Quem tem o direito de levar as joias da família para o penhor? Quem é o herdeiro natural das joias da família? Sabemos que não é qualquer um, que é preciso respeitar as linhagens, as hierarquias, e que esse tipo de herança está submetido a um controle coletivo, familiar. Quem não respeitar os códigos estará criando um problema, pois, a longo prazo, alguém pode legitimamente perguntar: – Onde foi parar aquelas joias que eram “da vovó”? Assim, através do caso do penhor, é possível levantar alguns exemplos de como as lógicas afetivas, os papéis sociais de gênero e de natureza familiar, os códigos de honra e outros que são comumente pensados como separados ou totalmente subordinados às leis da economia, podem estar intimamente imbricados nas práticas relativas à compra, à circulação, à posse, ao uso, à avaliação e à penhora de joias. Não é à toa que os avaliadores do penhor da Caixa têm um grande conhecimento sobre a vida social. Eles lidam diariamente com a negociação entre os códigos que entram em jogo na hora da avaliação, um momento em que as pessoas costumam se encontrar em crise ou em conflito, não sendo incomum que os usuários do penhor expliquem detalhadamente aos avaliadores as razões para estarem procurando penhorar as joias de família ou alianças de noivado, por exemplo. Trata-se de assuntos muito sérios e, por vezes, traumáticos. Antropologia das instituições e organizações econômicas 171 Outra forma de crédito mapeada no âmbito do projeto foi a do crédito consignado (Candido, 2007). O estudo enfocou especificamente a categoria dos aposentados, e demonstrou que, embora as instituições levem em conta as condições financeiras individuais de seus clientes para avaliar sua capacidade de endividamento, o mecanismo do crédito consignado é acionado para responder a necessidades de diversos membros do grupo familiar. O fato desses aposentados (em geral, idosos), não raro os únicos membros das famílias a terem renda fixa, disporem, também, de acesso privilegiado ao crédito pode resultar no aumento de seu poder no espaço doméstico. Também pode ter como efeito a diminuição da autonomia do aposentado, em função do comprometimento de sua renda no abatimento dos empréstimos feitos para cobrir a necessidade dos demais familiares, que são assumidas como obrigações suas e avalizadoras de seu desempenho no papel de pai, mãe, avós, etc. Nesse projeto também estamos enfocando os jovens universitários, que vêm sendo alvo de uma investida massiva por parte das instituições financeiras, que os veem como clientes muito interessantes3. Os universitários recebem constantes propostas de abertura de contas bancárias que incluem um determinado valor em crédito pré-aprovado, o acesso ao uso de cartão de crédito, etc. Com o crescimento das vagas nas universidades públicas e com a implementação de programas de bolsas em universidades privadas (Prouni), são numerosos os casos de jovens que representam a primeira geração de seu grupo familiar a ter acesso ao ensino superior, o que significa que pertencem a grupos em plena trajetória de ascensão social. O acesso aos mecanismos financeiros e o crédito que lhes é oferecido pela simples razão de estarem na universidade fazem com que esses jovens ganhem um grau de autonomia financeira que não corresponde necessariamente ao grau de autonomia que eles dispõem em termos econômicos, na medida em que grande parte dos estudantes não é capaz de se autossustentar, embora muitos trabalhem e tenham uma parcela considerável de sua renda comprometida com o orçamento familiar. Nossas investigações procuram compreender como esses 3 Essa pesquisa está sendo desenvolvida com o auxílio da bolsista de iniciação científica da FAPERGS, Eleonora França Teixeira. 172 Lúcia Helena Alves Müller jovens são percebidos pelas instituições financeiras e como eles incorporam os instrumentos e conhecimentos financeiros em sua vida cotidiana. Conclusão O objetivo desse texto foi o de localizar o espaço da antropologia no atual movimento de revalorização das temáticas econômicas por parte das ciências sociais. Tendo presente que uma leitura como essa é sempre parcial e traz marcas da inserção do autor no campo abordado, espero que ele tenha sido capaz de mostrar como essa disciplina vem participando da construção, que se encontra em pleno andamento, de um novo campo de estudos. Se o que move os participantes desse novo campo é continuar no esforço de compreensão da economia como dimensão social e simbolicamente construída da sociedade, a antropologia terá sempre muito a contribuir, independentemente do nome que se dê a esse esforço, que interessa a todos nós. Referências bibliográficas BARBOSA, Lívia. Sociedade de consume. Rio de Janeiro, Zahar. 2004. BAZIN, Laurent et al. Motifs économiques en anthropologie. Paris, L´Harmattan, 2001. BLOCH, Maurice et al. Les usages de l’argent. Terrain, Paris, v. 23, octobre 1994. BOLTANSKI, Luc; CHIAPELLO, Ève. El nuevo espírtu del capitalismo. Madrid, Akal, 2002. BOLTANSKI, Luc; THÉVENOT, Laurent. De la justification: les économies de la grandeur. Paris, Gallimard, 1991. BOURDIEU, Pierre. Les structures sociales de l´economie. Paris, Seuil, 2000. BOURDIEU, Pierre.O campo econômico. Política e Sociedade. PPG Sociologia Política, UFSC, Florianópolis, UFSC/Cidade Futura, nº6, abril 2005. (Dossiê Estado, mercado e regulação). Antropologia das instituições e organizações econômicas 173 CANDIDO, Luara Fernandes de. Crédito sobre a ótica da terceira idade: significados da utilização do empréstimo pessoal para idosos. Porto Alegre, PUCRS, 2007 (TCC graduação em Ciências Sociais) Colóquio internacional: quantificação e temporalidade: perspectivas etnográficas sobre a economia. Anais. Rio de Janeiro, Museu Nacional/UFRJ, 2005. CRITICA EM DESARROLLO. Revista latinoamericana de ciencias sociales. nº2, Buenos Aires, segundo semestre 2008. (La vida social de la economia). DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2004. DUFY, Caroline; Weber, Florence. L´Éthnographie économique. Paris, La Découverte, 2007. DUMONT, Louis. Estudo comparativo da ideologia moderna e o lugar que ela ocupa no pensamento econômico. In Homo aequalis: gênese e plenitude da ideologia econômica. Bauru : EDUSC, 2000. GODELIER, Maurice. A antropologia econômica. In Antropologia: ciência das sociedades primitivas? Lisboa, Edições 70, 1974. GRANOVETTER, Mark. A ação econômica e estrutura social: o problema da imersão. RAE-eletrônica, v. 6, n. 1, Art. 5, jan./jun. 2007. (Fórum Sociologia econômica). JOURNAL DES ANTHROPOLOQUES. nº 90-91. Paris, AFA-MSH. 2002. (Monnais: pluralités-contradictions). KIRSCHNER, Ana Maria; MONTEIRO, Cristiano F. Da sociologia econômica à sociologia da empresa: para uma sociologia da empresa brasileira. Sociedade e estado. v. 17 nº. 1, jan.-jun. 2002. LEBARON, Fredéric. Bases of a sociological economy: from François Simiand and Maurice Halbwachs to Pierre Bourdieu. Intenational journal of contemporary sociology. nº 38, v. 1, 2001. MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do empreendimento e da aventura dos nativos na Nova Guné melanésia. São Paulo, Abril Cultural, 1984. MAUSS, Marcel. Ensaios sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. In Marcel Mauss: Sociologia e Antropologia. São Paulo, EPU, 1974. MONTEIRO, Paula. Reflexões sobre uma antropologia das sociedades complexas. Revista de Antropologia. São Paulo, USP, n. 34, 1991. 174 Lúcia Helena Alves Müller MÜLLER, Lúcia H. A. Mercado exemplar: um estudo antropológico sobre a bolsa de valores. Porto Alegre, Zouk, 2006. MÜLLER, Lúcia H. A.; VICENTE, Décio Soares. Vão-se os anéis: uma abordagem etnográfica do penhor, 31. Encontro Anual da ANPOCS, Anais, Caxambu, 2007. OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O Trabalho do Antropólogo: Olhar, Ouvir, Escrever. Revista de Antropologia, São Paulo, 1996. v.39 nº1 p.13-37. POLANYI, Karl. A grande transformação: origens da nossa época. Rio de Janeiro, Campus, 1980. (capítulos 3 a 6). RAUD, Cécile. Bourdieu e a nova sociologia econômica. Tempo social, nov. 2007, vol.19, nº.2. REVUE DU M.A.U.S.S. http://www.revuedumauss.com/ RIBEIRO, Gustavo Lins. Para uma Antropologia Mundial. Eric Wolf e os "Povos sem História" Anuário Antropológico1983, Rio de Janeiro/Fortaleza, Tempo Brasileiro/Edições UFCE, 1985 . RIBEIRO, Gustavo. El sistema global no-hegemónico y la globalisatión popular. Série Antropologia nº410. Brasília, Departamento de Antropologia UnB, 2007. SAHLINS, Marshal. A primeira sociedade de afluência. In CARVALHO, Edgar Assis (Org.) Antropologia econômica. São Paulo, Ciências Humanas, 1978. SAHLINS, Marshall. Cultura e razão prática. Rio de Janeiro, Zahar, 1979. SWEDBERG, Richard. Sociologia econômica: hoje e amanhã. Tempo Social. Revista de Sociologia da USP. V. 16, n. 2, nov. 2004. WEBER, Florence. Práticas econômicas e formas ordinárias de cálculo. Mana, out. 2002, vol.8, nº2, p.151-182. ZELIZER, Viviana. Intimité et économie. Terrain, nº45, Paris, sept. 2005. (L´argent em famille) ZELIZER, Viviana. Repenser le marché: la construction sociale du “marché aux bébés” aux Estats-Unis, 1870-1930. Actes de la Recherce en Sciences Sociales. Paris, nº 94, p. 3-26, sept 1992. ZELIZER, Viviana. The social meaning of money. New York, Basic Books, 1994. Antropologia das instituições e organizações econômicas 175 Há limites para a Sociologia do Conhecimento em uma “Sociedade do Conhecimento”? Léo Peixoto Rodrigues1 1. Introdução O presente capítulo tem por finalidade contribuir teoricamente para o debate que tem se construído nas últimas décadas, e que faz parte de reflexões no âmbito das ciências sociais brasileira e internacional, no que diz respeito à chamada sociedade do conhecimento, modernidade, pós-modernidade, ciência e racionalidade. A partir de contribuições substanciais, já vistas como clássicas, como as de Daniel Bell, Jean-François Lyotard, Michel Foucault e Thomas Kuhn, examinam-se aspectos teóricos, sejam de natureza preditiva, como no caso de Bell e Lyotard, sejam de natureza essencialmente teórica – Kuhn e Foucault –, buscando-se pontuar alguns aspectos do debate que, de certa forma, fujam da tônica mais comum, cujos posicionamentos colocam-se ao lado ou de uma perspectiva que privilegia a chamada modernidade ou, antagonicamente, de uma perspectiva pós-modernidade. Argumenta-se que a noção de sociedade do conhecimento está presente em distintos conceitos que se esforçam por caracterizar as drásticas e aceleradas transformações ocorridas, sobretudo, a partir da segunda metade do século XX. Conceitos tais como: pós-fordismo, pós-industrialismo, neomodernidade, alta modernidade, contemporaneidade, pós-modernidade e outros, mesmos que apresentem certas diferenças entre si, de algum modo, são utilizados com o mesmo objetivo de distinguir estados de ordem social, cultural, política, econômica e tecnológica distintas. Essa necessidade de apontar as diferenças entre os diferentes momentos da organização social, bem como a dificuldade de se construir consensos teóricos, busca-se aqui explorar. 1 Licenciado em Ciências Físicas e Biológicas pela Faculdade Porto Alegrense de Ciência e Letras (FAPA); Licenciado e Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Mestre e Doutor em Sociologia (UFRGS). Atualmente é Professor da Universidade Federal de Pelotas - UFPel. Destaca-se a necessidade de que sejam examinadas as razões que motivaram a chamada descontinuidade, o fim dos metarrelatos, ou crise da modernidade, como possibilidade de representação dos ideais humanos em suas diferentes formas de conhecimento. Nesse aspecto, aponta-se a própria Ciência, como forma hegemônica de produção de conhecimento durante toda a modernidade, que através de um processo analítico de diferenciação e de produção de novos conhecimentos, tem propiciado, cada vez mais o desenvolvimento de dissensos, gerando a atual teia de complexidade. Por fim, argumenta-se sobre a necessidade de o conhecimento moderno, através de seus principais eixos, ir em busca de determinadas sínteses (junções), contrariamente ao processo de análise (separação) gerado pela Ciência, para que a modernidade retome determinados consensos fundamenteis para a consecução de seu principal objetivo: emancipação/reconhecimento.. A partir dessa perspectiva, é necessário que tais questões sejam enfrentadas, partindo de uma sociologia do conhecimento. Em nenhum outro momento da era moderna o conhecimento teve uma centralidade tão importante; a revitalização de uma sociologia que se detenha sobre o conhecimento, no sentido lato, nessa contemporaneidade, é de fundamental importância para o maior entendimento de questões que têm transbordado os diferentes campos disciplinares. Muito já se tem dito sobre o fato de a sociedade contemporânea constituirse numa sociedade do conhecimento. Entretanto, a noção de sociedade do conhecimento suscita, de imediato, um questionamento central: qual sociedade e em que momento se tornou uma sociedade do conhecimento, visto que a espécie humana, de alguma forma, muito antes da polis grega já teria produzido algum tipo de conhecimento. O marco referencial da discussão de uma sociedade de conhecimento, porém, tem sido aquilo que se passou a denominar de conhecimento moderno, isto é, o conhecimento que emerge a partir da crise do sistema feudal e da retomada do logos grego, com as releituras de Platão e Aristóteles, propiciando a emergência de uma episteme renascentista que vai assentar as bases da Ciência Moderna. Quando falamos em sociedade do conhecimento, então, a discussão que se coloca está vinculada ao conhecimento chamado de conhecimento científico, Há limites para a Sociologia do Conhecimento em uma “Sociedade do Conhecimento”? 177 desenvolvido a partir de uma intrincada confluência de novos saberes que fazem vir à tona importantes noções como: razão, indivíduo, natureza, verdade, regularidade, certeza, etc; noções, estas, quase que completamente inexistentes antes do século XVII e, quando existente, como as de natureza e verdade, estavam regidas por uma episteme distinta daquela que passa a viger na chamada modernidade e, portanto, com um sistema de significação completamente distinto. Assim, o termo “sociedade do conhecimento” traz em si a necessidade de maior reflexão – e de diferenciação – tanto das noções de sociedade, como de conhecimento e de ciência, além de várias outras noções colorarias, forjadas em diferentes momentos da modernidade, tais como: capital/trabalho, sociedade industrial, sociedade patriarcal, sociedade burguesa, industrialismo, etc. Nesse sentido, é a própria “modernidade” do século XX, principalmente a partir da segunda metade, quem passa a travar um diálogo – melhor seria dizer debate – com a sua tradição. Tal diálogo passa a não se constituir como meramente crítico, numa costura permeada por teses e antíteses, sempre mediada pela razão, nos termos da construção de quase todo o conhecimento Iluminista. O debate que se tem feito nas últimas décadas – na chamada contemporaneidade – parece constituir-se mais propriamente numa ruptura de diversos pressupostos modernos, que num diálogo crítico. Essa ruptura, essa descontinuidade, ou esse dissenso que se disseminou por diferentes áreas do conhecimento moderno, tem sido amplamente debatido em diferentes setores da sociedade, por diferentes mídias e recebido, por parte dos intelectuais, diferentes conceituações. É nesse sentido que se busca, a seguir, identificar a emergências contemporâneas desse debate, propondo alguns elementos de natureza epistemológica e sociológica à sua reflexão. 2. Sociologia e conhecimento, episteme e paradigma O agora clássico livro de Daniel Bell, The Coming of Post-industrial Society, publicado em 1973 2, é um importante marco no debate entre a chamada 2 Neste artigo utilizaremos a tradução brasileira intitulada O Advento da Sociedade Pós-industrial: uma tentativa de previsão social, de 1977. 178 Léo Peixoto Rodrigues contemporaneidade e os diferentes momentos da tradição moderna 3, ao anunciar alguns indicadores de descontinuidade na forma como o conhecimento e a sociedade estavam sendo produzidos. Segundo Bell, O conceito de sociedade pós-industrial é uma generalização muito ampla. Seu significado será mais facilmente compreendido se especificarmos cinco dimensões ou componente do termo: 1. Setor Econômico: a mudança de uma economia de bens para uma economia de serviços; 2. Distribuição ocupacional: a preeminência da classe ocupacional e técnica; 3. Princípio axial: a centralidade do conhecimento teórico como fonte de inovação e de formulação política para a sociedade; 4. Orientação futura: controle da tecnologia e a distribuição tecnológica; 5. Tomada de decisão: a criação de uma nova “tecnologia intelectual” (Bell, 1977, p.27-28). Daniel Bell antevê com bastante acuidade aquilo que anos mais tarde passaria a ser chamado de sociedade do conhecimento, por diferentes autores. É importante levar em conta que a sua predição é anterior à massificação da utilização do computador pessoal, o chamado PC (personal computer), mesmo nos Estados Unidos 4. As tecnologias informacionais desenvolvidas a partir de 1970 aceleraram de forma surpreendente a mudança de uma economia de bens para uma economia de serviços, embora essa mudança já acontecesse, principalmente nos Estados Unidos, mesmo antes da década de 50. Esse deslocamento da economia de bens exigiu, igualmente, o deslocamento ocupacional, mudando de forma estrutural o mundo do trabalho, tornando-o mais complexo, menos repetitivo (no caso do humano), exigindo, por consequência, maior qualificação dos trabalhadores. De fato, com o desenvolvimento da cibernética, que deu origem a uma bem formalizada teoria da informação e da comunicação, cuja informática é apenas uma de suas variantes, as possibilidades de interconexões teóricas e práticas, isto é, o desenvolvimento de tecnologias – tecnologia como “o uso do conhecimento científico para especificar as maneiras 3 Quando falamos em diferentes momentos da tradição moderna, é porque estamos contemplando as diferenciações que existiram nos saberes e fazeres ao longo da modernidade; por exemplo: os diferentes momentos do modo de produção capitalista; as diferentes etapas do industrialismo; o deslocamento da mão de obra dos setores – classicamente criados por Colin Clark – primário, secundário e terciário, ao longo dos séculos XIX e XX; os diferentes sistemas de produção gestão e processos de trabalho. Entretanto, tais diferenciações, na minha opinião, não chegaram a se constituir numa ruptura epistêmica ou paradigmática. 4 Sobre o tema ver Castells, 1999. Há limites para a Sociologia do Conhecimento em uma “Sociedade do Conhecimento”? 179 de fazer as coisas de um modo reprodutível” 5 – deslocaram boa parte do saberfazer de uma dimensão meramente prática, para uma dimensão teórica, de inovação, de criatividade. Essa é a centralidade do conhecimento teórico como fonte (stock), de inovação e de formulação política para a sociedade a que se refere Bell (1977, p. 31-32), quando afirma que a “sociedade industrial representa a coordenação das máquinas e dos homens para a produção dos bens. A Sociedade pós-industrial organiza-se em torno do conhecimento, a fim de exercer o controle social e a direção das inovações e mudanças.” As transformações apresentadas por Bell, em 1973 – e que de certa forma têm se confirmado e em muitos aspectos surpreendido, dada a sua radicalidade – , quando vistas de uma perspectiva do debate moderno/contemporâneo, não parece tratar-se simplesmente da adoção de um ou de outro enfoque crítico sobre teorias concorrentes, métodos de abordagens, ou da escolha ou não de um determinado objeto empírico. Trata-se, mais adequadamente, de esgotamento de uma epistèmê, no sentido foucaultiano, ou da mudança de um paradigma no sentido kuhniano. Com essa mudança paradigmática, assiste-se a impossibilidade de teorias universalizantes em darem conta in totum da realidade social, como aquelas propostas pelos clássicos da sociologia – com Marx, a possibilidade emancipatória, via proletariado, e o fim do sistema capitalista; com Durkheim, a coalescência, pela via do consenso; e, com Weber, a igualdade e racionalidade organizacional e social, através do processo de burocratização. A noção de sociedade do conhecimento está presente em diferentes nomenclaturas que se esforçam por caracterizar as marcantes e aceleradas transformações que se seguiram principalmente a partir dos anos 60 do século XX. Essas nomenclaturas, tais como pós-fordismo, pós-industrialismo, neomodernidade, alta modernidade, contemporaneidade, pós-modernidade, como já mencionamos, embora possam ter sutilezas ou buscarem focar aspectos diferentes de uma mesma realidade, todas têm em comum um mesmo fio condutor, qual seja: a necessidade de distinguir alguma faceta de transformação de um estado de ordem anterior – com um certo nível de consenso – para um novo e singular estado, cujas percepções, olhares, focos e decorrentes esforços 5 Nesse sentido reproduzo a definição de tecnologia proposta por Harvey Brooks (1971), utilizada e citada tanto por Daniel Bell (1977, p. 44), como por Manuel Castells (1999, p.49). 180 Léo Peixoto Rodrigues explicativos não apresentam suficiente consenso. Portanto, é essa necessidade de pautar as distinções, bem como a dificuldade – mesmo numa perspectiva crítica – de consenso, ou pelo menos de pontuar os elementos constitutivos do dissenso que caracteriza o que se pode chamar de descontinuidade. Na chamada modernidade, principalmente no Iluminismo, o conhecimento parecia avançar, tendo como mola propulsora a crítica que se colocava de forma dialógica (dialogal) e quase sempre dual. O conhecimento também parecia avançar, desenvolver-se numa dimensão dialética, com teses, antíteses e decorrentes sínteses suficientemente bem caracterizadas. Os diferentes momentos do debate filosófico e científico, na modernidade, pareciam apresentar estruturas argumentativas que ofereciam, na maior parte das vezes, a possibilidade de identificação de consenso ou de dissenso, quando à plausibilidade de teses e de antíteses e consequentes sínteses. A ideia de crise ou de descontinuidade do conhecimento, que tem dado sustentação à noção de pós-moderno, passa necessariamente pela dificuldade ou impossibilidade de realização de sínteses a partir de diferenciações duais. Contemporaneamente, os objetos do mundo 6 – pertencentes a diferentes categorias da cognição, isto é, sejam eles reais, virtuais ou simbólicos, passíveis de abordagens teóricas ou empíricas – são resultados de um acelerado processo de diferenciação, cujas sínteses, quando possíveis, não geram necessariamente “um novo”, um “resultado”, uma “solução”, senão mais e mais diferenciações. É a diferenciação dos modos de ser, saber, fazer e estar, que perpassa os diferentes planos (social, político, econômico, cultural) das sociedades contemporâneas, sejam elas ocidentais ou orientais, provocando, uma ruptura de caráter epistemológico com relação ao conhecimento desenvolvido nas sociedades modernas. Isso coloca em questão aspectos fundamentais relacionados ao conhecimento: aspectos de caráter epistemológico, isto é, sobre os próprios fundamentos do que é verdadeiro e falso; aspectos de caráter heurísticos, ou seja, a partir de que conjunto de regras podemos conhecer com segurança os fenômenos em contínua transformação; e aspectos de caráter 6 Chamamos aqui de “objetos do mundo” tudo aquilo que é produzido pelo conhecimento, seja ele de que natureza for: filosófico, científico, literário, artístico, tecnológico, religioso, ou de senso comum. A natureza desses objetos também pode ser real concreta, real abstrata, real virtual. Chamo, aqui, de “real” toda e qualquer experiência compartilhada por grupos sociais, independentes do tempo e do espaço. Há limites para a Sociologia do Conhecimento em uma “Sociedade do Conhecimento”? 181 teórico: de que forma é possível construir um modelo – teorias são modelos descritivos e/ou explicativos do real – que descreva, represente, ilumine a realidade fática se, por um lado, esse modelo carece de uma fundamentação, de um conjunto de regras e de métodos que lhe permita acessar o “objeto” a ser conhecido e, por outro lado, como construir um modelo que explique uma realidade que se diferencia a todo instante. Nessa mesma direção, Stein, afirma que: O fim da modernidade é o momento em que não foi mais possível sustentarmos que é possível, através de um único sistema filosófico, dar explicação que tenha eficácia em todos os domínios do saber humano: em nível cognitivo, em nível de conhecimento, em nível prático, em nível moral e também em nível subjetivo, em nível artístico, etc.(Stein, 2001, p. 21). As vozes que se colocam contrárias ao argumento do “fim da modernidade”, oriundas de diferentes correntes, fundamenta-se basicamente em três pontos corolários, quais sejam: a) a modernidade não se constituiu num processo linear e tem apresentado diversos momentos de importantes transformações, portanto, essa contemporaneidade, é mais um desses momentos; b) a modernidade ainda não se realizou na plenitude de seus ideais basilares, e as transformações contemporâneas constituem-se no contínuo esforço para a consecução desses ideais; e, c) a existência de uma “nova ordem” é um produto da modernidade, representa a continuidade de algo pré-existente e, portanto, não é um “pós”; não pode ser vista como uma ruptura, tampouco como um fim. Os pontos elencados e defendidos por correntes de pensamento, quer sejam filosóficas, sociológicas ou históricas não deixam de ter alguma razão. De fato, na superfície dos acontecimentos, no desenrolar das transformações cotidianas, é possível o estabelecimento de uma linearidade de acontecimentos que levam a outros acontecimentos, sucessivamente, sem que se perceba qualquer corte, ruptura ou fim. Entretanto, a partir de um olhar menos horizontal e mais verticalizado, no que diz respeito às transformações contemporâneas, e que busque comparar os fundamentos que dão sustentação ao estado de ordem moderna e as transformações (diferenciações) das últimas décadas, é possível 182 Léo Peixoto Rodrigues perceber as descontinuidades, rupturas ou finalizações no que diz respeito aos fundamentos epistêmicos, heurísticos e teóricos entre um estado de ordem e outro. Esse mergulho aos fundamentos e a descontinuidade dos mesmos foi o que Foucault chamou epistèmê, em As Palavras e as Coisas, publicado em 1966. Para Foucault a epistèmê de uma determinada época pode ser vista pelos condicionantes de uma ordem intrínseca, por uma espécie de logos, que constitui um substrato fértil que permite e limita, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de um determinado tipo de conhecimentos e saberes em detrimento de outros. Na suas palavras, epistèmê significa a identificação, Segundo qual o espaço de ordem se constitui o saber; na base de qual a priori histórico e no elemento de qual positividade puderam aparecer idéias, constituir-se ciências, refletir-se experiências em filosofias, formar-se racionalidades (...) Não se tratará, portanto de conhecimento descritos no seu progresso em direção a uma objetividade na qual nossa ciência de hoje pudesse, em fim se reconhecer (...) trata-se de trazer à luz o campo epistemológico, a epistèmê onde os conhecimentos, encarados fora de qualquer critério referente a seu valor racional ou suas formas objetivas, enraízam sua positividade (Foucault, 1999, p.xviii). Epistèmê, em Foucault, não quer dizer sinônimo de conhecimento ou de saber, significa, sim, a existência, de um princípio de ordenação histórica dos saberes e daquilo que se entende por conhecimento anterior à ordenação do discurso estabelecida pelos critérios de cientificidade e dela independente. A epistèmê é a ordem específica do saber; é a configuração, a disposição que o saber assume em determinada época e que lhe confere uma positividade enquanto saber (Foucault, 1990). Em outras palavras, a epistèmê é constituída pelo conjunto de pressupostos, preceitos e possibilidades que estruturam o pensamento e as práticas – discurso, nos termos de Foucault – de uma determinada época. Isso significa que seria a própria epistèmê quem determinaria as fronteiras, os limites de possibilidade de conhecimento e de experiência de um determinado momento histórico, controlando, inclusive os graus, os níveis e as formas do próprio processo de diferenciação de uma sociedade. Como já mencionei em outro lugar (Rodrigues, 2005), as teses levantadas por Thomas Kuhn, principalmente com os seus conceitos de ciência normal, revolução científica e paradigma, publicadas em A Estrutura das Revoluções Há limites para a Sociologia do Conhecimento em uma “Sociedade do Conhecimento”? 183 Científicas, em 1962, reacendeu o debate epistemológico clássico sobre a positividade da Ciência moderna, no sentido do consenso, da certeza, da verdade, da previsibilidade e, principalmente, da linearidade e da acumulatividade da Ciência e de suas descobertas. É interessante salientar que aquilo que Kuhn (1996, p. 45) definia como paradigma, para ciência, isto é: “toda a constelação de crenças, valores, técnica, etc..., partilhadas pelos membros de uma determinada comunidade”, Foucault empregava ao termo epistèmê, um sentido muito mais abrangente, de forma que abarcasse toda a dimensão cultural e consequentemente seus diferentes tipos de conhecimento e saberes, de uma determinada sociedade. Para que se possa conhecer como se compõe esse substrato que se constitui na chamada epistèmê, isto é, o subsolo que possibilita a sua emergência, restringindo e incentivando, conhecimentos e práticas (discursos), Michel Foucault (1997) propõe mais que um método, uma heurística, mas, sim, uma arqueologia do saber. Na realidade, come diz Strathern (2003, p 36) ele propõe “a exumação das estruturas de conhecimento ocultas que dizem respeito a um período histórico particular. Isto consiste dos pressupostos e preconceitos, em geral inconscientes, que organizam e delimitam objetivamente o pensamento de qualquer época”. A noção de paradigma, proposta por Kuhn, embora circunscrita à Ciência, não tem outra finalidade senão chamar a atenção para o fato de que a ciência que se faz, a sua inflorescência, o seu resultado, estão condicionados às regras de um determinado consenso (paradigma) que se forjou historicamente. Da mesma forma, a noção de episteme, proposta por Foucault, de modo muito mais abrangente que a noção de paradigma que fora proposta exclusivamente para o discurso científico, indica que as práticas sociais, culturais e mesmo históricas emergem a partir de determinadas regras (um princípio ordenador). Em ambos os termos, paradigma e epistèmê, está implícita – e por vezes suficientemente explicita em diferentes momentos do trabalho desses autores – a ideia de que é necessário transcender a superfície das práticas para de fato conhecê-las. Em outras palavras, tanto a noção de paradigma como de epistèmê, reivindicam pela necessidade de uma arqueologia do saber, seja ele científico ou cultural. Entretanto, por que não uma sociologia do Conhecimento, 184 Léo Peixoto Rodrigues uma vez que as fronteiras entre cultura, ciência e tecnologia e sociedade encontram-se totalmente borradas? 3. A perda da unidade de um sistema A indicação de uma crise – por vezes mais que isso, um fim – para a modernidade, nos termos em que tem sido proposta por alguns teóricos, não pode nem deve ser buscada na superfície dos acontecimentos sociais, culturais, ou científicos, no olhar de “senso comum”. A noção de crise, descontinuidade ou até mesmo fim, deve ser buscada, centralmente, em nível de uma episteme, ou axiomático, ou paradigmático; em níveis que dão sustentação às diferentes práticas discursivas dessa contemporaneidade. Mesmo porque as próprias práticas discursivas emergentes nessa contemporaneidade indicam que importantes transformações estão ocorrendo no substrato que lhe dão sustentação. A pressuposição de uma crise, de uma transformação nos fundamentos da modernidade, entretanto, não pode acarretar o ônus imediato em demonstrar, esquadrinhar qual é a episteme que está se constituindo nessa contemporaneidade, como desejam alguns críticos da pós-modernidade. Isso seria impossível, uma vez que não há perspectiva, distanciamento temporal, tempo suficiente para que se vislumbre a composição a formação dessa nova ordem; talvez ela mesma não se tenha dado a conhecer. É por esse motivo que trabalhos como os de Daniel Bell, de 1973, e de Jean-François Lyotard, de 1979, e alguns outros, são vistos – e declarado pelos próprios autores – como trabalhos que falam mais de uma ordem futura, uma previsão, que propriamente sobre presente. Portanto, aqueles que defendem a emergência de uma nova ordem, a chamada pós-modernidade, ou qualquer outro conceito que equivalha, estão olhando mais para um esfarelamento do substrato que tem dado sustentação aos cânones da modernidade, que propriamente apresentando. Especificando, os axiomas de uma nova ordem que, com certeza, está em gestação e ainda é impossível conhecermos o rosto, apenas identificamos tênues traços. Lyotard (1986) em sua obra intitulada O Pós-moderno, faz a seguinte advertência introdutória: Há limites para a Sociologia do Conhecimento em uma “Sociedade do Conhecimento”? 185 Este estudo tem por objeto a posição do saber nas sociedades mais desenvolvidas. Decidiu-se chamá-las de “pós-moderna”. A palavra é usada, no continente americano, por sociólogos e críticos. Designa o estado da cultura após as transformações que afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e das artes a partir do final do século XIX. Aqui, essas transformações serão situadas em relação à crise dos relatos (...) Simplificando ao extremo, considera-se “pós-moderna” a incredulidade em relação aos metarrelatos. É, sem dúvida, um efeito do progresso das ciências; mas este progresso, por sua vez, a supõe (Lyotard, 1986, p. xv-xvi). Esses relatos e metarrelatos (relatos universalizantes), sejam eles de caráter filosófico ou científico 7 no decorrer período que se passou a chamar consensualmente de moderno, na maior parte das vezes tiveram a pretensão – ou foram aceitos como tal – de se constituírem numa arquitetura epistêmico-teóricoconceitual definitiva aos diferentes tipos de saberes humanos. Eles passaram então a nortear o movimento humano em diversas (e diferentes) sociedades, legitimam-se como verdadeiros, certos. Toda a crítica que lhes foi feita, na maior parte das vezes, não foi suficiente para desconstruí-los; contrariamente, quase sempre contribuíam para o seu aprimoramento, avanço, legitimação, conferindolhes uma dimensão de princípio, de fundamento, de conhecimento clássico. Essa perspectiva contribuiu – não apenas à filosofia e à ciência, mas também à arte e à literatura, sobretudo – para o estabelecimento da noção de evolução, de progresso, de avanço, e continuidade, de ascendência, de verdade e de emancipação. De modo suficientemente estreito, o fim, o esgotamento, ou crise da episteme moderna se confunde com a “crise dos relatos” ou a “incredulidade dos metarrelatos”, nos termos de Lyotard. É nesse mesmo sentido que Stein (2001, p. 21) aponta que: “no momento em que perdemos esta unidade de um sistema, ou possibilidade de haver sistema filosófico que explique as diversas regiões fundamentais do saber e do convívio humano, neste momento, chegamos ao fim 7 Os grandes relatos estão presentes em diferentes momentos e áreas do conhecimento moderno. A título de exemplificação, nas ciências humanas, a noção de contrato social desenvolvida – evidentemente com diferenças inclusive significativas – por Hobbes, Locke e Rousseau; do mesmo modo a teoria marxiana, cuja crítica realizada por mais de um século, pelos chamados marxistas, teve como objetivo o seu aprimoramento. Nas chamadas ciências da natureza a física de Newton, bem como a teoria da evolução de Darwin, constituíram-se temas de debate, desde a sua concepção; o mesmo se pode dizer da teoria psicanalítica de Freud, embora mais tardia, inspirou o desenvolvimento de muitas outras correntes no âmbito das ciências do comportamento. 186 Léo Peixoto Rodrigues da modernidade”. A perda da unidade de um sistema a que se refere o autor, não significa que essa unidade não fora ou não deveria ter sido criticada. Ao contrário, era justamente a crítica a essa unidade que lhe conferia e garantia a centralidade, a universalidade a dimensão de fundamento. A modernidade fora, o tempo todo, crítica. É justamente o abandono, o desinteresse pela crítica dos chamados metarrelatos e consequentemente a busca de novas paisagens, novos horizontes de saberes, que denota a perda de unidade, apontada por Stein (2001), dos diferentes sistemas que davam sustentação axiomática à modernidade. É necessário, pois, que também a sociologia examine, quais foram os motivos que desencadearam a incredulidade, a descontinuidade, o fim dos metarrelatos como possibilidade de representação das manifestações humanas em suas diferentes formas de saberes. Nesse sentido, Lyotard (1986, p. xv-xvi) tem uma aguçada percepção quando vincula a incredulidade com relação aos metarrelatos a um efeito do progresso das ciências; afirmando, por outro lado que esse progresso, por sua vez, a supõe. De fato a Ciência, desenvolvida de forma pujante no decorrer de toda a modernidade, parece ter sido o tipo de conhecimento que mais logrou sucesso durante toda a história da humanidade, nas mais diferentes sociedades, desde os conhecimentos mítico, alquímico e religioso. O conhecimento científico na sua obstinada busca por pontuar todas as leis da natureza, na tentativa de construir o quadro geral de todo o conhecimento e assim dominar os fenômenos ditos naturais e humanos, transbordou a si próprio, deparando-se com os limites do continente que o continha. Como conteúdo, o conhecimento científico, parece ter se esparramado no mar das descobertas geradas por si próprio; descobertas, estas, que, se por um lado, transformaram as paisagens social, cultural, política, econômica, artística e tecnológica, por outro lado, diferenciaram tanto os objetos do mundo a ponto de transformá-los na atual teia de complexidade. A “realidade”, seja humana ou natural – dicotomia, esta, que faz parte de uma episteme de caráter cartesiano –, não obstante a todo esforço (e porque não dizer sucesso) da Ciência, mostrou claramente que não se dá a conhecer tão facilmente. O avanço da Ciência fez com que o conhecimento representasse não a verdade universal, mas a seletividade de incontáveis possibilidades Há limites para a Sociologia do Conhecimento em uma “Sociedade do Conhecimento”? 187 combinatória entre os diferentes objetos do mundo, nos seus distintos níveis (ou dimensões) de “apreensão” cognitiva. A Ciência – que buscava uma realidade finita e estável – foi lançada num mar de infinitas realidades (possibilidades) que podem ser acessadas circunstancialmente, contingencialmente e, na maior parte das vezes, de forma precária. Dessa forma, o conhecimento, como um mero processo de diferenciação entre os múltiplos objetos do mundo, ocorre de forma exponencial: quanto maior o conhecimento, maior é a diferença dos objetos postos no mundo, portanto, mais diferenciação é produzida, e assim por diante. Como esse processo ocorre não apenas de forma quantitativa, mas qualitativa e como a contingência e a precariedade fazem-se sempre presentes, impossibilitando a aspiração iluminista de estabelecimento de leis gerais, ficam, assim, estabelecidas as bases sobre a qual se erige a complexidade. A unidade perdida, como bem tem apontado Stein (2001, p. 21), não é somente a unidade do sistema filosófico, do metarrelato, é concomitantemente a perda da unidade do “objeto” – o objeto do mundo – sobre o qual o sistema filosófico se reportava, uma vez que esse “objeto” diferenciou-se em todas as direções (ou dimensões), adquirindo a capacidade de falar de si através de diferentes linguagens, com diferentes interlocutores, por vezes ao mesmo tempo. É dessa forma que devemos buscar compreender os termos diferenciação e fragmentação, atualmente tão empregados para descrever um novo estado de ordem que se constitui. A Filosofia moderna e a Ciência, não apenas se desenvolveram, potencializando-se mutuamente desde os prenúncios da modernidade, como também se entrelaçaram de maneira profundamente simbiótica. A Ciência, durante toda a concepção de modernidade, desenvolvia-se vigorosa, guarnecida pela filosofia que, de certa forma, lhe guiava os passos, por entre o corredor bem iluminado pela luz do logos, evitando, assim, as contradições de um mundo quase dual. Entretanto, o rastro de transformações que a Ciência tem deixado por onde passava, isto é, ao fazer emergir novos, e novos objetos no mundo, resultantes de sua interação cada vez mais aguda com objetos-preexistentes, tem se constituído em fatores determinantes na construção da sua própria crise, da ruptura e, porque não dizer, do fim da modernidade. Não apenas da unidade constitutiva do sistema 188 Léo Peixoto Rodrigues filosófico moderno ruiu; ruiu também a unidade constitutiva dos principais axiomas da ciência moderna, a unidade do seu método. Então, o que restou? A resistência a uma noção pós-moderna compara-se a inconformidade frente ao sentimento de orfandade: parece ter restado muito pouco além de espumas. O corredor bem iluminado pela luz do logos agora tem suas paredes arredadas, transformou-se num grande átrio com numerosos objetos, fazendo com que a luz que outrora iluminadora provoque apenas penumbra. Essa é a complexidade quando enfocada de um ponto de vista epistemológico, teórico heurístico e metodológico no que se refere ao conhecimento contemporâneo. A ruptura, a descontinuidade, objeto de tantas disputas acadêmicas, quando o tema é a modernidade/pós-modernidade, está no fato de não dispormos mais da eficiência das ferramentas que antes dispúnhamos para a apreensão da totalidade, para a construção da certeza para a fundamentação da verdade. 4. Considerações Conhecer o conhecimento como dimensão e parte fundamental da cultura humana e ir em busca dos diferentes fatores que o determinam, o condicionam, o direcionam, o estimulam e o limitam, já fazia parte da proposta apresentada por Karl Mannheim, em seu livro, lançado pela primeira vez em 1929, denominado Ideologie und Utopie. Quase um século se passou e as ciências sociais em geral e, em particular, a sociologia poucos esforços têm dedicado, sobretudo no Brasil, para conhecer com maior profundidade a produção de conhecimento, um dos fazeres centrais da cultura contemporânea. É evidente que os esforços para a compreensão das diferentes dimensões de conhecimento que a sociedade contemporânea tem desenvolvido não devem (e tampouco poderiam) ficar circunscritas a alguns poucos preceitos teóricos e metodológicos levantados por Mannheim. Entretanto, ele teve o mérito de perceber no início do século XX, a velocidade das transformações sociais propiciadas pelo desenvolvimento multidisciplinar do conhecimento, e alertar para o fato de que a sociologia, como disciplina do conhecimento científico, deveria ficar atenta a tais transformações. Há limites para a Sociologia do Conhecimento em uma “Sociedade do Conhecimento”? 189 É bem verdade que nos dias de hoje temos múltiplos esforços (transdisciplinares) para lidar com o conhecimento no sentido lato. Porém, nunca antes na história da modernidade, o conhecimento (sobretudo, o conhecimento científico-tecnológico) tem transformado de modo tão radical a sociedade nas suas principais esferas, isto é, no plano social – das relações sociais – no plano cultural, político e econômico, além dos desdobramentos que daí decorrem. A sociologia, de certo modo, continua ainda tímida no avanço de pesquisas que se referem ao conhecimento científico, isto é, às produções oriundas das diferentes ciências (disciplinas científicas) e que, de algum modo, afetam as relações sociais, sejam essas relações entre Estado e Sociedade civil, no seio da própria sociedade civil (hábitos de consumo, lazer, estilo de vida; comportamento de massa, violência; ocupação de espaços e territorialidade; envelhecimento longevidade, etc) e, sobretudo, as transformações de caráter mais profundo que têm relação com uma socioecologia numa perspectiva mais ampla. Fato é que as transformações são drásticas e a Ciência, no sentido da sua propositura iluminista, moderna, não tem conseguido dar conta, mesmo minimamente, das velozes transformações. Daí uma sociologia do conhecimento que pode e deve ser ilimitada na sua contribuição para o conhecimento do conhecimento. 5. Referências BELL, Daniel. O Advento da Sociedade Pós-industrial. São Paulo: Cultrix, 1977. CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997. LYOTARD, Jean-François. O Pós-moderno. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986. KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Perspectiva, 1996. RODRIGUES, Léo P. Introdução à Sociologia do Conhecimento, da Ciência e do Conhecimento Científico. Passo Fundo: UPF Editora, 2005. STEIN, Ernildo. Epistemologia e Crítica da Modernidade. Ijuí: Editora Unijuí, 2001 STRATHERN, Paul. Foucault em 90 Minutos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 190 Léo Peixoto Rodrigues
Download