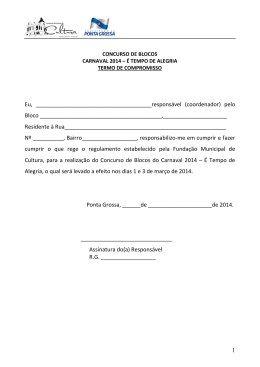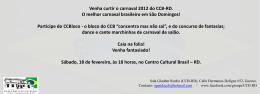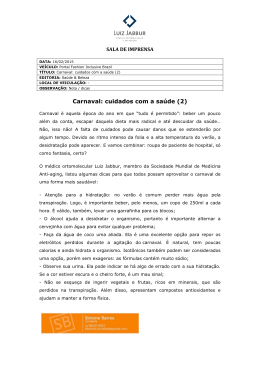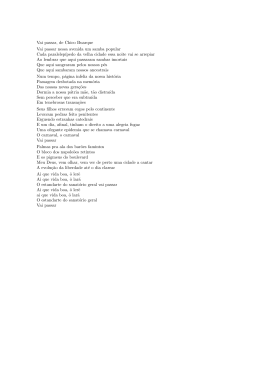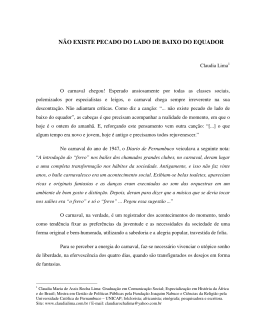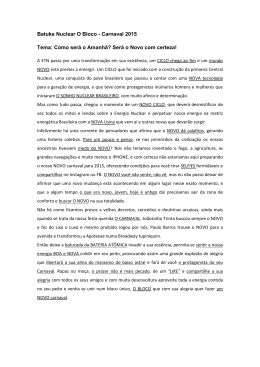XV ENCONTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DO NORTE E NORDESTE E PRÉALAS BRASIL. 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2012, UFPI, Teresina-PI. GRUPO DE TRABALHO: GT08 – Patrimônio cultural, comunidades tradicionais e sustentabilidade. REFLEXÕES SOBRE COLETIVOS “AFRO-INDÍGENAS” NO CARNAVAL: estudo comparativo entre Sul e Nordeste Luiza Dias Flores, UFRJ – [email protected] O presente artigo visa apresentar algumas reflexões sobre a tribo carnavalesca Comanche a partir de um confronto etnográfico com trabalhos sobre os Caboclinhos (PE) e os Blocos de Índio (BA), com vistas a evidenciar os modos pelos quais os sujeitos em questão articulam elementos “afros” e “indígenas” em suas práticas. Busco compreender o modo como esses conceitos são criados e articulados na produção de uma subjetividade específica, visto que “é somente no aprofundamento da riqueza das singularidades que o projeto comparativo pode ganhar um sentido” (Goldman, 1999: 77). Penso que as comparações entre os coletivos supracitados são relevantes aqui como meio de forçar relações e fazer emergir a diferença concernente à criação de performances que podemos denominar de “afroindígenas”. Ressalto que meu intuito não é formular afirmações sobre os materiais etnográficos sobre os caboclinhos e blocos de índio, mas pensar como tais materiais afetam e criam reflexões quando confrontados com o material porto-alegrense. Meu intuito, mais precisamente, é produzir uma reflexão sobre a tribo carnavalesca Comanche em Porto Alegre/RS, que constitui um dos coletivos surgidos durante a década de 50, formados pela população negra e caracterizados pela apropriação de nomenclaturas, mitos e vestimentas indígenas em suas práticas. Minha curiosidade em trabalhar com as tribos carnavalescas de Porto Alegre deu-se devido a um incrível silêncio referente a elas atualmente, assim como são pouco referenciadas nos trabalhos sobre o carnaval da cidade. Interessa-me o modo como um coletivo reconhecidamente negro apropria-se de elementos indígenas na produção de si. Não almejo aqui pensar a invenção tal como se sugere ao referir-se a “invenção da tradição”, a partir de uma conotação “falseada” ou “ideológica” daquilo que é inventado, sugerindo que a tradição inventada não corresponderia a “real” história dos sujeitos. Ao contrário, aproximo-me de Wagner (2010) quando utilizo o conceito de invenção no sentido de positivá-lo. Ou seja, a invenção não implica em uma ideia falseada, mas no potencial criativo1 que produz algo. 1 Márcio Goldman aproxima os conceitos de Invenção, de Wagner, e de Criação, de Deleuze e Guattari. “No início de O que é a filosofia, Deleuze e Guattari, após definirem provisoriamente essa atividade como "a arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos", e de argumentarem que os conceitos, na verdade, "não são necessariamente formas, achados ou produtos", concluem que "a filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos". 2 O processo inventivo de Wagner dá-se por extensões metafóricas. A metáfora, ou tropo, opera como um princípio organizador da cultura (1986: X). Ao debater com o estruturalismo, Wagner coloca que a cultura é composta por significados relativos e, assim sendo, não pode ser um sistema de oposições, pois a relatividade implica um movimento para novas coordenadas que anulam as originais. É neste sentido que a cultura é inventiva, pois não se baseia em tensões de oposições rígidas, mas uma faixa móvel de transformações trabalhadas sobre um núcleo convencional de signos (: 7). Wagner atenta para o fato de que invenção não é sinônimo de originalidade, ou seja, atos e ideias criadas sem precedentes. Os elementos inventados só têm significados “mediante associações, que eles adquirem ao ser associados ou opostos uns aos outros em toda sorte de contextos” (2010: 77). Dessa forma, inventar é produzir extensões de sentidos entre dois domínios que se controlam mutuamente produzindo um contexto singular, tal como, poderíamos supor, ocorre entre um coletivo reconhecidamente negro que se apropria de símbolos indígenas para compor suas práticas carnavalescas. Mas, afinal, como estes sentidos são estendidos? Portanto, os modos de extensão compõem o foco de meu interesse neste trabalho. OS ÍNDIOS-NEGROS E A CIDADE: EXPERIÊNCIAS SINGULARES A década de 50 e 60 em Salvador configurou, em boa medida, o carnaval que hoje conhecemos. Sob a influência do carnaval pernambucano, “a partir da passagem do Clube Vassourinha de Recife por Salvador, [o trio elétrico] passou a ser difundido pela então estreante Dupla Elétrica, tornandose, então, a expressão musical carnavalesca mais famosa da cidade” (Gomes, 1989: 172; ver também Risério, 1981: 111). O advento dos trios elétricos2, iniciado por isso, desdobrou-se como principal forma musical e criador de um espaço de participação popular para brincar o carnaval durante a década de 70, diferente das escolas de samba baianas que entravam em franca decadência. Curiosamente, eram em torno das escolas de samba e afoxés que Eu arriscaria dizer que no livro de Wagner a noção de invenção deve ser entendida ” rigorosamente no sentido estabelecido por Deleuze e Guattari para a noção de criação (Goldman, 2011). 2 O trio elétrico popularizou-se a partir da figura de Armandinho, Dodô e Osmar. 3 a maior parte da população de baixa renda se aglomerava. Proliferavam no carnaval soteropolitano os trios elétricos com seus amplos poderes sonoros, transformando-se “no grande centro de efervescência popular, lugar do delírio e da violência” (idem: 173). Isso gerou a privatização de alguns trios, o que ocasionou verdadeira clivagem social e racial, cuja “corda” é o principal agente demarcador físico e simbólico. Os conhecidos blocos de índio surgiram em meados da década de 60 e 70 com ampla influência do carnaval carioca, tal como o bloco Cacique de Ramos. Segundo Godi (1991: 54), os blocos de índio seriam egressos das escolas de samba, cuja finalidade era propor um carnaval mais participativo para a população. Os blocos de índio, portanto, caracterizaram-se por saírem com um amplo número de participantes, todos vestidos de índio e entoando o samba de autoria de seus dirigentes. Agregavam entre si boa parte da população negra e de classe popular de Salvador, porém sem de fato portarem um discurso marcadamente étnico tal qual viria acontecer durante a década de 80 e 90. Anterior ao processo de “reafricanização” (Risério, 1981) no carnaval baiano, os blocos de índio particularizavam-se pelas suas práticas de violência e, consequentemente, tensas relações que estabeleciam com os trios elétricos. Eram conhecidos por saírem atrás dos trios portando “machadinhos e atropelando quem pintar pela frente, num festival de socos e rasteiras” (Idem: 68). Uma “manifestação anárquica de rebeldia social” evidenciando, “com bastante nitidez, seu caráter classista” e racista, incluiria. É importante salientar que o conceito de “reafricanização” esboçado por Risério, diz respeito ao processo estético-político de afirmação da “negritude” e de referência à África Negra que outrora existira, como descrito no final do século XIX por Nina Rodrigues, e que durante o final da década de 70 e inicio da década de 80 retorna com as expressões dos blocos afros e afoxés. Salienta-se o fato de este processo de “reafricanização” ser produto e produtor de diferentes fluxos transnacionais que conectam, de alguma forma, desejos de afirmação da “negritude” – movimento Black Power, Rastafarismo, Reggae, independências de países africanos e mobilizações ‘políticas’ e ‘culturais’ de coletivos negros no Brasil, entre outros processos – que não passam apenas por graus de “consciência negra” ou de alinhamentos políticos com as agendas 4 dos movimentos sociais, mas da formação de sujeitos que desejam se construir enquanto “negros”. Tratam-se de subjetividades que vão sendo afetadas por outras subjetividades em movimentos constantes. Parece-me que a maneira mais interessante, porque mais clara, de visualizar, de perceber o que se passa é através da ideia de fluxos, que é palavra-movimento. Fluxos que passam, que afetam, que geram novas subjetividades, que geram outros fluxos, que passam, que afetam e assim por diante. (Silva, 2004: 30) Esses fluxos que se encontram na performance carnavalesca soteropolitana a partir da afirmação da “negritude” demarca ainda mais a clivagem étnico-racial da cidade expandindo-se para a produção de verdadeiros territórios negros e brancos em disputa. Enquanto os blocos de trio desfilam “durante o dia na avenida central, onde o concurso é realizado, o horário desprestigiado da madrugada, quando a mídia televisiva já não está presente e a plateia dispersou, é reservado para os blocos afro” (Guerreiro, 1998: 114). Essa segregação tornada mais evidente com as reivindicações dos novos movimentos “reafricanizados” do carnaval soteropolitano, entretanto, já se impunha nas manifestações precedentes, tais como os blocos de índio. O argumento de Risério para essa passagem do “índio” ao “negro” no carnaval baiano é de que a violência ocasionada pelos blocos de índio vai se atenuando com o aprofundamento da consciência da “negritude” e que o aumento do interesse pela África Negra leva os blocos de índio, ainda existentes, a se direcionarem para uma “abrasileirização” do indianismo, com principal destaque para a mudança das vestimentas e elaborações de exposições sobre os índios brasileiros, e uma valorização dos elementos afrobaianos, o que explicaria o fato de índios carnavalescos, em suas canções, “saudarem Orixás”. Ainda que eu tenha minhas desconfianças em relação às proposições de Risério, levo o argumento adiante com o propósito de produzir confrontos etnográficos. Ressalto que menos vale o argumento em si e mais os ecos que produz no meu material de campo. Como frutos da década de 60 e 70, os blocos de índio, em sua maioria, portavam nomes de tribos indígenas norteamericanas, muito devido aos filmes e gibis estadunidenses amplamente 5 consumidos pela população. Poderia dizer, então, que a extensão do tropo índio para uma a população negro-baiana dá-se a partir da insurgência expressa a partir da violência. O processo metafórico é produzido entre a imagem de índios norte-americanos insurgentes ao poder “ianque” e negrosbaianos insurgentes às clivagens sócio-raciais que o carnaval soteropolitano evidenciava (Risério, 1981; Godi; 1991). Com o processo de “reafricanização” durante a década de 80, os blocos de índio foram diminuindo e muitos de seus integrantes foram somados aos afoxés e blocos afros que ganhavam notoriedade. Os Apaches do Tororó e os Comanches do Pelô são os blocos de índio do carnaval de Salvador. Em Porto Alegre estão Os Guaianazes e Os Comanches, cuja “resistência” é explicada por eles em forma de “extermínio” das tribos carnavalescas, tal qual realizado com as tribos indígenas as quais representam. Das 17 tribos que existiram em Porto Alegre, apenas a última referenciada porta o nome de uma tribo norte-americana. A escolha do nome ocorreu de forma muito semelhante aos Apaches de Salvador (Godi, 1991: 56), que busca representar índios “fortes”, “corajosos”, “guerreiros”. Essa associação também passou pelo alto consumo de gibis e filmes de faroeste entre os jovens que, durante o ano de 1959, quando a tribo foi fundada, tinham lá seus 17 a 20 anos. Há quem afirme que nos coletivos baianos a escolha de nomes norte-americanos ocorreu devido ao desconhecimento da população sobre as tribos brasileiras (Risério; 1998: 69). Isso não é argumento sustentável para o caso gaúcho, visto que desde o ano de 1945 as tribos que surgiram faziam referência às tribos brasileiras, semelhante os Caboclinhos recifenses. Hemetério de Barros foi um dos idealizadores das tribos de índio em Porto Alegre. Nos dias do Momo durante as décadas de 30 e 40, as ruas eram dominadas por blocos, cordões e ranchos. No dia 19 de abril de 1945, um grupo de jovens carnavalescos decidiu organizar algo “inédito” no carnaval. Resolveram sair todos vestidos de índio, entoando hinos que relatavam histórias indígenas, com o intuito de apresentar “os modos e os costumes rudimentares de nossos silvícolas”, pois os consideravam “os verdadeiros 6 donos da nacionalidade” (Barros, S/D: 16)3. A nacionalidade é algo que existe nas memórias de Hemetério, porém, parece pouco evidente nas falas dos “comancheiros” ou “guaianazes” de modo que os motivos para a escolha do nome ou as suas relações com a nação brasileira não são questões que definem o “modo de ser índio carnavalesco” e não constituem o repertório discursivo dos sujeitos em questão4. Se essas são ideias que, de alguma forma, conectam a experiência baiana com a experiência gaúcha, é mister salientar que a violência ocasionada pela clivagem sócio-racial no carnaval baiano referida como modo de simbolização do tropo índio não se encontra no carnaval gaúcho. É preciso ter em vista que se desenvolveu em Porto Alegre um trato diferente sobre as relações raciais. Se durante a década de 50 a Bahia vivia uma efervescência dos trios elétricos, no Rio Grande do Sul o sucesso do carnaval eram os desfiles das tribos carnavalescas, principal atração para os turistas platinos, e dos cordões e dos blocos. Alguns desses últimos eram de clubes da “alta sociedade” que ainda ocupavam as ruas da cidade para brincar o carnaval, outros eram blocos humorísticos, que satirizavam o poder local (ROSA, 2008). Os desfiles aconteciam no coreto oficial da cidade, organizado por grupos de jornalistas, e nos carnavais de bairros, reconhecidos como bairros carnavalescos5. 3 Não encontrei nenhuma menção em trabalhos sobre as tribos ou nas memórias de Hemetério de Barros sobre possíveis influências dos autos jesuíticos em tal expressão. Digo isso, pois folcloristas que pesquisaram sobre os caboclinhos recifenses argumentam que tal performance popular é decorrência de antigos autos jesuíticos utilizados como modo de catequização dos índios no período colonial (Climério, 2008: 40). 4 O problema da “nação” é, muitas vezes, uma questão mais do antropólogo do que nos próprios sujeitos (Viveiros de Castro, 1999). Isso é posto, também para o trabalho de Godi e de Germano cuja tentativa é alertar para o fato de símbolos indígenas serem acionados como forma de buscar cidadania frente à nação. Incomoda-me tomar as práticas existenciais como práticas de interesse constantemente, e sobre isso que tentarei esboçar alguns apontamentos. Minha perspectiva, aqui, é apontar para modos de percepção de como a subjetividade do “índio carnavalesco” emerge e isso, parece-me, é pouco vinculada às concepções nacionalistas dos referidos autores. 5 Os bairros carnavalescos do passado são, em Porto Alegre, conhecidos como “territórios negros”. Formavam, desde o final do século XIX um cinturão marginal que contornava a parte central da cidade e que abrigava a maior parte da população pobre da capital. Estes são a Ilhota, Areal da Baronesa e Colônia Africana e, posteriormente, Santana. Segundo Silva (1993: 73) o nascimento do carnaval popular na cidade está relacionado principalmente a esses locais, o que vai ao encontro com a história relatada pelos meus informantes que referenciam principalmente o Areal da Baronesa e a Santana como lugares por excelência do carnaval do passado. 7 Foi a partir da década de 70 que o carnaval ganhou outra dimensão. Ainda havia diversos blocos, cordões e tribos em disputa, porém eram as escolas de samba que ganhavam maior destaque. Muitos dos blocos foram se transformando em Escolas de Samba, sob a influência do carnaval carioca, processo que ocorria desde a década de 60. Os blocos dos clubes e sociedades foram, aos poucos, se desfazendo, pois não tinham condições de disputar com tais escolas, visto o grande número de integrantes dessas. Nessa época os carnavais de bairro ainda eram fortes e o carnaval do bairro Santana era o mais visibilizado pela população carnavalesca. Porém, finais da década de 80, os carnavais dos bairros foram diminuindo, segundo meus informantes, devido a ocorrências de brigas entre os participantes e por falta de financiamento da prefeitura da cidade. O “carnaval participação” de Porto Alegre deu lugar ao “carnaval espetáculo”. Todavia, se durante a década de 20 era a “elite” das sociedades carnavalescas Esmeralda e Venezianos que faziam seu desfile para o “povo” assistir e admirar suas altas classes e bom gosto (Lazzari, 2001), atualmente é o “povo” que faz o desfile para o mesmo “povo” assistir. A tensão racial sempre foi constituinte do carnaval porto-alegrense. Não é à toa a existência, durante a década de 50, de dois reis momos (um negro e um branco), dos carnavais acontecerem nos bairros reconhecidamente negros e do fato de a maioria das sociedades carnavalescas, ao mesmo tempo em que desprezavam a participação negra em seus bailes, contratavam tais músicos para produzirem diversão com suas marchinhas. O passar dos anos deu novas conotações a essas relações raciais. O auge dos 40 graus do verão porto-alegrense, nos dias de hoje, faz da cidade um verdadeiro deserto, para o observador pouco atento. As ruas principais tornam-se vazias, os bares e danceterias do bairro boêmio Cidade Baixa cerram suas portas e boa parte da população, majoritariamente classe média branca, migra para o litoral em busca de mar e diversão. Porém, para o bom observador que permanece na capital pode-se perceber que tal silêncio inóspito é embalado por um som distante, ao fundo, de repinique acompanhado por caixetas e pandeiros. Se nos disponibilizarmos a sermos afetados por este toque cadenciado conseguiremos sentir as notas agudas do cavaquinho, o choro sincero da cuíca e movimento de corpos, corpos gingados e brincantes. A cidade vive. 8 Desde os fins da década de 80 e inicio da década de 90, a classe média branca que outrora brincara o carnaval nos clubes optou por sair da cidade e festejar o carnaval no litoral do Estado (que, curiosamente entretém os turistas com trios elétricos a tocar axé music). De fato, é muito diferente do carnaval baiano, cujas ruas são povoadas por diferentes corpos e constituintes de diferentes subjetividades. “O carnaval baiano se projetou nacionalmente graças à sua natureza de grande festa popular de rua, incendiando-se ao som dos trios elétricos” (Risério, 1981: 16), o que se constitui como um verdadeiro oposto ao carnaval porto-alegrense, cujas ruas são silenciadas de modo que a festa ocorra apenas em lugares fechados, tais como as quadras de escolas ou no Complexo Cultural Porto Seco onde atualmente ocorre o desfile. De um lado há o exemplar “carnaval participação”, cujos trios e blocos atiçam a população, e de outro o “carnaval espetáculo”, muito semelhante à folia do Rio de Janeiro, cujos protagonistas são as Escolas de Samba, subdivididas em três grupos de disputas (grupo especial, grupo A e grupo de acesso), e as tribos carnavalescas. O conflito racial latente na folia baiana contrapõe-se em larga medida ao modo como isso opera na capital gaúcha. Se, por um lado, a capital baiana é lócus de expressões culturais racialmente segregadas, o que gerou o processo de “reafricanização” também como um elemento de luta antirracista em decorrência de experiências de discriminação, na capital gaúcha o carnaval é conhecido como uma festa essencialmente popular e negra, porque conta com pouca participação da população branca. Ou seja, isso não passa por uma exaltação da “cultura negra” tal como ocorre na Bahia, mas também não implica que inexista uma experiência racializante. O silêncio e a invisibilidade simbólica do negro no carnaval gaúcho constituem modos de produzir experiências de racismo na cidade, o que corrobora com máximas estrangeiras que afirmam a pouca ou a inexistência de negros no sul do país. Um exemplo disso pode ser pensado e discutido a partir de um conflito que se instaurou entre carnavalescos e tradicionalistas gaúchos em meados de 2003. Antes da construção do Complexo Cultural Porto Seco, o carnaval ocorria na Av. Augusto de Carvalho, em frente à Estância, ou Parque, 9 Harmonia onde ocorre o Acampamento Farroupilha6. Era uma localização central, onde a população poderia facilmente se locomover. Todavia, foi argumentado pelos tradicionalistas gaúchos, responsáveis pela organização do Acampamento Farroupilha, que a existência do carnaval na Av. Augusto de Carvalho gerava altos custos ao poder público, visto que a estrutura das arquibancadas e da pista precisava ser erguida todo ano, e que havia muita produção de sujeira naquela região, tanto por parte da audiência quanto por parte dos carnavalescos que precisavam erguer seus carros alegóricos nas redondezas. Para os carnavalescos, o carnaval perderia seu público caso fosse retirado daquela região central e isso fez com que eles organizassem um movimento entre os carnavalescos para a permanência do carnaval na Av. Augusto de Carvalho. Todavia, esse movimento não teve muita repercussão e essa foi uma batalha perdida. O Complexo Cultural Porto Seco fica no bairro Rubem Berta, na zona norte da cidade, com poucos transportes públicos de modo que dificulta o acesso da população. Em resumo, meu argumento é de que em Porto Alegre não é necessário afirmar a “negritude” no carnaval, pois o carnaval é invisibilizado, totalmente ignorado, por ser um território existencial negro7. O carnaval não se expressa como um espaço de disputa sócio-racial, ele reina soberanamente negro e se impõe como uma frente de resistência8 por simplesmente existir enquanto tal. Neste sentido, o contexto baiano que vincula o índio carnavalesco a uma prática de violência não corresponde ao contexto gaúcho. A extensão de sentido do tropo índio opera em outro nível, que pretendo dissertar no próximo tópico. O confronto etnográfico trazido a partir do material baiano com os blocos de índio me pareceu relevante para discutir os modos de apropriação do 6 A Estância da Harmonia é uma réplica de estância e se destina à manutenção e prática da cultura tradicionalista gaúcha. Anualmente, no mês de setembro, ocorre o Acampamento Farroupilha, onde tradicionalistas gaúchos montam suas barracas e celebram a Revolução Farroupilha. 7 O conceito de território existencial para Guattari tem um sentido próprio. Ele diferencia território de espaço, da seguinte maneira: “Os territórios estariam ligados a uma ordem de subjetivação individual e coletiva e o espaço estando ligado mais às relações funcionais de toda espécie. O espaço funciona como uma referência extrínseca em relação aos objetos que ele contém. Ao passo que o território funciona em uma relação intrínseca com a subjetividade que o delimita” (1985: 110). Com isso, quero dizer que o carnaval, enquanto uma prática espaço-temporal, constitui-se enquanto território negro. 8 Utilizo o termo resistência no sentido de algo que age no mundo e não apenas se contrapõe a um poder outro. O carnaval resiste, pois cria experiências singulares, uma subjetividade negra ímpar. Ele cria relações. 10 espaço, as relações racializadas e como isso afeta os sentidos dado ao conceito de índio e vice-versa. Todavia, isso parece pouco debatido no material pernambucano, ainda que Mário de Andrade tenha apontado para possíveis relações “africanizadas” dos caboclinhos9. Todavia, o material sobre os caboclinhos parecem-me interessantes para provocar reflexões sobre os modos de articulação estéticos que engendram as práticas carnavalescas do sul. Devido a isso, achei pertinente esboçar comparações entre tais coletivos, ainda que o material consultado sobre os caboclinhos seja escasso. Isso, em parte, pode ocasionar menor detalhamento da análise, porém, no sentido de positivar tal tentativa, pode apontar para novos caminhos de pesquisa. A ESTÉTICA COMANCHEIRA: ARTICULAÇÕES “AFRO-INDÍGENAS” Os caboclinhos recifenses e as tribos carnavalescas resguardam muitas semelhanças que merecem certa atenção. Ambos são coletivos iniciados por familiares e amigos, são reconhecidos como expressões de caráter “popular” e apresentavam-se nas ruas da cidade. Ambas as expressões referenciam tribos indígenas e nomeiam objetos e integrantes a partir de um arcabouço conceitual referido como indígena. A sede dos coletivos carnavalescos é denominada “taba”, a liderança é o “cacique”, os integrantes são os “guerreiros”, no sul, e “caboclos”, no nordeste, as crianças “curumins” e, antigamente, havia personagens como “pajé” e “feiticeiro” nas tribos, personagens existentes ainda hoje entre os caboclinhos. Todavia, se em termos formais há semelhanças entre essas duas expressões, há também muitas diferenças, principalmente no que consiste ao modo de articulação com o aspecto religioso afro-brasileiro para suas formulações estéticas. A grande maioria das tribos referenciavam tribos latino-americanas, tal como os caboclinhos de Recife10, com exceção da tribo Os Comanches, com o 9 Mário de Andrade falando sobre os caboclinhos: “Caboclinho é o nome genérico, usado no Nordeste para designar toda e qualquer dança-dramática inspirada nos usos e costumes ameríndios. [...] a parte propriamente dramática do bailado, bem como as músicas, variam bastante de lugar para lugar. Assim, alguns ranchos de caboclinhos costumam levar nome especial. Uns se apelidam de Índios Africanos, o que não é de todo uma estultícia” (Andrade, 1982: 185 apud Santos 2008: 36). 10 As tribos carnavalescas mais conhecidas de Porto Alegre eram: Xavantes, Bororo, Caetés, Guaianazes, Tapuias, Arachaneses, Aymorés, Charruas, Navajos, Potiguares, Tapajós, Tupinambas, Iracemas (formada apenas por mulheres, sendo esta um segmento derivado da 11 qual eu realizo pesquisa. Porém, suas vestes mimetizam mais tribos norteamericanas, a partir do uso de calças com penachos e cocares, também chamados “capacete”. Antigamente, contam-me, as vestes eram produzidas com plumas, mas com a escassez financeira, atualmente as fantasias são confeccionadas com penas sintéticas. Certa vez uma informante comentou que as tribos foram criticadas por não se vestirem conforme os índios brasileiros, mas ela revidou afirmando que, se assim fosse, as mulheres deveriam sair à rua com os seios desnudos. Foi argumento suficiente para fazer seu interlocutor mudar de ideia. Diferente disso, o traje dos caboclinhos é composto de “tangas” e plumagens nos pés e mãos, chamados, respectivamente de “ataca-de-pé” e “ataca-de-mão”. Não muito diferente dos caboclinhos, as tribos carnavalescas têm em média 150 participantes, para mais, porém dispostos em alas. A influência das Escolas de Samba para tal organização foi grande, mas antigamente, como contam meus informantes, a tribo não era composta de alas. Era um grupo de pessoas que vestiam suas fantasias e pulavam o carnaval sem maiores restrições. A única “ala” que existia era formada por diversos instrumentos de corda, principalmente cavaco e violão, e contavam com uma média de 20 músicos, mas atualmente não mais existem. Muito diferente é a organização da performance dos caboclinhos, que são formados por: ... duas fileiras de mulheres, seguidas depois do estandarte e de duas filas de homens a fazerem evoluções que lembram as danças de espada européias, apresentando vistosos cocares e tangas, confeccionados com penas de ema, colares de contas e dentes de animais, empunhando machadinhas e preacas (conjunto de arco e flecha), dançando agitadamente ao som de um conjunto formado por uma flauta (inúbia), tarol, surdo e chocalhos (caracaxás), é algo inusitado dentro da paisagem carnavalesca da cidade. (Silva, http://www.revivendomusicas.com.br/curiosidades_01.asp?id=136). Sem a utilização da voz como elemento melódico em sua performance, é a “inúbia” que toma o lugar desta. A presença da religião como um arcabouço de signos identificados como negros para meus interlocutores não termina por tribo Caetés) e os Comanches, objeto empírico de minha dissertação. Gostaria de ressaltar que foram as tribos carnavalescas responsáveis pela inserção da mulher no carnaval da cidade. Os caboclinhos referenciados por Peixe (1966) são: Aimorés, Caetés, Caiapós, Canindés, Carijós, Guaianases, Guaitacases, Juremas, Paranaguás, Taperaguás, Tupis, Tupis-Guaranis, Tupinambás e Tupiniquins. 12 aí. Da mesma forma que os Caboclinhos categorizam suas formas rítmicas com diferentes nomes, o mesmo acontece com a tribo carnavalesca. Para os caboclinhos, as formas musicais são categorizadas como guerra, perré, baião e toré, também chamada de macumba (Santos, 2007). Nas tribos encontramos duas categorizações rítmicas: o hino e a macumba, também chamada de batuque. A dimensão indígena do toque, todavia, está posto no tempo binário correspondente tanto da macumba quanto do hino, diferente do samba que é quartenário. Curiosamente, Santos alerta para a construção binária da macumba entre os caboclinhos, com a exceção de uma única forma rítmica encontrada entre os Canindé que é feita de forma quartenária. A macumba, entre os Comanches, se caracteriza por ser mais lenta que o hino e por ser o momento em que será dramatizada a história que a tribo canta11. Tanto a macumba dos caboclinhos quanto a macumba das tribos têm origem religiosa. A primeira retirada dos pontos da Jurema e a segunda dos pontos do Batuque. Camisa, o ensaiador geral dos Comanches, conta que foi ele quem criou o atual toque da macumba a partir de uma derivação do toque Jeje da religião. A relação com a religião é encontrada, também, na dança. Rosane, a bailarina dos comanches, relata o modo como elabora criativamente seus passos na dança. Todavia, ela impõe à pesquisadora muitos elementos relevantes para a análise. Tu mistura um pouco de dança candomblé, um pouco de indígena, né, que é aquele passo firme, marcado, que o índio soca assim, né, marcando a região, firme. A mulher tem mais a delicadeza de dançar, a leveza, ne, que a mulher tem de dançar, marca forte, mas tem a leveza de dançar. [...] Minha prima é professora de dança e ela queria me ensinar... Mas não adianta ensinar porque uma coisa eu vou aprender ali e lá na avenida vou fazer outra coisa. Ela queria me ensinar uns passos mais marcados, coreografados. Mas não adianta. Eu vou fazer, mas na avenida... é improviso, como se entrasse no meu corpo uma deusa. Porque eu me sinto mesmo uma Deusa. [...] Mas a gente veio de uma descendência afro, que eram os escravos. Os escravos dançavam para os orixás. E as danças deles também, eram aquela roda, aquele movimento sensual da mulher dançando, a negra dançando, ne. Se tu 11 O tema-enredo da tribo sempre conta uma história indígena que seus integrantes pesquisam em livros. O momento da macumba é onde será encenada tal história. Interessante o fato de antigos participantes dos caboclinhos lembrarem momentos em que eram dramatizadas histórias (Santos, nota 7, p. 9), tal como as tribos, porém isso não ocorre mais. 13 olhar bem a índia e a negra dançando tem aquela coisa de sensualidade e isso é muito importante. [...] São semelhantes, a sensualidade. É só tu ver uma índia dançando [... e] ver uma negra dançando. Ficam fazendo aqueles movimentos sensuais e marcados, né, porque marca. Pode ver, se é para um lado tu marca, se é pro outro tu marca, se mexer quadris tu marca. É uma coisa sensual. (Entrevista realizada em 25 de abril de 2012) Fiquei curiosa com o fato de a religião ser sempre acionada, inclusive por ela. Não há uma relação direta entre os participantes da tribo e a religião de matriz africana, porém é curioso ver como a religião age diretamente na construção estética da tribo enquanto modos de significação e articulação do que é “ser negro” e “ser indígena”: Sou pronta na religião, filha de Ossanha e recebo caboclo, não no Batuque. Mas tem uma parte com a jurema para o lado de caboclo, né, na umbanda, por isso que eu tenho a sensação de índia, de deusa. Eu tenho os três lados e sou pronta. [...] Além do que no carnaval eles vão embora, né, eles não ficam. Pro nosso lado de santo eles não ficam [referindo ao Batuque]. Eles vão embora e depois eles voltam. Os trabalhos param todos. Só quem tem exu que pode trabalhar, mas o resto tudo para. [Eu pergunto:] Em todas as casas são assim? Sim, é lei, todas param, porque é quaresma. Por que? Ah, porque daí os orixás vão pra guerra e eles voltam só depois do carnaval. Por isso que eu te disse da aproximação, índio e candomblé, batuque, são tudo guerreiro. Só que a nossa guerra é na avenida. (Idem) As homologias encontradas entre os indígenas e os negros que se expressam no discurso de Rosane como elementos constituintes de sua prática artística são a sensualidade e a ida à guerra. Possuo pouco material etnográfico para compreender o sentido de o Orixá ir à guerra e tomo isso como uma questão a ser desenvolvida em trabalhos futuros. Gostaria de salientar, contudo, a complexidade da dimensão criativa de tal prática. Não é apenas uma metaforização externa ao próprio indivíduo e nem uma simples “representação” carnavalesca. O sujeito se mostra totalmente implicado na relação, sendo constituído por essa. Este “sentir-se deusa” e a liberdade do improviso podem ser aproximados da ideia de um conhecimento encorporado. Lagrou (2007) utiliza este conceito para descrever o coletivo indígena kashinawá ao referir-se a “uma forma corporal-subjetiva de acumulação [...]. 14 Este ‘saber do corpo’ estabelece relações ancoradas numa subjetividade que se constrói a partir do estar e se saber relacionado” (: 81). Os processos de encorporação se referem à emergência de saberes através do corpo, distinguindo-se assim da incorporação, algo exterior que é colocado no corpo. Segundo a autora, “para algo se tornar conhecimento encorporado, outros sentidos devem ajudar a enraizar esta percepção do mundo circundante através da pele, das orelhas, das mãos, do corpo” (: 312). Essa noção parece adequar-se com a criação do corpo indígena-negro no carnaval, nos quais “os afectos atravessam o corpo como flechas” (Deleuze e Guattari, 1997: 18). Da mesma forma que os corpos construídos por saberes encorporados, os objetos também o são e, ao serem lócus de relações entre diferentes dimensões, operam enquanto mediadores simbólicos. Guerra Peixe (1966: 147) afirma que entre os Caboclinhos é o caracaxá que “executa o isócrono ruído que caracteriza uma espécie de centro na polirritmia do conjunto, tal como seria o cavaquinho no velho choro”. O caracaxá é um instrumento referenciado pelos caboclinhos como de origem ameríndia que funciona como um chocalho e executa o mesmo tipo de ritmo que os “agês”12, utilizados pelas tribos de Porto Alegre e conhecidos como principal componente sonoro no Batuque13. Aqui está um ponto de articulação criativo feito pelos integrantes da tribo Comanches, que se diferencia dos caboclinhos. “Sem os agês”, disse-me o ensaiador da tribo, Claudio Camisa, “não existe tribo”, porque “o agê é indígena”. Fiquei um tanto surpresa com essa afirmação que fora tantas vezes repetida em campo, visto que a história do instrumento, semelhante ao “afoxé”, sempre fora referenciada enquanto de origem afro-brasileira pelos próprios comancheiros. Mas logo Camisa salientou: “é que o agê é usado na religião também pra saudar nossa ancestralidade negra, mas na tribo, aqui, ele é de índio”. Tempos depois me explicaram em campo que o som do agê remete ao som do caracaxá, do chocalho indígena, porém sua aquisição é de difícil acesso pela população que, todavia, empregou ao agê, de mais fácil acesso econômico, uma extensão de sentido. Supõe-se, portanto, que o caracaxá é um componente metonímico do indígena. 12 Agê é instrumento feito com uma cabaça inteira trançada com cordão e contas diversas. No candomblé baiano é chamado afoxé. 13 Batuque é a religião de matriz africana existente no Rio Grande do Sul que cultua Orixás. 15 Saliento essa frase de Camisa, pois aponta para uma reflexão interessante. O instrumento não porta apenas uma função rítmica. Tal função rítmica opera como um mediador simbólico que relaciona duas dimensões convencionalmente não relacionadas, ao supor o caracaxá correspondendo à “cultura indígena”. Com isso quero dizer que o toque do agê funciona como análogo ao caracaxá e possibilita à função rítmica do agê uma extensão metafórica ao conectar dois domínios, a saber, religião afro-brasileira e tribo indígena. O agê, reconhecido enquanto um instrumento afro-brasileiro pelos meus informantes porque utilizado nas casas de religião, é “de índio” porque exerce a função do caracaxá. Deste modo a extensão metafórica de Wagner pode ser aproximada do silogismo da grama de Bateson (1989: 38) em contraposição ao silogismo lógico. A partir deste último elaboraríamos o seguinte procedimento: Caracaxá é indígena. Agê não é caracaxá. Logo, Agê não é indígena. Todavia, se pensarmos conforme o silogismo da grama de Bateson, tal como a composição de sentido expressa pelos meus informantes, seria da seguinte forma: Indígena toca caracaxá. Agê toca o som de caracaxá. Logo, agê é indígena. CONSIDERAÇÕES FINAIS Este é um trabalho fruto da minha pesquisa de mestrado que ainda encontra-se em processo de realização. Minha intenção foi produzir confrontos etnográficos entre três materiais distintos com vistas a produzir reflexões sobre o material de campo referente à tribo carnavalesca Os Comanches em Porto Alegre. Minha questão inicial foi perceber como a tribo em questão conecta elementos “afro” e “indígena” em suas práticas. Para tal, busquei referências ao material baiano com vistas a entender o processo racializante que o carnaval porto-alegrense opera e suas possíveis relações, ou ausências de relações, com o tropo índio mobilizado pelos meus informantes. Ressalto que as limitações do material baiano não são aqui levantadas visto que meu interesse está em sua atuação argumentativa frente ao material gaúcho, que produz reflexões que penso ser interessantes. Da mesma forma, a leitura sobre os caboclinhos recifenses ajudaram-me a perceber os meandros das articulações afro-indígenas nos aspectos estéticos da tribo carnavalesca, a partir do uso do 16 agê, das formas melódicas e da construção do corpo da dançarina. As práticas e saberes que criam e são criadas por tal processo de subjetivação em uma comunidade negra passam por corpos, sons e objetos que se constituem enquanto singulares nessas relações. São estas, todavia, que atuam enquanto produtores de extensões de sentidos entre as noções de “índio” e “negro”. BIBLIOGRAFIA: BARROS, Hemetério de. Memórias de um carnavalesco. s/d. Porto Alegre. BATESON, Gregory e BATESON, Mary Catherine. 1989. “El mundo del proceso mental” e “Qué es pues una metáfora?”. In: Gregory BATESON e Mary Catherine BATESON.El temor de los ángeles. Barcelona: Gedisa. DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Felix. 1997. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, v. 5. Rio de Janeiro: Ed. 34. GUATTARI, Felix. 1985. Espaço e poder: a criação de territórios na cidade. In: Espaço &. Debates, Ano V, N° 16. São Paulo. GERMANO, Iris. 1999. Rio Grande do Sul, Brasil e Etiópia: os negros e o carnaval de Porto Alegre nas décadas de 1930 e 40. 1999. Programa de PósGraduação em História. UFRGS/Porto Alegre. GODI, Antônio Jorge. 1991. De índio a negro, ou o reverso. In: Cadernos CRH, vol. 4. Salvador: UFBA. GOLDMAN, Márcio. 1999. Alguma Antropologia. Rio de Janeiro: Relume Dumará. GOLDMAN, Marcio. O fim da antropologia. Novos estud. - CEBRAP, São Paulo, n. 89, Mar. 2011 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010133002011000100012&lng=en&nrm=iso>. access on 10 June 2012. http://dx.doi.org/10.1590/S0101-33002011000100012. GOMES, Olivia. Impressões da Festa: Blocos Afro Sob o Olhar da Imprensa Baiana. Estudos Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 171-187, 1988. GUERRA PEIXE. 1966. Os Cabocolinhos de Recife. In: Revista Brasileira de Folclore - Maio / Agosto - Nº15. GUERREIRO, Goli. 1998. "Um Mapa em Preto e Branco da Música na Bahia. Territorialização e Mestiçagem no Meio Musical de Salvador (1987/ 1997)". In: 17 L. Sansone e J. T. dos Santos (eds.), Ritmos em Trânsito. Sócio-Antropologia da Música Baiana. Salvador: Dynamis Editorial. pp. 97-122. LAGROU, Elsje. 2007. A Fluidez da Forma: alteridade e agência em uma sociedade amazônica (Kaxinawa, Acre). Rio de Janeiro: Topbooks. LAZZARI, Alexandre. 2011. Coisas para o povo não fazer: carnaval em Porto Alegre (1870-1915). Cambinas: Editora da Unicamp/Cecult. RISÉRIO, Antonio. 1981. Carnaval Ijexá: notas sobre afoxés e blocos do novo carnaval afrobaiano. Salvador: corrupio. ROSA, Marcos Vinicius. 2008. Quando Vargas caiu no samba: um estudo sobre os significados do carnaval e as relações sociais estabelecidas entre os poderes públicos, a imprensa e os grupos de foliões em Porto Alegre durante as décadas de 1930 e 1940. Dissertação. Programa de Pós-graduação em História. UFRGS/ Porto Alegre. SANTOS, Climério. Guerra: uma introdução ao estudo da performance dos cabocolinhos canindés. In: XVII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música, 2007, São Paulo. Anais do XVII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música, 2007. _______________. 2008. O grito de Guerra dos Cabocolinhos: Etnografia da Performance Musical da Tribo Canindé. Dissertação. Programa de Pósgraduação em Música. UFPB/ João Pessoa. SILVA, Ana Claudia Cruz e Silva. 2004. Agenciamentos coletivos, territórios existenciais e capturas: uma etnografia de movimentos negros em Ilhéus. Doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ/ Museu Nacional, Rio de Janeiro. SILVA, Josiane Abrunhosa da. 1993 Bambas da Orgia: um estudo sobre o carnaval de rua de porto alegre, seus carnavalescos e seus territórios negros. Dissertação. Programa de Pós-graduação em Antropologia Social. UFRGS/Porto Alegre. SILVA, Leonardo Dantas. Caboclinhos, guerreiros http://www.revivendomusicas.com.br/curiosidades_01.asp?id=136 de Jurema (Acessado em 10 de junho de 2012). VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo 1999. “Etnologia Brasileira”. In: Sergio Micelli (org.). O que Ler na Ciência Social Brasileira (1970-1995), Vol.1: Antrpologia: 109-223. São Paulo: Sumaré/ANPOCS. 18 WAGNER, Roy. 1973. “Habu. The innovation of meaning in Daribi Religion”. Chicago: The University of Chicago Press. _____________. 1986. Symbols that Stand for Themselves. The University of Chicago Press. _____________. 2010. A invenção da Cultura. Cosac Naify: São Paulo. 19
Download