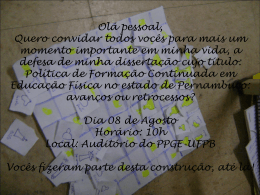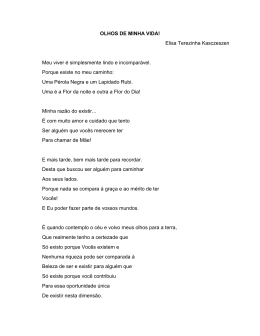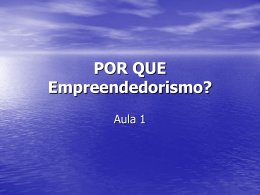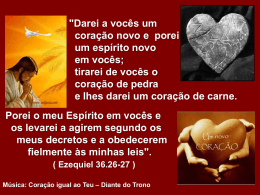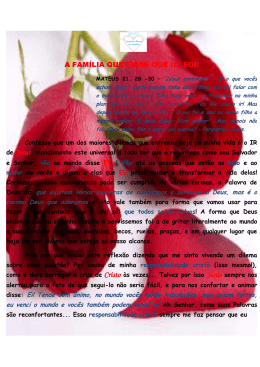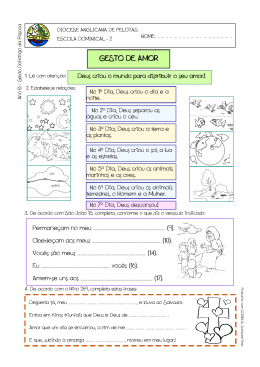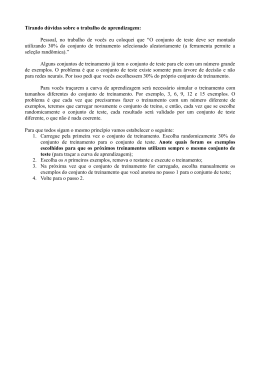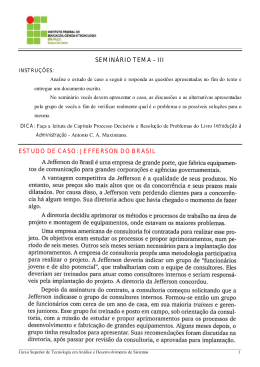Lukács Fala Sobre sua Vida e sua Obra* Acontecimentos recentes na Europa recolocaram o problema da relação entre o socialismo e a democracia. Quais são, para o senhor, as diferenças fundamentais entre a democracia burguesa e a democracia revolucionária socialista? A democracia burguesa data da Constituição francesa de 1793, que foi sua expressão mais alta e mais radical. Seu princípio constitutivo é a divisão do homem em citoyen da vida pública, por um lado, e bourgeois da vida privada, por outro — o primeiro dotado de direitos políticos universais, o segando, a expressão de interesses econômicos particulares e desiguais. Essa divisão é fundamental para a democracia burguesa enquanto fenômeno historicamente determinado. Seu reflexo filosófico se encontra em Sade. É interessante notar que autores como Adorno se ocuparam muito de Sade, por ser ele o equivalente filosófico da Constituição de 1793. A idéia diretriz de ambos era que o homem * Entrevista concedida em 1969 a Perry Anderson e publicada no número 68 da revista New Left Review, julho de 1971. Para a presente tradução, utilizamos a versão francesa publicada na obra de G. Lukács, organizada por Michael Löwy, Litérature, Philosophie, Marxisme (1922-1923), PUF, Paris, 1978. Tradução de Fátima Murad. 87 é um objeto para o homem, que o egoísmo racional é a essência da socie dade humana. Hoje é evidente que qualquer tentativa de recriar essa forma historicamente superada de democracia sob o socialismo é uma regressão, um anacronismo. Mas isso não significa que as aspirações à democracia socialista devam ser tratadas com métodos administrativos. O problema da democracia socialista é um problema real e não foi ainda resolvido. Pois ela deve ser uma democracia materialista e não uma democracia idealista. Permitam-me dar um exemplo do que eu quero dizer. Um homem como Guevara foi um representante heróico do ideal jacobino; suas idéias penetraram sua vida e lhe deram um contorno pró prio. Esse não foi o único caso no movimento revolucionário. Leviné1, na Alemanha, e Otto Korvin2, na Hungria, são outros exemplos. Há que se ter um profundo respeito pela nobreza desse tipo humano. Mas seu idealismo não é o do socialismo da vida cotidiana, que deve ter uma base material, fundada sobre a construção de uma nova economia. Devo ressalvar que o desenvolvimento econômico por si mesmo não produz jamais o socialismo. A doutrina de Kruschev, segundo a qual o socialismo triunfaria em escala mundial quando o nível de vida da URSS superasse os dos Estados Unidos era absolutamente falsa. O problema deve ser colocado de maneira totalmente diversa. Ele pode ser formulado da seguinte maneira: o socialismo é a primeira formação econômica na história que não produz espontaneamente o “homem econômico” que lhe corresponde. E isso porque é uma formação tran sitória, uma etapa intermediária na passagem do capitalismo ao comu nismo. E, na medida em que a economia socialista não produz e reproduz espontaneamente os homens que lhe correspondem, ao contrário da sociedade capitalista clássica que engendra naturalmente seu homo economicus — a divisão citoyen/bourgeois de 1793 e de Sade —, a fun ção da democracia socialista é precisamente a educação de seus mem bros para o socialismo. Essa função não encontra nenhum precedente, nenhuma analogia, na democracia burguesa. É claro que o que é neces sário hoje é o renascimento dos soviets — o sistema de democracia ope rária que aparece sempre que há uma revolução proletária. Veja-se a Comuna de Paris em 1871, a Revolução russa de 1905 e a própria Revo lução de Outubro. Mas isso não se dá de um dia para outro. O problema 1. Eugen Léviné: dirigente comunista da República dos Conselhos da Baviera, assassinado pela direita em 1919 (nota do editor). 2. Otto Korvin: dirigente comunista da República Húngara dos Conselhos Operários, executado pelo governo do Almirante Horthy em 1919 (nota do editor). 88 é que nessa etapa os operários estão indiferentes: no início eles não acreditarão em nada. A descontinuidade na História Um problema com relação a isso está na representação histórica das transformações necessárias. Em debates filosóficos recentes, tem havido muita discussão sobre a questão da continuidade ou da descon tinuidade na história. Eu tenho me pronunciado resolutamente pela descontinuidade. Os senhores conhecem a tese conservadora de Tocqueville e de Taine, segundo a qual a Revolução Francesa não foi absolutamente uma transformação fundamental na história francesa, na medida em que ela representava simplesmente a continuação da tradição centralizadora do Estado francês, que foi muito forte sob o Ancien Régime, com Luis XIV, e que Napoleão e, depois dele, o Segundo Império, levaram ao extremo. Essa perspectiva foi franca mente rejeitada por Lenin no interior do movimento revolucionário. Ele não via jamais as transformações fundamentais e as novas saídas como a simples continuação e o progresso de tendências anteriores. Por exemplo, quando ele anunciou a Nova Política Econômica, em nenhum momento afirmou tratar-se de um “desenvolvimento” ou um “acabamento” do comunismo de guerra. Ele afirmava sempre, com franqueza, que o comunismo de guerra tinha sido um erro, explicável pelas circunstâncias, e que a NEP era uma retificação desse erro e uma mudança total de orientação. Esse método leninista foi abandonado pelo stalinismo que pretendia sempre apresentar as transformações políticas — mesmo as mais importantes — como a conseqüência lógica e o aperfeiçoamento da linha anterior. O stalinismo apresentava toda a história socialista como um desenvolvimento contínuo e correto; não admitia jamais a descontinuidade. Hoje essa questão é ainda mais vital do que nunca, precisamente diante do problema das sobrevivências do stalinismo. A continuidade com o passado deveria ser apresentada numa perspectiva de progresso ou, ao contrário, a via do progresso deveria ser uma ruptura profunda com o stalinismo? Creio que é necessária uma ruptura completa. É por isto que a questão da descontinuidade na história tem uma tal importância para nós. O senhor aplicaria esse mesmo ponto de vista ao seu próprio desen volvimento filosófico? Como o senhor avalia hoje seus escritos dos anos 20? Qual a relação deles com sua obra atual? 89 Nos anos 20, Korsch, Gramsci e eu mesmo, cada um a seu modo, tentamos responder o problema da necessidade social e de sua inter pretação mecanicista, herdada da II Internacional. Herdamos esse pro blema, mas nenhum de nós - nem mesmo Gramsci, que era talvez o mais dotado de todos - conseguiu resolvê-lo. Nós nos equivocamos, e hoje não teria nenhum sentido tentar reviver as obras dessa época como se elas ainda fossem válidas. No Ocidente, existe uma tendência a erigí-las em “clássicos da heresia”, mas hoje não temos mais neces sidade delas. Os anos 20 representam uma época passada; são os pro blemas filosóficos dos anos 60 que nos devem preocupar. Estou traba lhando sobre uma Ontologia do Ser Social que, espero, resolverá os problemas que foram colocados de maneira totalmente falsa em minhas primeiras obras, em particular em História e Consciência de Classe. Minha obra está centrada sobre a questão das relações entre a neces sidade e a liberdade ou, segundo minha expressão, entre a teleologia e a causalidade. Tradicionalmente, os filósofos sempre construíram sistemas fundados sobre um ou outro desses dois pólos; eles negaram ora a necessidade, ora a liberdade humana. Meu objetivo é mostrar a interrelação ontológica entre ambos e rejeitar os pontos de vista do “ou... ou... pelos quais a filosofia representou tradicionalmente o homem. O conceito de trabalho é a base de minha análise, pois o trabalho não é determinado biologicamente. Quando um leão ataca um antílope, seu comportamento é determinado por uma necessidade biológica e somente por ela. Mas quando um homem primitivo se vê diante de um monte de pedras, ele tem que escolher uma entre elas, avaliando a que será mais apta para servir de ferramenta; ele escolhe entre alternativas. A noção de alternativa é fundamental para a signi ficação do trabalho humano que é, portanto, sempre teleológico; ele fixa um fim que resulta de uma escolha. Ele exprime assim a sua liber dade humana. Mas essa liberdade só existe quando se coloca em movi mento forças físicas objetivas que obedecem às leis causais do universo material. A teleologia está, portanto, sempre relacionada com a causa lidade física e, de fato, o resultado do trabalho de todo indivíduo é um momento da causalidade física para a orientação teleológica de outros indivíduos. A teologia acreditava em uma teleologia da natu reza; a crença em uma teleologia imanente da história não foi fundada. Mas existe uma teleologia em cada trabalho humano, intimamente inse rido na causalidade do mundo físico. Essa posição, que é o núcleo a partir do qual desenvolvo minha obra atual, supera a antinomia clás sica entre necessidade e liberdade. Mas, gostaria de esclarecer que não pretendi construir um sistema exaustivo. O título de minha obra — 90 que está acabada e cujos primeiros capítulos estou revendo atualmente - é Para uma Ontologia do Ser Social e não Ontologia do Ser Social3. Os senhores podem notar a diferença. A atividade na qual estou empe nhado requer o trabalho coletivo de numerosos pensadores para que se possa desenvolver. Mas espero que ela possa evidenciar a base onto lógica desse socialismo da vida cotidiana do qual falava. A cultura inglesa radical A Inglaterra é o único país europeu importante sem tradição filo sófica marxista própria. O senhor se deteve muito sobre um momento de sua história cultural, a obra de Walter Scott; mas queremos saber como o senhor vê o desenvolvimento mais geral da história política e intelectual britânica e suas relações com a cultura européia desde a época das Luzes? A história britânica foi vítima daquilo que Marx chamava de lei do desenvolvimento desigual. O radicalismo autêntico da Revolução de Cromwell e, em seguida, a Revolução de 1688, assim como seu êxito no estabelecimento de relações capitalistas na cidade e no campo, tornaram-se a causa do retardamento ulterior da Inglaterra. Acho que sua revista tem plena razão em assinalar a importância histórica da agricultura capitalista na Inglaterra e suas conseqüências paradoxais para o desenvolvimento ulterior desse país. Pode-se constatar isso, com bastante evidência, no desenvolvimento cultural inglês. A dominação do empirismo como ideologia da burguesia data somente de após 1688; a partir daí adquire uma força enorme e deforma completamente toda a história anterior da filosofia e da arte inglesas. Vejam o exemplo de Bacon. Ele foi um grande pensador, bem mais significativo que Locke a quem a burguesia tanto reverenciou posteriormente. Mas sua impor3. Lukács concluiu esta sua derradeira obra sistemática, dividida em duas partes fundamentais (“A Situação Atual dos Problemas” — histórica,, “Os Com plexos Problemáticos Mais Importantes” - sistemática), sendo que os capítulos III e IV (sobre Hegel e sobre Marx) da primeira parte foram publicados pela Livraria Editora Ciências Humanas, São Paulo, 1979. Insatisfeito com os resultados obtidos nesta obra, Lukács às vésperas de sua morte, redigiu um longo prólogo de mais de 150 páginas, intitulado “Questões de Princípio de uma Ontologia Hoje Tomada Possível”, onde tentou superar a rígida dicotomia entre as partes histórica e siste mática. O aludido prólogo, juntamente com a segunda parte da sua Ontologia, com exceção do capítulo sobre o trabalho, continuam inéditos (nota do tradutor). 91 tância foi completamente ocultada pelo empirismo inglês. Hoje, se vocês querem saber o que Bacon fez do empirismo, devem antes com preender o que o empirismo fez de Bacon — o que é totalmente dife rente. Marx foi um grande admirador de Bacon, como vocês sabem. O mesmo ocorreu com um outro importante pensador inglês, Mandeville. Ele foi um grande discípulo de Hobbes, mas a burguesia inglesa o esque ceu completamente. Marx, contudo, cita-o nas Teoria da Mais-Valia. Essa cultura inglesa radical do passado foi ocultada e ignorada. Por outro lado, Eliot e outros deram uma importância totalmente exagerada aos poetas metafísicos — Donne, etc. — que são muito menos importantes para o desenvolvimento histórico da cultura humana. Um outro episó dio revelador é o destino de Scott. Destaquei a importância de Scott em meu livro sobre O Romance Histórico; ele foi o primeiro roman cista a compreender que os homens são modificados pela história. Essa foi uma grande descoberta, imediatamente reconhecida como tal por grandes escritores europeus como Puschkin, na Rússia, Manzoni, na Itália, e Balzac, na França. Todos eles perceberam a importância de Scott e muito aprenderam com ele. Coisa curiosa, contudo, na própria Inglaterra Scott não teve discípulos. Também ele foi incompreendido e esquecido. Há nisso uma ruptura com todo o desenvolvimento da cultura inglesa, que é bem perceptível nos escritores radicais posteriores, como Shaw. Este não tinha raízes no passado cultural inglês, porque a cultura inglesa do século XIX rompera com a sua pré-história radical. Essa foi, evidentemente, a grande debilidade de Shaw. Hoje os intelectuais não deveriam mais se contentar em simples mente importar do exterior o marxismo; eles deveriam reconstruir uma nova história de sua própria cultura: essa é uma tarefa indispensável para eles, que só eles podem realizar. Eu escrevi sobre Scott e Agnes Helles sobre Shakespeare, mas são os ingleses principalmente, que devem redescobrir a Inglaterra. Também nós, na Hungria, conhecemos numerosas mistificações sobre nosso “caráter nacional”, como vocês, na Inglaterra. Uma verdadeira história da sua cultura destruirá essas mis tificações. Nisso, vocês talvez sejam auxiliados pela profunda crise eco nômica e política inglesa, que é produto da lei do desenvolvimento desigual do qual falava. Wilson é, indubitavelmente, um dos políticos burgueses mais astutos e oportunistas de hoje, apesar do seu governo ter sido o fiasco mais completo e mais desastroso. Isso também é um sintoma da profundidade e da irreversibilidade da crise inglesa. Como o senhor vê hoje suas primeiras obras de critica literária, em particular a Teoria do Romance? Qual foi sua significação histórica? 92 A Teoria do Romance expressa meu desespero durante a Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra eclodiu, eu me dizia que a Alemanha e a Austro-Hungria provavelmente venceriam a Rússia e destruiriam o czarismo; isso seria bom. A França e a Inglaterra provavelmente venceriam a Alemanha e a Austro-Hungria e destruiriam os Hohenzolern e os Habsburg; isso seria bom. Mas quem nos salvaria então da cultura inglesa e francesa? Meu desespero em relação a isso não encontrava res posta e é esse o plano de fundo da Teoria do Romance. A resposta vem com a Revolução de Outubro. A revolução russa foi a solução histórica para o meu dilema: ela impediu o triunfo da burguesia inglesa e fran cesa que eu temia. Mas devo dizer que a Teoria do Romance, com todos seus erros, clamava pela transformação do mundo que produzia a cultura que ela analisava. Ela compreendeu a necessidade de uma transformação revolucionária. Weber Nessa época, o senhor era amigo de Max Weber. Qual o julgamento que faz dele hoje? Seu colega Sombart acabou se tornando nazista. O senhor acredita que Weber, se estivesse vivo, teria pactuado com o nacional-socialismo ? Não, jamais. Vocês devem compreender que Weber era uma pes soa extremamente honesta. Ele tinha um grande desprezo pelo impera dor, por exemplo. Ele costumava nos dizer, confidencialmente, que o grande mal da Alemanha era que, contrariamente aos Stuarts ou aos Bourbons, nenhum Hohenzolern tinha sido jamais decapitado. Vocês devem levar em conta que ele não era um professor qualquer, que pudesse afirmar uma coisa dessas em 1912. Weber era inteiramente dife rente de Sombart; ele jamais fez qualquer concessão ao anti-semitismo, por exemplo. Permitam-me recordar uma história que o caracteriza muito bem. Uma universidade alemã lhe pediu que fizesse uma indi cação para uma cadeira nova que ia ser criada. Weber respondeu enviando três nomes, por ordem de merecimento. E acrescentou: “Nenhum dos três seria uma escolha absolutamente apropriada, pois os três são exce lentes; mas vocês não escolherão nenhum, porque os três são judeus. Por isso eu acrescento uma lista com três outros nomes, dos quais nenhum vale pelos que recomendei, mas vocês, sem dúvida nenhuma, aceitarão um deles, porque eles não são judeus.” Contudo, vocês devem se recordar que Weber era um imperialista absolutamente convicto; seu liberalismo se sustentava apenas na sua crença na necessidade de 93 um imperialismo eficaz; e somente o liberalismo podia garantir uma tal eficácia. Ele foi um inimigo declarado das Revoluções de Outubro e de Novembro4. E foi, ao mesmo tempo, um pensador extraordinário e um profundo reacionário. O irracionalismo que começou com o último Schelling e Shopenhauer encontrou nele uma de suas mais importan tes expressões. Como ele reagiu à sua conversão à Revolução de Outubro? Ele teria dito que em Lukács a mudança deve ter correspondido a uma profunda transformação nas suas convicções e nas suas idéias, enquanto que em Toller era simplesmente uma confusão de sentimentos. Mas não mantive relações com ele a partir desse momento. Após a guerra, o senhor participou da Comuna húngara como Comissário do Povo para a Educação. Como o senhor avalia a experi ência da Comuna, cinquenta anos depois? A causa essencial da Comuna foi a nota de Vyx5 e a política da Entente na Hungria. Desse ponto de visa, a Comuna húngara é com parável à Revolução russa, onde a questão do fim da guerra desempenha um papel fundamental na eclosão da Revolução de Outubro. Uma vez que a nota de Vyx foi emitida, a conseqüência foi a Comuna. Os socialdemocratas nos atacaram posteriormente, criticando-nos por ter pro clamado a Comuna, mas nesse período do pós-guerra não havia nenhuma possibilidade de se manter nos limites do quadro político burguês; era necessário fazê-lo explodir. Os líderes bolcheviques Depois da derrota da Comuna, o senhor foi delegado ao III Con gresso do Komintern em Moscou. Lá reencontrou os líderes bolche viques. Quais foram suas impressões a seu respeito? Vocês não podem esquecer que eu era um membro pouco impor tante de uma pequena delegação. Eu não era absolutamente uma figura 4. Revolução de Novembro: a que, em novembro de 1918, derruba a monar quia e instaura a República de Weimar na Alemanha (nota do editor). 5. Nota de Vyx: ultimato apresentado em março de 1919 pelo coronel Vyx, representante da Entente na Hungria, exigindo o abandono de uma larga parte do país aos aliados (nota do editor). 94 importante nessa época, e não tive a oportunidade de entabular longas conversas com os líderes do partido russo. Contudo, graças a Lunacharski, pude ficar perto de Lenin, o que me deixou completamente fascinado. Com isso, eu pude observar seu trabalho nas comissões do congresso. Devo dizer que eu achava antipáticos os outros dirigentes bolcheviques. Minha primeira impressão de Trotsky foi péssima; eu o achava presunçoso. Há, como vocês sabem, uma passagem nas memó rias sobre Lenin, de Gorki, em que Lênin, após a revolução, reconhe cendo os sucessos organizacionais de Trotsky durante a guerra civil, diz que havia nele algo de Lassale. Zinoviev, cujo papel no seio do Komintern eu vim a conhecer posteriormente, era um mero manipu lador político. Minha apreciação sobre Bukharin está contida no artigo que consagrei a ele em 1925 e onde critico seu marxismo - nessa época ele era, depois de Stalin, a maior autoridade russa em questões teóricas. Não me recordo de Stalin no congresso; como tantos outros comunistas estrangeiros, eu desconhecia sua importância real no partido russo. Conversei longamente com Radek. Ele me disse que considerava meus artigos sobre a ação de março na Alemanha o que havia de melhor a esse respeito e que os aprovava inteiramente. Mais tarde, quando o par tido condenou a ação de março ele mudou de opinião e me criticou publicamente. Em contraste com os outros, Lenin me causou pro funda impressão. Qual foi sua reação diante das críticas de Lênin a seu artigo sobre a questão do parlamentarismo? Eu estava completamente equivocado nesse artigo, e renunciei sem hesitação às minhas teses. Devo acrescentar que eu já tinha lido O esquerdismo, doença infantil do comunismo de Lenin antes de ele criticar meu artigo, e já estava totalmente convencido por seus argu mentos sobre a questão da participação no parlamento; assim, sua crí tica ao artigo não mudou muita coisa para mim. Eu já sabia que ele era falso. Vocês se recordam do que Lenin dizia no Esquerdismo: que os parlamentos burgueses estão completamente superados no sentido histórico, com a criação de organismos revolucionários do poder prole tário, os soviets, mas que isso não significa que estejam superados no sentido político imediato, na medida em que as massas ocidentais ainda acreditam neles. É por isso que os comunistas devem trabalhar tanto dentro como fora desses parlamentos. Em 1928-1929, o senhor desenvolveu, nas célebres teses de Blum para o III Congresso do Partido comunista húngaro, o conceito de dita 95 dura democrática dos operários e camponeses, como fim estratégico do Partido comunista húngaro nessa época. Essas teses foram rejeitadas como oportunistas e o senhor foi excluído do comitê central por causa delas. Que avaliação faz das teses hoje? As teses de Blum foram minha ação de retaguarda contra o secta rismo do terceiro período que considerava a social-democracia como irmã-gêmea do fascismo. Essa linha desastrosa era acompanhada, como vocês sabem, do slogan de classe contra classe e do apelo à instauração imediata da ditadura do proletariado. Ressuscitando e adaptando a palavra-de-ordem de Lenin de 1905 — a ditadura democrática dos ope rários e camponeses — tentei encontrar uma saída para a linha do VI Congresso do Komintem, pela qual pudesse ganhar o partido hún garo para uma política mais realista. Minha tentativa foi malograda. As teses de Blum foram condenadas pelo partido e Bela Kum e sua facção me excluíram do Comitê Central. Fiquei completamente isolado no partido nessa época. Não consegui convencer nem mesmo aqueles que partilhavam dos meus pontos de vista na luta contra o sectarismo de Kum no partido. Então fiz minha auto-crítica em relação a essas teses. Era uma atitude absolutamente cínica, que as condições da época me impunham. Na verdade não mudei de opinião e estou convencido de que tinha plena razão, pois o curso posterior da história confirmou totalmente as teses de Blum. O período 1945-1948 na Hungria foi, com efeito, a realização concreta da ditadura democrática dos operá rios e camponeses que eu tinha defendido em 1929. É claro que depois de 1948 Stalin cria algo completamente diferente, mas isso é uma outra história. As relações com Brecht Quais foram suas relações com Brecht nos anos 30 e logo após a guerra? Como o senhor avalia sua postura? Brecht foi um grande poeta e suas últimas peças - Mãe Coragem, A boa alma de Setchouan e outras — são excelentes. Mas suas teorias dramáticas e estéticas eram totalmente falsas e confusas. Eu já coloquei esses problemas no Realismo Crítico Hoje. Mas isso não diminui a quali dade de sua obra do último período. Em 1931-1933, eu me encontrava em Berlim, trabalhando com a União dos Escritores. Nessa época — na metade da década de 30 para ser mais preciso — Brecht escreveu um artigo contra mim para defender o expressionismo. Mas, mais tarde, 96 quando eu estava em Moscou ele passou pela União Soviética, na sua viagem da Escandinávia aos Estados Unidos, e foi me visitar. Na ocasião me disse: “Há pessoas que tentam me influenciar contra você, e há pes soas que tentam influencia-lo contra mim. Vamos estabelecer um acordo para evitar as disputas.” A partir daí, mantivemos sempre boas relações e, após a guerra, todas as vezes que estive em Berlim — o que ocorreu com muita freqüência — fui visitá-lo e tivemos longas discussões. No final, nossas posições eram muito próximas. Como vocês sabem, sua esposa me convidou para discursar nos seus funerais. Lamento não ter escrito um ensaio sobre Brecht nos anos 40; isso foi um erro resul tante de minhas preocupações com outras obras da época. Sempre tive um grande respeito por Brecht. Ele era muito talentoso e tinha um grande senso de realidade. Nisso era muito diferente de Korsch, a quem conheceu bem. Quando Korsch deixou o partido alemão, se afastou do socialismo. Compreendo que ele se afastou porque se tornou impos sível para ele colaborar no trabalho da União dos Escritores na luta anti fascista em Berlim, nessa época; o partido não teria o permitido. Brecht era totalmente diferente. Ela sabia que nada poderia ser feito contra a URSS, à qual permaneceu fiel até o fim da vida. O senhor conheceu Walter Benjamin? Acredita que ele teria evo luído no sentido de um engajamento firme e revolucionário face ao mar xismo se tivesse vivido mais tempo? Não, por várias razões eu nunca estive com Benjamin, embora tenha encontrado Adorno em Frankfurt em 1930, antes de viajar para a União Soviética. Benjamin era extremamente dotado e tinha uma visão profunda de inúmeros problemas inteiramente novos. Ele explorou seus problemas de diversas maneiras, mas nunca encontrou saída. Acredito que, se ele tivesse vivido, seu desenvolvimento teria sido total mente incerto, apesar da amizade com Brecht. Vocês devem se recor dar como aquela época era difícil — os expurgos dos anos 30, depois a guerra fria. O próprio Adorno se tomou o representante de uma espécie de “conformismo não conformista” nesse clima. Depois da vitória do fascismo na Alemanha, o senhor trabalhou no Instituto Marx-Lenin na Rússia, com Riazanov. Que tipo de trabalho vocês desenvolveram? Durante minha estada em Moscou em 1930, Riazanov me mos trou os manuscritos que Marx tinha escrito em Paris em 1844. Vocês podem imaginar minha excitação: a leitura desses manuscritos mudou 97 totalmente minha relação com o marxismo e transformou meu ponto de vista filosófico. Um especialista alemão da União Soviética traba lhava sobre esses manuscritos preparando sua publicação. Os ratos tinham roído esses papéis e havia várias partes em que faltavam letras ou até palavras. Dados meus conhecimentos filosóficos, eu trabalhei com ele, determinando letras ou palavras que faltavam. Muitas vezes havia palavras que começavam, digamos, por um “g” e que termina vam por um “s”; era necessário advinhar o que havia entre essas duas letras. Acho que a edição que acabou sendo publicada estava muito boa — e sei porque eu colaborei nela. Riazanov, responsável por esse trabalho, era um grande filólogo: não um teórico, mas um grande filólogo. Após sua destituição, o trabalho do Instituto entrou em completo declínio. Eu lembro que ele tinha me dito que havia dez volumes de manuscritos de Marx sobre O Capital que não tinham sido ainda publicados. Inclusive Engels nos prefácios aos livros II e III diz que estes representavam apenas uma seleção dos manuscritos que Marx havia redigido para O Capital. Riazanov projetava publicar todo esse material. Mas até hoje isso não foi feito. No início dos anos 30 se realizavam debates filosóficos na URSS, mas eu nunca participei deles. Tratava-se então de um debate em que se criticava notadamente a obra de Deborine. Eu, pessoalmente, acho que muitas críticas eram justificadas, mas seu objetivo era unicamente estabelecer a preeminência de Stalin como filósofo. Mas o senhor participou nos debates literários na URSS nos anos 30. Eu colaborei durante seis ou sete anos no jornal Literarny Kritik e nós levamos uma política muito conseqüente contra o dogmatismo desses anos. Fadeyev e outros combatiam a RAPP6 e tinham vivido na Rússia, mas apenas porque Averbach e outros na RAPP eram trotskistas. Após sua vitória, eles continuaram desenvolvendo sua própria forma de rappismo. A Literarny Kritik sempre resistiu a essas tendências. Eu escrevi vários artigos para essa revista e nenhum deles tinha menos de três citações de Stalin — isso era uma exigência intransponível nessa época — e nenhum se dirigia diretamente contra a concepção stalinista de literatura. Mas seu conteúdo era sempre dirigido contra o dogma tismo stalinista. 6. RAPP: organização oficial dos escritores revolucionários da URSS, de orien tação sectária, dissolvida em 1932 (nota do tradutor). 98 A carreira política de Lukács O senhor foi politicamente ativo durante dez anos de sua vida, de 1919 a 1929, e depois acabou abandonando completamente essa atividade. Isso deve representar uma transformação muito grande para um marxista convicto. O senhor se sentiu limitado (ou, ao contrário, liberado) por essa virada abrupta em sua carreira em 1930? Como essa fase de sua vida se liga à sua juventude e à sua adolescência? Por quem o senhor foi influenciado então? Eu não lamentei absolutamente o fim da minha carreira política. Pois, vejam vocês, eu estava convencido de que tinha plena razão nos debates internos do partido em 1928-1929, e nada jamais me levou a mudar minha opinião sobre isso; contudo, como eu já tinha esgotado todas minhas tentativas para convencer o partido da justeza de minhas idéias, eu me disse então: se eu tenho plena razão, e estou, contudo, com pletamente derrotado, isso significa apenas que não tenho qualquer capacidade política. Renunciei, assim, sem nenhuma dificuldade, ao trabalho político prático. Cheguei à conclusão que não tinha capaci dade para isso. Minha exclusão do comitê central do Partido húngaro não modificou em nada minha convicção que mesmo com a política sectária e desastrosa do Terceiro período, somente se poderia levar uma luta eficaz contra o fascismo nos marcos do movimento comunista. Eu não modifiquei minha opinião a esse respeito. Eu sempre achei que a pior forma de socialismo era melhor que a melhor forma de capitalismo. Minha participação no governo de Nagy, em 1956, não foi con traditória com minha renúncia à atividade política. Eu não partilhava da concepção política geral de Nagy, e quando os jovens tentaram nos aproximar nos dias que precederam outubro, eu respondi: “O passo que eu tenho que dar em direção a Imre Nagy não é maior que o que ele tem que dar na minha direção.” Quando me convidaram para ser Ministro da Cultura em outubro de 1956, tratava-se de uma questão moral para mim, não de uma questão política, e eu não podia recusar. Quando fomoso afastados e presos na Romênia, camaradas dos parti dos rumeno e húngaro vieram me visitar e pediram minha opinião sobre a política de Nagy, conhecendo de antemão meus desacordos com ele. Eu lhes disse: “Se tanto eu como ele estivéssemos livres nas ruas de Budapeste, eu com prazer formularia aberta e detalhadamente meu julgamento sobre ele. Mas enquanto continuo preso, minha única rela ção com ele é de solidariedade.” Vocês me perguntaram quais foram minhas impressões pessoais, 99 quando renunciei à carreira política. Eu devo lhes dizer que talvez eu não seja um homem muito contemporâneo, pois eu jamais senti frus tração ou qualquer outro tipo de complexo em minha vida. É claro que eu sei o que isso significa em função da literatura do século XX e a partir da leitura de Freud. Mas jamais tive essa experiência. Quando percebo meus erros ou falsas direções na minha vida, já estou disposto a revê-los; eu nunca tive dificuldade em proceder assim ou em mudar de direção. Entre os 15 e os 16 anos, escrevi peças modernas, no estilo de Ibsen ou de Hauptmann. Aos 18 anos, eu as reli e achei muito ruins. Cheguei então à conclusão de que jamais me tomaria um escritor e quei mei essas peças. Não tive remorsos. Essa experiência precoce me foi útil mais tarde, enquanto crítico literário, porque todas as vezes que eu me deparava com um texto que eu mesmo poderia ter escrito, sabia que essa era uma evidência infalível de que se tratava de um mau texto: esse era um critério verdadeiramente seguro. Minhas primeiras influên cias políticas vieram da leitura de Marx, à época em que freqüentava o Liceu e, mais tarde — a mais importante de todas — da leitura do grande poeta húngaro Ady. Eu me sentia muito isolado como adolescente entre meus companheiros e Ady me causou profunda impressão. Tra tava-se de um revolucionário muito entusiasmado com Hegel, embora não aceitasse de modo algum o aspecto de Hegel que eu mesmo rejeitei desde o início: sua Versöhnung mit der Wirklichkeit: sua reconciliação com a realidade. Ignorar Hegel é uma das grandes debilidades da cultura inglesa. Eu nunca deixei de admirar esse pensador e acho que o traba lho empreendido por Marx — a materialização da filosofia de Hegel — deve ser prosseguida, além mesmo de Marx. Eu tentei fazê-lo em certas passagens da minha Ontologia. Somente três grandes pensadores oci dentais se tomaram incomparáveis a todos os outros: Aristóteles, Hegel e Marx. 100
Download