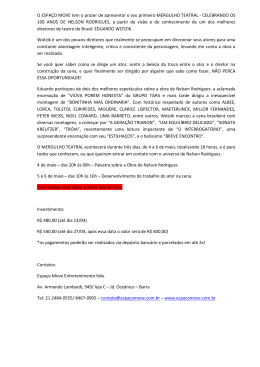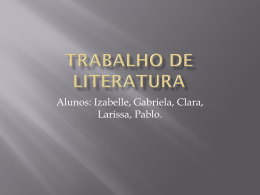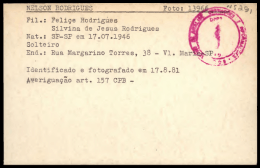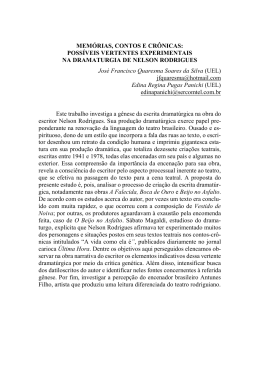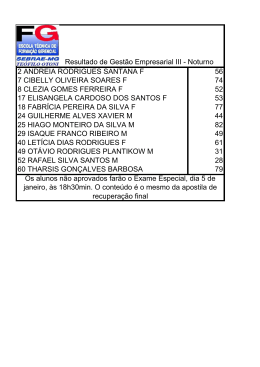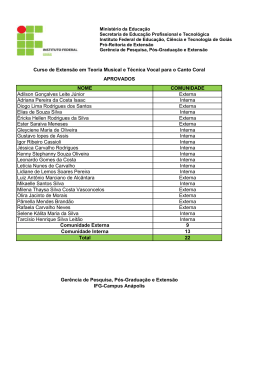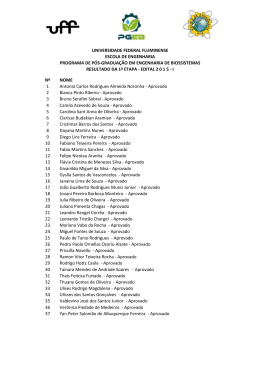NELSON RODRIGUES INVENTÁRIO ILUSTRADO E RECEPÇÃO CRÍTICA COMENTADA DOS ESCRITOS DO ANJO PORNOGRÁFICO Por Marcos Francisco Pedrosa Sá Freire de Souza Departamento de Ciência da Literatura Tese de Doutorado em Ciência da Literatura (Literatura Comparada) apresentada à Coordenação de Cursos de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Professor Doutor Eduardo de Faria Coutinho Rio de Janeiro, 2o. semestre de 2006 1 EXAME DE TESE SOUZA, Marcos Francisco Pedrosa Sá Freire de. Nelson Rodrigues – Inventário Ilustrado e Recepção Crítica Comentada dos Escritos do Anjo Pornográfico. Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade de Letras, 2006. 237 fl. mimeo. Tese de Doutorado em Literatura Comparada. Banca Examinadora Professor Doutor Eduardo de Faria Coutinho (Orientador) Professora Doutora Beatriz Resende Professora Doutora Angélica Maria Santos Soares Professora Doutora Sonia Regina Aguiar Torres da Cruz Professor Doutor Renato Cordeiro Gomes Professor Doutor Luiz Edmundo Bouças Coutinho (suplente) Professora Doutora Denise Jorge Trindade (suplente) Defendida a Tese: Conceito: Em: 2 Para você novamente, Beth Wester Ao meu pai, Milciades Mário Sá Freire de Souza (In Memoriam) 3 AGRADECIMENTOS Ao meu orientador, Prof. Dr. Eduardo de Faria Coutinho, pela troca intelectual e pelo privilégio da convivência dos últimos anos, bem como pela dedicação a esta Tese. Aos professores do programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da UFRJ, pelas contribuições acadêmicas adquiridas ao longo do doutorado. Aos companheiros de doutorado pelo convívio acadêmico. Às professoras Angélica Maria Santos Soares e Sonia Regina Aguiar Torres da Cruz pela ajuda com suas reflexões durante o exame de qualificação. Ao pessoal administrativo da Secretaria de Pós-Graduação em Letras da UFRJ pela atenção e auxílio. Aos funcionários dos setores de pesquisa de periódicos de O Globo, particularmente a Paulo Luiz da Silva Carneiro (guia no labirinto dos arquivos e dos microfilmes digitalizados do jornal), e da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, e do Museu Hipólito José da Costa, em Porto Alegre, pela presteza com que me receberam e pela generosidade com que me auxiliaram. Aos meus alunos de graduação em jornalismo da Universidade Estácio de Sá, que discutiram muitos dos textos incluídos nesta Tese. Em especial, à Ana Carolina Landi e José César Mulser Filho, que colaboraram com o levantamento dos textos de “A vida como ela é...”. Ao Cnpq, pela bolsa de pesquisa concedida. Aos membros da Banca Examinadora. À minha mãe, meus irmãos e meus sobrinhos. À família Wester. 4 SINOPSE Avaliação da produção de Nelson Rodrigues como repórter, dramaturgo, folhetinista, contista e cronista, inventariando sua obra e discutindo as características míticas, de embate entre fato e ficção e da presença do paradoxo em seus escritos, em investigação literária que se ancora nos estudos em Literatura Comparada. 5 Nelson Rodrigues: o Autor e a Obra A trajetória profissional de Nelson Falcão Rodrigues (1912-1980) é um retrato das transformações por que passaram os meios de comunicação no Brasil do século XX. Escritor profícuo e, apesar da fala arrastada, orador hábil, Nelson marcou presença e ocupou com desenvoltura todas as mídias existentes e investiu prontamente pelos espaços abertos com o surgir e a consolidação de novas media em terras brasileiras. Esteve envolvido com o jornalismo impresso (jornal e revista), participando ativamente como repórter, crítico, polemista, folhetinista (autoral e pseudonímico), contista, cronista esportivo, cronista comportamental; marcou presença destacada em nossa cena dramatúrgica, onde ficou conhecido como o autor que inaugurou o teatro moderno brasileiro; associou-se, ainda que indiretamente, ao rádio, que veiculou seus contos e folhetins (escritos para o meio impresso); participou da televisão em seus primórdios, como autor de novelas, comentarista esportivo, apresentador-entrevistador; e teve ainda presença marcante no cenário cinematográfico e televisivo com as incontáveis adaptações, que aconteceram e que continuam a acontecer, de seus textos (peças, folhetins, contos) para o cinema e para a TV. Vale acrescentar que boa parte de sua produção para muitas das áreas assinaladas desdobrou-se e continua a se desdobrar em um acontecimento de peso dentro do mercado livreiro. Com sua família, como conseqüência de acontecimentos desencadeados pela Revolução de 1930, alijada inesperadamente do clã das dinastias que se atiraram à tarefa empreendedora de consolidação dos meios de comunicação no Brasil, teve de trabalhar duro (embora alimentado por uma força incontrolável que o impelia à escrita) para vários dos tycoons da media brasileira: de Roberto Marinho a Assis Chateaubriand, de Samuel Wainer e Niomar Bittencourt a Adolpho Bloch. Entre os veículos freqüentados por seus escritos figuram todos os jornais e revistas brasileiros de peso do século em que viveu. É uma lista que inclui entre as folhas jornalísticas A Manhã, Crítica (esses dois primeiros de sua família), O Globo, O Jornal, Última Hora (e no caderno semanal: Jornal da Semana Flan), Jornal dos Sports, Diário da Noite e Correio da Manhã. E entre as revistas: O Cruzeiro, A Cigarra, Manchete Esportiva, Manchete, Fatos e Fotos e 6 Realidade. Devem-se assinalar ainda os veículos de circulação mais restrita como as publicações Para Todos e Brasil em Marcha. A presente investigação pretende analisar a parte mais significativa dessa trajetória profissional: a do jornalista, dramaturgo, escritor de obras ficcionais publicadas em jornal e cronista. Ficam excluídas desde já a sua presença e passagem por meios como o rádio, a televisão e o cinema (que aguardam estudo particularizado, abordagem negligenciada pelos pesquisadores até o momento1). Foi nesse segmento de sua produção, que Nelson Rodrigues inscreveu seu nome na linhagem dos grandes literatos que tiveram que recorrer aos jornais para exercerem seu ofício. Os nomes são muitos e significativos e não por acaso alguns deles se espalhariam por seus textos. Entre os mais expressivos, pode-se citar: Daniel Dafoe, Victor Hugo, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Alexadre Dumas Filho, Charles Dickens, Jack London, Émile Zola, Walt Whitman, José de Alencar, Machado de Assis, Fiódor Dostoiévski, Euclides da Cunha, Lima Barreto, João do Rio, Graciliano Ramos, Ernest Hemingway, George Orwell, John Steinback, Antonio Callado, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Truman Capote, Tom Wolfe. Todos desempenharam papel importante no mundo limítrofe entre o jornalismo e a literatura. 1 Uma exceção importantíssima é o brilhante estudo de Ismail Xavier sobre as adaptações de textos rodrigueanos por cineastas brasileiros. Está em Xavier, Ismail. O olhar e a cena - melodrama, Hollywood, Cinema Novo, Nelson Rodrigues. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, p.129-364. 7 SUMÁRIO Sinopse........................................................................................................................... v Nelson Rodrigues: o Autor e a Obra.............................................................................. vi 1. Introdução.................................................................................................................. 10 2. Escritos, Estudos e Pesquisas sobre o Autor e sua Obra........................................... 2.1 – O Dramaturgo..................................................................................... 2.1.1 – A Apreciação dos Jornais ......................................... 2.1.2 – A Avaliação Universitária......................................... 2.2 – O Repórter, o Crítico e o Contista Iniciante....................................... 2.3 – O Folhetinista, o Contista Consagrado............................................... 2.4 – O Cronista........................................................................................... 2.5 – Considerações Acadêmicas sobre as Reportagens, os Folhetins, os 26 27 29 36 43 55 64 Contos, as Crônicas ........................................................................... 73 2.5.1 – Reportagens Policiais e Faits Divers........................ 73 2.5.2 – Origens e Características dos Folhetins e das Crônicas................................................................... 76 2.5.3 – A Avaliação Acadêmico-Universitária dos Folhetins, Contos, Crônicas .................................... 2.6 – Os Primeiros Escritos, os Textos Perdidos e o Epistolário ............... 3. Centralidades na Escrita do Autor............................................................................. 3.1 – A Dimensão Mitológica...................................................................... 3.2 – Os Limites entre Discurso Factual e Ficcional................................ 3.3 – O Paradoxo como Meio de Expressão................................................ 4. Narrativas Rodrigueanas............................................................................................ 4.1 – Narrativas Dramatúrgicas................................................................... 4.1.1 – Peças Míticas.............................................................. 4.1.2 – Peças Psicológicas e Tragédias Cariocas................... 4.1.3 – A Linguagem das Peças............................................. 4.2 – Narrativas do Repórter, do Folhetinista, do Contista......................... 4.2.1 – Repórter, Contista, Cronista Iniciante.......................... 4.2.2 – Folhetinista Pseudonímico........................................... 4.2.3 – Repórter, Contista Consagrado e Folhetinista Autoral 4.2.4 – A Linguagem das Reportagens, dos Folhetins, dos 79 85 88 88 94 102 111 112 113 118 125 131 133 144 149 Contos......................................................................... 4.3 – Narrativas do Cronista........................................................................ 4.3.1 – Cronista Esportivo....................................................... 4.3.1.1– Personagens das Crônicas Esportivas................ 4.3.2 – Cronista Mêmore-Confessional................................... 4.3.2.1– Personagens das Crônicas Mêmore- 162 170 172 180 184 Confessionais..................................................... 4.3.3 – A Linguagem das Crônicas.......................................... 5. Considerações Finais................................................................................................. 6. Fontes e Bibliografia.................................................................................................. 203 207 219 228 8 Resumo.......................................................................................................................... 237 CD Anexo.............................................................................................................. Contracapa 1 — Introdução I have been implying that criticism is or ought to be a cognitive activity and that it is a form of knowledge. I now find myself saying that if, as Foulcault has tried to show, all knowledge is contentious, then criticism, as activity and knowledge, ought to be contentious too. Edward Said Como se faz para convencer leitores, e leitores de jornal, de que eles precisam de forma imperiosa da imaginação? Se é verdade que a narrativa é “trans-histórica, transcultural” e “está presente, como a vida”, como nos diz Barthes (2001: 104), há, porém, o detalhe: como convencer esses leitores de que essa narrativa merece ser conhecida e vivenciada como algo exacerbado como só se encontra em certos nichos literários? Como, então, persuadir o leitor de textos jornalísticos a se filiar ao texto do 9 “escritor” em vez de ao texto do “escrevente”? A distinção é feita por Sartre no livro Em defesa dos intelectuais (1994 [1972])2, no qual retoma as observações do Barthes de Crítica e verdade (1999 [1966]). Para o filósofo, o “escrevente se serve da linguagem para transmitir informação”, enquanto o escritor “é o guardião da linguagem comum, mas ele vai mais longe, e seu material é a linguagem como não-significante ou como desinformação; é um artesão que produz um certo objeto verbal através de um trabalho sobre a materialidade das palavras, tomando como meio as significações e como fim o não-significante” (Sartre, 1994: 59). Isto leva o filósofo a concluir que é por essa razão que se diz com freqüência e de forma depreciativa: “É literatura”, com o intuito de se observar que alguém “fala para não dizer nada” (Sartre, 1994: 59). Era esse o desafio ao qual Nelson Rodrigues se entregaria e cumpriria com raro talento em sua trajetória dentro do jornalismo brasileiro: fazer essa literatura, de que fala Sartre, na mídia impressa. E certamente esse desafio não se colocou como uma questão a priori. Nasceu de uma contingência. Qualquer um minimamente familiarizado com seus escritos sabe como ele festejava os excessos do jornalismo do começo do século XX que vivia então sua liberdade literária. E de fato, se nos voltarmos para textos de períodos menos conhecidos da carreira jornalística de Nelson Rodrigues (publicados em A Manhã, Crítica e O Globo), reconheceremos que havia uma liberdade para o jornalista cruzar as fronteiras entre o fato e a ficção. Vejamos um trecho de uma reportagem que consta da edição do dia 1o. de maio de 1928, à página 7 de A Manhã, jornal de propriedade de Mário Rodrigues (pai de Nelson Rodrigues), sob o título “Um Açougueiro Sentimental – 2 Faz-se aqui uma apropriação pontual do livro de Sartre, cuja discussão central trata do papel do intelectual nas sociedades modernas; entre colchetes assinala-se a data da primeira edição das obras comentadas. O tema discutido por Sartre recupera assunto debatido anteriomente pelo autor. Ver Sartre, Jean-Paul. Que é a literatura?, São Paulo, Editora Ática, 1999. 10 Agredido a Faca Quando Recitava Baudelaire” 3, que o pesquisador Caco Coelho acredita de autoria do jornalista. Nele se lê: O Manoel estava, ontem, sacudido de exaltações frenéticas. Desde que se erguera da cama, uma ânsia, uma vontade de qualquer coisa, imprecisa e vaga, dominava-o, tornava-o febril e arquejante. Embora fosse açougueiro, isso não o impedia de ser um sentimental, um romântico, um artista. Sua sensibilidade, finíssima, era um ninho de maviosas e cristalinas emoções estéticas. Ser testemunha do amanhecer, da aurora cheia de sangue, era para Manoel um prazer indefinível, enlouquecedor. Acordava, de propósito, cedinho e ia alegre, feliz, assistir os toques da alvorada, resplendendo na curva do horizonte, cheio de uma delicadeza tocante de cores. Diante da manhã nascente, era de ver como o sentimental açougueiro se comovia e ficava afogado em lágrimas românticas. Ele, em pé, heróico, grande, avultado, sobrelevado de si, desejava mundos. Desejava palácios, ouro, diamantes, cristal, luz, prata, mulheres. Aquele rubor do horizonte parecia-lhe uma grande pétala de rosa. E o sol, pouco a pouco, vagaroso, ainda com a luz empanada pelo vermelho uníssono, escravizava todos os detalhes da manhã. (...) O homem foi para o Mangue. Ali chegando, começou a enviar a toda figura feminina que lhe passava ao lado ou à frente um exame meticuloso e penetrante. Chegava ao mais aceso da pesquisa, quando apareceu a figura adequada. Então, Manoel, garboso, elegante, ativo, mostrando a alvura cintilante dos dentes, recitou ao anjo de ternura uma multidão de versos "Fleur du Mal" de Baudelaire. A doce figurinha, que era uma mulata reforçada, dispôs-se a ficar melancólica. Quando, porém, já ia suspirar e fitar o ocaso, apareceu-lhe o "coronel", temível capoeira. O homenzinho apareceu no momento em que Manoel gemia Baudelaire. Vendo o sedutor da pequena, ele se encheu de ira. Ficou terrível. E não conversou... Puxou de uma faca e feriu, no peito, o sentimental açougueiro. Ato contínuo evadiu-se. Reclamada a assistência, esta socorreu a vítima que é Manoel Ferreira da Silva, português, residente na praça da Igrejinha. O palco do drama foi a rua General Pedra, esquina do Carmo Netto. (Rodrigues, 2004: 169-71) A notícia, com um longo “nariz de cera”, como se diz em linguagem jornalística, é redigida com o lead no pé do texto, mostrando que o modelo da pirâmide invertida, a técnica de redação jornalística que coloca os dados mais importantes na abertura da reportagem, ainda não era considerada. A passagem, além disso, é farta em impressões e digressões subjetivas. Em suas crônicas o próprio Nelson Rodrigues mencionaria narrativas semelhantes a esta publicadas no espírito do jornalismo da primeira metade do século XX – 3 Este texto faz parte da pesquisa “O baú de Nelson Rodrigues”, que será comentada adiante na seção 2.2. Todos os escritos publicados em jornal e comentados nesta Tese aparecem coligidos e identificados pelo nome do periódico em que foram publicados, pela data de sua publicação e pela página em que apareceram, em CD anexado a este volume. 11 jornalismo que passaria por profundas transformações nas décadas de 1950 e 1960 com a adoção pelos jornalistas brasileiros de marcas textuais de tom objetivo, traço que assinalaria o espírito editorial de nossos jornais a partir de renovações iniciadas no Diário Carioca pelos jornalistas Danton Jobim, Pompeu de Souza e Luís Paulistano (cf. Sodré, 1998). Estas inovações trariam mudanças às práticas jornalísticas como o emprego da técnica do lead e a utilização de uma linguagem mais direta e próxima do linguajar do leitor. A preparação de textos noticiosos com lead e sublead (esta última prática uma inovação do próprio Pompeu de Souza) começava uma ascensão rumo a sua consagração como técnica de rigor obrigatório a ser ensinada nas futuras escolas de jornalismo4. Dentro de seus textos, que apareceriam na imprensa nas décadas subseqüentes, Nelson Rodrigues seguiria indiferente às mudanças que vinham se dando na imprensa brasileira e, pelo contrário, se esforçando ao máximo por negá-las e por colocar qualquer construção discursiva que investisse pelo terreno da veracidade em xeque e sob suspeita. Essa prática, que já se insinuava no texto do repórter, pautaria toda a escrita do jornalistacronista. Ao mesmo tempo ocorria um processo inverso: o da contaminação de suas criações ficcionais por fatos reais, num permanente questionamento sobre os limites entre um discurso e outro. Havia ainda a busca de impregnar suas criações ficcionais com uma linguagem próxima à usada nas ruas, cheia de coloquialismos. Dentro da perspectiva do autor, a vida só merecia ser vivenciada de uma perspectiva poética. Por isso, era necessário adensar liricamente o cotidiano. Nelson trabalhava sua escrita de jornalista (repórter, crítico, cronista) no sentido oposto ao de sua prática de escritor de obras ficcionais (dramaturgo, folhetinista, contista). Nestas, ele aproximava sempre a dimensão poética (inerente ao jogo da fantasia ficcional) do real, 4 Para uma sistematização sobre as conceituações de lead, sublead, pirâmide invertida, consultar Pena, Felipe. Teoria do jornalismo. São Paulo, Editora Contexto, 2005, especialmente p.41-9. 12 inserindo dados da realidade em suas peças, folhetins, contos. Nas reportagens, críticas e nas crônicas, este último o filão em que se tornaria um especialista e onde realizaria grande parte de seus textos, faria o contrário: os fatos de nossa realidade comezinha exigiam o toque do escritor-estilista para adquirirem um sentido transcendente e com isso alcançarem uma dimensão mítica. Talvez por uma feliz caracterização do exposto acima, sua mais conhecida produção ficcional jornalística, os contos diários que preparou durante dez anos para o jornal Última Hora, apareceu na imprensa com o título de “A vida como ela é...”, enquanto parte de suas crônicas esportivas, que acompanhavam o desenrolar dos acontecimentos do mundo dos esportes, seria escrita amparada na rubrica “Meu personagem da semana”. Em texto inédito apresentado por esta Tese, e publicado no jornal O Globo, edição do dia 24 de novembro de 1939, às páginas 1 e 2 da seção “Suplemento feminino”, Nelson chega mesmo a afirmar a sua percepção síntese de que “A vida é literária”. É a partir, portanto, desta constatação que se discutirá nesta Tese de Doutoramento qual a contribuição intelectual e qual a intervenção no campo da cultura que emerge da militância de Nelson Rodrigues por essa prática discursiva inventiva. De sua obra serão destacados três pontos que parecem exercer centralidade em sua escrita e que se fazem presentes em sua produção tanto de escritor de obras ficcionais como jornalísticas. O primeiro deles, com base no que já foi comentado, se refere a esse esforço por buscar a exacerbação do real para evitar qualquer tentativa de maquiar o mundo e mostrá-lo como que sem a mediação de uma subjetividade e uno em sua veracidade. Um outro aspecto central é o gosto do autor por trabalhar um pensamento paradoxal em seus 13 escritos. O interesse em deflagrar a polêmica e em questionar a tudo e a todos alimenta essa característica de sua prosa. Essas duas facetas de sua prática como escritor são trabalhadas pelo terceiro ponto que cabe ressaltar: o do interesse do autor por trafegar discursivamente por uma dimensão mítica. A abordagem aqui empreendida para salientar esses três traços fortes de sua criação se concretizará através do destaque que será dado às narrativas do jornalista, do ficcionista e do cronista, o que será feito de uma perspectiva que se funda na Literatura Comparada. Parte-se de início da constatação de que qualquer análise especulativa sobre a obra de um escritor já deixa de forma indisfarçável se perceber um viés comparatista. De sobremaneira, quando essa análise foca um escritor de uma cultura periférica como a brasileira. Se na célebre introdução à Formação da literatura brasileira, Antonio Candido (1975) era levado a afirmar que a nossa literatura “é galho secundário da portuguesa, por sua vez arbusto de segunda ordem no jardim das Musas (...)” (1975: 9), esse panorama mudaria completamente com a forte influência que a literatura brasileira passaria a exercer sobre outras literaturas. De qualquer jeito, se a troca e a interferência recíproca de produções literárias de origens distintas converte o Comparatismo no estudo literário em um truísmo, o desejo de destacar este ponto torna ainda mais instigante essa investida. Sobretudo quando se traz à cena um autor com as características do que se escolheu abordar, um escritor que faz com que fique por demais rica e complexa a avaliação das inter-relações entre as produções intelectuais levadas a efeito no cenário do que se convencionou chamar de “metrópole” e “periferia”. 14 Em suas reportagens, críticas, peças, folhetins, contos, crônicas, Nelson Rodrigues produz uma escrita que se embebe na tradição da cultura literária ocidental. As informações colhidas nessa literatura, no entanto, são projetadas para dentro da realidade brasileira resultando em um produto cultural de qualidades genuínas. Trata-se de um autor que incorpora o que há de melhor na cultura ocidental sem ser subserviente a ela. Eduardo de Faria Coutinho (2003) nos lembra que o comparatismo de maneira geral, e especialmente no caso latino-americano, sempre serviu-se de um ideário que tentava provar a superioridade dos textos e das culturas-fonte. Comentando as transformações por que passaram os estudos comparatistas na América Latina, observa esse que é um dos mais proeminentes estudiosos do tema no Brasil: A prática de se compararem autores, obras e movimentos já existia de há muito no continente, mas por uma ótica tradicional, calcada, à maneira francesa, nos célebres estudos de fontes e influências, que, além disso, se realizavam por uma via unilateral. Tratava-se de um sistema nitidamente hierarquizante, segundo o qual um texto fonte ou primário, tomado como referencial na comparação, era envolvido por uma aura de superioridade, enquanto o outro termo do processo, enfeixado na condição de devedor, era visto com evidente desvantagem e relegado a nível secundário. (Coutinho, 2003: 19) Uma arqueologia sobre o nascimento do pensamento comparatista pode ser encontrada em texto seminal de Hutcheson Macaulay Posnett (1886), as discussões sobre o uso do termo, em René Wellek (1970), e um histórico sobre os desdobramentos por que vem passando a disciplina, em ensaio de Eduardo F. Coutinho (2003) no livro citado há pouco. São três os campos tradicionais de investigação em literatura de modo geral e em Literatura Comparada especificamente. A saber: o da Teoria, da Crítica e da Historiografia literárias. A Teoria Literária se ocuparia com “os princípios da literatura, suas categorias” (Warren e Wellek, 1949, apud Coutinho, 2003); a Crítica, com 15 parâmetros e critérios de avaliação respaldados em noções como as de literariedade e de permanência; e a Historiografia, com o aspecto diacrônico, ou com uma abordagem das obras “em sua série cronológica e como partes integrantes de um processo histórico” (Coutinho, 2003: 76). Uma primeira e inocente passagem por essas definições pode levar o leitor a imaginar que os três campos são monolíticos, o que não é verdade. São muito próximas as relações entre essas três esferas de estudos, entre si, e igualmente estreita é a ligação delas com a Literatura Comparada. O campo que esteve mais associado diretamente à Literatura Comparada, pelo menos quando do aparecimento do Comparatismo literário em seus primórdios, foi o da pesquisa historiográfica. Se formos avaliá-la, no entanto, veremos que essa prática apresenta também e de maneira indisfarçável, uma orientação teórica. De acordo com Silva (2001) em seu trabalho sobre a história da historiografia: “deve-se observar que a própria listagem de autores e obras não é neutra e, dificilmente, será exaustiva. Queiramos ou não ela supõe escolhas e traz subjacente uma visão da história” (2001: 25). O teórico Luiz Costa Lima (1991) observa mesmo como em Formação da literatura brasileira (1975), o tom descritivo adotado por Antonio Candido, para elencar os nomes e os escritos dos autores românticos que analisa, tenta encobrir a adesão do crítico ao ideário desses escritores. Se é, portanto, pequena a distância entre a perspectiva historiográfica e a teórica, igualmente tênue é o espaço que separa a Teoria e a Crítica. Esses métodos de estudos literários, nos dizem Wellek e Warren: (...) estão de tal maneira entrelaçados que tornam inconcebíveis a teoria literária sem a crítica ou a história, a crítica sem a teoria e a história ou a história sem a teoria e a crítica. Obviamente, a teoria literária é impossível, exceto com base em um estudo de obras literárias concretas. Não podemos chegar a critérios, categorias e esquemas in vacuo. Inversamente, porém, nenhuma crítica ou história é possível sem algum conjunto de questões, algum sistema de conceitos, alguns pontos de referência, algumas generalizações. Naturalmente, não se trata aqui de nenhum dilema insuperável: toda vez que lemos temos algumas idéias preconcebidas 16 e sempre mudamos e modificamos essas percepções depois de mais experiência com obras literárias. O processo é dialético: uma interpenetração mútua de teoria e prática. (Wellek e Warren, 2003: 38) No presente estudo invisto pelas três vertentes entrelaçando-as com a dimensão comparatista. Há o trabalho historiográfico na busca de definição do autor, da obra e da inserção desta dentro da tradição literária brasileira (e indiretamente dentro da tradição literária que se formou no Ocidente); há o trabalho teórico na busca de identificação da escrita do autor, embasada em conceituação que sustente teoricamente essa tentativa; e há o trabalho crítico na avaliação da produção do escritor. O viés comparatista está ligado às três dimensões consideradas. A investida nestas três áreas de estudo será feita a partir do confronto com o exercício de outros pesquisadores. A Literatura Comparada nasce, da mesma forma que outros campos de estudos científicos comparatistas, no século XIX, e sob a égide do etnocentrismo, e foi no muito falado Orientalism (1979), que Edward Said abriu caminho para um esmerado trabalho que visava a historicizar toda a dimensão política que acobertava os estudos comparatistas desde o seu surgimento. De acordo com Said, o comparatismo lingüístico, com ares científicos, desenvolvido no século XIX por Ernest Renan, por exemplo, mal disfarçava o esforço em provar a superioridade das línguas e das culturas ocidentais. Assim, comentando a produção do orientalista francês, o scholar de origem palestina escreveu: Leia-se praticamente qualquer página escrita por Renan sobre a língua árabe, o hebraico, o aramaico, ou a língua proto-semítica e se estará lendo uma manifestação de poder, com a qual o especialista em filologia orientalista angaria, a bel prazer, exemplos de fala humana, para envolvê-los ali em uma suave prosa européia que aponta defeitos, virtudes, barbarismos, e problemas na língua, no povo e na civilização. (Said, 1979: 142)5 5 Coube-me todas as traduções para trechos de obras utilizadas nesta Tese e que são citadas a partir da versão original. 17 Em suas críticas às idéias trabalhadas por Renan em sua Historie générale et système comparé des langues sémitiques, complementa o ex-professor da Universidade de Columbia nos Estados Unidos, um dos grandes pensadores comparatistas do século XX: Então de um lado há o processo orgânico, biologicamente regenerador, representado pelo ramo lingüístico indo-europeu, enquanto do outro lado há o inorgânico, essencialmente degenerativo processo, ossificado, do ramo semítico: acima de tudo, Renan deixa absolutamente claro que esse julgamento imperioso é feito por um filologista, especialista em oriente, no seu laboratório, para que fique evidente o fato de que as distinções com as quais se ocupa não estão ao alcance e disponíveis para ninguém, a não ser o expert. (Said, 1979: 143) Além das visões de Renan e de outros estudiosos, como o pioneiro Silvestre de Sacy, que ampliaram e estenderam o interesse dos estudos europeus helenistas e latinistas ao Oriente, Said destaca como as culturas árabe e semítica foram retratadas em obras literárias, tratados políticos, textos jornalísticos, guias de viagem e estudos religiosos de autores como Victor Hugo, Gustave Flaubert, François-René Chateaubriand, Caussin de Perceval, Karl Marx e Alphonse de Lamartine. Mesmo com a entrada dos ingleses T. E. Lawrence, Edward William Lane e Sir Richard Burton, vemos apenas a mudança, de acordo com o autor, de uma perspectiva acadêmica para uma perspectiva instrumental no trato com essa cultura nova para o horizonte europeu. Orientalism (1979) deixava patente a necessidade de uma abertura da discussão comparatista para o âmbito de uma reflexão maior e centrada na dimensão cultural do fazer literário, o que viria a acontecer posteriormente com o livro que levou o título de Culture and imperialism (1993). Deve-se destacar que Said, apesar de enfocar a literatura neste seu trabalho, não se esquece, certamente tocado pela onda dos estudos culturais que 18 ganhavam força no cenário acadêmico nos anos de 1970 e 1980, de estender sua discussão a outras searas artísticas, como o cinema, por exemplo 6. O cerne do estudo, no entanto, mostra, no campo literário, uma nova avaliação sobre a construção discursiva empreendida pelo olhar ocidental eurocêntrico em relação ao Oriente, a partir do ideário construído através das letras européias e tendo como pano de fundo o cenário da expansão imperialista européia (inglesa e francesa) e norte-americana. A restrição que se pode fazer a Said é a de que o seu ponto de vista crítico não foge à perspectiva a que o autor tanto anseia opor-se7. Em um ensaio publicado no jornal Folha de São Paulo, o antropólogo Hermano Vianna, ainda que não comentando especificamente os trabalhos de Said, chama a atenção para esse ponto problemático dentro dos estudos que politizam a crítica da cultura: A bibliografia dos mais militantes textos antiimperialistas é uma aula de imperialismo. Os autores básicos são sempre os mesmos: Karl Marx, Theodor Adorno, Eric Hobsbawm, Stuart Hall e por aí afora, ou melhor, cada vez mais para dentro de um certo "cânone" ocidental, aquele que inventou a crítica do Ocidente. Quando aparece um nome "fora-do-eixo", é fácil perceber as razões que motivaram sua escolha: ou leciona numa poderosa universidade européia/norte-americana ou teve algum dos seus livros publicado por essas universidades. Mesmo a recente onda dos estudos "pós-coloniais", com tantos nomes aparentemente indianos ou africanos fazendo sucesso, foi produzida no âmbito das editoras, revistas acadêmicas e seminários dessas universidades. (Vianna, 2003) A crítica a Said não se circunscreve aos teóricos que o comparatista decide destacar, mas diz respeito também às obras literárias que comenta: todas confortavelmente situadas dentro desse cânone que ele tanto ataca. Apesar de deixar um flanco sujeito à restrição e crítica, o teórico consegue, no entanto, apresentar considerações bastante pertinentes, como ao lembrar-nos que: 6 Para uma reflexão sobre os embates entre as pesquisas em Literatura Comparada e os Estudos Culturais, ver “A indisciplina dos Estudos Culturais”. In: Resende, Beatriz. Apontamentos de crítica cultural. Rio de Janeiro: AeroplanoFundação Biblioteca Nacional, 2002, p.9-54. 7 O autor é consciente disto e justifica sua posição principalmente na parte introdutória do livro Culture and Imperialism, p. vi-xxviii. Ver a seção de Referências desta Tese para notação completa da obra. 19 (...) nunca estivemos tão conscientes como estamos agora de como as experiências culturais e históricas são estranhamente híbridas, de como elas compartilham de muitos e contraditórios domínios e experiências, como cruzam fronteiras nacionais, como desafiam a ação policialesca do simples dogma e do barulhento patriotismo. Longe de serem coisas unitárias ou monolíticas ou autônomas, as culturas na verdade assumem mais elementos “estrangeiros”, alteridades, diferenças, do que conscientemente excluem. (Said, 1993: 15) Mesmo tendo excluído de seus estudos sobre cultura e imperialismo os impérios coloniais de Espanha e Portugal, esses comentários sobre as expansões imperialistas britânica, francesa e americana, podem fornecer aparato teórico-analítico para se aplicar à experiência cultural brasileira. Se fizermos uma leitura da obra de Nelson Rodrigues, tendo como ponto de partida as idéias aventadas por Said, podemos chegar à conclusão de que a prática discursiva do escritor brasileiro poderia colaborar para reforçar as observações aventadas pelo eminente scholar comparatista. Afinal, os escritos de Nelson Rodrigues nos apresentam aspectos bastante peculiares para uma avaliação da maneira como a cultura que aparece na “colônia” incorpora elementos da “metrópole”. Trata-se de um desses autores que recria com surpreendente desprendimento toda a tradição cultural em que se formou como leitor. Seja no teatro, ao visitar e reatualizar toda a tradição dramatúrgica grega com passagem pela corrente expressionista de extração alemã, seja na crônica ou no folhetim, ao colaborar para imprimir cor local a duas práticas de escrita de estirpe francesa. Se entendermos ainda os estudos comparatistas como que participando dos Estudos Culturais, a troca da obra do escritor com áreas artísticas como o cinema, as artes plásticas e a ópera, é também patente. Outro aspecto a se salientar é que se uma das correntes fortes dentro do Comparatismo hoje é aquela que, a partir de uma compreensão histórica sobre essa abordagem dos estudos literários, politiza essa prática, não se estará fazendo outra coisa ao focalizar um autor de uma cultura periférica. Mesmo que se tenha de reconhecer que 20 se trate, em certa medida, de um cânone dentro dessa cultura. Nelson Rodrigues está entre os autores mais estudados no âmbito universitário brasileiro e já começa mesmo a conquistar espaço em universidades estrangeiras (especialmente como dramaturgo). O trabalho que será levado a efeito aqui é, sob esse aspecto, bastante “conservador”, uma vez que não há nada mais tradicional no trato do tema do que uma investigação literária, como a que aqui se fará, que reforça a definição e a delimitação de autor e obra. Cuida-se no texto que se segue de destacar e dar uma visão abrangente sobre qual a extensão e as particularidades da contribuição de Nelson Rodrigues como escritor: jornalista, crítico, dramaturgo, folhetinista, contista e cronista. A investigação discute e situa o leitor frente ao inventário dos textos do autor ao mesmo tempo em que comenta e analisa sua produção publicada em periódicos impressos, escrita para ser encenada e editada em livro. São alguns os autores que assinalam a influência que a carreira e a prática jornalística de Nelson Rodrigues exerceram sobre sua criação ficcional. Uns outros tantos críticos não custaram a identificar uma troca constante entre os escritos ficcionais do escritor-contista e suas peças de teatro, principalmente os escritos que assinava na coluna “A vida como ela é...”. No campo da exegese acadêmica existe mesmo uma percepção, recorrente por parte dos estudiosos que se voltam para a obra de Nelson Rodrigues, sobre a inevitabilidade de ter de se considerar suas criações como um todo orgânico, separado apenas pelas particularidades dos espaços de criação literária em que o escritor se exercitou8. 8 Entre os estudiosos da obra de Nelson Rodrigues que enfatizam esse aspecto ver, em minha Referência Bibliográfica, Rosolem, 1995, e Marques, 2000. 21 Em função de tal percepção é que a pesquisa que aqui se inicia se vê compelida a dar conta da obra do escritor como um todo, ainda que isso venha a ocorrer com a aquiescência de que não será possível incorrer em análises tão profundas como os estudos que se restringem ao espaço particularizado de um dos segmentos de sua criação, ou mesmo de algumas obras escolhidas de alguns desses campos. A extensão do corpus da produção jornalística do autor, por si só, é tão vasta que algumas delimitações com relação ao que será aqui considerado, para propósito de exame e análise, se fazem necessárias. Qualquer um que se volte com detença para a obra de Nelson Rodrigues publicada em jornal está se lançando à contemplação de um abismo, e um abismo de proporções inimagináveis. Nelson produzia com velocidade e precisão surpreendentes, o que fazia com que tudo que sua imaginação concebesse fosse direto para a linha de montagem jornalística e para a subseqüente impressão com extrema rapidez. Como escreveu diariamente (às vezes para dois, três veículos), erigiu uma obra extensíssima (talvez a obra mais extensa de um autor brasileiro) que ainda deve tomar alguns anos e o tempo de vários pesquisadores para ser totalmente arrolada. É possível mesmo se dizer que teremos de aguardar muito tempo, talvez uns vinte anos, para termos a edição completa de seus escritos. Portanto, é necessário uma delimitação que coloque em patamares um pouco mais plausíveis o presente empreendimento. Assim, tratar-se-á de tomar como base de análise os textos do autor que tenham sido editados em livro até a conclusão do trabalho. Isso não isenta a presente pesquisa de se ocupar do levantamento de fontes primárias que sirvam ao propósito de confronto e discussão para o preciso estabelecimento do que se 22 encontra editado comercialmente e para o acréscimo de comentários que se julge pertinentes. Vamos a uma breve exposição que delineie o roteiro da Tese. Depois dessa introdução que situa o quadro maior de inserção de meu estudo, dedica-se o segundo capítulo a um apanhado sobre as investigações e estudos que dão conta da obra e da fortuna crítica construída em torno de cada um dos segmentos da produção rodrigueana. Contemplam-se dois planos distintos nesta investida: a discussão sobre o inventário dos escritos do autor e a análise sobre os debates conduzidos por jornalistas, pesquisadores, analistas, críticos, exegetas que se voltaram para a análise de seus escritos. Do apanhado que inventaria a obra e a fortuna crítica, assinalam-se os pontos que, a partir das leituras feitas, se destacaram como aspectos centrais na produção de Nelson Rodrigues. São eles: o gosto por envolver suas narrativas em uma dimensão mítica, a busca do questionamento sobre os limites entre os discursos factual e ficcional e o interesse em trabalhar um pensamento que se apóia no paradoxo como forma de expressão. Cada um desses aspectos foi em seguida aprofundado separadamente em exame teórico pontual que desenvolveu cada tópico em um terceiro capítulo. Assim, para discutir a dimensão mítica recorri principalmente ao Mircea Eliade de Mito e realidade (2000 [1963]), ao Roland Barthes de Mitologias (2003 [1957]), e ao Umberto Eco de Apocalípticos e integrados (2000 [1964]). No que diz respeito à discussão sobre os limites em facto e ficção, partiu-se do Luiz Costa Lima de Dispersa demanda, 1981, e de Terra ignota – a construção d´Os sertões, 1997, e recorreu-se ainda ao Leopoldo Bernucci de A imitação dos sentidos (1995). A discussão foi complementada pelo Foucault de A verdade e as formas jurídicas (2003 [1973]) e, para focar-se o aspecto 23 jornalístico, pelo Lage de Ideologia e técnica da notícia (2001 [1979]). Para discutir os traços de um pensamento paradoxal servi-me de Gilles Deleuze e de sua obra A lógica do sentido (2000 [1969]), do Paul Ricoeur de A metáfora viva (2000 [1975]) e do Umberto Eco de Semiotics and the Philosophy of Language (1986 [1984]). Os conceitos trabalhados e refinados neste capítulo foram projetados dentro da obra do dramaturgo, do repórter, do folhetinista, do contista e do cronista, em um quarto capítulo de análises. Esse é o momento de maior interesse para o leitor leigo. É quando se assinala a riqueza da criação de narrativas admiráveis em sua diversidade, se inventaria a galeria de personagens incontáveis que trafegam entre o real e o ficcional e a fonte de máximas de um escritor que sabia como ninguém criar e recriar aforismos. Uma discussão sobre as características da linguagem em que são expressas essas investidas do autor foi desenvolvida no correr da análise para cada segmento de prática da escrita rodrigueana. Há, por fim, as considerações finais e os encaminhamentos que surgem em um quinto capítulo. Acompanha a Tese, em anexo, um CD que funcionará como um inventário ilustrado com alguns textos assinados por Nelson Rodrigues e outros supostamente de sua autoria, muitos deles inéditos em livro. O CD em anexo traz ainda todo o material publicado em periódicos e usado na Tese e que seria de difícil acesso para que se pudesse confrontar o que é comentado na pesquisa. Essas são em linhas gerais as diretrizes do estudo que o leitor tem em mãos. 24 2 — Escritos, Estudos e Pesquisas sobre o Autor e sua Obra The longer one studies life and literature, the more strongly one feels that behind everything that is wonderful stands the individual. Oscar Wilde No ensaio em que historia o desenrolar da prática de Crítica Literária no Brasil, Flora Süssekind (2002) narra em detalhe como se deu a passagem da crítica rasteira, impressionista e enciclopédica, feita no rodapé dos jornais, para a crítica mais densa elaborada dentro do âmbito do espaço universitário. A autora identifica e destaca o papel paradigmático dentro desse quadro desempenhado por alguns intelectuais. De um lado, menciona pessoas como Álvaro Lins e Oswald de Andrade, que representariam o crítico à moda antiga, trabalhando suas resenhas e críticas com o ímpeto obstinado dos escritores personalistas que gostavam de exibir erudição nos jornais. E de outro, Afrânio Coutinho e Antonio Candido, representando o pensamento crítico saído dos bancos das primeiras turmas das universidades de Filosofia brasileiras, que pregavam em seus escritos a necessidade de se submeter a produção cultural a uma análise mais densa e amparada em arsenal consagrado no meio acadêmico9. 9 Para um aprofundamento da questão discutida por Süssekind, consultar o relato de Antonio Candido sobre o concurso à cadeira de Literatura Brasileira da Faculdade de Filosofia de São Paulo, em 1944. Candido disputava a cátedra com outros seis candidatos, entre eles Oswald de Andrade e Souza Lima. No concurso, Candido terminaria em primeiro lugar junto com Souza Lima e este último seria o escolhido para efeito de desempate. Está em “Mário e o concurso”, In: Candido, Antonio. Recortes. São Paulo, Companhia das Letras, 1996, p.241-4. Consultar ainda as biografias de Álvaro Lins e Afrânio Coutinho. Os dois concorreram e chegaram a cátedras de Literatura no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Para tanto, checar a trajetória biografica desses dois ex-membros da Academia Brasileira de Letras no endereço da instituição na Internet: http://www.academia.org.br/. 25 Afrânio Coutinho e Antonio Candido por sinal vão ser dois intelectuais importantes para a difusão dos estudos literários no Brasil. Candido com a posição central que teve na formação de quadros de estudiosos de Literatura dentro da Universidade de São Paulo, e Coutinho por sua luta pela criação da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dentro do panorama traçado por Süssekind, durante os anos de 1940 e 1950 houve uma queda de braço entre os críticos-jornalistas, que exercitavam sua escrita em investidas personalistas, e os críticos-scholars, que desenvolviam estudos com vistas à especialização acadêmica, com vitória para o segundo grupo. A supremacia da perspectiva do crítico-scholar foi tão grande que levou, segundo a autora, os jornalistas ao longo dos anos de 1960 a criarem uma barreira para restringir o acesso de especialistas acadêmicos ao meio jornalístico com o decreto que regulamentava o exercício da profissão. O quadro descrito por Süssekind funciona como cenário para se entender como se tem dado a apresentação, a apreciação e os estudos das obras do escritor Nelson Rodrigues. Durante os anos de 1940, 1950 e 1960, as obras de Nelson foram discutidas nos jornais. Nas décadas de 1970 e 1980, e com a consagração do espaço universitário como o lugar para análises de maior complexidade, suas peças passam a ser objeto de trabalhos monográficos, dissertações de Mestrado e teses de Doutorado. O final dos anos de 1980, a década de 1990 e o novo século, assinalam o interesse pelas reportagens, críticas, folhetins, crônicas e contos do autor. 2.1 – O Dramaturgo 26 É uma prática corriqueira no mundo inteiro o ato de se reverenciar os escritores com alguma estatura dentro de certa tradição literária com a publicação de suas obras completas. O autor com um mínimo de projeção dentro da vida cultural passa rapidamente das compilações, antologias, analectos, para o espaço mais nobre dos volumes integrais de seus escritos. Ana Cristina César (1999) já chamava a atenção, três décadas atrás, para o fato de que a Literatura foi durante muito tempo a única manifestação cultural que era ensinada como disciplina obrigatória na formação básica das novas gerações de estudantes, o que explica e justifica indiretamente esse costume editorial10. O espaço mais consolidado dos estudos sobre os escritos de Nelson Rodrigues é, também, o que em primeiro o escritor conheceu projeção: o universo de suas peças teatrais. O seu teatro foi também o primeiro segmento de sua produção como escritor a ganhar uma obra de maior fôlego e que açambarcasse suas criações. Coube a Pompeu de Souza, em 1965, capitanear tal empreitada. Companheiro de Nelson Rodrigues em trincheiras jornalísticas, Pompeu de Souza foi o responsável por preparar a apresentação da edição do Teatro quase completo, de 1965. Além das peças que Nelson havia escrito até então, a primeira antologia de suas obras teatrais vinha enriquecida por textos jornalísticos e estudos curtos de vários críticos da época. Essa é uma tradição que seguiria com cada nova edição das antologias e mesmo dos volumes integrais de suas peças. Posteriormente e, desta feita, com o acompanhamento do autor, Sábato Magaldi prepararia, na década de 1980, a edição definitiva do Teatro completo de Nelson 10 As considerações de Cesar estão circunscritas ao período que comenta: a grade curricular de ensino até a década de 1970, época em que preparava sua dissertação de Mestrado. 27 Rodrigues (em quatro volumes), que já teve várias edições pela editora Nova Fronteira (sendo que uma novíssima está chegando ao mercado livreiro no momento em que esta Tese é escrita) e uma pela prestigiada editora Nova Aguilar; todas enriquecidas por textos jornalísticos e trechos de estudos universitários realizados sobre o dramaturgo e sua obra. 2.1.1 – A Apreciação dos Jornais Antes da chegada do Teatro quase completo (1965), as peças rodrigueanas foram muito discutidas nos jornais. Todas as peças de Nelson Rodrigues, especialmente após a aclamação de Vestido de noiva, despertaram intenso interesse dos críticos à medida que eram escritas. Era o que ocorria independentemente do fato de serem encenadas ou censuradas. Como ganhou notoriedade com Vestido de noiva e como causou grande polêmica com seu universo dramatúrgico a partir de então, suas peças foram sempre assunto de muitos debates e críticas nos jornais. Na verdade, desde sua estréia com A mulher sem pecado, em dezembro de 1942, a produção dramatúrgica de Nelson Rodrigues já obteve a atenção dos jornais com a alternância de resenhas positivas e negativas. Apesar de uma chamada entusiasmada convidar os leitores de O Globo para acompanharem uma “jovem e certamente vigorosa vocação de teatrólogo no Brasil” em uma peça escrita “com acentuada e persistente investigação psicológica”, o crítico de teatro do jornal na década de 1940, Bandeira Duarte, não se mostraria tão receptivo à estréia do dramaturgo em sua resenha à página 5, do dia 11 de dezembro de 1942. O crítico se reportaria da seguinte forma ao drama assistido: (...) Nelson Rodrigues quis ser original sem refletir que o teatro é uma arte com três mil anos de idade vividos entre aquelas três paredes fatais, regidos pelas mesmas regras e pelas mesmas situações – e nisso está toda a sua beleza, toda a sua força. Esqueceu que 28 quando o palco perde o contato com a realidade, perde toda a sua razão de ser e todo o seu encanto. Produziu uma obra “fora do comum”, como disse alguém atrás de nós e como diziam as notícias, antes da estréia? Por que? ... Tudo o que ali está, pode ser encontrado alhures. Um pouco de Pirandello, com sua humanidade abstrata; um pouco de Ibsen, na minúcia torturante dos “Espectros”; um pouco de cinema para explicar e objetivar o fenômeno do pensamento. Em posição diametralmente oposta e com muitos elogios, apareceriam os comentários de um escritor de peso como Manuel Bandeira. Escreveu o poeta em A Manhã, no começo de 1943, algumas semanas depois de a peça ter entrado em cartaz no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro: A Mulher sem Pecado interessou-me desde as primeiras cenas. Senti imediatamente no autor a vocação teatral.(...) Ao sair do teatro, tomei conhecimento da reação do público, que de lá saiu discutindo, discordando, discorrendo. Remexido enfim. Bom teatro o que sacode o público. Nelson Rodrigues sacode-o, e tem força nos pulsos. (Bandeira, 1989: 389) Com Vestido de noiva, que estreou em dezembro de 1943 (um ano depois de A mulher sem pecado), o escritor conheceu uma consagração rara para um autor ainda iniciante (tinha apenas 29 anos na época). Na revista O Cruzeiro, de 10 de junho de 1944, Manuel Bandeira voltava a festejar o novo dramaturgo. Dizia o poeta, do texto que lera em primeira mão antes de sua encenação, que aconteceria no Teatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro: Conhecia-o então, só de leitura. No meio da emoção que me despertavam aquelas cenas de tão profunda penetração no subconsciente humano, eu me perguntava, incerto como Guarnieri com a partitura de Villa-Lobos se a peça de Nelson resistiria à prova do palco. A resposta está dada com os aplausos entusiásticos do público que enchia o Municipal em duas noites que se podem classificar de memoráveis na história do nosso teatro. Vestido de Noiva ganhou cem por cento com a realização cênica, e não se diga que foi apenas um triunfo da mise-em-scène de Santa Rosa e Ziembinski, e direção de Adaucto Filho, do talento dos amadores, entre os quais cumpre destacar a atuação das duas protagonistas, as senhoras Evangelina Rocha Miranda e Stela Perry. O drama em si adquiriu extraordinário revelo, concretizou-se em inesquecíveis imagens plásticas, assumiu aos nossos olhos iluminados uma realidade, ou antes, uma super-realidade mais forte, mais prestigiosa, mais humana. (Bandeira, 1989: 392-3) 29 Com sua terceira peça, Álbum de família, e apesar do inconveniente da censura que impossibilitou sua montagem, Nelson voltou a ter a adesão de uma parcela significativa da intelectualidade brasileira, o que acabou por levar a obra, interditada em 17 de março de 1946, a ser editada em livro em julho do mesmo ano (junto com Vestido de noiva). Um intelectual de prestígio como Prudente de Morais Neto, ou Pedro Dantas, em texto de apresentação do livro, condena a censura reafirmando a excepcionalidade da nova peça do autor e prega a liberdade criadora do artista: Não se trata, pois de situá-lo no deserto, destacando-o pelo contraste, nem mesmo de estudá-lo na sua técnica, tão extraordinariamente sugestiva, tão poderosa, criadora e reveladora de humanidade e lirismo sobre a forma específica que o teatro exige e determina. Trata-se, isso sim, de examinar mais uma vez a propósito deste Álbum de família, que é até agora, a maior criação teatral, dele e nossa, o eterno problema ainda não resolvido do direito de criação artística e suas limitações, por motivos de ordem moral e social. (Dantas, 1946: 9) Se obtinha apoio de uma ala da intelectualidade, Nelson Rodrigues conheceria também o ataque de críticos de renome como aquele que era apontado por Carlos Drummond de Andrade como o imperador da crítica no período: Álvaro Lins. Muitos estudos pecam em não assinalar a “isenção” dos ataques de Álvaro Lins. E na verdade o futuro professor visitante da Universidade de Lisboa e embaixador brasileiro em Portugal tinha motivos de sobra para investir contra Nelson em todas as latitudes. Ao criticar A mulher sem pecado, comentou Lins: Há três anos, quando publiquei a História Literária de Eça de Queiroz, um jornal divulgava contra meu livro uma crônica alegre que me chamou a atenção. Vim a saber depois que o seu autor era Nelson Rodrigues. Mas havia na crônica ao mesmo tempo tanto espírito e tamanha leviandade que não me trouxe sensação de aborrecimento. Agora, um dia destes, recebi os originais de uma peça de teatro de Nelson Rodrigues: A mulher sem pecado. A circunstância de não ser crítico de teatro – isto, segundo creio, não me impede de transmitir a impressão que me veio dessa leitura, em seguida da apresentação da peça no Teatro Carlos Gomes pelos artistas da Comédia Brasileira. Não se deve esquecer que teatro, antes de tudo, é literatura. Apresenta, além disso, a realização de Nelson Rodrigues certos aspectos novos entre nós, e tão de acordo com os meus 30 ideais artísticos, que julgo como que um dever afirmar a significação dessa estréia. (Lins, 1963: 291-2)11 Em Vestido de noiva, Lins manteria o entusiasmo, mas de Álbum de família afirmaria: “é vulgar na forma e banal na concepção”. Para acusar decisivamente: “(...) só poderá despertar prazer ou interesse lascivo naqueles que estejam atingidos por alguma perversão nos últimos graus da baixeza humana” (Lins, 1963: 324-31). Deve-se assinalar que o crítico deixa claro que sua opinião não se traduz em censura à peça: Amigo do Sr. Nelson Rodrigues – e mais do que isto: um crítico profundamente interessado no destino da sua capacidade criadora dentro do teatro brasileiro – a minha tristeza fica enorme ao sentir-me impossibilitado de oferecer solidariedade literária a uma peça que se publica com a nota de que foi “interditada pela censura”. No entanto, de escritor para escritor, no plano da ética profissional, desejo manifestar publicamente a minha solidariedade ao Sr. Nelson Rodrigues, como faria em relação a qualquer autor, amigo ou inimigo, cuja obra fosse atingida pelo veto de um poder incompetente e ilegítimo. E a censura feita por simples funcionários do Estado, policiais ou não, constitui tipicamente um poder incompetente e ilegítimo em qualquer matéria artística. (Lins, 1963: 324-35; aspas do original) Como bem salienta estudo recente (cf. Facina, 2004), o que começaria a predominar na imprensa a partir de então é a polêmica em torno da interdição das obras teatrais de Nelson Rodrigues (além de Álbum de família, o autor também teria censuradas as peças Anjo negro e Senhora dos afogados) e os ataques e defesas das mesmas. E eram polêmicas das quais o próprio autor participava com empenho. Na revista O Cruzeiro, de 10 de agosto de 1946, à página 24, podemos reconhecer Nelson Rodrigues recorrendo ao espaço e à assinatura de Frederico Chateaubriand (sobrinho de Assis Chateaubriand) para 11 Localizei um artigo com uma resenha sobre a História literária de Eça de Queiroz, de Álvaro Lins, publicado em O Globo. A resenha, no entanto, não apresenta essa “crônica alegre” de que fala Lins e nem tampouco parece saída da pena de Nelson Rodrigues. Para ver o texto, consultar o CD anexo a esta Tese que traz este artigo publicado em O Globo, no dia 28 de outubro de 1939, à página 4. 31 defender Álbum de família dos comentários, pouco elogiosos, que Álvaro Lins havia dedicado à peça. Conhece o leitor o rodapé do senhor Álvaro Lins sobre Álbum de Família? É uma página rara e digna do nosso espanto e da nossa meditação. Página, digo mal: é antes um espetáculo gratuito que o crítico oferece e que ninguém deve perder. Eis um julgador que se dispensa de qualquer isenção, de qualquer equilíbrio e investe, alucinado contra a obra de arte. Nenhuma medida, nenhuma lucidez, mas uma fúria cega, dessas que levam às piores gafes críticas. Quem duvidar que consulte o folhetim em apreço e diga se o tom de impetuoso mestre é ou não passional? Parece-me evidente que simples motivos literários não produziriam jamais singular furor. Há, no caso, outras razões, misteriosas, inconfessáveis, que talvez o Sr. Álvaro Lins deseje levar para o túmulo. Uma dessas razões é o seu ódio ao Sr. Prudente de Morais Neto – ódio que ele cultiva amorosamente, dia após dia. Querem prova? Digam ao novel ensaísta recifense: “Hoje, eu vi o Prudente”. Não precisa mais, só isso. Tanto basta para que o Sr. Álvaro Lins rilhe os dentes, dê patadas. “Por quê?”, indagará o leitor, meio assustado. É simples: há tempos o Sr. Prudente de Morais Neto deu entrevista ao suplemento de O Jornal, na qual entrevista declarou, dois pontos: que “a maior vocação crítica do Brasil” era o Sr. Antonio Candido. O Sr. Álvaro Lins considerou isso um torpe insulto, a ele, Álvaro, uma tenebrosa injúria, direta e crudelíssima. Dizem que uivou à lua – coisa que ainda está para ser confirmada. As provocações que se reconhecem nessa primeira polêmica, e nas muitas que se seguiriam a ela, são importantes porque mostram que Nelson Rodrigues estava se atirando ao debate aberto de idéias, iniciativa pela qual sempre nutriu muito gosto, ao mesmo tempo em que questionava com suas criações os parâmetros estéticos e comportamentais da época. Outra pessoa com quem Nelson mediria forças, e que investiria contra o autor, dando início a uma briga pessoal (um dos muitos duelos que Nelson travaria dentro da imprensa), seria Paulo Francis no começo de sua carreira como crítico teatral do jornal Diário Carioca. Francis resenhou a primeira peça após o ciclo mítico, Perdoa-me por me traíres, que estreou em junho de 1957. O jornalista estava também debutando em suas atividades de crítica teatral em substituição a Francisco Pereira da Silva, que ocupava 32 antes o posto de crítico de teatro do jornal12. Francis é ácido em seus comentários na edição do dia 22 de junho de 1957 do Diário Carioca. Diz ele à página 6: Não há defensores de Perdoa-me por me traíres que possam ser levados em consideração. Nelson nada escreveu de tão chulo até hoje. Não nos referimos ao conteúdo. Tudo é teatro desde que seja tratado como tal. Neste contexto, a obscenidade vale tanto quanto quem a manipula. O exemplo disso Nelson já nos deu no passado: filho amava mãe na Senhora dos afogados. Não escondia seus sentimentos e os anunciava em linguagem de sarjeta. Mas que imagens! Poesia “suja”, se quiserem, mas poesia ... Perdoa-me por me traíres está preso à sarjeta. Dela não se alça senão até o meio-fio. Sucedem-se abortos, poluções, adultérios etc., com a crueza da “Vida como ela é ...”, mas, não chegam até nós. Contemplamos indiferentemente a paisagem. Vemos as criaturas de Nelson como se vêem a si próprias nada mais. Não sem razão, a peça seguinte de Nelson, Viúva, porém honesta, escrita também em 1957 e com estréia em setembro, traria entre seus personagens um crítico de teatro débil mental (batizado com o nome da atriz Dorothy Dalton), um ex-interno do Serviço de Assistência ao Menor (ou SAM, a Fundação de Assistência e Bem-Estar do Menor da época). A nova peça seria objeto de outra investida da pena de Francis no dia 22 de setembro de 1957, à página 4: “Há o diretor de jornal (baseado em quem por sinal?), que “vende o Brasil” e demais clichês de pasquim, pai da viúva e responsável, pelo desenrolar da trama. Nelson está visivelmente interessado nele, como prova de seu intelecto. O resultado é consternador. Jamais saímos da polêmica do “Diário” de São João de Meriti. E isto afeta a substância de comédia macabra do texto, o qual, aliás, o autor delegou o segundo plano.” Afora a controvérsia, a abordagem dos jornais faz as avaliações de praxe, com o resumo do enredo e inevitáveis comentários sobre as qualidades técnicas da direção, do cenário e dos atores. Mas as críticas jornalísticas vão aos poucos começar a se adensar 12 Para as informações sobre a trajetória de Paulo Francis como crítico de teatro consultar Francis, Paulo. Trinta anos esta noite – o que vi e vive – 1964. São Paulo, Companhia das Letras, 1995, particularmente p. 70-5. 33 quando surgem artigos mais extensos de intelectuais e críticos como Hélio Pellegrino, Bárbara Heliodora, Sérgio Milliet e Paulo Mendes Campos, entre muitos outros. Hélio Pellegrino, em artigo publicado em O Jornal, em 1961, em seguida à estréia da peça Boca de Ouro, vai propor a divisão das obras teatrais de Nelson Rodrigues em duas fases: a mítica e a balzaquiana. O que se dá na passagem de uma fase a outra, confundindo os críticos da época, segundo Pellegrino, é que o autor faz com que “seus personagens desçam do Olimpo e se plantem no chão do mundo” (Pellegrino, 2003: 217). De acordo com o psicanalista, essa mudança irá acontecer, no entanto, sem que haja prejuízo para a dimensão mítica. Essa perspectiva que enfatiza a dimensão mítica, endossada na mesma época pelo poeta e romancista Lúcio Cardoso (2003), seria ainda retomada no futuro por Sábado Magaldi, quando da divisão proposta pelo hoje membro da Academia Brasileira de Letras para a apresentação do Teatro completo de Nelson Rodrigues (1981a, 1981b, 1985, 1989). Em comum acordo com o dramaturgo, que se encontrava ainda vivo quando Magaldi iniciou o estabelecimento da obra dramatúrgica do teatrólogo, ficou decidido que as peças seriam agrupadas sob as rubricas de míticas 13, psicológicas e de tragédias cariocas. Bárbara Heliodora em mais um artigo de fôlego sobre o teatro rodrigueano, publicado no “Suplemento Literário”, do Jornal do Brasil, em duas partes, em 1961, aproxima o Nelson Rodrigues de O beijo no asfalto do Kafka de O processo. Segundo a decana da crítica teatral jornalística brasileira, em sua militância da década de 1960, tanto 13 A ênfase na dimensão mítica, assinalada por vários comentadores, está presente na peça e é destacada pelo próprio Nelson Rodrigues, o que pode-se entender como um sinal de que o autor condiciona a recepção de sua obra. Essa perspectiva será reforçada em relação aos dois outros tópicos a serem assinalados: o que trata sobre o embate entre fato e ficção e sobre o gosto de Nelson pelo paradoxo. Na rubrica inicial, Nelson anota: “(Boca de Ouro, banqueiro de bicho, em Madureira, é relativamente moço e transmite uma sensação de plenitude vital. Homem astuto, sensual e cruel. Mas como é uma figura que vai, aos poucos, entrando para a mitologia suburbana, pode ser encarnado por dois ou três intérpretes, como se tivesse muitas caras e muitas almas. Por outras palavras: diferentes tipos para diferentes comportamentos do mesmo personagem. Ao iniciar-se a peça, Boca de Ouro ainda não tem o seu nome legendário”. (Rodrigues, 1985: 261) 34 Arandir, protagonista do drama de Nelson, quanto Joseph, protagonista kafkaniano, repartiriam o destino trágico dos heróis gregos, “porque ambos sofrem e morrem tentando defender seu direito a viver de acordo com suas convicções, a despeito de todas as pressões feitas para que abandonem, e defendendo a dignidade do homem, preferindo morrer com dignidade do que viver sem ela” (Heliodora, 2003: 223). Não dá para encerrar esse apanhado sem falar na contribuição de Pompeu de Souza. Ele foi o primeiro a perceber algo que é por demais inovador na obra teatral nelsonrodrigueana. Trata-se da intuição de como as peças do escritor foram concebidas amparadas em uma percepção das várias cenas que parecem anteceder o próprio ato de escrevê-las. Daí certamente deriva a dificuldade que um Manuel Bandeira teve de entender como resultaria uma peça como Vestido de noiva, antes de sua montagem. Pompeu de Souza chamava a atenção para o fato de que se trata de um autor teatral “que “ouve” e “vê” o texto dramático que escreve” (Souza, 1989: 332), além de lembrar como há em sua obra a incorporação de “técnicas “teatralizáveis” de outras artes: o cinema, o rádio, as artes plásticas” (Souza, 1989: 332). Assinala ainda como as técnicas modernas de palcos móveis são empregadas em paralelo à utilização de recursos dramatúrgicos tradicionais como o coral, o coro e o corifeu do teatro grego. 2.1.2 – A Avaliação Universitária Todo entusiasta da obra teatral de Nelson Rodrigues que deseje investigar seu universo dramatúrgico deve começar seus trabalhos por um estudo crítico que é uma verdadeira ducha de água gelada em qualquer euforia com relação ao universo do drama 35 rodrigueano. Trata-se do longo e detalhado ensaio de Ronaldo Lima Lins intitulado O Teatro de Nelson Rodrigues: uma realidade em agonia (1979), o primeiro trabalho acadêmico de maior fôlego a escrutinar as peças do dramaturgo recifense (e não carioca como o ensaísta repete por todo seu texto). O estudo, realizado em Paris, pretende desnudar e questionar as idéias que o autor teatral se esforçaria em esconder nas entrelinhas das falas de suas tragédias e dramas melodramáticos. A conclusão de Lima Lins é uma só: por trás do grande artista se ocultaria um moralista implacável. Ronaldo Lima Lins analisa cinco peças das dezesseis que Nelson Rodrigues havia escrito quando o crítico iniciou seu estudo. São elas: Vestido de noiva, A falecida, Boca de Ouro, Toda nudez será castigada e Os sete gatinhos. Em sua investigação, Lima Lins desqualifica o excesso de entusiasmo pelas novidades formais da segunda peça de Nelson Rodrigues. Diz o ensaísta: “Vestido de noiva não leva a ousadia de sua concepção formal aos terrenos mais escorregadios do inconsciente ou do subsconsciente, como exigiria, talvez, uma platéia mais habituada aos métodos freudianos e psicanalíticos de interpretação da mente e da realidade. Se chegasse a tanto, teria criado, sem dúvida, um exercício de surrealismo, demasiado avançado para ser aceito e aplaudido pelo Brasil de 1943” (Lima Lins, 1979: 63). O preconceito grassa solto nesta avaliação sobre a fruição do público que freqüentava teatro na época. Como reagiriam Manuel Bandeira, Drummond e outros representantes de nossa intelligentsia a esses comentários? Mas o ponto central do longo ensaio de Lima Lins é bem outro. A intenção foi fazer uma apreciação, de abordagem sociológica (a voga de então), que mostrasse as fragilidades do drama rodrigueano: uma dramaturgia a serviço de uma moral conservadora para o estudioso. Afirma o texto: 36 De fato, uma das características marcantes nos personagens de Nelson Rodrigues é a compulsão pela vulgaridade, a impossibilidade de evitar excessos. Por um lado, representam elas, em geral, pessoas de moral burguesa que, embora conscientes das normas corretas de agir (têm o código na cabeça), não resistem a um impulso interior mais poderoso do que suas noções puritanas e mergulham, esparramam-se em algum comportamento tido como sujo dentro de suas próprias concepções. Quase sempre, o fenômeno que então vemos suceder é o de uma moral extremamente puritana e ortodoxa rasgada e corrompida por aqueles que mais se deleitam em defendê-la ou por pessoa ligada a este. Da parte do autor, isso não significa uma crítica antipuritana à sociedade brasileira. A crítica pode estar implícita, mas em momento algum de sua carreira adotará ele uma atitude revolucionária dentro de semelhante perspectiva. O autor também é um moralista. (Lima Lins, 1979: 72) Quando identifica uma aproximação das rubricas e preocupações formais da dramaturgia rodrigueana com as de Bertold Brecht, no que se refere à desnaturalização das encenações propostas por ambos os dramaturgos, por exemplo, o ensaísta corre em socorro do segundo para separar o que em sua visão os difere: Nelson Rodrigues, por outro lado, não tem em mente os mesmos objetivos do dramaturgo alemão ao procurar neutralizar o fenômeno da empatia e despertar o público para uma atitude ativa. (...) usa as teorias “não aristotélicas” filtradas por sua própria experiência e por sua concepção pessoal de teatro. Quase sempre, deixa-se dominar, por exemplo, por aquilo que constitui ao mesmo tempo o seu principal defeito, quando mal empregado, e sua qualidade mais forte, quando usado com moderação: a tendência ao sarcasmo. (Lima Lins, 1979: 87) Lima Lins aproxima Boca de Ouro de Macunaíma e de Serafim Ponte Grande como parentes do plantel de anti-heróis nacionais que, segundo o autor, refletem a tendência da sociedade brasileira para o masoquismo. Toda nudez será castigada e Os sete gatinhos, por sua vez, nos mostram núcleos familiares em agonia. E para fechar seu estudo que, deve-se destacar, apresenta a mais detalhada, minuciosa e bem definida descrição dos enredos das estórias dramáticas rodrigueanas, Lima Lins conclui: “(...) examinando seu teatro, inevitavelmente temos de pensar em termos globais de sociedade e literatura. Nelson Rodrigues pode não ser a única. É sem dúvida uma das tendências e proposições da realidade” (1979: 217). 37 Uma monografia, da jovem (Maria) Flora Süssekind, anterior aos trabalhos de Lima Lins, que aparece entre as vencedoras do I Concurso Nacional de Monografias, em uma iniciativa do MEC, da Funarte e do Serviço Nacional de Teatro, em 1976, já mostrava a complexidade do teatro rodrigueano. Na “Nota da Autora”, Süssekind anuncia: “Com este trabalho, o que se procurou foi um afastamento da posição habitualmente moralista da crítica diante da obra teatral de Nelson Rodrigues. Em nenhum momento houve um desejo de aproximação com relação a declarações, opiniões relativas à própria obra ou qualquer outra intenção manifesta do autor estudado. Foi unicamente a partir de suas obras que se tentou construir um ponto de vista crítico, outro que não estritamente moralista” (Süssekind, 1976: 7). Logo em seguida Süssekind esclarece suas proposições: “No teatro de Nelson Rodrigues, o que se vê é uma abordagem crítica da estrutura social brasileira, cujo sistema de relações e cujos valores de base têm sua aparente segurança abalada. Para os que violam as regras dessa estrutura as saídas normalmente delineadas em suas peças são a morte e/ou a loucura, ou seja, uma exclusão possibilitada por esse mesmo sistema social” (Süssekind, 1976: 13). O estudo ensaístico da autora leva em conta as quinze peças contidas no Teatro quase completo. Devido a sua extensão (pouco mais de trinta páginas), no entanto, não consegue aprofundar um universo dessa amplitude. De qualquer modo, Süssekind investe por alguns tópicos que são pertinentes para o presente estudo. Vale a pena destacar quais são eles. A autora discute, por exemplo, como são retratadas as relações interpessoais nas peças do escritor no que toca a três aspectos: a traição (efetiva ou ideal), o antagonismo 38 (oposição entre os tipos retratados) e a exploração (sexual e econômica), todos trabalhados por um “denominador comum” – a violência. Depois de descrever as traições, nas várias peças, bem como os antagonismos entre os personagens e mundos retratados, assinala como todas as interdições sexuais, transmitidas socialmente, são violadas, no que toca ao relacionamento de pessoas de raças e classes diferentes, e do mesmo sexo. Tudo o que é socialmente proibido. Nesse quadro, a família surge como “elemento disciplinador” e por isso mesmo o descumprimento do tabu do incesto também será assunto das peças. Süssekind falará ainda de três outros tópicos que interessarão adiante. O primeiro deles diz respeito à presença dos faits divers, que estão “disseminados em todo o teatro de Nelson Rodrigues”; o segundo, ao fato de o dramaturgo retomar “benquistos temas da dramaturgia ocidental” para desagregá-los (inversão dos triângulos das peças Hamlet, de Shakespeare, e Fedra, de Racine, em Toda nudez será castigada); e, finalmente, a identificação do uso de entimemas que serão “um dos procedimentos característicos na construção de enunciados do teatro” do autor. Quanto ao último ponto, Süssekind nos diz que, se o “silogismo retórico está presente no pensamento popular, no que é publicamente aceito”, o entimema rodrigueano “denuncia o procedimento pelo qual se forma e reafirma o senso comum”, dando “ao público a possibilidade de enxergar como, sendo gerados da mesma maneira, seus pressupostos morais e opiniões podem esconder absurdos iguais” (Süssekind, 1976: 32). Coube a Sábato Magaldi elaborar dois dos mais importantes e respeitados trabalhos sobre a dramaturgia rodrigueana: a extensa apresentação que preparou como introdução a todas as peças do autor, e que abre cada um dos quatro volumes do Teatro 39 completo de Nelson Rodrigues (1981a, 1981b, 1985, 1989)14 e a tese de livre docência Nelson Rodrigues: dramaturgia e encenações (1992), defendida na Universidade de São Paulo. Magaldi menciona um dos tópicos centrais de minha pesquisa, ao assinalar, como característica fundamental da escrita rodrigueana, o esforço do escritor por trabalhar um pensamento paradoxal. É um dado que Magaldi aponta como presente na primeira peça de Nelson e que, destaca o crítico, e nós iremos confirmar isso, se estende aos contos, folhetins, crônicas e outras produções do escritor. Magaldi fala ainda do gosto do autor pelo grotesco, pela distorção da realidade e insiste na proximidade do teatro rodrigueano de suas outras criações ficcionais (folhetins e contos) e de uma influência recíproca aí identificada. O estudioso justifica ainda a sua divisão das peças do autor em míticas, psicológicas e tragédias cariocas, reafirmando a ênfase de uma dimensão mítica nas peças Álbum de família, Anjo negro, Dorotéia e Senhora dos afogados, bem como destacando o relevo psicológico de A mulher sem pecado, Vestido de noiva, Valsa no. 6, Viúva, porém honesta e Anti-Nelson Rodrigues, e apontando todas as outras criações dramatúrgicas rodrigueanas como espaço de expressão das tragédias cariocas. O crítico, porém, reconhece as limitações de tal divisão: Cumpre assinalar que a divisão tem ainda um intuito didático, porque as características nunca se mostram isoladas, sob pena de empobrecer o universo do ficcionista. As peças psicológicas absorvem elementos míticos e da tragédia carioca. As peças míticas não esquecem o psicológico e afloram a tragédia carioca. Essa tragédia carioca assimilou o mundo psicológico e o mítico das obras anteriores. (Magaldi, 1981a: 8-9) Para diferenciar os escritos que abrem o Teatro completo de Nelson Rodrigues de sua tese de livre-docência, que começou a ser escrita antes do longo ensaio que prefacia 14 O estudo de Sábato Magaldi pode ser apreciado em volume único em Magaldi, Sábato. Teatro da obsessão: Nelson Rodrigues. São Paulo, Global Editora, 2004. 40 as peças (embora tenha sido finalizada posteriormente a ele), Magaldi optou por privilegiar, em seu segundo trabalho sobre o autor, a sua vivência como militante da crítica teatral. Acompanhou assim o percurso, as personagens, os procedimentos, o pensamento e as encenações do dramaturgo. Há muitas questões presentes em Magaldi e na fortuna crítica construída em torno das peças de Nelson Rodrigues que apresentam elementos importantes a serem acrescentados aos debates sobre sua arte dramatúrgica. Um ponto central apontado por muitos dos comentadores é a marca fundamental que o teatro rodrigueno representa em termos de assinalar a inserção da dramaturgia brasileira na cena teatral moderna. Para isso, críticos como Magaldi (1992), Leite Lopes (1993) e Adler Pereira (1999) examinam a maneira extremamente sofisticada com que Nelson realiza tal empreendimento retomando elementos originais da tragédia grega e atualizando-os. Um termo de comparação utilizado para descrever esse quadro, apesar da diferença geracional, é encontrado no teatro do norte-americano Eugene O´Neill. Tanto Nelson quanto O´Neill têm interesse grande na retomada de marcas do drama grego e a sua projeção na cena teatral contemporânea acentuando a tragicidade em suas respectivas dramaturgias. Em comum, esses autores dariam, como salienta Adler Pereira (1999), destaque ao emprego de recursos cenográficos como as máscaras. No caso de Nelson, uma outra novidade seria trabalhada pela sugestão de uma mise-en-scène de traço expressionista, inspirada nessa vertente de extração alemã. De diferentes perspectivas, essa inovação presente nos dramas de Nelson e que acabou sendo destacada em várias montagens de seus textos, foi assinalada por críticos como Leo Gilson Ribeiro (1989) e Otto Maria Carpeaux (2005). Os dois por sinal não tardaram a 41 lembrar do nome de Franz Wedekind, muito admirado também pelo norte-americano O ´Neill. Seria impossível arrolar todas as obras e textos escritos sobre o teatro rodrigueano no meio universitário e fora dele. Muitos pesquisadores, estudiosos, jornalistas, psicanalistas, diretores de teatro, cenógrafos, escreveram e continuam escrevendo sobre aspectos peculiares à prosa teatral rodrigueana. É um grupo que inclui de Junito de Souza Brandão, com sua análise de quatro mitologemas presentes em peças do autor, à avaliação abrangente que Décio de Almeida Prado faz de toda a obra rodrigueana. Um grupo que reúne ainda pessoas de projeção e de atuação distinta no meio intelectual como Aderbal-Freire Filho, Maria Lúcia Pinheiro Sampaio e Mário Guidarini, em uma lista interminável de críticos, encenadores e comentadores de renome. Privilegiei aqueles que poderiam contribuir com os propósitos mais imediatos da presente investigação. 2.2 – O Repórter, o Crítico e o Contista Iniciante As duas pessoas mais importantes para a divulgação e o estabelecimento do teatro rodrigueano foram Pompeu de Souza e Sábato Magaldi, como vimos. Para o restante de sua obra, esse papel coube, a partir do início da década de 1990, a Ruy Castro e, hoje, ao pesquisador Caco Coelho, que tem dado continuidade à recuperação da produção de Nelson veiculada em jornal. Depois que Castro trabalhou a reedição de parte da obra do cronista, folhetinista e contista, bem como o romance O casamento, foi a vez de Caco Coelho apresentar a grande novidade nas pesquisas recentes sobre Nelson Rodrigues: o projeto O baú de Nelson Rodrigues (2000), já referido anteriormente, resultado de um 42 levantamento do pesquisador e diretor de teatro, que resgata reportagens, críticas, crônicas e contos. São textos assinados pelo próprio autor, outros sob pseudônimo e ainda textos apócrifos, mas que, muito pertinentemente, o pesquisador oferece para que se julgue se saíram da pena do escritor. Trata-se de escritos de Nelson Rodrigues cujo alcance de fruição se havia restringido aos leitores que os leram à época de suas publicações em periódicos que circularam nas bancas de jornal durante a segunda metade da década de 1920 e a primeira metade dos anos de 1930. O que veio a público com o livro O baú de Nelson Rodrigues – os primeiros anos de crítica e reportagem (1928-35) (2004) é apenas parte do trabalho de Coelho. O resultado completo do levantamento de fontes primárias feito pelo pesquisador encontra-se guardado em um arquivo da Rio-Arte, órgão de cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro, em uma casa em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O projeto ganhou, desta instituição, uma bolsa de auxílio-pesquisa no ano de 1998. O trabalho foi complementado posteriormente por novos levantamentos de fontes primárias que trouxeram a público folhetins e um romance. A autobiografia que Nelson escreveu em forma de crônica no jornal Correio da Manhã (está no livro A menina sem estrela – memórias, 1997) e as biografias de Ruy Castro (1993) e de Stella Rodrigues (1986; uma das sete irmãs que Nelson Rodrigues teve – eram quatorze irmãos na família) nos informam que o escritor começou a conhecer o trabalho jornalístico ainda garoto, quando seu pai, Mário Rodrigues, jornalista pernambucano que fez carreira no Correio da Manhã no Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX, tornou-se proprietário de um jornal que iniciou sua circulação em dezembro de 1925 trazendo no frontispício o nome de A Manhã. Se Irineu Marinho 43 comandava um jornal vespertino de sucesso que atendia pelo nome de A Noite, a idéia de um matutino com o nome de A Manhã deve ter parecido uma boa opção para aquele que se candidatava a novo dono de jornal15. Ruy Castro diz que a leitura de A Manhã entre dezembro de 1925, quando é inaugurado o jornal, até fins de 1928, quando Mário Rodrigues (no mês de outubro precisamente) cede suas ações para quitar dívidas com o sócio Antônio Faustino Porto e abandona com os filhos o jornal, deixa patente a colaboração precoce de Nelson Rodrigues (cf. Castro: 1993). O próprio autor diz que começou sua carreira prematuramente, e que isso se deu por seus dotes: “(...) fizera minha iniciação jornalística aos 13 anos. (...) Eu era tratado, desde os 13 anos, como um pequeno gênio. Mas morto Mário Rodrigues e morta Crítica, os rodapés sumiram até o último vestígio. Ninguém era amigo” (Rodrigues, 1997: 107). Uma nota de aniversário pelos dezesseis anos do jovem jornalista, publicada pelo pai ainda em seu primeiro jornal, A Manhã, no dia 23 de agosto de 1928 (fato que se 15 Ainda são obscuras as informações sobre a rápida passagem de Mário Rodrigues de jornalista a dono de jornal. As pesquisas de Domingos Meirelles ajudam a construir o cenário sobre a imprensa carioca no começo do século XX e sobre a pessoa de Mário Rodrigues. Baseado nos informes e relatórios reservados da Quarta Delegacia Auxiliar do Rio de Janeiro, realizados entre 1927 e 1930, e encontrados no Arquivo Público do Estado do Ro de Janeiro, Meirelles relata: “O relatório revelava que a imprensa do Rio levava uma existência “artificial, sem fontes de renda naturais”. A maioria dos jornais vivia de “expedientes mais ou menos grosseiros”, e da cumplicidade com interesses inconfessáveis. Muitas publicações eram financiadas pelo capital estrangeiro. A contabilidade de quase todas as empresas era caótica” (Meirelles, Domingos. 1930 – os orfãos da revolução, Rio de Janeiro, Editora Record, 2005, p. 118). Sobre Mário Rodrigues e seu jornal escreve especificamente: “Dirigido por Mário Rodrigues, A Manhã merecera especial atenção no relatório. Inimigo confesso da polícia, Rodrigues fora qualificado como “esbanjador e perdulário”. Nas últimas eleições federais, gastara mais de cinqüenta contos em sua campanha, sem conseguir se eleger. Era acusado de viver nababescamente, de morar num verdadeiro palácio e “de levar, às claras, uma vida de esbórnia”. Ao vasculharem sua vida pessoal, os secretas descobriram que tinha uma jovem amante, a quem presenteara recentemente “com um Packard de elevado preço”” (Idem, ibidem, p. 119-20). Há os empréstimos conseguidos com João Pallut (o bicheiro “João Turco”) e outros empresários para montar A Manhã e mencionados por Castro (cf. 1993, p.50). Com relação ao fim do jornal A Manhã, a avaliação de Meirelles a partir dos relatórios a que teve acesso mostra um quadro de crise para o jornal de Mário Rodrigues. “A Manhã estava às portas da falência, segundo o dossiê. O déficit da empresa chegava a mais de 3 mil contos e até o fornecimento de papel fora suspenso por falta de pagamento. As chances de sobrevivência eram bastante remotas” (...) “A anemia aguda que minava o jornal interrompera, inclusive, as obras da nova sede, o que indicava estar o matutino perto do fim” (Meirelles, Domingos. 1930 – os orfãos da revolução, Rio de Janeiro, Editora Record, 2005, p. 120-1). Mais adiante, no livro, Meirelles continua a descrever esse quadro e menciona a preparação para o lançamento de Crítica: “Desde outubro de 1928 que Rodrigues não era mais o dono do jornal. Atolado em dívidas, fora obrigado a transferir o controle acionário de A Manhã para o sócio Antônio Faustino Porto, que sempre fora seu braço financeiro. Não recebera um tostão pelo negócio. Faustino assumira o comando da empresa em troca do passivo para impedir que a publicação fosse à falência. Ao livrar-se dos credores, Rodrigues viu-se com liberdade para dedicarse à nova empreitada: lançar um jornal como só ele sabia fazer” (Idem, ibidem, p. 240). 44 repetiria um ano depois, em Crítica, segundo jornal de Mário Rodrigues), assinala o surpreende pendor do pequeno Nelson Rodrigues para a escrita: Nelson Rodrigues faz anos hoje. Nelson é uma inteligência ardente, desabusada, impetuosa. É o mais jovem jornalista do Brasil, com uma irreverência deliciosa, uma agilidade psicológica que impressiona na sua idade. A simples presença de Nelson desarma a austeridade dos estilistas conservadores e a pretensão dos cavalheiros que teimam em ser das letras. Nelson Rodrigues realiza o milagre de escrever aos dezesseis anos, hoje completados, com uma graça, um encanto e uma fascinação que os medalhões de todos os tempos só conseguiriam, e com esforço, após meio século de atividade. Não exageramos. Além de tudo, o querido aniversariante de hoje é um bom e um puro. Alma alegre, coração generoso. Todos o abraçarão com carinho porque Nelson é um amigo como poucos e um companheiro esplêndido. Caco Coelho identifica traços da escrita de Nelson, em textos-não-assinados, em dezembro de 1927 (aqui vamos ter uma divergência entre Coelho e Castro, a ser explorada adiante), mas só confirma a prática do jornalista de calças curtas no início de 1928, quando ele tinha quinze anos. É o período próximo ao aparecimento dos primeiros escritos com a rubrica do autor (críticas, contos, crônicas), que surgem em fevereiro de 1928 e que garantem inapelavelmente suas investidas iniciais como escritor. Nelson Rodrigues aparece em A Manhã com artigos publicados de início na página 3 do jornal, reservada aos editoriais de Mário Rodrigues e aos textos opinativos. A pena do escriba mirim vai conseguir aparecer em espaço em que se alternavam artigos de nomes como o de Monteiro Lobato (há muito material de Lobato produzido para A Manhã), de Agrippino Grieco, Gondin da Fonseca, Nise da Silveira e Prudente de Moraes Neto. Só dois outros irmãos de Nelson Rodrigues assinariam artigos na página 3: Milton Rodrigues, o primogênito, e Mário (Rodrigues) Filho, cinco anos mais velho que Nelson Rodrigues (assim mesmo, um único artigo para cada um deles contra um número bem significativo de artigos do irmão mais novo). 45 Castro (1993) menciona nove artigos, todos assinados, tendo início no dia 7 de fevereiro de 1928 e se encerrando no dia 13 de setembro deste mesmo ano (o jornal, como vimos, deixaria de pertencer à família Rodrigues em outubro). Coelho (2000) acresce outros seis artigos não identificados e nem comentados por Castro. Castro (1993) se engana ainda com a data do artigo intitulado ““Gritos bárbaros”...”, que aponta como constante da edição do dia 14 de fevereiro de 1928, quando na verdade, e como pude comprovar, aparece na edição do dia 15 de fevereiro de 1928. Para facilitar o trabalho de futuros pesquisadores, reproduzo abaixo a listagem completa com identificação de data e página dos escritos assinados por Nelson em A Manhã16. À esquerda tem-se o título do artigo e à direita a data e a página referente a cada texto. Um artigo dedicado a Rui Barbosa é o único desta lista a aparecer em duas partes. Periódico - A MANHÃ Título do texto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. A tragédia da pedra... “Gritos bárbaros”... O elogio do silêncio Uma história banal... A felicidade O rato... A palavra do mar Olegário Rui Barbosa Rui Barbosa... Fabrino O artista Lucy As cédulas... Luiza Zola 16 Data da publicação Página de publicação 07/02/1928 15/02/1928 23/02/1928 01/03/1928 08/03/1928 16/03/1928 22/03/1928 08/04/1928 12/04/1928 19/04/1928 24/04/1928 11/05/1928 22/07/1928 12/08/1928 05/09/1928 13/09/1928 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 7 3 Todos os textos aqui catalogados seguem no CD que aparece anexado a esta Tese. Nele temos todos os escritos assinados por Nelson Rodrigues, e alguns supostamente de sua autoria, feitos para os jornais A Manhã, Crítica e O Globo, no período que vai de 1925 a 1943. Estas fontes primárias servem como comprovação do que é comentado pela Tese. Têm ainda a intenção de facilitar a investigação de futuros pesquisadores e auxiliar os próximos estudiosos da obra rodrigueana em seu escrutínio e exegese. 46 Dos textos de Crítica, Castro (1993) não menciona nenhum em específico (embora informe que Nelson Rodrigues tenha trabalhado como repórter no jornal), mas Coelho (2000) registra um total de oito artigos assinados (e sugere uns outros tantos sem assinatura) entre novembro de 1928 e outubro de 1930. Repito com Crítica o mesmo procedimento feito com A Manhã para os artigos assinados por Nelson no jornal. De novo, à esquerda, está o título de cada um dos artigos publicados por Nelson em Crítica e, à direita, a data e a página em que apareceram. Periódico – CRÍTICA Título do texto Data da publicação Página de publicação 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 15/12/1928 10/08/1929 22/08/1929 28/11/1929 15/12/1929 23/04/1930 11/07/1930 04/08/1930 5 2 2 3 6 2 2 2 Criticando Vinte anos de circo Um homem fora de moda... O cinema falado O homem que se destacou... Uma agressão covarde A paixão religiosa de Maria Amélia Um artista Quando a sede e as instalações de Crítica, que ficavam na rua do Carmo, no centro do Rio de Janeiro, foram depredadas durante a Revolução de 1930, sofrendo seu empastelamento como se dizia à época, Nelson, com o pai morto, se transferiu com seus irmãos para O Globo. No jornal de Roberto Marinho, Nelson começou trabalhando na seção de esportes. Em A menina sem estrela – memórias (Rodrigues, 1997), ele comenta as dificuldades para seguir na profissão de jornalista e ingressar em O Globo depois do fim dos jornais de sua família: Fosse como fosse Roberto Marinho significava para nós uma esperança viva. Ao bater essas notas, não me lembro se foi ele que nos chamou ou se fomos nós que aparecemos lá, oferecendo o nosso trabalho. O certo é que o meu irmão Mário Filho interessava a O Globo. Eu me lembro da nossa primeira conversa, na rua Almirante Barroso, na porta dos fundos do jornal. (1997: 113) Um pouco mais adiante, ele retoma: 47 Eu era então, cronista esportivo. E me humilhava, e me ofendia estar escrevendo sobre futebol. Saíram vários retratos meus, mas ao lado de nadadores, de jogadores e do HomemPeixe. O Sodré Viana me dizia:-“Você tem que deixar o esporte, rapaz.” Uma tarde, levei o Roberto Marinho para a sacada e pedi-lhe para ser crítico literário de O Globo. Ele achou, no meu pedido, uma graça compassiva. E eu continuei fazendo futebol.” (Ibidem: 153) Em O Globo, Nelson trabalharia de ínício com colaborações como repórter de esportes. Esses textos não eram assinados e, portanto, para identificá-los é preciso apelar para o reconhecimento de traços da escrita do autor ou recursos como as fotografias que, por um costume adotado por Mário Filho, mostravam os repórteres do jornal ao lado de seus entrevistados. Há a desconfiança de que ele também marcasse, de novo e como fez em A Manhã e Crítica, presença no noticiário policial. Examinaremos adiante, na parte de análise, algumas apostas em textos que trariam o seu crivo. Além dos textos não assinados, Coelho (2000) apurou a partir de 1931, em O Globo, várias colaborações com assinatura para a seção “O Globo nas letras” (escritos aos quais Castro não faz alusão direta, embora registre que Nelson resenhasse livros esporadicamente), o que demonstra que Nelson conseguiu chegar à seção em que tanto ambicionava escrever. O levantamento de Coelho pára em 1935 (é onde se encerra também o registro em microfilme de que dispõe a Biblioteca Nacional), embora se saiba que Nelson prosseguiria colaborando com O Globo. A presente Tese completou, através de levantamento dentro dos arquivos de O Globo, o rastreamento nos anos que vão de 1935 a 1943. Conseguiu-se assim acrescer alguns textos do autor não mencionados por Castro nem por Coelho. Há algumas afirmações imprecisas no livro de Castro (1993) como a de que Nelson teria sido crítico de ópera do jornal O Globo. Na verdade o que se comprova, a partir de 48 uma revirada nos arquivos do jornal no período referente às décadas de 1930 e de 1940, é uma única entrevista feita por Nelson com a contralto italiana Gabriela Bezansoni Lage, no dia 5 de agosto de 1935. A matéria não é assinada por se tratar de uma entrevista, mas fotos da primeira página da edição desse dia de O Globo, em que Nelson aparece lado a lado com a diva que dividiu palcos com Enrico Caruso e Benamino Gigli, comprovam sua atuação como repórter. Menos de um ano depois, no dia 30 de março de 1936, surgiria uma crítica de Nelson Rodrigues para a ópera brasileira Esmeralda, de Carlos Mesquita, que fora divulgada pela Rádio Jornal do Brasil. Mas isso é tudo. Da mesma maneira como fiz com A Manhã e Crítica, reproduzo a seguir a listagem com os escritos assinados por Nelson para O Globo até 1935. Alguns desses artigos aparecem em duas partes (estão assinalados em algarismos romanos), editados em edições de dias diferentes do jornal. Alguns dos textos ainda se estendem por mais do que uma página. Periódico - O GLOBO Título do texto Data da publicação Página de publicação 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 12/10/1931 18/01/1932 12/12/1932 27/03/1933 24/04/1933 01/05/1933 12/06/1933 10/07/1933 18/09/1933 25/09/1933 23/10/1933 30/10/1933 5 7 5e6 5e6 5 5 5e6 5e6 5 5 5 5e6 A serenidade de Raul de Leone Poemas da angústia alheia A bailarina do Brasil A tragédia de Hermes Fontes O estilista do amor e da morte... (I) O estilista do amor e da morte... (II) A noiva de pan... O sonho de Leviathan A luz de Sortero Cosme (I) A luz de Sortero Cosme (II) O destino e a poesia de Felippe de Oliveira (I) O destino e a poesia de Felippe de Oliveira (II) 49 Aos textos assinados por Nelson Rodrigues no jornal da família Marinho, e arrolados pelo trabalho de Coelho, teria a acrescentar, a partir de pesquisas nos arquivos de O Globo, as contribuições que são apresentadas a seguir. São uma entrevista, críticas, contos, poemas e o primeiro capítulo de um romance inédito do autor, intitulado Cidade, que é dado como perdido. Periódico – O GLOBO Título do Texto 37. A influência da arte num destino (Entrevista com Gabriela Bezansoni Lage) 38. Opera brasileira 39. O Irmão... – capítulo do romance “Cidade” no prelo 40. A greve das fadas (O Globo Feminino) 41. Revelação (O Globo Feminino) 42. Menina de luto (O Globo Feminino) 43. A vida é literária (O Globo Feminino) 44. Retrato lírico do morro ... (O Globo Feminino) Data da Publicação 05/08/1935 Página de Publicação 1e3 30/03/1936 25/04/1937 01/08/1937 24/03/1939 31/03/1939 24/11/1939 08/12/1939 8 11 2 2 2 1e2 1e2 Desse período inicial apurado por Coelho (2000) tem-se entre os textos assinados por Nelson Rodrigues nesses três veículos: trinta e seis artigos no total (entre crônicas, contos e críticas; alguns em duas partes). Desse somatório, foram editados no livro O baú de Nelson Rodrigues – os primeiros anos de crítica e reportagem (1928-35) (Rodrigues, 2004), dezenove artigos assinados e trinta e uma matérias jornalísticas não assinadas (apenas parte da totalidade dos artigos levantados). Os textos-não-assinados arrolados por Coelho em sua pesquisa original somam mais de 650 e se iniciam um pouco antes do primeiro artigo com identificação de Nelson. O primeiro texto-não-assinado do levantamento tirado de A Manhã vem com a avaliação do ano policial e apareceu no dia 29 de dezembro de 1927. A aposta de Coelho 50 deve basear-se nas memórias autobiográficas de Nelson. No livro A menina sem estrela – memórias (Rodrigues, 1997), o cronista consagrado rememora sua estréia como repórter: [C]omeço a trabalhar no jornal de meu pai. Se bem me lembro, foi o meu irmão Milton que me mandou para a reportagem policial. A Manhã saíra da rua Treze de Maio, passara para a Avenida, em frente à Galeira Cruzeiro. Ainda me vejo, na redação, com os meus treze anos, nome na folha de pagamento e ordenado de trezentos mil-réis, escrevendo a minha primeira nota. (Rodrigues, 1997: 189) No expediente de A Manhã, o endereço da Avenida Rio Branco, número 173, aparece a partir do dia 3 de janeiro de 1928, confirmando essa época como certamente o momento de início das atividades jornalísticas de Nelson Rodrigues, aos quinze anos de idade. Isso apesar de Nelson, como vimos um pouco acima, afirmar que começou sua carreira aos 13 anos. É provável que aos 13 anos ele já freqüentasse a redação do jornal de seu pai embora ainda não contribuisse com material para as edições do matutino. Junto com Ruy Castro (1993) não há como resistir a apontar duas reportagens que não figuram no levantamento de Coelho, mas que mesmo que não tenham saído da pena de Nelson merecem registro para a compreensão do ambiente em que se criou o futuro literato. Uma delas surge no dia 8 de dezembro de 1926, à página 8 de A Manhã, um ano antes do primeiro texto da pesquisa de Coelho. Em reportagem ilustrada por um desenho do paginador do jornal, Andrés Guevara, temos a narrativa sobre um homem de preto e cabelo ruivo que fora visto no subúrbio do Jardim do Méier: “suspendendo no dedo indicador, uma gaiola, em forma de capela, onde um pássaro pula e canta, empapuçando a garganta, contente”. O detalhe é que o rapaz, de origem polaca, trouxe uma tradição, que diz ser comum em Varsóvia e que consiste em cegar com alfinete o pequeno bicho com um fim 51 preciso: “passarinho cego não sabe quando é dia nem quando é noite! Canta sempre!”. O interesse nasce do fato de atrocidades, com animais em geral e com pássaros em particular, serem uma constante nas páginas escritas pelo Nelson Rodrigues ficcionista e cronista. A outra reportagem é típica do período. Trata-se do fait divers “Na Ilha dos Amores...” que, depois de lembrar a tradição de Paquetá como o local preferido dos amantes (desde o romance A moreninha, de Joaquim Manoel de Macedo), narra o caso de uma moça, Helena Carvalho Ramos de Oliveira, casada, 21 anos de idade, com um rapaz bem mais moço, Renato Roberto Machado, de apenas 15 anos. Seduzida pelo rapazola, os dois embarcam em um pacto de morte que seria consumado na praia de Imbuca, onde procuraram o suicído conjunto bebendo “sublimado corrosivo”. A abertura do texto, publicado na página policial de A Manhã, no dia 15 de outubro de 1926, traz mais um extenso nariz de cera onde se lê: Com toda a crise, com todo o pessimismo do momento, o amor surge ainda em lances dramáticos, porque, para certas almas não é só a carne que alucina – o espírito também tem desejos incompreensíveis que os amantes gravam em pedaços de papel, contando já com a aparição da reportagem policial. A reportagem seguiria com suite por algumas edições do jornal já que o casal sobreviveu por alguns dias. Apesar da importância desse texto para descortinar possíveis ilações sobre a atmosfera jornalística vivenciada por Nelson Rodrigues antes de chegar à criação do universo de suas peças, seus contos, suas crônicas, elas não devem, em meu entender, ser creditadas ao escritor17. 17 As reportagens às quais acabei de me referir foram incluídas no CD em anexo a esta Tese. Os textos levantados como fonte primária foram transcritos para o corpo da Tese com a atualização da escrita em acordo com a norma culta corrente. 52 Voltemos ao levantamento de Coelho para os textos-não-assinados. Ele é bem abrangente e se alguns textos, como o citado na abertura desta Tese, têm marcas claras do autor, outros não devem ter saído da pena do Nelson Rodrigues guri. De uma edição de Crítica, a do dia 25 de novembro de 1928, por exemplo, o pesquisador chega a transcrever seis artigos, o que é contribuição demais feita por um único repórter para um dia de circulação de um jornal. Há ainda a transcrição de todas as reportagens que tratam de crimes passionais e suicídios, o que pode ser questionado. Se passarmos os olhos pelas folhas da época (outras que não aquela em que Nelson trabalhava), veremos que o País dava a impressão de ser então um antro de “traídos homicidas” e de “suicidas em flor”, para usarmos expressões rodrigueanas. Parece de qualquer jeito melhor pecar pelo excesso do que pela falta de indicação. Caberia então discutir as marcas e as características que nos levam a identificar a prática rodrigueana. O próprio pesquisador em sua busca pelo reconhecimento dos textos de Nelson Rodrigues nos dá várias dicas. Entre os elementos que orientaram suas opções pela transcrição de textos-não-assinados está o recorrente exercício de referência espelhada que percorre a obra de Nelson Rodrigues como um todo. Aspectos estilísticos também foram considerados: Um conjunto de indicações de autoria ganha contorno, determinado por uma prática diária. A gradação, feita normalmente por uma seqüência de adjetivos, às vezes em períodos compostos, repete-se de forma obsessiva. A pontuação, prenúncio da marcação teatral, da especificidade de suas rubricas, é constante. O conjunto temático, exposto em suas colunas e reproduzido nas matérias, é outro indício que permite sua identificação. (Coelho, 2004: 39) Algumas reportagens selecionadas, assinala o pesquisador, não devem ter saído da pena do autor. Caco Coelho chega mesmo a advertir: “É possível que algumas delas não sejam de sua autoria” (Rodrigues, 2004: 40). E algumas, como as de esporte, parecem 53 claramente pertencer a Mário Filho. Coelho, nas páginas de apresentação de sua pesquisa, lembra que Nelson Rodrigues aparece em fotos ao lado dos integrantes das “caravanas” de repórteres policiais dos jornais de seu pai, mas que jamais figurou, nos tempos de A Manhã e Crítica, nas fotos da página de esportes, ao contrário do que ocorria com seu irmão Mário Filho e do que iria acontecer com o futuro dramaturgo em sua passagem por O Globo nos anos de 1930. Se podemos ter dúvidas com relação aos textos-nãoassinados, não há o que se discutir com relação aos assinados. Gilberto Amado classificou Crítica como um “foliculário catastrófico”. A tônica deste jornal, como de A Manhã, eram as reportagens sensacionalistas, controvertidas e polêmicas tão ao gosto de um jornalista irrequieto como Mário Rodrigues (algumas páginas de A Manhã e Crítica e textos de Mário Rodrigues podem ser conferidos no CD anexo a esta Tese). Nelson Werneck Sodré fala de Crítica como uma folha “terrível nos ataques, violenta, agitada” (Sodré, 1998). Não custa lembrar que Roberto Rodrigues, irmão de Nelson Rodrigues, foi assassinado pela jornalista Sylvia Seraphim, em 1929, dentro da redação de Crítica, por causa de uma reportagem que revelava um caso de traição conjugal por trás de uma ação de divórcio amigável. Os textos iniciais da carreira de Nelson Rodrigues que agora vêm a público são importantes para o entendimento dos desdobramentos posteriores por que passaria sua obra. O próprio autor credita a sua experiência como repórter policial sua aquisição de tarimba como escritor de obras ficcionais. São muitos também os críticos que assinalam a influência das estruturas das reportagens no estilo dos faits divers em suas peças, influência que se estenderá aos seus folhetins e contos. 54 2.3 – O Folhetinista, o Contista Consagrado Nas páginas de A Manhã, do dia 23 de junho de 1928, lê-se a “carta” que se segue: Carta Aberta de uma Pecadora aos Homens Sérios (?) do Rio O meu nome de batismo ninguém sabe. Mas quem não conhece Sadie. – Sadie que todos vós achais a mais interessante, a mais espirituosa quando estais a sós com ela e que fingis não conhecer quando passais solene pela avenida? Que importa, pois, os meus papéis, o meu nome verdadeiro? Sou uma delas, uma das que cobris de carinhos e de enfeites, de atavíos e mimos e cuja alma desprezais porque não tendes almas e a vós vos basta um corpo de mulher, contanto que ele seja belo. Sou uma delas – uma das “pecadoras”, uma das “transviadas”, uma das que tomaram o caminho que um homem, sim um homem! lhes indicou um dia para vê-lo, mais tarde, em coro com os outros homens chamá-lo severamente “mau caminho”! Quando se defrontam com essas linhas, os pesquisadores da obra de Nelson Rodrigues entram em polvorosa. Quem sabe se elas não marcariam a sua primeira tentativa de lançar um pseudônimo feminino na imprensa? Não, o jornal de Mário Rodrigues não estava publicando qualquer sandice que saísse da pena de seus filhos. Ainda que ousada, a investida guarda um pé nos acontecimentos da época. A Sadie é Sadie Thompson, personagem de Somerset Maugham, que aparecia em tradução feita para a tela pelo ator e diretor Raoul Walsh em filme estrelado por Gloria Swanson e lançado comercialmente nos Estados Unidos em fevereiro de 1928 e que, portanto, pouco depois, freqüentaria as telas brasileiras18. O texto publicado no jornal esclareceria tudo em seu final: (...) Todos almejam regenerar-me; um aposta-me o inferno, outro o seu amor, um paraíso segundo diz – modéstia à parte ... Porque não me ajudais – vós que tivestes tempo para ler isso tudo? Porque não ajudais Sadie a resolver? É o que vos peço. Assiste, porém, antes ao filme de Gloria Swanson para a United Artists em que vos conto a minha história de pecadora cada vez mais seduzida pelo pecado! Tem mesmo o título de “A sedução do pecado”, o filme que o Capitólio vai exibir segunda-feira. 18 Para a data de lançamento do filme de Raoul Walsh nos Estados Unidos, ver Karney, Robin (ed.). Cinema – year by year 1894-2004. London: Amber Books, 2004, p.194-5. 55 Sadie19 Ao comentar com Ruy Castro sua iniciação sexual com prostitutas na zona do Mangue no Rio de Janeiro, Nelson Rodrigues não mencionou nada sobre esse texto, embora tenha assinalado que em suas relações com profissionais do sexo se sentisse como o pastor do conto “A chuva”, de Maugham (cf. Castro, 1993). Mas o que põe por terra a hipótese do “primeiro texto sob pseudônimo” é o fato de a passagem ter sido publicada não como matéria jornalística, mas como um anúncio em destaque em relação às reportagens corriqueiras do jornal. De qualquer jeito fica a suspeita: quem seria o autor dessa propaganda que com muita certeza foi redigida dentro da redação de A Manhã? Depois de Sadie, viriam Suzana Flag e Myrna. O material escrito para jornal por Nelson sob esses pseudônimos a partir de meados da década de 1940 marca a sua consagração como autor folhetinesco em seguida à consagração como autor teatral. Desta vez, no entanto, não seriam os críticos que iriam consagrá-lo, mas o público leitor, fazendo com que os veículos onde seus folhetins eram publicados atingissem marcas surpreendentes de tiragem. Accioly Netto, de início secretário de redação e, depois, diretor e redator-chefe de O Cruzeiro, trabalhou com Nelson Rodrigues na revista que também viria a divulgar seus folhetins. Conta Accioly Netto, em seu livro sobre o período, da convivência com Nelson na revista: Trabalhamos juntos em O Cruzeiro e lembro-me ainda quando ele, às vésperas da estréia de sua peça Vestido de noiva, andava de um lado para o outro, nervoso como um estudante antes do exame. Foi a meu pedido que ele escreveu um romance notável, Meu destino é pecar, sob o pseudônimo de Suzana Flag, vendendo mais de cem mil exemplares. (Accioly Netto, 1998: 157) 19 Este anúncio também consta da compilação de artigos digitalizados que segue em CD anexo a esta Tese. 56 Há um pouco de confusão nas memórias de Accioly Netto. Em fevereiro de 1944, Nelson Rodrigues passa a trabalhar com Frederico Chateaubriand nos Diários Associados e inicia em O Jornal a publicação de seus folhetins como Suzana Flag. Primeiro, Meu destino é pecar, que se estendeu de 17 de março até 17 de junho de 1944. Com seu enorme sucesso, Meu destino é pecar foi editado em livro pela Empresa Gráfica Cruzeiro, ainda no ano de 1944. Se Meu destino é pecar vendeu realmente cem mil exemplares, como afirma Accioly Netto (Castro falaria em trezentas mil cópias), trata-se de uma marca vultuosa e a que poucos autores hoje em dia, mais de sessenta anos depois, conseguem chegar. Depois, a veia folhetinesca teve seqüência sob a pele de Suzana Flag com um novo folhetim, Escravas do amor, segunda série assinada sob pseudônimo. “Escravas do amor” seria publicada em O Jornal, entre os dias 25 de junho e 26 de setembro de 1944. Em 1946, surge o terceiro folhetim pseudonímico ainda sob a alcunha de Flag, o “romance autobiográfico” Minha vida, que é editado na revista A Cigarra. O folhetim circularia nessa revista mensal entre julho de 1946 e fevereiro de 1947. Escravas do amor e Minha vida receberiam o mesmo tratamento de Meu destino é pecar e sairiam em livro, em 1946, pela mesma editora de O Cruzeiro. Dois anos depois se inicia “Núpcias de fogo”, o quarto folhetim de Suzana Flag, que estreou simultaneamente em O Cruzeiro e O Jornal, mas seguiu seriado apenas no segundo veículo entre os dias 4 de agosto e 12 de setembro de 1948. Ao contrário dos folhetins anteriores, este ficou inédito em livro por quase 50 anos. 57 Em 1949, Nelson Rodrigues sairia de O Jornal e passaria a freqüentar as páginas do Diário da Noite, onde criaria um novo heterônimo, o de Myrna. A trajetória da segunda autora pseudonímica teria vida mais curta, apenas oito meses. Primeiro um consultório sentimental para responder às cartas de leitoras aflitas com a coluna “Myrna Escreve”, que circularia nas páginas do Diário da Noite, entre os dias 21 de março e 5 de outubro de 1949. Sob a pele de sua segunda persona feminina assinaria também o folhetim “A mulher que amou demais”, veiculado entre os dias 18 de julho e 18 de agosto de 194920. Todos esses folhetins tiveram reedições e alguns sua primeira edição recentemente: Meu destino é pecar teve um relançamento pela Ediouro Publicações, em 1998. Escravas do amor e Minha vida ganharam reedição pela Companhia das Letras em 1997 e 2003, respectivamente. O primeiro foi organizado por Ruy Castro, e o segundo como resultado de novos levantamentos de Caco Coelho que passou a recuperar outras produções esquecidas de Nelson Rodrigues que não figuravam no seu projeto original aqui já muito referido. Uma seleção das colunas do consultório sentimental de Myrna saiu no livro Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo (2002a), bem como o romance A mulher que amou demais (2003), ambas as edições organizadas mais uma vez por Caco Coelho. O hábito de publicar ficções de forma seriada em jornal seguiria na década de 1950, quando Nelson vai ajudar Samuel Wainer no lançamento de um novo jornal que sacudiria a cena política brasileira, o Última Hora. Antes de investir e voltar à prática ficcional, Nelson retorna à reportagem com investigações como as que aparecem sob o 20 Como será visto no capítulo de análise, seção 4.2.2, há dúvidas quanto a autenticidade das cartas endereçadas à Myrna, que parecem em sua maioria terem sido escritas pelo própria Nelson Rodrigues na pele de Flag e Myrna. 58 título geral de “No cemitério das mulheres vivas” 21. Uma série de três reportagens que se iniciam com a edição do dia 12 de junho de 1951. Revelam encontros do repórter com internas do Presídio Feminino de Bangu, onde ele colhe narrativas dramáticas que passa a oferecer aos leitores. Seguem-se duas outras reportagens até o dia 31 de julho quando Nelson Rodrigues inaugura um novo folhetim de Suzana Flag: “O homem proibido”, que durará 79 capítulos até o dia 3 de novembro de 1951. Paralelamente à escrita do novo folhetim de Flag, e a partir do dia 17 de setembro de 1951, Nelson ganha uma coluna intitulada “Atirem a primeira pedra”. Em seu livro de memórias, Minha razão de viver – memórias de um repórter, Samuel Wainer narra o surgimento da coluna: Chamei Nelson Rodrigues, meu redator de esportes e perguntei-lhe se aceitava escrever uma coluna diária baseada em fatos policiais. Nelson recusou. Resolvi enganá-lo, e contei que André Gide já fizera isso na imprensa francesa. Defendi também a tese de que, no fundo, Crime e castigo, de Dostoiévski, era uma grande reportagem policial. Eu apenas queria que ele desse um tratamento mais colorido, menos burocrático, a um certo tipo de notícia. Nelson afinal cedeu. Sentou-se à máquina e, pouco depois, entregou-me o texto sobre o casal que morrera no desastre de avião. Era uma obra-prima, mas notei que alguns detalhes – nomes, situações – haviam sido modificados. Chamei Nelson e pedi-lhe que fizesse as correções. - Não, a realidade não é essa – respondeu-me. – A vida como ela é é outra coisa. Eu me rendi ao argumento e imediatamente mudei o título da seção. Deveria chamar-se “Atire a primeira pedra”, mas ficou com o título de “A vida como ela é”, que considero um dos melhores momentos do jornalismo brasileiro. (Wainer, 1987: 152-3) O que se vê da prática de Nelson Rodrigues como repórter e jornalista no começo do Última Hora são contribuições parcimoniosas como as reportagens mencionadas acima. O que nos mostra que ele devia andar ocupado na função de redator de esportes do jornal, ainda que não haja contribuições suas como cronista nesse período. Quanto à coluna que segundo Wainer “deveria se chamar “Atire (sic) a primeira pedra””, na 21 Diante da impossibilidade de repetir, como foi feito com as reportagens, críticas e crônicas de A Manhã, Crítica e O Globo, a listagem dos textos publicados no jornal Última Hora (excluídas as colunas esportivas), dada a sua extensão, optou-se por colocar o arquivo com o levantamento no CD anexo a esta Tese. 59 verdade ela perdurou com o nome de “Atirem a primeira pedra” no correr de perto de cinqüenta edições do jornal, entre os dias 17 de setembro e 15 de novembro de 1951 (o Última Hora não circulava aos domingos nesta época). O primeiro texto de “Atirem a primeira pedra” a ser publicado é a extensão de uma vasta reportagem sobre o desabamento do teto de um cinema em Campinas que deixou centenas de crianças mortas (o assunto ganhou a primeira página do jornal e se espalhou por reportagens internas). É a única peça jornalística nessa coluna que ainda trará resquícios das atividades do pretenso repórter. Nelson, a partir já do segundo escrito dessa coluna, investirá abertamente pelo campo ficcional com a criação diária de contos. Sob o título de “Atirem a primeira pedra” teremos perto de cinqüenta estórias (nesse período, os escritos de Nelson falharam em um único dia; há ainda, a partir da coleção da Biblioteca Nacional, uma edição perdida: a do dia 2 de novembro de 1951), até o dia 16 de novembro de 1951, quando o título da coluna será mudado para “A vida como ela é...”. O texto que inaugura “A vida como ela é...” intitula-se “O homem do cemitério” e, como se tornaria rotina, está em destaque com a ilustração do rosto de Nelson Rodrigues, o mesmo que saía desde sua estréia nesse jornal no alto de suas produções na página 8. Ao contrário de “Atirem a primeira pedra”, ao lado de “A vida como ela é...” já não aparecem mais as notícias policiais, o que põe por terra a identificação dos textos de Nelson com as reportagens de polícia. Passa-se, desta forma, a se assumir seus textos como de ordem estritamente ficcional. “A vida como ela é...” sofre várias interrupções, e não apenas nos períodos de doença do autor, como nos faz crer Ruy Castro (1993). Há momentos, como nos anos de 60 1955, 1956 e o primeiro semestre de 1957, em que são esporádicas as colunas. Nelson nessa época passa a se ocupar da coluna “Sua lágrima de amor”, a repetição do consultório sentimental de Myrna, agora com a assinatura de Suzana Flag. A coluna é semanal a partir de 3 de janeiro de 1955 e vai até o mês de março, quando passa a ser diária. Seguirá diária até o mês de maio de 1955. Em junho, Nelson Rodrigues fará Suzana Flag assinar também contos de “A vida como ela é...”, deixando de esconder do público a verdadeira face de sua persona pseudonímica. Mas são poucos, três contos, no final do mês de junho. Em julho de 1955, somem os escritos de Flag, e Nelson vai fazer uma coluna no caderno de esportes. Apesar de persistir até Nelson pedir demissão do jornal em 1961, a periodicidade de “A vida como ela é...” não segue, como afirmei, uma sistematicidade. Na orelha da primeira coletânea dos contos dessa coluna, organizada para a editora Companhia das Letras, Ruy Castro faz a sua avaliação da extensão das criações do Nelson Rodrigues contista: Durante dez anos, de 1951 a 1961, Nelson Rodrigues escreveu sua coluna A vida como ela é... para o jornal Última Hora, de Samuel Wainer. Seis dias por semana, chovesse ou fizesse sol. A chuva podia ser “a do quinto ato de Rigoletto” e o sol, “de derreter catedrais”, segundo ele. Todo dia, com uma paciência chinesa e uma imaginação demoníaca, Nelson escrevia uma história diferente. E quase sempre sobre o mesmo assunto: adultério. Desse tema tão simples e tão eterno, ele extraiu quase 2 mil histórias”. (Rodrigues, 1999) A partir do que foi inventariado pelo presente estudo em apanhado no acervo em microfilme da Biblioteca Nacional, acervo esse que é bastante completo (apesar de algumas falhas, como no ano de 1954 que não apresenta as páginas de números 5 e 6 – aquelas em que Nelson também publicava seus contos), conta-se metade das “2 mil histórias” que constam da apreciação de Ruy Castro. São, portanto, para efeito de 61 avaliação, perto de mil estórias. Isso, mesmo incluindo os contos seriados. Encontram-se, entre setembro de 1957 e março de 1958, estórias de “A vida como ela é...” seriadas em seis capítulos semanais, de segunda à sábado. São perto de vinte e cinco estórias (o número correto não pode ser precisado, pois nos registros de microfilmes da Biblioteca Nacional, além das páginas mutiladas, falta o mês de dezembro de 1957). “A vida como ela é...” reaparecerá em setembro de 1961 e permanecerá até julho de 1962 no Diário da noite e, no ano de 1966, terá sua última sobrevida no Jornal dos Sports (cf. Castro, 1993). Não foi possível à presente pesquisa recensear a extensão e o número preciso dessas criações de Nelson. Fica como indicação, portanto, para futuros pesquisadores de sua obra. Outra produção de Nelson do período é o romance-folhetim autoral “A mentira”, veiculado de forma seriada no Jornal da Semana Flan, em 1953. No Flan (título escolhido por Wainer por sua sonoridade), que surge em abril de 1953, esse romancefatiado em dezoito capítulos figurou entre junho e outubro de 1953 (Rodrigues, 2002a). Dentro do Flan circulariam ainda os contos da coluna “Pouco amor não é amor”, entre outubro de 1953 e o começo de 1954 (justamente o período em que somem as colunas de “A vida como ela é...”). Há ainda um outro romance-folhetim autoral, o famoso “Asfalto Selvagem – engraçadinha seus amores e seus pecados”, impresso em um caderno à parte no Última Hora, de setembro de 1959 – e não agosto, como consta da apresentação de Castro (Rodrigues, 1995) – a fevereiro de 1960. A Companhia das Letras, sob orientação de Ruy Castro, editou em livro alguns destes textos. Lançou A vida como ela é... – o homem fiel e outros contos (1999a) e A coroa de orquídeas – e outros contos de A vida como ela é... (1999b) que reúnem 95 62 histórias dentre as cerca de mil escritas por Nelson para o Última Hora. Foi editado da mesma forma o folhetim Asfalto Selvagem – engraçadinha seus amores e seus pecados (1995), como um romance. A série da Companhia das Letras seguiu ainda com novos lançamentos a partir do trabalho do pesquisador Caco Coelho com a edição do romance A mentira (Rodrigues, 2002b) e da coletânea de contos, do Flan, Pouco amor não é amor (Rodrigues, 2002c). Há ainda edições antigas para Asfalto Selvagem – engraçadinha seus amores e seus pecados (uma da J. Ozon Editor, de 1961, e outra da editora Nova Fronteira, de 1980, as duas em dois volumes) e O homem proibido (distribuído pela Nova Fronteira em 1981) (1981c). E ainda o lançamento de seleções da coluna A vida como ela é... em edição de dois tomos pela J. Ozon Editor, com data de 1961, com 58 estórias que não aparecem nas duas compilações feitas por Castro. A edição de contos de 1961 acaba de ganhar relançamento, no momento em que esta Tese é escrita, pela editora Agir (cf. Rodrigues, 2006). 2.4 – O Cronista Em 1957, Adolpho Bloch sugeriu que Nelson Rodrigues desse um título para as crônicas que o jornalista vinha publicando semanalmente na revista Manchete Esportiva. O título aventado pelo editor e empresário foi “Meu personagem da semana”, prontamente encampado pelo colunista. Além do trabalho no jornal Última Hora, o escritor incansável vinha escrevendo suas colunas de crônica esportiva desde o final de 1955 em Manchete Esportiva, revista semanal que criou junto com seus irmãos (Mário 63 Filho, Augusto e Paulo Rodrigues) com o aval de Bloch, o que prosseguiria fazendo nas edições subseqüentes. Castro (1993) nos diz que, antes disso, Nelson contribuiu apenas com textos esporádicos para o Jornal dos Sports, diário do qual seu irmão Mário Filho passou a ser acionista a partir de 1936 e alcançou a posição de sócio majoritário em 1949, e para o jornal Última Hora, na seção de esportes do vespertino que começou a circular em junho de 1951 (cf. Castro, 1993). Investigações em busca de fontes primárias confirmam apenas em parte as afirmações de Castro. No jornal Última Hora, Nelson é visto com crônicas esportivas a partir de 1955 em contribuições constantes. As colunas esportivas do Última Hora, inéditas em livro, se estendem de maio de 1955 até meados de julho de 1958. No Jornal dos Sports, só se identificam textos de Nelson Rodrigues em julho de 1958, quando ele inaugura sua colaboração como cronista para o diário de seu irmão. Algumas dessas contribuições, que se estenderam pelas décadas de 1960 e 1970, aparecem compiladas nas coletâneas Fla-Flu ... e as multidões despertam (1987) e O Profeta tricolor – cem anos de Fluminense (2002c), mas o grosso permanece inédito em livro. A coluna “Meu personagem da semana” de Manchete Esportiva, ainda antes do fim da revista em setembro de 1959, passará rapidamente pelo jornal Última Hora. Mas são apenas duas colaborações, uma do dia 6 de julho de 1959 sobre Maria Esther Bueno e outra, uma semana depois, no dia 13 de julho, sobre o quíper Zé Tainha. A coluna aparecerá com esse título no Diário da Noite, entre setembro de 1961 e julho de 1962. Essa informação é apresentada por Castro (1993), mas não pôde ser checada. “Meu personagem da semana” terá longa carreira ainda em O Globo, onde aparece no correr dos anos de 1960 e 1970. 64 Com relação à Manchete Esportiva, as coleções da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, e do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, em Porto Alegre, ambas com falhas na seqüência de edições da revista (que por felicidade se complementam), ajudam a delimitar a extensão dos números do magazine: 191 edições, se iniciando em novembro de 1955 e se encerrando em setembro de 1959. Embora fosse um assíduo colaborador, pois além de colunista era o redatorprincipal, Nelson Rodrigues esteve ausente de alguns números por motivos de saúde. De qualquer modo participou com suas crônicas de 163 edições da revista. Há uma transcrição dessas crônicas em um dos dois tomos da dissertação de Daisi I. Vogel, feita na Universidade Federal de Santa Catarina e intitulada “Fábulas do gol: as crônicas esportivas de Nelson Rodrigues” (1997). Trata-se de um trabalho realizado a partir da coleção dos números de Manchete Esportiva que Ruy Castro adquiriu de Augusto Falcão Rodrigues (irmão de Nelson Rodrigues) quando da preparação da biografia O Anjo Pornográfico: a vida de Nelson Rodrigues (1993). Minha investigação de campo em busca de fontes primárias no Museu Hipólito José da Costa encontrou, no entanto, sete colunas que não constam desse levantamento. As colunas, que eram apontadas como de 156 em seu total, sofrem com essa pequisa esse pequeno acréscimo22. Dos 163 textos publicados em Manchete Esportiva, 57 escritos aparecem nos livros de crônicas esportivas: À sombra das chuteiras imortais (Rodrigues, 1994) e A pátria em chuteiras (Rodrigues, 1996). Menos, portanto, que 1/3 do total de colunas perpetradas pelo escritor para este veículo. De início a coluna aparece só com uma caricatura e a identificação: “Nelson Rodrigues escreve”. Mas, a partir de 1957, recebe o 22 Todas as colunas escritas por Nelson Rodrigues para Manchete Esportiva foram fotografadas e seguem em arquivo em CD anexo a esta Tese. 65 título sugerido por Bloch e logo em seguida passará a ter uma diagramação requintada e de grande efeito visual e chegará a ocupar duas páginas inteiras da revista. Para entendermos com propriedade as peculiaridades que a crônica esportiva irá adquirir com Nelson Rodrigues, precisamos olhar para a imprensa brasileira da década de 1940 e 1950. O jornalismo brasileiro estava, durante aquele momento, vivendo sob alguns aspectos o seu ápice de refinamento. Um acompanhamento das edições do Jornal dos Sports no correr dessas décadas aponta para um fato curioso. Apesar de ser um jornal voltado para os esportes, como seu nome assinala, seus horizontes iam muito além dos fatos estritamente relacionados aos desportos. O jornal dava conta assim, e com surpreendente zelo, dos assuntos culturais também. Sua segunda página era sempre dedicada às críticas teatrais (assinadas por Jota Efegê) e cinematográficas, e suas edições traziam ainda informações sobre os eventos culturais da cidade (a vida social, o rádio, a televisão, e até os acontecimentos de interesse do público feminino na coluna “Notas Femininas”). O leitor de hoje que se defronta com as coleções microfilmadas do diário chega à conclusão de que a prática jornalística dos editores dos jornais esportivos de então era por demais cosmopolita. O Jornal dos Sports, que contava com a colaboração, ainda que parcimoniosa, de gente do gabarito de José Lins do Rego, não estava sozinho em sua cruzada. Uma folheada no hebdomadário Flan, editado por Samuel Wainer como braço cultural do seu Última Hora, nos leva à percepção de que o tablóide comandado por Joel Silveira trabalhava em um sentido inverso ao do Jornal dos Sports. Apesar de a atenção do Flan, revolucionário dentro da imprensa brasileira, se voltar para a vida cultural (cinema, teatro, televisão, comportamento, ou, mundanismo, como eles preferiam), o 66 tablóide não conseguia fugir às reportagens sobre os jogadores de futebol e atletas de projeção em esportes como o hipismo (um grande acontecimento social à época), por exemplo. O Flan chega às bancas em 1953. Manchete Esportiva é lançada, mais de um ano e meio depois, nos últimos meses de 1955, e parece ser a versão esportiva do tablóide onde brilhavam o jornalismo de Jean Manzon, de Nássara, as charges do cartunista Lan (que também se tornaria um colaborador assíduo de Manchete Esportiva) e os folhetins romanceados do próprio Nelson Rodrigues. Se Flan abria suas páginas para os “ektachromes” das pin-ups hollywodianas, a Manchete Esportiva, secundando um formato presente no tablóide (que nesta altura já tinha desaparecido das bancas), dedicava sempre sua última página por completo para uma pin-up esportiva. Escolhia-se uma atleta que era fotografada e aparecia em página inteira tendo ao fundo a paisagem de algum recanto do Rio de Janeiro. Não podemos esquecer ainda que a revista O Cruzeiro, que começou a ser publicada em 1928 como Cruzeiro, vinha inovando e explorando o mesmo tipo de jornalismo (não por acaso, o time de jornalista de O Cruzeiro - Millôr Fernandes, Nássara, Jean Manzon e o próprio Nelson Rodrigues - integraria o corpo de jornalistas responsáveis por esses novos veículos de informação). É no espaço da Manchete Esportiva que Nelson inaugura um estilo de crônica singular que mistura comentários sobre o esporte com observações comportamentais. Aqui parece ser necessário comentar também o que caracterizava o trabalho do “chronista sportivo” na primeira metade do século XX. Sua prática tem relação mais estreita com o que Afrânio Coutinho, como veremos mais adiante na seção 2.5.2 desta Tese, entende pela rotina do jornalista que se exercita no gênero da “crônica-informação”. O “chronista 67 sportivo” era tão somente o jornalista que fazia o acompanhamento dos acontecimentos do mundo dos esportes junto aos clubes. Isso quer dizer que qualquer “foca” de primeira hora podia receber o rapapé de ser chamado de “chronista sportivo” sem que redigisse crônicas que se enquadrassem dentro da acepção mais nobre do gênero. Nelson, por sinal, trabalhou por várias anos como esse “chronista sportivo” na década de 1930 em O Globo, uma ocupação que, como vimos, odiava. Quando parte para escrever suas crônicas em Manchete Esportiva, Nelson Rodrigues já é um escritor tarimbado. Ele traz a sua experiência de ficcionista para esse mundo e passa a misturar aos eventos do dia-a-dia do mundo dos esportes uma boa dose de ficção. Sai-se assim com crônicas admiráveis que são reflexões comportamentais que têm apenas os fatos do esporte como motivação e que mostram em um novo meio, portanto, o lastro literário de um gênero que teve José de Alencar, Machado de Assis, Olavo Bilac, Lima Barreto, João do Rio e Mario de Andrade como seus expoentes. No dia 22 de julho de 1958, ainda antes do fim de Manchete Esportiva, Nelson Rodrigues inaugura sua coluna de cronista no Jornal dos Sports. Era o deslanchar de sua terceira experiência como colunista esportivo na imprensa e seus escritos apareciam sob o título de “Nelson Rodrigues dá bom-dia”. Na primeira coluna, o jornalista anuncia sua estréia falando sobre o time campeão do mundo: a seleção brasileira que acabara de ganhar seu primeiro campeonato mundial. Nelson aparecia com a coluna diariamente, com folga às segundas-feiras. A coluna seguiria com constância surpreendente e cinco anos depois, no dia 4 de abril de 1963, mudaria de nome: primeiro para “Football e gente”, sofrendo a partir já do dia seguinte, o aportuguesamento de seu título e passando a “Futebol e gente”. Essa seria uma das colunas que ele manteria pelo resto de sua vida, 68 perfazendo mais de vinte anos de colunismo esportivo no jornal carioca impresso em papel cor de rosa. A edição de O Globo da sexta-feira 23 de março de 1962 trazia a seguinte chamada de capa: Nélson Rodrigues em O Globo Foi na seção esportiva de O Globo que Nelson Rodrigues, que depois se tornaria um dos mais fecundos, vigorosos e discutidos teatrólogos brasileiros, fez, em companhia de outros irmãos seus, algumas das primeiras armas da sua carreira jornalística. Será decerto motivo de satisfação para os leitores de O Globo saber que Nelson Rodrigues regressa na próxima segunda-feira às colunas deste jornal dando sua presença e o brilho conhecido de sua pena a mesma seção em que outrora exerceu as suas atividades. Caber-lhe-á a responsabilidade de assinar diariamente uma coluna na página esportiva, na qual com seu inegável talento e dentro das normas de isenção e critério que os leitores se habituaram a encontrar nas páginas de O Globo irá oferecer-lhes as crônicas cheias de interesse e vibração que dele justamente se [espera]23. O Globo anunciava em nova chamada de capa a estréia na segunda-feira, dia 26 de março. Meu Personagem da Semana Garrincha, o famoso e desconcertante “Seu” Mané, foi o escolhido por Nélson Rodrigues para inaugurar a sua galeria com tanta expectativa aguardada do “Meu Personagem da Semana”. Afirmando que dos pés do imprevisível ponteiro poderá nascer a flor do bicampeonato, Nélson Rodrigues acentua o franciscanismo de Garrincha em sua primeira e sensacional crônica que os leitores encontraram na última página da segunda seção. O título, que como vimos foi sugerido por Adolpho Bloch, seguiria como cavalo de batalha de Nelson Rodrigues. As cinco primeiras colunas saem sob o título de “Meu personagem da semana”, mas logo começam inusitadamente a se alternar com outros títulos como “A batalha”, “Retrato antigo”, “Futebol é paixão”, “Os bandeirinhas também são anjos” e “À sombra das chuteiras imortais”. As duas coletâneas de crônicas esportivas mencionadas anteriormente trazem, além de textos da Manchete Esportiva, seleções das colunas esportivas de O Globo, publicadas entre os dias 5 de junho de 1962 23 Recorri aos colchetes quando era impossível reconhecer trechos do original no microfilme digitalizado. Entre colchetes inseri suposições pessoais sobre o conteúdo do que foi publicado. 69 e 22 de junho de 1970. Há ainda nessas compilações escritos para as revistas Fatos e Fotos, Manchete e Realidade, o que mostra que Nelson Rodrigues também fazia colaborações esporádicas para outros periódicos impressos. Paralelamente, no começo dos anos de 1960, e anteriormente a sua estréia em O Globo como colunista esportivo, Nelson Rodrigues vinha arriscando artigos esparsos para o semanário Brasil em Marcha e para a revista Manchete. Essas crônicas, que classificaria como comportamentais, são apontadas como o embrião das crônicas memorialistas e confessionais que amadureceriam com a passagem do escritor pelo jornal Correio da Manhã e que seguiriam com ele a partir daí e pelo resto de sua prática como cronista, principalmente em O Globo. Nelson Rodrigues foi incumbido no Correio da Manhã de escrever suas memórias que se iniciaram em 18 de fevereiro de 1967 e se encerraram na octogésima coluna em 31 de maio deste mesmo ano, por desentendimentos no que diz respeito à remuneração (Castro, 1997). Tratava-se de narrativas memorialistas que seriam posteriormente reiniciadas em O Globo como as Confissões. Em sua primeira página, no dia 2 de dezembro de 1967, O Globo anuncia o início das colunas comportamentais de Nelson para esse veículo. Usando um trecho de uma das futuras “Confissões”, diz o texto de apresentação: - Não gosto de nortista! - Por quê? - perguntaram ao bêbedo. - Porque nasci em mão de parteira. Não sou qualquer um. A cena, testemunhada por Nélson Rodrigues, num boteco do Rio, acordou no escrtitor, em “flashback”, a sua época favorita: o Rio da “espanhola”, de Pinheiro Machado, das apóstrofes de Rui e das perorações em geral. O desenvolvimento da história está num dos capítulos das “Confissões” de Nelson, que O Globo vai publicar a partir de 2ª.-feira. Na ilustração acima, o bêbedo aparece de suspensórios, o que não é usual, mas, no caso, corresponde, com flaubertiana verdade, aos fatos. Leiam as “Confissões de Nélson Rodrigues” em “O Globo”, a partir de segunda-feira, dia 4. 70 E assim eram lançadas as “Confissões” que também durariam, como as crônicas de esportes feitas para o Jornal dos Sports e O Globo, o restante da vida do escritor. Algumas destas “Confissões”, que se estenderiam pela segunda metade da década de 1960 e pela década de 1970, aparecem originalmente nos livros O óbvio ululante (1968), A cabra vadia (1970) e O reacionário (1977) e ganhariam reedições reordenadas por Ruy Castro. Castro não se limitou a reeditar esses livros. Estabeleceu a data dos escritos, acrescentou notas, expurgou crônicas repetidas, fez apresentações para cada um dos volumes e preparou um elaboradíssimo índice remissivo. Em relação ao título Memórias de Nelson Rodrigues – a menina sem estrela, editada em 1967 pela editora do jornal Correio da Manhã, uma das obras mais raras do escritor e difícil de ser encontrada mesmo em sebos hoje, às 39 crônicas do volume original foram acrescidas 41 crônicas que cobriam todas as colaborações do cronista para o jornal. O resultado foi o livro A menina sem estrela – memórias (1997). Todo esse trabalho de Ruy Castro foi um fator essencial para o efetivo conhecimento da evolução da obra do cronista. Castro aproveitou ainda para reunir crônicas não publicadas em um livro inédito que levou o título de O remador de Ben-Hur (1996). Em suas crônicas comportamentais, Nelson Rodrigues repetiria o procedimento adotado com as crônicas esportivas. Agora, no entanto, os “personagens” retratados eram pessoas proeminentes da vida cultural brasileira e mundial: escritores, compositores, filósofos, cineastas, diretores de cinema e teatro, bem como tipos populares desconhecidos (a maioria reais, mas alguns talvez ficcionais, pois não se pode precisar) com quem apenas o escritor tinha alguma intimidade. 71 2.5 – Considerações Acadêmicas sobre as Reportagens, os Folhetins, os Contos, as Crônicas Cabe desenvolver nessa seção uma discussão de ordem teórica sobre os estudos que focam o segmento da produção intelectual de Nelson Rodrigues nos jornais. Trata-se de práticas que englobam uma variedade grande de exercícios discursivos por parte do escritor, mas que parecem no fundo apresentar alguns elementos de contato. Começarei pelas reportagens, e me estenderei às discussões sobre o folhetim, os contos e as crônicas. O debate deve ter seu ponto de partida na natureza discursiva dos faits divers que estão relacionados com a prática de Nelson Rodrigues em sua passagem pela reportagem policial. Posteriormente, veremos o entrelaçamento dessa sua experiência com o exercício de contista e folhetinista. 2.5.1 – Reportagens Policiais e Faits Divers Ainda não há uma reflexão acadêmica consistente sobre a produção jornalística de Nelson Rodrigues como repórter em função da novidade desse material, uma vez que apenas a partir de 2004 seus textos dessa vertente de sua prática escritural começaram a vir a público com a edição de O baú de Nelson Rodrigues – os primeiros anos de crítica e reportagem (1928-35) (Rodrigues, 2004). Há muitos pesquisadores, no entanto, a indicarem a influência que as reportagens policiais escritas por Nelson, e toda sua experiência dentro do quadro de repórteres dos jornais de seu pai, têm sobre sua prática como ficcionista. Os comentadores mencionam principalmente o papel central 72 desempenhado aí pela escrita jornalística policial que se filia ao que ficou conhecido como o fait divers. Monestier (2004) esclarece que apesar de o termo fait divers datar de meados do século XIX, trata-se de uma narrativa cujas feições fundamentais podem de um lado remeter a passagens bíblicas e, de outro, às reportagens dos jornais que tematizam a violência e o crime nos dias de hoje. Para uma reflexão sobre a natureza dos faits divers, deve-se, no entanto, recorrer a estudo seminal de Roland Barthes (1999) que enumera várias de suas características: assinala, por exemplo, o fato de eles serem acontecimentos totais que não exigem ancoragem em uma realidade específica para serem entendidos. O fato de tratar-se de acontecimentos que querem significar, se entendemos que faz parte da natureza humana a busca de um sentido, uma explicação para o extraordinário. Nos diz o ensaísta francês com suas palavras: Quanto ao crime misterioso, conhece-se sua fortuna no romance popular; sua relação fundamental é constituída por uma causalidade diferida; o trabalho policial consiste em preencher de trás para diante o tempo fascinante e insuportável que separa o acontecimento de sua causa; o policial, emanação da sociedade inteira sob sua forma burocrática, torna-se então a figura moderna do antigo decifrador de enigmas (Édipo), que faz cessar o terrível porquê das coisas. (Barthes, 1999: 61; grifo do autor) Um outro aspecto importante destacado por Barthes são os desvios de algumas causalidades. Trata-se de aspecto, já destacado quando comentei o teatro rodrigueano amaparado em Süssekind, muito explorado por Nelson em seus contos e peças: “(...) espera-se uma causa, e é outra que aparece: “uma mulher esfaqueia seu amante”: crime passional? não, “eles não se entendiam bem em matéria de política”. “Uma empregada rapta o bebê de seus patrões”: para obter um resgate? não, “porque adorava a criança”” (Barthes, 1999: 62). É bom assinalar neste momento que Barthes entende todos esses elementos dos faits divers como “paradoxos da causalidade”. Barthes destaca, por fim, 73 um outro tipo de vinculação que se pode encontrar nos faits divers e que guarda analogia com os escritos de Nelson: “a relação de coincidência”. Os aspectos salientados por Barthes podem ser complementados por Marlyse Meyer para assinalarem pontos importantes da presente pesquisa no que se refere aos limites entre fato, acontecimento jornalístico e material ficcional. Quando vai falar da terceira fase do folhetim francês, Meyer menciona um autor como Émile Zola e sua proximidade da corrente literária naturalista e lembra: O romance-folhetim era então a grande narrativa dos “dramas da vida”, para retomar o subtítulo que Xavier de Montépin deu ao conjunto de sua obra. Ele imita a vida, que por sua vez imita o folhetim, se atentarmos para os temas recorrentes dos faits divers, ambos ilustrados com figuras quase intercambiáveis no seu gosto pelos episódios sanguinolentos e espetaculares (mulher cortada em pedacinhos, outra atirada pela janela, flagrada em pleno vôo, o assassino apontando com o revólver etc.), não sabendo onde começa um e termina o outro. (...) Mas o folhetim “naturalista’, como já disse, também revisita o velho melodrama, gênero teatral tão bem definido por Chevalier: “É a coisa representada em carne e osso; a coisa em ação, coberta apenas por alguns trapos, tremendo de fome, de frio, com o inverno, a injustiça, o horror, o cárcere, o algoz!”, concretiza no palco os temas do folhetim e do fait divers, através de personagens de carne e osso, dinamiza as violentas imagens que saltam das páginas dos ilustrados para o palco, dando vida às mesmas situações e exprimindo-as com a mesma intensidade e paixão. Gênero do “excesso” os três. Gêneros do excesso também porque, se a época é a dos grandes enquadramentos na usina, no lar, na escola, o que não se consegue trancar é a exteriorização dos grandes sentimentos, dos grandes sofrimentos, das paixões avassaladoras, que levam ao crime até, infinitamente repetidas na mesmice do fait divers e nas seqüências do folhetim-romance: ódio, paixão, ciúme, desejo, ganância, ambição, fome, morte, luxúria, loucura. A invenção ocorre por conta do labirinto do enredo, redundante, repetitivo, previsível no retorno de temas, situações, coincidências, mas sempre imprevisível na sua sucessão, no suspense, no nascido do hábil entremear das narrativas paralelas, que o tornam sempre – até hoje para os maníacos do gênero – um objeto palatável. Excesso, redundância, mau gosto, vulgaridade, dirão “os finos”, mas nem por isso esse folhetim deixa de remeter a seu modo – um modo que nem Maupassant nem Zola ignoraram – ao cotidiano de uma época que, não se sabe bem por quê, se chamou Belle Époque, desmitificada talvez por esta ficção que não era digna de ser exibida nas vitrines resplandecentes dos grands magasins. (Meyer, 1996: 233-34) Meyer assinala, portanto, a proximidade dos faits divers dos folhetins por sua exposição de temas de mau gosto, que investem pela redundância e pelo excesso. São vivências que Nelson teve a oportunidade de experimentar na prática da redação dos jornais de seu pai e de Roberto Marinho e cujos sinais mais significativos acabou 74 incorporando a sua obra ficcional, em suas peças, folhetins, contos e mesmo em algumas de suas crônicas. 2.5.2 – Origens e Características dos Folhetins e das Crônicas Tanto o folhetim como a crônica têm suas origens dentro da prosa francesa do século XIX e, certamente como reflexo da centralidade que essas duas práticas discursivas desempenham dentro da cultura brasileira, já existe uma significativa produção ensaística tratando do assunto. Identifica-se de início uma confusão terminológica causada por uma indefinição sobre as diferenças entre folhetim e crônica. Em artigo publicado no jornal O Globo, Wilson Martins (2003) deixa explícito o lastro da dúvida. O crítico e resenhista cobrava, então, de duas compilações distintas e recém-editadas à época, uma reunindo escritos jornalísticos de José de Alencar e outra de Machado de Assis, publicadas sob o título de “melhores crônicas”, precisão terminológica. Para o então colunista do caderno “Prosa e Verso” do jornal O Globo, Alencar e Machado escreveriam em periódicos como o Correio Mercantil e O Espelho, não crônicas, mas folhetins. Martins usa uma definição do próprio Machado para embasar sua argumentação. O texto, escrito em 1859 pelo Bruxo (Machado, 1997), quando contava apenas vinte anos, já tinha sido caracterizado por Marlise Meyer (1992), em estudo anterior ao definitivo Folhetim (1996), como evasivo o suficiente para não enunciar com exatidão absolutamente nada. No artigo em que tenta deslindar o assunto, Meyer se esforça por páginas e páginas na busca por esclarecer o assunto até que entrega, ao final, os pontos e decide por 75 não ser mais realista que o rei, se referindo à dificuldade que o próprio José de Alencar teria em definir ao certo o que era o folhetinista, um novo animal no cenário de nossas letras (referência à imagem de um colibri, utilizada por Machado para descrever o autorfolhetinista). O texto de Meyer aparece em uma célebre compilação de estudos acerca da crônica (Candido et al., 1992) que foi o desdobramento de um dos grandes seminários que tiveram lugar na Fundação Casa de Rui Barbosa e em que se discutiu em detalhe o tópico. Entre os muitos debates ocorridos à época tentavam-se assinalar algumas das características desse gênero literário que parece ser mesmo o gênero brasileiro por excelência. Ele começa a se constituir durante o período de formação de nossa literatura, uma época em que a afirmação de um corpo de obras literárias coincidia com a busca de definição de um Estado-nação independente. Foi durante o período romântico que a crônica brasileira começou a sua gênese singular. Antonio Candido nos fala sobre as origens da crônica da seguinte forma: (...) ela não nasceu propriamente com o jornal, mas só quando este se tornou cotidiano, de tiragem relativamente grande e teor accessível, isto é, há uns 150 anos mais ou menos. No Brasil ela tem uma boa história, e até se poderia dizer que sob vários aspectos é um gênero brasileiro, pela naturalidade com que se aclimatou aqui e a originalidade com que aqui se desenvolveu. Antes de ser crônica propriamente dita foi “folhetim”, ou seja, um artigo de rodapé sobre as questões do dia – políticas, sociais, artísticas, literárias. Assim eram os da seção “Ao Correr da Pena”, título significativo a cuja sombra José de Alencar escrevia semanalmente para o “Correio Mercantil”, de 1854 a 1855. (1992: 15) Marlyse Meyer no seu Folhetim (1996) ajuda a esmiuçar o assunto. De início, ou seja, começos do século XIX, le feuilleton designa um lugar preciso do jornal: o rez-de-chaussée – rés-do-chão, rodapé – geralmente o da primeira página. Tinha uma finalidade precisa: era um espaço vazio destinado ao entretenimento. E pode-se já antecipar, dizendo que tudo o que haverá de constituir a matéria e o modo da crônica à brasileira já é, 76 desde a origem, a vocação primeira desse espaço geográfico do jornal, deliberadamente frívolo, oferecido como chamariz aos leitores afugentados pela modorra cinza a que obrigava a forte censura napoleônica. (...) Quem sabe se traçar a crônica do folhetim não é um pouco fazer o folhetim da crônica! (Meyer, 1996: 57) Portanto, e como nos esclarece também Afrânio Coutinho, o termo folhetim era usado num primeiro momento “para designar mais a seção, na qual se publicavam não só crônicas senão também ficção e todas as formas literárias” (Coutinho, 1997: 122). Só posteriormente é que uma distinção clara no emprego do termo seria feita, com folhetim passando a se referir apenas às estórias ficcionais publicadas de forma seriada e, crônica, aos artigos que abordavam um assunto específico e que não se estendiam por mais do que uma edição do jornal. Folhetim ou crônica, o gênero discursivo de origem francesa iria no correr da segunda metade do século XIX e durante o século XX adquirir uma cor local especialíssima e acabar por cativar muitos leitores no Brasil24. Já sem dúvida sobre quando estava escrevendo uma crônica ou folhetim, Nelson Rodrigues foi um dos escritores que ajudaram a definir características próprias para os dois gêneros no Brasil, e, mesmo, a difundir, no cenário de nossas letras, as duas formas de criação literária. Afrânio Coutinho (1997) propõe uma tipologia para se distinguir as nuanças da crônica na cena literário brasileiro. Sua categorização subdividiria a crônica em: crônica narrativa – “aquela cujo eixo é uma estória ou episódio” (Fernando Sabino seria um exemplo); crônica metafísica, - “constituída de reflexões pessoais de cunho mais ou menos filosóficos” (Machado e Drummond representariam este segmento); crônica poema-em-prosa, - de “conteúdo lírico, mero extravasamento da alma do artista ante o espetáculo da vida” (Manuel Bandeira, Rubem Braga, Raquel de Queiroz, simbolizariam 24 Para uma abordagem histórica do folhetim no Brasil, ver o interessante estudo de José Ramos Tinhorão. Está em Tinhorão, José Ramos. Os romances em folhetins no Brasil (1830 à atualidade). São Paulo, Livraria duas Cidades, 1994. 77 essa vertente); crônica-comentário – a que trata “dos acontecimentos, que tem, no dizer de Eugênio Gomes, ”o aspecto de um bazar asiático”” (um número significativo das crônicas de Machado e de Alencar se enquadrariam neste grupo); e a crônica-informação - “é a que divulga fatos, tecendo sobre eles comentários ligeiros. Aproxima-se do tipo anterior, porém é menos pessoal” (Coutinho, 1997: 133). Coutinho alerta para o fato de que não há uma divisão estanque entre as várias modalidades e que freqüentemente, pelo contrário, elas se fundem. Ao projetar-se essa abordagem para a análise do texto rodrigueano, me vejo obrigado a uma apropriação particular dessa nomenclatura. O que Coutinho entende por crônica narrativa, aproximaria do que chamaria de crônica-conto; a crônica-informação, identificaria com a crônica-crítica ou crônica-resenha; a crônica-comentário, que aparece muito na prosa de nosso autor, se associa à crônica-metafísica e à crônica poema-emprosa. 2.5.3 – A Avaliação Acadêmico-Universitária dos Folhetins, Contos, Crônicas Existem alguns trabalhos universitários a investir pela análise do folhetim rodrigueano. Um exemplo é a dissertação de Mestrado “Nelson Rodrigues, um moderno autor folhetinesco – a tragédia nossa de cada dia”, de Izabel de Oliveira Cruz (1997), que discute os folhetins pseudonímicos de Myrna e Suzana Flag e os contos de “A vida como ela é...”. Cruz trata da proximidade entre os folhetins e os faits divers e os relaciona com o melodrama e drama francês do século XIX. Nos folhetins pseudonímicos de Nelson, identifica o trabalho com os arquétipos e temas do melodrama (as vilãs, as mulheres 78 comuns nos papéis de heroínas, os amores eternos, as buscas de vingança e de sucesso a todo custo). Mostra o desprendimento com que Nelson Rodrigues transita por essa literatura de má reputação que se opõe à literatura que festeja o belo e o sublime. Cruz assinala ainda a oralidade como ponto central do romance-folhetim dessa produção rodrigueana. Um outro estudo importante é a tese de doutorado “Nelson Rodrigues, leitor de Dostoiévski: a retórica do romance” (2002), de Adriana Armony, que tem como objetos o folhetim autoral Asfalto selvagem – engraçadinha seus amores e seus pecados e o romance O casamento (Rodrfigues, 2002e). Armony investe por várias frentes que encampo em meu trabalho. Se dou mais atenção às discussões sobre a poética aristotélica, a autora, por outro lado, centra suas elaborações de ordem teóricas na retórica de Aristóteles. Nos encontramos de qualquer jeito ao tratarmos do ponto central que o paradoxo tem dentro da escrita de Nelson. Facina (2004) dedica um capítulo inteiro de sua tese ao segmento dos contos de “A vida como ela é...”, centrando sua investigação na reflexão concernente às representações do espaço urbano nas criações literárias em geral e nas criações literárias rodriguenas especificamente. A autora parte dos estudos de seu orientador, o antropólogo Gilberto Velho, para tecer suas considerações. As representações da cidade em “A vida como ela é...” serão estendidas por Facina a digressões sobre suas marcas no teatro e na crônica rodrigueanas. Entre os tópicos em foco estão os contrastes na representação que o conto rodrigueano constrói entre os mundos das Zonas Norte e Sul da cidade do Rio de Janeiro. A modernização das cidades, por sua vez, se aplicará na análise que a 79 historiadora faz do impacto dessas mudanças para a criação do ficcionista e cronista. Facina, por fim, voltará a discutir esse aspecto dentro do espaço de algumas das peças do autor. Quanto às crônicas de Nelson Rodrigues, especificamente, elas têm uma fortuna crítica maior. Elas vêm sendo analisadas de duas maneiras distintas principalmente: no que se refere às discussões e interpretações que suscitam, e no que diz respeito a suas estruturas narrativas e aspectos formais. Há uma tendência geral a se designar prontamente as crônicas esportivas de Nelson Rodrigues como crônicas futebolísticas. As duas coletâneas organizadas por Ruy Castro, que foram os dois veículos que funcionaram como meio maior de divulgação dessas crônicas esportivas, talvez sejam indiretamente as responsáveis por ensejar essa identificação, pois que tratam, como assinalam em seus subtítulos, de reunir apenas “crônicas de futebol”. Os estudiosos (alguns deles assumidamente amantes do velho esporte bretão) confirmam essa tendência, mas os ressentidos de qualquer outro esporte, que sofrem com a “ditadura do futebol”, não tardarão em perceber que essa é uma falsa impressão que precisa ser de alguma forma corrigida. Já falei de como o Jornal dos Sports das décadas de 1930, 1940 e 1950 era cosmopolita na variedade de assuntos de que tratava (do esporte ao cinema, passando pelo teatro). Se a revista Manchete Esportiva, ao contrário, não fugia do esporte em função do formato em que foi concebida, se percebia, por outro lado, e por toda ela, uma celebração de todos os esportes, sem distinção. É claro que em um momento em que o futebol brasileiro se sobressaiu no mundo a revista teve de dedicarlhe maior espaço e aderir à tendência. 80 Mas é preciso mesmo do registro de uma revista como essa para se saber que em 1959 o Brasil sagrou-se bi-campeão sul-americano de beisebol, esse esporte cuja contagem nenhum brasileiro entende muito bem como é feita. Essa volta toda é para lembrar que as crônicas rodrigueanas não eram exclusivamente “crônicas de futebol”. Deve-se mencionar que trabalhos acadêmicos como “Fábulas do gol: as crônicas esportivas de Nelson Rodrigues” (1997), O futebol em Nelson Rodrigues (2000) e “Com brasileiro não há quem possa!” (2004), sem demérito algum de suas sofisticações analíticas e qualidades intelectuais, pecam em não assinalar aos olhos do leitor esse aspecto. Um dos assuntos identificados por Marques (2000) como tendo se iniciado com as crônicas do período de Manchete Esportiva é o que trata do talento dos atletas brasileiros. Segundo o pesquisador, Nelson se lança em suas crônicas em defesa das qualidades do futebol praticado em terras brasileiras querendo curar uma crise identitária do brasileiro que se refletia em uma ausência de auto-estima. Segundo o autor paulista, Nelson buscava ajudar o brasileiro a superar o “complexo de vira-latas” que nos marcara profundamente desde a perda da Copa do Mundo de 1950. O recorte que o mestre pela PUC-SP faz para sustentar sua postulação, que é apenas uma das teses de seu refinadíssimo trabalho de pesquisa, se inicia com as crônicas de Manchete Esportiva, embora tenha continuidade com os textos de Nelson publicados no Jornal dos Sports e em outras publicações. Para focar sua análise, o pesquisador ainda escolhe períodos específicos: as Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1966 e alguns campeonatos nacionais referentes a períodos próximos a esses mundiais. Passa então a verificar como se deu o acompanhamento desses eventos por parte do cronista e em 81 defesa do talento dos jogadores brasileiros, pouco valorizados em função de nossa “carência de admiração”, de nossa “vivência de um narcisismo às avessas”, que resultava no “complexo de vira-latas”. O problema de tais postulações é que elas, apesar de válidas, em meu entender, reduzem o alcance do que a escrita rodrigueana nos propõe. E isso se dá porque entendo que essas asseverações escondem o fato de os escritos de Nelson Rodrigues nos convidarem na verdade, e através de sua ambivalência, para uma permanente reflexão sobre crenças identitárias que não são exclusivas do brasileiro. É aí que ele coloca em xeque todo o ódio que vem a reboque de qualquer pregação nacionalista. Seus escritos mostram os equívocos das posições dogmáticas. E, neste quadro, demonstram que podemos ultrapassar as limitações de nossas visões sectárias. As nossas identidades, nossas visões de mundo, nossas crenças, passam a ser móveis e a se recompor a todo momento por meio de sua ambivalência. A análise de Marques de qualquer modo toca em um assunto que é tematizado de maneira recorrente na escrita rodrigueana: a nacionalidade. Esse é também o assunto do trabalho de Fátima Martins Rodrigues Ferreira Antunes embora sob um enfoque sociológico (na verdade uma tese de Doutorado de 1999 - anterior à pesquisa de Marques, portanto - que apenas foi editada posteriormente). Fora do espectro da crônica futebolística, o assunto foi discutido por Rosolem (1995) ao estudar as crônicas memorialistas-confessionais do autor (publicadas em um período posterior à época de Manchete Esportiva). O título da dissertação de Rosolem, feita no mestrado da ECOUFRJ, por sinal, se refere a isso. O verde-amarelo, símbolo identitário de nosso 82 nacionalismo, é entendido pela pesquisadora como tendo, na prosa do escritor, a variedade de cores de um arco-íris. No que diz respeito aos aspectos formais da crônica rodrigueana, eles são tratados com maior requinte por Marques (2000). O pesquisador começa por chamar a atenção, a partir das considerações do cubano Severo Sarduy, para o vínculo da prosa rodrigueana com a vertente literária do neobarroco hispano-americano, e indica a força literária dessa corrente dentro da tradição das letras latino-americanas. Mas não pára aí. Desce ainda a filigranas textuais e discute os “gramas fonéticos” trabalhados nos textos do autor em anagramas e em efeitos de aliteração. O pesquisador se lança assim em um tipo de análise que anda muito fora de moda e que parece ter perdido terreno para as investigações de cunho sociológico. Dentro da análise de Marques, o que chama a atenção é a ausência de qualquer comentário sobre o uso de adjetivação tríplice que é recorrente em Nelson Rodrigues e que se enquadra dentro dos recursos da prosa do neobarroco apresentados pelo pesquisador. Às análises formais, Rosolem (1995), em um desses estudos que infelizmente permanecem confinados aos limites dos bancos de monografias, dissertações e teses das universidades, prefere explorar as estratégias discursivas trabalhadas por Nelson Rodrigues em suas crônicas. No começo da presente Tese, assinalei as peculiaridades da mistura de realidade e ficção nos escritos do cronista, resultado das constatações de um ensaio meu que deu origem ao presente estudo (Souza, 2002). Disse então que Nelson, ao lançar mão deste recurso estilístico em um veículo voltado para a difusão de informação (os jornais), estava convidando o leitor a optar pela prosa do escritor em oposição à prosa do escrevente dentro das categorizações propostas por Barthes (1999). Rosolem, no 83 entanto, leva essa ponderação mais adiante e nos diz que Nelson estava na verdade questionando os “estatutos da verdade”. Trabalhando a partir das idéias que Süssekind aplicou para a discussão do teatro rodriguiano, que já vimos anteriormente, Rosolem as lança para analisar as crônicas do escritor. Apresenta, assim, uma abertura das mais singulares para a compreensão do texto do Nelson Rodrigues cronista, abertura para o assunto que encampo e volto a explorar nesta Tese25. 2.4 – Os Primeiros Escritos, os Textos Perdidos e o Epistolário Depois de assinalar o que já foi pesquisado e levantado dos escritos rodrigueanos, devo anotar ainda o que aparece identificado e registrado de forma dispersa e o que resta por se pesquisar. O livro Documentos autógrafos, de Pedro Corrêa do Lago (Lago, 1997), apresenta entre os registros de sua coleção particular reprodução fac-símile de um texto manuscrito de Nelson Rodrigues, escrito aos treze anos. Nele, Nelson, que por indisciplina nunca conseguiria completar instrução escolar formal, defende o espírito de dedicação dos escoteiros. “Toda criança deve entrar no escoterismo, porque lá cresce o espírito amoldado nas prescrições do bem” (Lago, 1997: 190). Depois de elogiar a bravura da participação dos escoteiros na Primeira Guerra Mundial, o Nelson Rodrigues adolescente afirma: “escoteirismo é a instituição mais pura, mais perfeita que existe na história da humanidade” (Ibidem). O mesmo livro reproduz a capa de uma edição do jornalzinho Alma Infantil (Lago, 1997: 148) rodado, pelo Nelson Rodrigues adolescente, na gráfica do jornal A 25 Assim como o elemento mítico abordado na seção 2.1.1, essa percepção do confronto entre fato e ficção, apontado por Rosolem e por mim, parece também ter origem explicitamente no próprio texto do autor. Mais uma vez, portanto, o escritor afigura-se como condicionador da recepção de sua obra. 84 Manhã, de seu pai. São cinco o total de números do tablóide (cf. Castro, 1993) e foram preparados em seguida a sua expulsão do Colégio Baptista no bairro da Tijuca no Rio de Janeiro. Tem de mencionar-se também os textos perdidos, como a famosa composição juvenil que Nelson escreveu ainda nos bancos escolares da Escola Prudente de Morais, que é comentada pelo próprio autor em passagem que trata de suas reminiscências: A vida como ela é... é muito anterior à Última Hora, a Samuel Wainer, data de 1922; nasceu de um plágio, na sala do quarto ano primário da escola pública. Com oito anos incompletos, eu contava um adultério, com todos os matadouros. O marido saía e a mulher, nas barbas indignadas dos vizinhos, chamava o amante. Eu era um moralista feroz. E não fui, confesso, nada compassivo. Um dia, o marido volta mais cedo. Ao entrar em casa, vê aquele homem saltar da janela, pular o muro e sumir. A mulher caiu-lhe aos pés, soluçando: - “Na me mate! Não me mate!”. O marido agarrou-a pelos cabelos. E o que houve, em seguida, foi uma carnificina. Lembro-me de que a composição terminava assim:-“Acabou de matá-la a pontapés”. (Rodrigues, 1997: 143) Trata-se da composição que trazia um plágio de célebre frase de Raimundo Correia saído de “As pombas” em que o poeta constrói uma imagem lúgubre: “raia sangüínea e fresca a madrugada”. A frase, que Nelson posteriormente descobriria ter sido “pilhada”, como diz, por Raimundo Correia de Théophile Gautier, foi transcrita integralmente e entrou assim mesmo naquela que é apontada como a sua primeira estória juvenil (cf. Rodrigues, 1997a: 142). Também perdidos ficaram os sketches preparados no período de internação do escritor no sanatório para turbeculosos em Campos do Jordão, no Estado de São Paulo. O texto, usado pelo escritor para entreter seus companheiros de condição enferma é referido por Castro (1993). O epistolário rodrigueano ainda espera um extenso projeto de pesquisa que depende necessariamente da colaboração de familiares, pessoas que conviveram com o escritor e amigos que tenham interesse em divulgar a correspondência do autor. Em seu livro sobre a dramaturgia rodrigueana, Sábato Magaldi (1992) apresenta reprodução de uma correspondência curta de Nelson Rodrigues para seu irmão Mário Filho (que é 85 tratado pelo apelido de Lula no bilhete), quando o futuro dramaturgo se encontrava internado em um sanatório em “Campos do Jordão, em 1935” (1992: 66). Outras cartas particulares trocadas pelo escritor com a atriz Eleonor Bruno, com quem Nelson teve uma aventura amorosa, serviram de inspiração para a montagem da peça Dorotéia minha, estrelada pela atriz Beth Goulart (neta de Eleonor), em 2002. Nelson Rodrigues Filho, em depoimento durante o evento “Nelson 25 anos”, ocorrido nos meses de maio e junho de 2005 na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), revelou que possui cartas pessoais de seu pai e que pretende coligi-las para edição em livro. 86 3 — Centralidades na Escrita do Autor Even the lover of myth is in a sense a lover of Wisdom, for the myth is composed of wonders. Aristóteles Chamam-me psicólogo; não é verdade, sou apenas um realista no mais alto sentido, ou seja, retrato todas as profundezas da alma humana. Dostoiévski O sujeito que escreve deixa de ser ele mesmo. Uma simples frase nos falsifica ao infinito. Nelson Rodrigues Ao proceder a um apanhado da obra e a uma avaliação global da recepção crítica dos escritos de Nelson Rodrigues, pude perceber que três pontos têm centralidade nas observações dos jornalistas, pesquisadores, estudiosos e comentadores que se dedicaram a analisar sua produção como escritor. Trata-se do reconhecimento de uma narrativa com fortes traços mitológicos que se desenvolve turvando os limites textuais operados pelos discursos ficcional e factual e amparada em um pensamento que tem o paradoxo como fonte. Em função disso, me estenderei individualmente e de uma perspectiva teórica por cada um desses tópicos. 3.1 – A Dimensão Mitológica A ascensão do pensamento filosófico grego foi durante muito tempo assumida como um momento de declínio do pensamento mítico. Essa percepção, no entanto, é críticada por Mircea Eliade em um dos clássicos dos bancos universitários (Mito e realidade, 2000), em que o pensador nos mostra que a abertura do pensamento grego para a reflexão de caráter metafísico-racional não significou necessariamente uma negação 87 decisiva do mito. O mito, segundo Eliade, e ao contrário da idéia que prevaleceu através dos séculos, sempre narrou uma “história verdadeira” e não uma “fábula”, “invenção” ou “ficção” e trata de assuntos que também pautariam as preocupações filosóficas: a origem do mundo e as perspectivas de um tempo futuro. A filosofia ao invés de negar o pensamento mítico, portanto, partiria fundamentalmente das mitologias. “(...)[P]ode-se dizer que as primeiras especulações filosóficas derivam das mitologias: o pensamento sistemático esforça-se por identificar e compreender o “princípio absoluto” de que falam as cosmogonias, em desvendar o mistério da Criação do Mundo, em suma, o mistério do aparecimento do Ser”, afirma o pensador (Eliade, 2000: 101; aspas do autor). E complementa: “[A] “desmitificação” da religião grega e o triunfo, com Sócrates e Platão, da filosofia rigorosa e sistemática, não aboliram definitivamente o pensamento mítico” (Eliade, 2000: 101; aspas novamente do autor). A mitologia poderia assim ter sido superada, mas não suprimida, conclui. Em função disso, e como nos confirma Emmanuel Carneiro Leão (2002), especialista no assunto em terras brasileiras, o mito é também uma etiologia. Essa perspectiva poderia, assim, acabar por marcar na contemporaneidade o vislumbre de um possível encontro entre o pensamento filosófico moderno e uma espécie de nova infância, representada pelo mito, uma vez que as reflexões que surgem em seu interior se identificam com traços do período mítico. Carneiro Leão desenvolve o tema ao discutir um dos mitos que mais resistiram ao tempo: o que versa sobre a Árvore do Conhecimento (cf. Carneiro Leão, 2002). Mesmo em um campo como o das historiografias há a identificação de traços mitológicos remanescentes. Do período de fundação da historiografia com gregos e 88 romanos às diferentes filosofias da história que apareceram com Agostinho, Gioachino da Fiore, Vico, Hegel e Marx, passando pela busca de construção do “homem perfeito” e exemplar em sua vida cívica e moral, com Tito Lívio e Plutarco, a anamnesis historiográfica “prolonga, embora em outro plano, a valorização religiosa da memória e da recordação. Não se trata mais de mitos nem de exercícios religiosos. Mas subsiste um elemento comum: a importância da rememoração exata e total do passado. Rememoração dos eventos míticos, nas sociedades tradicionais; rememoração de tudo o que se passou no Tempo histórico, no Ocidente moderno” (Eliade, 2000: 122; grifo do autor). Além de terem funcionado como elemento capital na influência que exerceram sobre nascentes ciências como a filosofia e a historiografia, as narrativas mitológicas também impregnaram o espaço da poesia épica, da tragédia e da comédia e mesmo das artes plásticas. Amparadas na força da escrita, atravessaram ainda os séculos e chegaram a nós. A necessidade da vivência propiciada pelas narrativas que derivaram da experiência mítica é tão fundamental que encontra, em época mais recente, sua continuação na fruição do romance e, como afirma Mircea Eliade, “O que deve ser salientado é que a prosa narrativa especialmente o romance, tomou, nas sociedades modernas, o lugar ocupado pela recitação dos mitos e dos contos nas sociedades tradicionais e populares” (Eliade, 2000: 163). As características que assinalariam essa homologia seriam, segundo o autor, a fuga do tempo histórico e pessoal e o lançar-se em um tempo fabuloso, trans-histórico, embora com o recurso de práticas profanas e dessacralizadas distintas assim das narrações míticas. Para passar a uma avaliação da presença de um pensamento mítico nas sociedades modernas deve-se, no entanto, recorrer aos estudiosos que dedicaram maior atenção ao 89 tema: Umberto Eco (2000) e Roland Barthes (2003). As abordagens são muito distintas, já que Barthes está decidido a proceder a uma crítica escancarada às práticas ideológicas burguesas, enquanto Eco, ainda que sem deixar de lado esse aspecto, se detém com maior ênfase e cuidado no aparecimento de sinais míticos em uma sociedade movida pelo aparato dos meios de comunicação de massa e de uma indústria da cultura, identificando, por parte dos críticos, posições apocalípticas ou integradas com relação a esse quadro. De início, Eco se preocupa em trabalhar uma definição para a mitificação e chega à caracterização de sua marca como a daquela experiência de “simbolização incônscia” que produz a “identificação do objeto com uma soma de finalidades nem sempre racionalizáveis” (Eco, 2000: 239). Prossegue acrescentando que se trata de uma “projeção na imagem [do objeto da mitificação] de tendências, aspirações e temores particularmente emergentes num indivíduo, numa comunidade, em toda uma época histórica” (Eco, 2000: 239). Se vivemos um período de desmitificação, entendido como um momento de enfraquecimento do plano sagrado, devemos reconhecer também e ao mesmo tempo uma espécie de transferência dessas manifestações para outras práticas de nossas vivências pessoais. Para Eco, confirmando as ponderações de Eliade, é possível se perceber nas narrativas oferecidas por uma sociedade moderna e dominada pelos meios de comunicação de massa semelhanças com as narrativas do período mitológico: Numa sociedade de massa, na época de civilização industrial, observamos, de fato, um processo de mitificação afim com o das sociedades primitivas, mas que freqüentemente procede, de início, segundo a mecânica mitopoiética posta em prática pelo poeta moderno. Isto é, trata-se da identificação privada e subjetiva, na origem, entre um objeto, ou uma imagem, e uma soma de finalidades, ora cônscias ora incôscias, de maneira a realizar-se uma unidade entre imagens e aspirações (e que tem muito da unidade mágica na qual o primitivo baseava sua operação mitopoiètica). (Eco, 2000: 242) 90 Segundo o professor de semiótica, um dos aspectos a ser ressaltado é o da imutabilidade das narrativas míticas que contrastam com a dinâmica do padrão narrativo que surge com a civilização do romance. Enquanto a narrativa do herói mitológico, assim como as muitas narrativas sagradas de um período histórico posterior (Eco menciona o período da primeira cristandade, da cristandade medieval e mesmo do Catolicismo contra-reformista), já é conhecida do seu fruidor e revisita uma sucessão de eventos sabidos, o romance incursiona por terreno novo. A tradição romântica, e mesmo se considerarmos que essa tradição aflora antes do Romantismo, nos apresenta “uma narrativa em que o interesse principal do leitor é deslocado para a imprevisibilidade do que acontecerá, e portanto, para a invenção do enredo, que passa para um primeiro plano. O acontecimento não ocorreu antes da narrativa: ocorre enquanto se narra, e, convencionalmente, o próprio autor não sabe o que sucederá” (Eco, 2000: 249: grifos do autor). Essa imprevisibilidade vai ser por sinal um dos expedientes que distinguirão e caracterizarão profundamente o feuilleton oitocentista francês. Outro ponto a salientar é o da minoração do grau mítico do herói, que na maioria dos casos passa a encarnar o cidadão comum. Nas palavras de Eco: A personagem do mito encarna uma lei, uma exigência universal, e deve numa certa medida, ser, portanto, previsível, não pode nos reservar surpresas; a personagem do romance, pelo contrário, quer ser gente como todos nós, e o que lhe poderá acontecer é tão imprevisível quanto o que nos poderia acontecer. Assim, a personagem assumirá o que chamaremos de uma “personalidade estética”, espécie de co-participabilidade, uma capacidade de tornar-se termo de referência para comportamentos e sentimentos que também pertencem a todos nós, mas não assume a universalidade própria do mito, não se torna hieróglifo, o emblema de uma realidade sobrenatural, que é a universalização de um acontecimento particular. Tanto isso é verdade que a estética do romance deverá reverdecer, para essa personagem, uma velha categoria, de cuja existência nos damos conta justamente quando a arte abandona o território do mito: e é o “típico”. (Eco, 2000: 250; grifo e aspas do autor) 91 O exemplo que Umberto Eco vai escolher para ilustrar suas reflexões é o representado pelas histórias em quadrinhos que versam sobre as aventuras do SuperHomem. A escolha do Super-Homem com sua dupla personalidade, de pacato contador americano e de super-herói, funciona perfeitamente para a exemplificação pretendida. Para mim também interessará essa construção do arquétipo, mais do que as questões bastante curiosas mencionadas pelo autor ao lembrar as dificuldades enfrentadas pelos roteiristas que, no caso do Super-Homem, devem lidar com um personagem que não dá um passo sequer para a morte26. A menção ao romance policial vem mais à mão neste momento, com os tópicos que se repetem fixamente e por um outro elemento muito peculiar para o que irei considerar dentro em pouco em nossa análise: o papel desempenhado pela redundância. É no momento em que contrasta os quadrinhos do Super-Homem com os quadrinhos dos Peanuts de Charles M. Schulz, que Umberto Eco procede a sua crítica dos valores difundidos por cada uma dessas criações no ambiente dos mass media. Se o Super-Homem opera a partir de uma pedagogia que reforça os mitos e os valores que prevalecem na sociedade, os personagens de Schulz surgem na sutileza das linhas desse artista do desenho para espelhar a nossa condição humanamente cômica. Extremamente polêmica será, no entanto, a proposta de Barthes (2003) que quer reconhecer no mito uma semiologia. É o que a parte teórica, a segunda parte de seu livro, nos propõe. Trata-se de uma investida intelectual tão problemática quanto a que o cineasta Pier Paolo Pasolini (2005; certamente influenciado pelo semiólogo francês) tentou fazer ao se esforçar por apresentar o futebol como um sistema elaborado de signos. 26 Chama a atenção o fato de Umberto Eco não comentar que o mesmo acontece com os Peanuts de Charles M. Schluz, dos quais ele fala a seguir. 92 O livro de Barthes passeia pelas mitologias do cotidiano, do casamento à capa da revista Paris Match, do tour de france ao cérebro de Einstein, e nos mostra como os valores que aí aparecem são o reflexo de uma sociedade burguesa, de como ela se representa em sua posição de classe hegemônica, e como essa classe se expressa semiologicamente. Ainda que as observações de Barthes no campo teórico sejam problemáticas, e o próprio Umberto Eco, em estudo que comentaremos em seguida (seção 3.3), destaque como o ensaísta francês confundiria em seus estudos semiológicos códigos como processos de semiose infinita e com o que viria a ser chamado de intertextualidade, elas mostram a presença de traços mitológicos no imaginário de uma sociedade burguesa. 3. 2 – Os Limites entre Discurso Factual e Ficcional Cabe desenvolver nessa seção um tópico no qual nos iniciamos há pouco ainda que sem confrontá-lo diretamente: os limites entre o discurso factual e o ficcional. Podese começar o debate servindo-se de um autor cuja obra tem causado embaraços grandes quanto à discussão sobre os limites entre o discurso histórico, verídico, e o discurso de viés literário: Euclides da Cunha. Depois que “dormiu desconhecido para no dia seguinte acordar famoso”, Euclides da Cunha, que nunca poupou esforços para alcançar projeção no cenário intelectual brasileiro (da luta por sua candidatura para ingresso na Academia Brasileira de Letras ao esforço por seu concurso à vaga da Cátedra de Lógica do Colégio Pedro II), ficaria surpreso em ver a repercussão que sua trajetória intelectual causou e ainda causa em todos os horizontes letrados no Brasil e no Exterior. 93 Estudiosos embarcam em ônibus e carros e rumam para São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, pesquisadores de renome vencem os céus, em aviões de carreira, em direção a Austin, no Texas, todos com o objetivo de discutir a obra do escritor natural de Cantagalo, Rio de Janeiro. Houve até o caso trágico de um pesquisador apontado pela crítica como dos mais talentosos em assuntos euclidianos, Roberto Ventura27, que morreu ao colidir com seu veículo no retorno de um dos encontros, em São José do Rio Pardo. A discussão central sobre o texto euclidiano que me interessa explorar é aquela que trata dos limites entre, de um lado, o factual-histórico, e de outro, o ficcional. Com relação a Euclides, há o grupo que aposta direta ou indiretamente no caráter ficcional de sua obra máxima, Os sertões. Ele congregou no passado nomes de peso no meio acadêmico como o de Afrânio Coutinho e, mais recentemente, teve uma adesão ainda que não de todo explícita de estudiosos como o historiador Nicolau Sevcenko. Com bases em estudos que eram desenvolvidos na década de 1950 por pessoas como Eugênio Gomes e que traziam à cena documentos que comprometiam a precisão factual do texto euclidiano, Afrânio Coutinho não tinha receio em afirmar que eles colocavam por terra a face histórica do trabalho do escritor cantagalense: E confirmam outrossim, a tese aqui aventada pelo autor desta nota, de que a organização de Euclides era menos de um historiador e homem de ciência do que um ficcionista; e de que Os sertões eram antes uma obra de ficção do que um ensaio históricosociológico. À luz de tais estudos parece indiscutível que Os sertões são um poema épico em prosa, a ser classificado na linha da Ilíada e da Canção de Rolando. (Coutinho, 1995: 65) Embora não confronte diretamente o assunto, Sevcenko (1988) apresenta seu estudo sobre a obra de Euclides da Cunha e Lima Barreto como voltada para a investigação da atuação desses autores no campo literário. Na introdução do livro chega 27 Ver texto póstumo com trecho das pesquisas de Roberto Ventura sobre Euclides da Cunha. Aparece em edição luxuosa dos Cadernos de Literatura editados pelo Instituto Moreira Salles. Checar em Ventura, Roberto. “À frente da história”. In: Galvão, Walnice Nogueira e Ventura, Roberto (consultores). Cadernos de literatura brasileira – Euclides da Cunha. São Paulo, Instituto Moreira Salles, 2002, p.14-48. 94 mesmo a recorrer à conhecida distinção de Aristóteles para diferençar o trabalho do historiador e o do poeta e em seguida concluir: “Ocupa-se portanto o historiador da realidade, enquanto que o escritor é atraído pela possibilidade. Eis aí, pois, uma diferença crucial, a ser devidamente considerada pelo historiador que se serve do material literário” (Sevcenko, 1998: 21). Ou seja, Sevcenko já assume de saída os textos de Euclides da Cunha e de Lima Barreto como literários em oposição ao texto do historiador. Mais adiante em seu trabalho ele cairia em contradição aparente ao afirmar em relação à escrita de Euclides: “A transparência de seus textos com relação à realidade dos fatos que animam a ação social do período é quase que total. Esse realismo premeditadamente intoxicado de historicidade e presente é uma das características mais típicas de sua literatura e o afasta em proporção visível de seus confrades de pena, europeus e nacionais” (Sevcenko, 1988: 131). Não se está aqui querendo apontar falhas na tese excepcional que Nicolau Sevcenko defendeu na USP. Pelo contrário, aceita-se com extrema naturalidade essa ambigüidade de seu trabalho. Mesmo porque poderia terse aqui um autor trabalhando como um historiador-literato como indica a apreciação de Luiz Costa Lima, que comento a seguir. Luiz Costa Lima está entre os que veementemente não aceitam o texto euclidiano como ficcional. Um repórter do Jornal Folha de São Paulo flagrou Costa Lima em uma inusitada troca de idéias sobre o tema com a estudiosa Sara Castro-Klarén, do departamento de estudos latino-americanos da Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos, em um simpósio internacional que comemorava o centenário do lançamento da obra euclidiana de 1902. Em sua reportagem, no caderno Mais!, de 26 de outubro de 2003, à página 14, conta o repórter Adriano Schwartz: 95 Depois de se cumprimentarem, ela disse que havia relido recentemente “Os Sertões” e ficara novamente espantada com a qualidade narrativa do engenheiro e que julgava muito curioso o fato de se considerar um historiador. O brasileiro retrucou: “Mas ele é um historiador”. “É claro que não é”, disse ela; “é claro que é”, disse ele; “não, não é” … (Schwartz, 2003) Leopoldo M. Bernucci, diretor do departamento de Português e Espanhol da Universidade de Austin, acompanha o ponto de vista de Costa Lima (longa e minuciosamente orquestrado pelo ensaísta maranhense em capítulo de seu livro O controle do imaginário - razão e imaginação nos tempos modernos, de 1989), embora com restrições à maneira como enceta sua argumentação. Para Bernucci (1995), ao se servir de entrevistas, cartas e pronunciamentos críticos de Euclides da Cunha e não da própria narrativa de Os sertões, para justificar seu posicionamento sobre o tema, Costa Lima acaba tornando fraca sua argumentação. Para justificar sua perspectiva, Bernucci se vale de qualquer jeito da observação categórica de Luiz Costa Lima que afirma sem rodeios: “Discurso da realidade, Os sertões é dominantemente uma obra de sociologia” (Costa Lima, 1989: 239). Costa Lima afirma, entretanto, que isso não significa que “o especialista em literatura não tenha o que fazer com Os sertões” (Costa Lima, 1989: 239). E continua: Todo o contrário: além de permitir o exercício de se pensar como a sua mimesis dominada pode inverter sua posição – exercício recentemente cumprido por Vargas Llosa, em La Guerra del fin del mundo (1981) –, possibilita ser visto como a conseqüência mais radical de uma direção que vimos começar a se mover nas primeiras décadas do século XIX. Apenas esta fecundidade parece comprometida se insistimos em chamá-lo obra literária ou até ficcional sem nos propormos a indagar o que de fato dizemos quando assim dizemos. (Costa Lima, 1989: 239) Para explorar Os sertões como obra científica e literária, Costa Lima trabalharia, anos depois, em Terra ignota: a construção de Os sertões (1997), uma refinada elaboração conceitual que o levaria a passear por uma cena esboçada com “operadores científicos” e uma subcena congregando imagens que funcionam como uma “máquina da 96 mimesis”. Euclides deixaria a literatura figurar em Os sertões, mas como “ornato”, e um “ornato que não se infiltrasse no quadro principal” (Costa Lima, 1997: 138). Caberia, assim, a uma parte central de Os sertões ser trabalhada por uma descrição científica, enquanto os dados periféricos, ilustrativos, se inclinariam especialmente a um rendimento propriamente de ordem literária. De acordo com o autor de A imitação dos sentidos (Bernucci, 1995), o que em geral se reconhece naqueles que encaram Os sertões como exercício de ficção é a confusão entre os conceitos de literariedade e de ficcionalidade, que são tópicos díspares e não necessariamente intercambiáveis. De início, Bernucci (2001) nos aponta a separação entre ficção e história. Bernucci (2001) lembra que os estudos das poéticas antigas aprimoraram os conceitos que separam verossimilhança e verdade, associando o primeiro à ficção (tragédia, comédia, lírica e épica), por sua preocupação com a aparência de verdade, e o segundo à história, por seu interesse pela veracidade factual. Algumas marcas textuais assinalariam um apego à ficção, enquanto outras marcariam laços mais estreitos com a história. E finaliza: “Com as várias leituras, acumuladas no decorrer do tempo, cria-se um consenso sobre como se realizam as obras ficcionais e as historiográficas” (Bernucci, 2001: 43). Esse consenso resulta, sob a perspectiva enviesada por Michel Foucault (2003), de um embate nada cordial. O conhecimento, entendido como busca da verdade, é conseqüência de uma guerra no entender do filósofo francês. Foucault fala da produção da verdade no campo do conhecimento e do saber, mas seria possível estendê-la à produção da verdade factual: 97 Se quisermos realmente conhecer o conhecimento, saber o que ele é, apreendê-lo em sua raiz, em sua fabricação, devemos nos aproximar, não dos filósofos mas dos políticos, devemos compreender quais são as relações de luta e poder – na maneira como as coisas entre si, os homens entre si se odeiam, lutam, procuram dominar uns aos outros, querem exercer, uns sobre os outros, relações de poder – que compreendemos em que consiste o conhecimento. (Foucault, 2003: 23) Algumas páginas depois, o filósofo francês conclui no final da primeira de uma série de conferências que proferiu na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no ano de 1973: “Só pode haver certos tipos de sujeito de conhecimento, certas ordens de verdade, certos domínios de saber a partir de condições políticas que são o solo em que se formam o sujeito, os domínios de saber e as relações com a verdade” (Foucault, 2003: 27) Sem discordar, portanto, de Bernucci, deve-se assinalar de forma explícita a maneira como se formam os “consensos” de que o pesquisador fala. E o interesse tanto de sua parte como da de Luiz Costa Lima em apresentar uma resposta definitiva para o assunto é parte constitutiva desse quadro. Identifica-se, assim, um embate permanente entre ficção e verdade, discurso literário e discurso científico-histórico, e as noções que os movem. É um confronto que uma avaliação isenta apontaria como um jogo permanente entre esses dois pólos. A discussão sobre os limites entre ficção e realidade, leva ainda ao debate sobre o que seja a verdade jornalística, outra área que também diz respeito à discussão do texto rodrigueano e do autor de Os sertões. Nelson Rodrigues trabalhou como repórter e cronista diário de eventos esportivos. Foi como correspondente do jornal O Estado de São Paulo, por sua vez, que Euclides da Cunha chegou ao tópico de seu livro. Posso então neste ponto me servir de quem se dedica, há várias décadas, à inquirição sobre o 98 que caracteriza o trabalho jornalístico no Brasil: Nilson Lage, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Lage, no seu Ideologia e técnica da notícia (2001), e depois de discutir a verdade científica e histórica (apoiado no mesmo Michel Foucault de A verdade e as formas jurídicas, de que me servi há pouco), se deparou com a necessidade de delimitar o espaço da verdade na práxis jornalística. E assim investiu sobre o tema: Devemos falar, agora, não de um saber sobre (como os das ciências), mas de um saber fazer dos jornalistas. No quadro das relações entre conhecimento e verdade, temos aqui uma nova dimensão. Falaremos de uma verdade comprometida com uma prática, confessadamente interessados em averiguar o que essa prática pode render para o esclarecimento útil da relação entre os muitos conceitos de verdade. (2001: 148) No subtópico intitulado “Notícia e aparências”, concluiria seu encaminhamento sobre a questão: Notícias são relatos de aparências codificadas (a) pelo código semiológico (ou lingüístico), (b) pelas técnicas de nomeação, ordenação e seleção, (c) por um estilo. Obedecidas essas três ordens de restrições ao elenco de possibilidades do enunciado, a verdade se apresenta como conformidade do texto com o acontecimento aparente. Tal conformidade, supostamente, qualifica o jornalista como correto, honesto; a inconformidade o qualificaria como incorreto, desonesto. A obediência ao código e à técnica mede sua competência e domínio da expressão. (2001: 148; grifo do autor) Depois de destrinchar a técnica do fazer jornalístico em busca da verdade noticiosa, Lage lembra que isso não pode ser tudo na experiência jornalística: “Daí outro conceito de competência do jornalista: sua capacidade de refletir a realidade de maneira mais justa (ou verdadeira) vencendo todas essas limitações através de domínio superior da técnica e das convenções da língua” (Lage, 2001: 149). Essas observações complementam o que o jornalista já havia comentado anteriormente em seu trabalho. Falando mais do veículo do que do jornalista, ele mencionara um ponto importante a ser considerado quando a discussão esbarra na veracidade do texto jornalístico: a confiabilidade e o prestígio que os veículos adquirem 99 quando o receptor identifica justeza na transmissão da informação (Lage, 2001) – traços que devem ser estendidos ao jornalista. De novo, e como se deu na parte em que se tratou do mito, a verdade e a veracidade factual são objeto de disputa. Se a delimitação do espaço entre o ficcional e o real é problemática na discussão de uma obra como Os sertões, de Euclides da Cunha, ela se torna ainda mais complexa ao nos confrontarmos com os escritos de Nelson Rodrigues, pois trata-se de um autor que deliberadamente testa as crenças nos limites entre essas duas construções narrativas sobre o cotidiano. Como foi observado no começo desta Tese, Nelson trabalha sua prosa inserindo elementos do cotidiano em seus textos ficcionais e dados ficcionais em suas narrativas não-ficcionais. Mais do que o interesse em delimitar rigorosamente esses campos da vivência, Nelson se mostra fascinado pelas possibilidades de questionamento que eles abrem para uma reflexão sobre a nossa condição histórico-humana. É claro que para tanto, nosso autor teve de inaugurar, servindo-se de sua prodigiosa verve, um campo específico para sua atuação dentro dessa imprensa. Isso aconteceu desde seus primeiros textos e durante toda a sua trajetória dentro do jornalismo brasileiro. Nelson foi abrindo espaço e não se intimidando em escrever o que queria e como queria. Suas brigas, seus ditos espirituosos, suas inumeráveis pilhérias, que questionam os que se apegam ao factual e às verdades definitivas, são sinais desse enfretamento. 3.3 – O Paradoxo como Meio de Expressão 100 Após as considerações acima, pode-se avançar em um terceiro tópico de postulações teóricas para a análise de nosso autor e proceder-se a uma aproximação de um outro elemento que também é importante para distinguir e marcar os traços de sua escrita. Trata-se da investida e exploração por parte do escritor de um pensamento que descreveria como de matiz fundamentalmente paradoxal28. Em meu entender, a escolha por privilegiar essa perspectiva, que se insinua de forma notável no autor, se vincula ao fato de Nelson Rodrigues buscar com insistência deflagrar e trabalhar a polêmica em seus escritos. Para polemizar é necessário inverter expectativas e afirmar o inesperado, e o paradoxo é um recurso fundamental e imprescindível para isso. Quem nos dá uma primeira abertura para o tema do paradoxo, de uma perspectiva filosófica, é o francês Gilles Deleuze em sua obra A lógica do sentido (2000). Segundo Deleuze: “O paradoxo é, em primeiro lugar, o que destrói o bom senso como sentido único, mas, em seguida, o que destrói o senso comum como designação de identidades fixas” (2000: 3). O filósofo prossegue mais adiante e no mesmo livro elaborando essas suas postulações iniciais. “Os caracteres sistemáticos do bom senso são pois: a afirmação de uma só direção; a determinação desta direção como indo do mais diferenciado ao menos diferenciado, do singular ao regular, do notável ao ordinário”. Trabalhando de forma distinta, o paradoxo “(...) segue outra direção oposta ao do bom senso e vai do menos diferenciado ao mais diferenciado” (2000: 79). A força do paradoxo, nos diz o 28 Essa abertura para o tema é registrada por Magaldi. Comentando a primeira peça de Rodrigues, “A mulher sem pecado”, nos diz esse que é um dos mais fundamentais analistas da obra rodrigueana: “Olégario emite paradoxos que se tornarão a marca registrada do cronista e memorialista”. In: Magaldi, Sábato. Teatro da Obsessão: Nelson Rodrigues. São Paulo, Global Editora, 2004, p.14. Pode-se, no entanto, imaginar, como já foi feito em relação ao aspecto mítico e de confronto entre o factual e o ficcional, que o próprio autor condiciona essa percepção de sua obra. No final da peça “Boca de Ouro”, temos o seguinte diálogo entre um locutor e o repórter Caveirinha: “Locutor (que não pode abandonar a sua subliteratura) -“Caveirinha”, o que é que você me diz do paradoxo cruel desse crime? Caveirinha – Por que paradoxo? Locutor- Pelo seguinte: esse povo veio ver o “Boca de Ouro”, o célebre “Boca de Ouro”. Entra no necrotério e encontra, em cima da mesa, um cadáver desdentado! Caveirinha (com um sorriso de espanto) -Desdentado? Locutor (com sua fixação de pobre de espírito)- Sem um mísero dente! Não é um paradoxo? É um paradoxo! Um homem existe, um homem vive por causa de uma dentadura de ouro. Matam esse homem e ainda levam, ainda roubam a dentadura da vítima! (quase agressivo) Paradoxo, “Caveirinha”!”. In: Rodrigues, 1985, p.338; grifos do original. O tema, como veremos adiante, é explorado por Armory, 2002. 101 filósofo, “não consiste absolutamente em seguir a outra direção, mas em mostrar que o sentido toma sempre os dois sentidos ao mesmo tempo, as duas direção ao mesmo tempo” (2000: 78). Deleuze discute com maior atenção a presença de elementos paradoxais nas obras de Lewis Carroll e de Antonin Artaud, embora trabalhe suas considerações se servindo de outros escritores também. Para completar e projetar o foco das observações do filósofo francês para o âmbito mais geral da análise literária, deve-se recorrer ao professor Eduardo Portella. Em uma de suas preleções no curso da cadeira de Teoria Literária que teve como título “Ascenção e queda do intelectual na modernidade” (ministrada como parte do currículo do programa de Pós-Gradução da Universidade Federal do Rio de Janeiro), o professor emérito desta instituição discorreu sobre o que marcaria uma prática literária que inaugura e passa a tomar o paradoxo como um recurso estilístico recorrente. Segundo o ensaísta, e seguindo anotações feitas em suas aulas que ocorriam no espaço muito especial do gabinete da presidência da Biblioteca Nacional, no amplo espectro do campo literário, os aspectos mais salientes de semelhante intervenção nos levam à percepção da instauração de rupturas, onde a tradição literária buscava a síntese, da procura de uma lógica do aleatório, onde se identificava o empenho por uma lógica do necessário, e a tentativa de imputação do choque e da alteridade, onde a arte se debatia por obter harmonia e conformidade. Portella, que por uma feliz coincidência para o presente estudo foi alçado por Nelson à condição de persona ficcional em Asfalto selvagem – engraçadinha seus amores e seus pecados, julga que essas qualidades se evidenciam em obras de literatos de três séculos atrás, principalmente na escrita de autores como Victor Hugo, Edgar Allan 102 Poe e Charles Baudelaire, que levaram os leitores à convivência com anti-heróis, com o grotesco e com o kitsch29. As observações do membro da Academia Brasileira de Letras, que em meu entender são evidentes também dentro da produção literária de Nelson Rodrigues, podem ser enriquecidas pelas conhecidas ponderações sobre a ruptura de gêneros comentadas por Haroldo de Campos (1977). Na avaliação de Haroldo de Campos sobre a prática poética, a passagem do Classicismo ao Romantismo marcaria o fim da preocupação com o emprego de palavras nobres, com as restrições de ordem formal e a idéia fixa do gênero puro. Superada a rígida tipologia intemporal, com propensões absolutistas e prescritivas, a teoria dos gêneros passa assim, na poética moderna, a construir um instrumento operacional, descritivo, dotado de relatividade histórica, e que não tem por escopo impor limites às livres manifestações da produção textual em suas inovações e variantes combinatórias. (1977: 11-2) Com o advento da difusão de uma imprensa em larga escala, Haroldo de Campos fala de um hibridismo de gêneros e de uma mídia que interfere nesse quadro: Um dos pontos cruciais no processo de dissolução da pureza de gêneros e de seu exclusivismo lingüístico foi a incorporação, à poesia, de elementos da linguagem prosaica e conversacional, não apenas no campo do léxico, frisado em especial por Mukarovsky, mas também no que diz respeito aos giros sintáticos. (1977: 14) Assim assiste-se à canonização de gêneros inferiores (“infraliterários”), “gêneros híbridos” como “as memórias, as cartas, reportagens, folhetins, aos produtos da cultura popular que vivem uma existência precária na periferia da literatura, ao jornalismo, ao “vaudeville”, à canção gitana e à história policial, para explicar através deles as inovações de autores como Puchkin, Niekrássov, Dostoiévski e Blok” (Id. Ibidem: 15). Deve-se chamar a atenção para o fato de que essas propostas de exercício discursivo surgem antes do projeto de uma arte moderna e atravessam impávidas a movimentação Modernista. São retomadas ainda, em alguns de seus traços, pela corrente 29 Para uma reflexão sobre kitsch e cultura de massa, ver “A estrutura do mau gosto”. In: Eco, Umberto, 2000, p.69-128. 103 pós-moderna. Se no modernismo reconhecemos a investida nas narrativas de jaez totalizante no desejo de instaurar um exercício discursivo que ambicionava elevar a arte ao patamar do sublime, no Pós-Modernismo é possível reconhecer, pelo contrário, a valorização das narrativas fragmentadas, avessas a qualquer fechamento e partidárias da perturbação de uma plenitude estética. Há ainda, como salientou Haroldo de Campo, um último aspecto: a quebra com a camisa de força que se traduzia na delimitação rigorosa e estanque dos gêneros. Os praticantes de uma estética paradoxal reagem a essa situação trabalhando seus escritos em investidas que misturam os gêneros - um ataque evidente, portanto, à tirania demarcatória. A opção por recorrer ao grotesco e ao kitsch é por demais patente na obra de Nelson Rodrigues, ainda que essa mesma obra não deixe de externar outros sinais paradoxais evidentes. São eles que garantem, por exemplo, o elemento inesperado para o desfecho de inúmeras de suas narrativas. A inversão de expectativas está presente, também, em um número incontável de passagens e de frases lapidares que o escritor escolhia para rechear suas crônicas. Nelas, Nelson Rodrigues criava narrativas curtas e com afirmações que abusavam do paradoxo. Contra-sensos surgiriam também nas passagens das crônicas escritas pelo escritor e em toda sua criação de modo difuso. A fascinação e interesse do escritor Nelson Rodrigues pelo paradoxo se expressa em outras peculiaridades da tessitura mais aparente de seu texto. São elementos que reforçam a intensidade do pensamento paradoxal. Esta é uma discussão complementar à inaugurada acima e para se chegar a ela deve-se recorrer a outros teóricos. Comecemos por Paul Ricoeur e pelo exaustivo arrazoado que faz sobre a metáfora no livro intitulado 104 A metáfora viva (2000), em que procede a uma revisão extensa sobre o conceito dessa figura de linguagem. A definição inicial de Aristóteles na Arte poética que estabelece as quatro categorizações clássicas para a metáfora como: “a transposição do nome de uma coisa para outra” (transposição esta que se daria “do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou de uma espécie para outra, [ou] por via da analogia”; Aristóteles, s∕d), vai ser acompanhada e confrontada em seus desdobramentos em cotejamento com os estudos retóricos europeus de Pierre Fontanier, no século XIX, e, já no século XX, com as investigações semânticas e semióticas de Émile Benveniste e Roman Jakobson, com as considerações de I. A. Richards, Max Black, Monroe Beardsley, Stephen Ullman e Nelson Goodman e com a pragmática de Austin e Searle. Depois da análise inicial que estabelece o tropo metafórico como um desvio, Ricouer vai se perguntar se podemos avançar deixando de tomar a metáfora como uma “denominação desviante” para encará-la como uma “predicação impertinente”, passando da semântica da palavra para a semântica da frase. De uma metáfora circunscrita à palavra, chegaríamos desse modo a vê-la relacionada com a oração e, em seguida, um novo passo poderia ser dado em direção a sua inclusão na dimensão maior do discurso. Por fim, e como derradeiro lance, Ricoeur nos proporia estendê-la ainda à origem do pensamento por colocar em movimento o raciocínio analógico, o que a identificaria com o começo da especulação teológico-filosófica. Ao chegar a esse ponto, no entanto, o autor francês acha que essa simplificação não é profícua e opta pela afirmação de uma “descontinuidade entre discurso especulativo e discurso poético” (2000: 392). E termina citando Heidegger para reforçar seu ponto de vista: “Para findar, gostaria de conservar, 105 do último Heidegger, apenas esta admirável declaração: “Entre ambos, pensar e poetar, impera um oculto parentesco porque ambos, a serviço da linguagem, intervêm por ela e por ela se sacrificam. Entre ambos, entretanto, se abre ao mesmo tempo um abismo, pois “moram nas montanhas mais separadas””30 (2000: 481). De qualquer jeito, Ricouer nos diz que recorremos às metáforas com maior insistência em tarefas prosaicas do dia-a-dia do que imaginamos. Não nos damos conta delas por se tratarem de metáforas mortas. As metáforas vivas, que por sinal proliferam nos escritos de Nelson Rodrigues, se destacam por sua novidade e por marcarem um “desvio” em relação às metáforas já saturadas pelo uso corriqueiro. A figura de linguagem que corresponde ao paradoxo é conhecida como oxímoro. Eles evidentemente estão presentes nas obras de Nelson Rodrigues. Na obra rodrigueana aparecem tanto circunscritos à palavra como neste trecho: “Disse não sei quem que há santos canalhas” (1997: 34; grifo nosso), como se manifestam no âmbito da oração, como na seguinte passagem: “(...) a solidão nasce da convivência humana” (2000: 60; grifo nosso mais uma vez). Esses exemplos nos levam a pensar se o choque provocado pelas proposições desses enunciados não se enquadrariam no “desvio” mencionado por Ricoeur e apontado como uma característica da metáfora em sua análise. Poder-se-ia, assim, entender que esses sinais paradoxais, presentes nestes casos, fariam com que se aproxime o oxímoro da metáfora como mais um caso onde se tem o primeiro como uma espécie, da qual a segunda é o gênero. Desse modo, temos na tessitura mais aparente do texto de Nelson Rodrigues uma proliferação de oxímoros e metáforas vivas que revelam, em nosso entender, o gosto do autor pela exuberância discursiva desses recursos de linguagem, um gosto muito próximo 30 Ricouer se refere ao Heidegger de Que é isto – a filosofia? (o tradutor de Ricoeur cita Heidegger a partir da tradução de Ernildo Stein. São Paulo, Nova Cultural, 4ª. edição, 1989, p.23. Coleção Os pensadores). 106 daquele que o autor parece ter pelo paradoxo. É com extrema criatividade que o cronista recria e torna vivas algumas metáforas desgastadas pelo tempo. Além de proliferarem essas e outras metáforas, ainda aparecem hipérboles e símiles em profusão no texto do autor. A incursão de Umberto Eco (1986) pelo tema da metáfora é bem distinta da de Ricouer - e feita na verdade anos depois. Ela está relacionada ao projeto do teórico italiano de investigação sobre os códigos semióticos de que nos servimos diariamente. Desde A estrutura ausente (1976), Eco começou a elaboração de seu grande estudo semiológico na incansável busca pelo reconhecimento sobre como se organizariam os códigos comunicacionais. Os resultados mais refinados desses esforços aparecem em uma obra que revê etapas anteriores e que ganhou o título de Tratado geral de semiótica (2000). Semiotics and the Philosophy of Language (1986) ainda pisa o terreno da semiologia, mas de uma perspectiva diversa: a partir de uma abordagem focada no aspecto cognitivo. O capítulo que trata da metáfora tem uma posição central em seu estudo. Eco repisa o que já disse anteriormente para traçar a trajetória do tropo metafórico desde sua origem em Aristóteles. Desinteressado, ao contrário de Ricouer, em debater a dimensão filosófico-teológica, o teórico italiano tem curiosidade pela metáfora como uma ferramenta de conhecimento e, citando o historiador Venerável Bede, do século VIII, diz mesmo que salientar esse tropo é “falar da atividade retórica em toda sua complexidade”. O capítulo dedicado à metáfora retoma os anteriores onde o autor havia discutido o signo e feito a distinção entre a cognição como um processo que se parece mais com o conhecimento adquirido em uma enciclopédia (com sua “cadeia polidimesional de 107 propriedades”) do que em um dicionário (onde o conhecimento fica restrito à definição sinonímica). Preparam ainda terreno para as discussões que se seguirão sobre símbolo, código, a categoria de isótopo e considerações esclarecedoras sobre as relações entre espelhos e significação. O grande avanço trazido pelo estudo de Eco é o de destrinchar a razão pela qual as caracterizações aristotélicas da metáfora têm causado tantos embaraços. E para chegar-se a tal compreensão é lembrado que três entre os quatro exemplos de metáfora apresentados por Aristóteles, os que tratam da transferência de sentido de gênero para espécie, de espécie para gênero e de espécie para espécie (que operam, portanto, em relação hiperonímica, hiponímica e de identidade, próprias a um dicionário), não mostram mais do que como a metáfora é feita. Ao passo que a transferência por analogia, o quarto caso, com o exemplo que aproxima e alterna a taça de Dionísio com o escudo de Ares, sinaliza o que a metáfora diz e como ela nos ajuda a reconhecer nossa experiência cognitiva (uma compreensão não mais dicionarizada, mas enciclopédica). Deve-se ainda destacar do estudo de Eco alguns aspectos. O primeiro deles é o de chamar a atenção para o fato de que o grande escândalo da metáfora é o de se apresentar como uma manifestação do espírito que aparece em todos os sistemas semióticos. E isso é particularmente fundamental para minha pesquisa, pois, como assinalou Pompeu de Souza, Nelson Rodrigues é um escritor que parece antever e visualizar o que escreve (o que aproxima seu teatro - e podemos ampliar tal perspectiva para outros de seus escritos de outras artes). Com relação à aplicação à análise dos escritos rodrigueanos, há ainda a percepção da evocação por parte do tropo aristotélico de “uma experiência visual, aural, táctil, olfativa”. Ao mostrar que a prática metafórica apresenta elementos que testam os 108 limites entre os vários códigos semióticos, Eco nos coloca diante desse “híbrido visual e conceitual”, que aparece ainda nas imagens oníricas, que proporciona as piadas e que se insinua como um “convite à intertextualidade” (elementos também presentes na escrita rodrigueana). Com isso, a metáfora diz algo mais, que escapa à verdade literal. As similaridades das comparações metafóricas exibem ao mesmo tempo dissimilitudes, a claridade e o enigma, em uma condensação (uma apropriação por parte do autor do termo freudiano) de opostos (os dois sentidos mencionados por Deleuze como propriedade do paradoxo). 4 — Narrativas Rodrigueanas Toda literatura pessimista encontra uma resistência fantástica; leitores e críticos não gostam disso. Sentem vagamente que arte e pessimismo se contradizem. Otto Maria Carpeaux They can´t hurt you Their style will never desert you Because they are all safely dead 109 I wish I´d gone down Gone down with them To where mother nature makes their bed Morrissey A alegria é a prova dos nove e a tristeza é teu porto seguro Gilberto Gil e Torquato Neto Há uma tendência de se apontar a obra ficcional rodrigueana como com um traço acentuadamente pessimista, enquanto a obra do cronista apresentaria de maneira diametralmente oposta um tom otimista. Teríamos desse modo os dois elementos antagônicos de sua prática escritural. Ainda que a recorrência a passagens trágicas e a desfechos violentos acompanhe a grande maioria de suas peças e de seus contos, onde o dado desventuroso, funesto, terrível, predomina, essa leitura poderia nos encaminhar para uma polarização que acaba comprometendo o reconhecimento de nuanças importantes de sua obra. Assim, várias de suas peças e contos apresentam momentos farsescos e satíricos, bem como muitas de suas crônicas nos colocam frente a frente com passagens de extrema tragicidade. Para tentar delinear com mais exatidão cada um dos campos incursionados por sua escrita, minha análise irá examinar detidamente as diferentes e diversificadas tintas empregadas pelo autor, e relacioná-las a cada um dos pontos ressaltados nas seções dedicadas às ponderações de ordem teórica. Para efeito de análise, as narrativas rodrigueanas serão submetidas a um exame que incluirá o estudo da linguagem no que diz respeito às estruturas lexicais, frasais e oracionais dos textos do dramaturgo, repórter, contista, folhetinista e cronista e que ascenderá ao âmbito mais geral do discurso manifesto em seu teatro e seus outros escritos. Observarei as divisões dos diferentes 110 gêneros em que incursionou como literato e jornalista. A opção por tal ordenação se deve ao fato de se querer manter a sistematização adotada desde o começo de meu estudo. 4.1 – Narrativas Dramatúrgicas Seguindo as avaliações circunspectas de um crítico criterioso e dedicado como Harold Bloom (1998), Shakespeare escreveu trinta e oito peças, embora Hamlet, com suas quase quatro mil linhas de texto, possa corresponder a três dramas ou mais. Nelson Rodrigues nos legou apenas dezessete títulos dramatúrgicos, alguns deles, como Valsa no. 6 e A serpente, extremamente curtos. Sua vontade era, entretanto, ter feito um número maior de dramas. Em depoimento particular, registrado por sua irmã Stella Rodrigues, o autor se lamenta: “Meu coração, eu preciso sobreviver e as crônicas esportivas, as confissões, é que me dão dinheiro. Se eu pudesse ganhar bastante para só escrever peças e romances. Minhas crônicas vão por esse Brasil afora e me dão o pão” (Rodrigues, 1986: 102). Se o bardo inglês, nascido em Stratford Upon-Avon e cuja vida dramatúrgica se desenvolveu toda em Londres, é o inventor do que é universalmente humano, o bardo brasileiro, nascido em Recife e cuja vida dramatúrgica se desenvolveu toda no Rio de Janeiro, é o inventor do homem universalmente carioca. A conhecida divisão proposta por Magaldi (1981), que aponta as obras dramatúrgicas rodrigueanas como identificadas e agrupadas dependendo de suas características mais marcantes como peças míticas, psicológicas e tragédias cariocas, é, como o próprio crítico reconhece, uma abstração didática. O que há na verdade é a preponderância de um desses dados. Vou recorrer a essa divisão pelo mesmo aspecto 111 didático e porque assim poderei confirmar a pertinência de semelhante abordagem, bem como checar suas limitações. 4.1.1 – Peças Míticas Vários são os fatores que contribuem para que se enfatize em uma obra uma dimensão mítica. O mero convite à fruição de uma narrativa que privilegie o espaço de uma vivência lúdica, semelhante ao proposto pelos romances nas sociedades modernas, já seria, como assinalado na seção teórica, um sinal que dotaria uma experiência de prerrogativas míticas. Outros aspectos, como, por exemplo, o interesse em retratar e trabalhar elementos que pouco tangenciam ambientes que distinguem nossa experiência cotidiana, assinalam a opção por enfatizar essa tendência. Em uma narrativa, são os nomes de lugares, de pessoas e a proximidade de fatos historicamente situados que fixam indícios de uma temporalidade demarcada. O escritor que procura eliminar ou amenizar as marcas que distinguem uma ordem de representação que assinale um lugar, uma época, um momento histórico específico, está propondo ao leitor o campo mítico como alternativa. Dentro da categorização de Magaldi, as peças míticas rodrigueanas são as que apresentam um maior grau de coesão e parecem mesmo marcar um momento particular na trajetória do dramaturgo. Foram todas escritas em uma fase específica e curta do percurso teatral do autor, circunscrita à segunda metade da década de 1940: Álbum de família, a primeira delas, é de 1945, e Dorotéia, a última, é de 1949, ficando Anjo negro, de 1946, e Senhora dos afogados, de 1947, entre essas duas obras. Nesta época, além das 112 peças, Nelson escrevia apenas seus folhetins para os jornais e revistas de Assis Chateaubriand. O dramaturgo trata de ambientar suas peças de traço mais acentuadamente mítico em espaços aistóricos. Álbum de família se passa em uma fazenda situada em um lugar inexistente fisicamente: S. José de Golgonhas. Há indicações, durante o correr da ação, de uma Três Corações próxima, e, assim, nos acharíamos eventualmente no estado brasileiro de Minas Gerais. O nome, no entanto, é fictício e mistura a Gólgota, de Cristo, com a Congonhas do Campo, do Aleijadinho, segundo sugestão de Sábato Magaldi. Em Anjo negro não há em momento algum a designação clara sobre onde se situa a casa de Ismael e Virgínia, palco de toda a ação dramática. É Um lugar “sem nenhum caráter realista”, segundo nos indica a rubrica inicial, e onde, assinala a notação que precede o primeiro quadro do terceiro ato, depois de se passarem dezesseis anos, “nunca mais fez sol. Não há dia para Ismael e sua família. Pesa sobre a casa uma noite incessante” (Rodrigues, 1981b: 169). Durante o transcorrer da estória o dramaturgo fará surgir em cena um grupo de negros que “falam com um acento de nortistas brasileiros, mas os gritos lembram certos pretos do Mississipi que aparecem no cinema” (Rodrigues, 1981b: 176). Por um raciocínio excludente, a notação nos faria, portanto, pensar que estamos longe da parte Norte brasileira. Adiante, a personagem Virgínia confirmará novamente essa sugestão em uma de suas falas ao externar seu desejo e atração pelo mundo masculino com a seguinte imagem: “Me lembrei de quatro pretos, que eu vi, no Norte, quando tinha 5 anos – carregando piano, no meio da rua ... Eles carregavam o piano e cantavam ...” (Rodrigues, 113 1981b: 189). Essas indicações de qualquer maneira não nos revelam com precisão o lugar em que se passa o drama. O ambiente de uma casa é também escolhido como palco das duas últimas peças míticas: Senhora dos afogados e Dorotéia. A casa dos Drummond em Senhora dos afogados é apresentada como contígüa ao mar com “um farol remoto” que cria “a obsessão da luz e da sombra” (Rodrigues, 1981b: 259). É este o ambiente que marca o cenário em que transcorre a maior parte da peça. A residência da família Drummond se alterna apenas com a cena de um café de cais, um espaço de prostituição a ser visitado pela matriarca da família. Dorotéia, protagonista de um drama que se apresenta como uma “farsa irresponsável”, retorna à casa das tias, lugar em que se passa toda a peça, depois de uma vivência mundana em um quarto próximo ao mar onde tivera uma aventura e servira a soldados embarcadiços. É sob o teto da residência e na companhia de três tias viúvas, que vivem em permanente luto, que se desenrola a estória. A preocupação com ambientes intemporais, portanto, parece ser uma qualidade que distingue em sua peculiaridade o ciclo de peças míticas. Passemos agora aos comentários sobre como Nelson Rodrigues batizou seus personagens dessa fase. Tudo indica ter havido uma predileção por nomes bíblicos. Desde Jonas, o patriarca de Álbum de família, cuja conotação bíblica se estende a sua identificação com a figura de Jesus Cristo em passagens do enredo, até Rute, outra das personagens da peça. Outros nomes bíblicos que pontificam em suas peças do período são Ismael e Elias (de Anjo negro) e Misael (de Senhora dos afogados). 114 Grande admirador do dramaturgo Eugene O´Neill, Nelson batizou a família de Senhora dos afogados como Drummond em referência à família Mannon de Electra enlutada, trilogia escrita pelo escritor norte-americano. A menção se estende ainda à figura de Agamenon, personagem do panteão mitológico grego, e dramatis persona de drama homônimo de Ésquilo. Esses elementos foram assinalados por Sábato Magaldi que percebeu por puro acaso a sutil analogia trabalhada sem alardes por Nelson Rodrigues. Mesmo em suas peças mais nitidamente míticas, Nelson não resistiu a recorrer a um procedimento que marcaria profundamente toda a sua ficção e não apenas as suas realizações teatrais: a menção a acontecimentos e fatos de um cotidiano imediato. Ainda estamos em uma fase em seu teatro em que isso seria feito de maneira tangencial e sem a forma forte e direta que adquiriria em suas investidas futuras quando passaria a jogar com a sua imagem pública, a de seus amigos e a de seus companheiros de trincheiras jornalísticas. A paixão pelo cinema e pelos símbolos da cultura de massa, um interesse sempre zombeteiro e satírico, o faria rechear as notações de suas peças com referências a ícones, personagens e passagens conhecidos do grande público e que fazem parte do nosso imaginário coletivo. Jonas, protagonista de Álbum de família, deve ter “cabelos à Búfallo Bill”, Nonô, seu filho, “lembra Lon Chaney Jr” e Ana Maria, de Anjo negro, terá um estranho túmulo de vidro, numa “sensível analogia com o caixão de Branca de Neves” (a despeito do túmulo de vidro pertencer na verdade à Bela Adormecida). Outros flashes de uma vida contemporânea cortam momentaneamente a ordem temporal mítica de Álbum de família. Jornalista responsável por reportagens esportivas durante boa parte de sua vida profissional pregressa, o que se daria também em sua vida 115 subseqüente, Nelson faria um cortejo fúnebre atravessar um campo de futebol no meio da peça. Ainda nesse primeiro drama mítico não deixaria de aparecer o personagem recorrente do jornalista: no caso um pretenso redator-chefe do “Arauto de Golgonhas”. Além de assinalar as transições de tempo, um Speaker será usado em Álbum de família para inserir elementos que denunciam uma época. De D. Senhorinha dirá: “Uma mãe assim é um oportuno exemplo para as moças modernas que bebem refrigerante na própria garrafinha!”. Depois iria elogiar Nonô por sua dedicação à mãe e dizer: “Que diferença entre um filho assim e os nossos rapazes de praia que só sabem jogar voleibol de areia” (Rodrigues, 1981b: 95). O Speaker faria ainda alusão a fatos históricos. Sabemos através dele, por exemplo, que o conservador Jonas escrevera um telegrama ao Presidente Artur Bernardes dizendo que a revolução de São Paulo era reprovável e impatriótica e naquele cenário “[n]ada lhe entibiava o civismo congênito” (Rodrigues, 1981b: 108). Em Senhora dos afogados também vê-se o emprego de expediente semelhante. A rubrica de abertura diz: “Época: quando quiser”. No correr da peça, no entanto, saberemos que Misael é um juiz com aspirações a se tornar ministro. Duas personagens prosaicas, a de um rapaz, que “assobia feito gente grande” e que se chama Sabiá, e a de um vendedor ambulante, pontificam o enredo que traz a reincidente presença da administradora de bordel com seu sotaque estrangeiro. Em Dorotéia, a protagonista teve um filho com um índio, que, na verdade, corrige a personagem: “era um paraguaio”. Pelo caráter acentuadamente mítico dessas peças, porém, esse recurso de apelo à atualidade dos fatos, que por sinal se tornaria marca registrada do autor, não sobressai. 116 4.1.2 – Peças Psicológicas e Tragédias Cariocas São quatro os textos indicados por Sábato Magaldi, em comum acordo com o autor, como “peças míticas”. As outras cinco “peças psicológicas” e sete “tragédias cariocas” poderiam perfeitamente aparecer agrupadas sob esta última designação. Na verdade, quando as escreveu, Nelson Rodrigues usou o título de “tragédia carioca” apenas para apresentar três títulos: A falecida, Boca de Ouro e O beijo no asfalto. As outras peças foram qualificadas como “dramas” (A mulher sem pecado), “tragédias” (Vestido de noiva, Álbum de família, Anjo negro e Senhora dos afogados), “farsa irresponsável” (Dorotéia e Viúva, porém honesta), “divina comédia” (Os sete gatinhos), “tragédia de costumes” (Perdoa-me por me traíres), “obsessão” (Toda nudez será castigada). Ou ainda e simplesmente “peça em um ato” (A serpente), “em dois atos” (Valsa no. 6) e “em três atos” (Otto Lara Resende ou Bonitinha, mas ordinária). A adjetivação “carioca” indica o local predileto de ambientação de suas peças. Apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro, a ponto de, como Machado de Assis, não se interessar em conhecer outros lugares (viajou apenas a Brasília e a São Paulo, na primeira cidade a convite do presidente Juscelino Kubitschek para a inauguração da nova capital da República, e a segunda a convite do presidente Garrastazu Médici) as cercanias cariocas viraram palco predileto das ações dramáticas desse recifense que chegou em 1916 à capital federal de então, ainda muito garoto com quatro anos de idade incompletos. Em todas as peças psicológicas e tragédias cariocas, com uma única exceção (Toda nudez será castigada), há a menção a espaços da cidade do Rio de Janeiro. A personagem Lídia, A mulher sem pecado do primeiro drama de Nelson, morava no 117 Grajaú antes de se casar com um dos Otelos rodrigueanos mais ciumentamente doentios, Olegário. As dúvidas de Olegário sobre a infidelidade da esposa se devem principalmente ao fato de Lídia passar suas tardes, sempre acompanhada por um grupo de amigas, na Confeitaria Colombo (tradicional casa de chá carioca). O Rio de Janeiro surge, dentro da arrojada concepção de Vestido de noiva, nos três planos em que se alterna a ação. No plano da realidade, Alaíde é atropelada em frente ao relógio da Glória e, nos informará um Speaker, havia se casado na Candelária (lugar para onde o mesmo Speaker, nos momentos finais da trama, nos convidará para a missa de sétimo dia da protagonista). No plano da alucinação, a protagonista revela que descobriu em um diário encontrado no sótão de sua casa que Madame Clessi costumava passear nas Paineiras. Do que emana do plano da alucinação, ficamos sabendo ainda que Alaíde tinha o hábito de freqüentar a Biblioteca Nacional para conhecer a vida pregressa da cafetina estrangeira. No plano da memória, Madame Clessi é convidada por um adolescente, que se apaixonou perdidamente por ela, para ir a um piquenique em Paquetá, onde juntos se matariam31. Nesta como em outras peças psicológicas a referência ao Rio seria menos direta comparativamente com o ciclo das “tragédias cariocas”, o que certamente explica a opção da nomenclatura sabatomagaldiana. No monólogo Valsa no. 6, Sônia, a defunta narradora, se lamenta de não ter acompanhado suas colegas à Quinta da Boa Vista quando teve a oportunidade de fazê-lo. E é essa a única referência a um espaço da cidade do Rio de Janeiro. Em Viúva, porém honesta, há a notação inicial que indica: “Época; atual – ação: Rio de janeiro”. Em outra passagem a Cidade é trazida à baila quando o Dr. Lupicínio, um psicanalista que tem “no consultório até vitrola caça-níqueis, com disco de 31 Conferir o fait divers “Na ilha dos amores...” no CD anexado a esta Tese e comentando anteriormente na seção 2.2. 118 churrascaria”, comenta ter visto o Diabo da Fonseca, cuja ocupação é encarnar um Belzebu que tem preferência pelas viúvas, em um espetáculo de revista na Praça Tirandes. Nas tragédias cariocas, as referências à cidade são evidentemente mais diretas. Em A falecida, uma notação introdutória assinalará: “Local: Rio de Janeiro”. Os protagonista desse drama suburbano, Tuninho e Zulmira, moram em Aldeia Campista, e a peça se encerra em um jogo no Maracanã. Em Perdoa-me por me traíres, Gilberto, outro ciumento contumaz da galeria de personagens rodrigueanos, desconfia que a esposa Judite o esteja traindo com “aquele cara da praia, que tu olhaste? Ou aquele do Iate Clube? Fala! ou aquele da fila do Metro?” (Rodrigues, 1981a: 150). O personagem, em conseqüência de sua paixão doentia, acabará internado na Casa de Saúde da Gávea. O subúrbio carioca será o cenário predileto e central em várias peças desse ciclo rodrigueano: Grajaú em Os sete gatinhos e O beijo no asfalto, Madureira em Boca de Ouro, Muda e Tijuca em Otto Lara Resende ou Bonitinha, mas ordinária. Em vários dramas o subúrbio servirá também para contrastar com a vida nas regiões de maior riqueza da cidade. Em Anti-Nelson Rodrigues, Quintino é onde mora a secretária Joice que é alvo do interesse de Oswaldinho, filho de Gastão, dono da indústria de confecções Beija-Flor. Não há referência direta ao lugar onde Oswaldinho e seus pais moram, embora ele seja caracterizado como um rapaz frívolo e baderneiro no estereótipo dos garotões da Zona Sul carioca. Em Otto Lara Resende ou Bonitinha, mas ordinária, se dá o mesmo: Werneck, um magnata, e sua filha Maria Cecília, moram em um palacete na Gávea. Maria Cecília reside, portanto, em um ponto mais sofisticado do que sua rival Ritinha, com quem 119 disputará a predileção de Edgar que deve optar pelo amor da segunda ou casar com a menina rica. Ritinha, como o duro Edgar, vive na Tijuca, em um edifício onde a falta de água é constante. Boca de Ouro, o rei do jogo do bicho em Madureira na peça que leva seu nome, e Bibelot, o malandro do Grajaú de Os sete gatinhos, se mandam para Copacabana apenas para ter encontros amorosos fortuitos. É corrente a idéia de que a Zona Sul representaria na obra dramatúrgica de Nelson Rodrigues o espaço privilegiado para traições e transgressões de todo ordem. Mas aceitar isso seria esquecer da mística da Floresta da Tijuca e do Alto da Boa Vista como lugares onde ocorreriam encontros às escondidas e como pontos de prevaricação dentro da criação teatral do dramaturgo. Os nomes escolhidos para batizar os personagens das peças psicológicas e tragédias cariocas são invariavelmente pouco usuais mesmo para a época em que esses dramas foram escritos. Saudosista incontido, Nelson seleciona com dedicação rara a forma como nomeia seus personagens: Olegário, Inézia, Alaíde, Zulmira, Dr. Borborema, Oromar, Crisálida, Timbira, Pimentel, Gastão, “Seu” Noronha, Silene, Dr. Bordalo, Aprígio, Dália, Selminha, Guiomar, Alírio, Osíris, Dinorá, Herculano, Geni, Patrício. Essas escolhas só seriam batidas pelo festival de nomes inusitados dos personagens dos folhetins rodrigueanos e da galeria de “A vida como ela é...”. Há ainda os nomes em tom mais abertamente de pilheria. A peça Viúva, porém honesta coleciona o maior número deles. Ali aparecem o Diabo da Fonseca, Dr. Sanatório, Dr. Lambreta, Tia Assembléia, Tia Solteirona, Pardal e o já referido crítico de teatro de araque, Dorothy Dalton. 120 O gosto por aproximar as narrativas das peças psicológicas e tragédias cariocas de acontecimentos do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro faria com que Nelson Rodrigues se esforçasse por marcar passagens de seus dramas com a lembrança de seus amigos, companheiros de trabalho, da imprensa e de passagens e fatos de uma época passada ou mesmo do momento em que foram escritas, o que aproxima o plano factual do ficcional. Antes de ser alçado à condição de personagem do dramaturgo, Boca de Ouro foi motorista de lotação. Nelson Rodrigues o conheceu em suas baldeações pela cidade como passageiro da linha 115 que ligava Laranjeiras à Estrada de Ferro. No comando do lotação estava invariavelmente Rubem Francisco da Silva, que costumava exibir com orgulho os vinte e sete dentes de ouro que colecionava em sua arcada: “Abria a boca no ponto final da rua General Glicério e dizia: “Olha só! Pode contar, um por um! E não é coroa, é maciço! Ouro 24!”” (Castro, 1993: 311). O atropelamento de O beijo no asfalto, deflagrador de toda a ação dramática, partiu de um episódio ocorrido com o jornalista Pereira Rêgo, seu colega de redação em O Globo, que, após ter sido colhido por um “arrasta-sandália” (o lotação da década de 1930) e à beira da morte, teria pedido um beijo a um(a) transeunte no Largo da Carioca, onde ficava a sede do jornal32. 32 Há diferentes versões para esse incidente. Em A menina sem estrela - memórias, Nelson narra: “Lembro-me de certo episódio da minha vida jornalística que me feriu para sempre. Imaginem vocês que tive, no Globo, um companheiro admirável:- Pereira Rêgo. Não me lembro do primeiro nome (talvez Alfredo). Disse “admirável” e preciso explicar. Inteligência mediana, nada brilhante, Pereira Rêgo limitava-se a escrever notas de aniversário, casamento, batizado, missas. Mas era de uma bondade fascinante. Como gostava de servir e repito:- servia como um santo. Tinha o sorriso mais doce que já vi na terra. Uma tarde, Pereira Rêgo vai empenhar uma jóia, ali, na Caixa Econômica da rua Treze de Maio. Foi lá a pé e voltou a pé, para o Globo. Ao atravessar, na altura do “Tabuleiro da Baiana”, foi atropelado. Havia na época um tipo de ônibus que o povo batizara de “Arrasta Sandália”. E foi esse justamente, que apanhou o meu companheiro. Dizem que o “Arrasta Sandália” passou por cima. Não sei. Houve corre-corre na rua. Um crioulo, que chegou antes de todos, apanha a cabeça do atropelado e a pôs no regaço. E, então, veio, com sangue pisado, o apelo de Pereira Rêgo:-“Me beija, me beija”. (O episódio me tocou tanto que, anos depois, escrevi O beijo no asfalto, encenado no Teatro dos Sete. Todo o núcleo lírico dramático da peça é um beijo pedido por um atropelado.) No instante de morrer, Pereira Rêgo pediu o 121 Na peça o incidente é transferido para a Praça da Bandeira e o atropelado externa seu último desejo no pedido de um beijo a um homem: Arandir, que passa a ser o protagonista do drama rodrigueano. Arandir justifica o inesperado de seu ato pela situação extrema. Quem vai vislumbrar malícia na situação é um inescrupuloso repórter do jornal Última Hora, Amado Ribeiro, homônimo de um companheiro de redação de Nelson no período em que trabalhava neste jornal. O entrecho ainda serviria para que fosse trazida à baila a pessoa de Samuel Wainer, dono do jornal. Outras peças incluiriam pessoas conhecidas do autor. O amigo Salim Simão seria enquadrado no papel de pai da jovem Joice, a secretária da empresa de Gastão e de seu filho Oswaldinho em Anti-Nelson Rodrigues. Gastão por sua vez se consulta sobre seus problemas cardíacos com um certo Dr. Murad, homônimo do cardiologista do dramaturgo. Armando Nogueira contou que quando, em 1963, o teatro Maison de France iluminou seu letreiro com o nome de Otto Lara Resende como título de uma nova peça de Nelson Rodrigues, Helena Lara Resende, esposa de Otto Lara, um dos amigos mais próximos de Nelson Rodrigues, proibiu terminantemente o marido de falar com o dramaturgo por um bom tempo. A citação de produtos da cultura de massa continuaria se fazendo presente como nas obras míticas. Em Vestido de noiva, Alaíde mistura tudo: o enredo da Traviatta com passagem do filme E o vento levou. Em Boca de Ouro, a suburbana Celeste vive amigo, sonhou com o amigo. Eis o que eu queria dizer:- desde garotinho eu quis o amigo como um atropelado” (Rodrigues, 1997: 232-3). Em Castro a versão é outra: “Ao ver-se no chão, perto de morrer, Pereira Rego pedira um beijo a uma pessoa que se debruçara para socorrê-lo. Só que essa pessoa era uma jovem” (Castro, 1993: 314). Consultei O Jornal que cobre o incidente, mas nada comenta sobre o beijo. O Globo, de sábado, dia 2 de outubro de 1943, registra o atropelamento ocorrido na tarde do dia anterior, mas também nada fala sobre o beijo. Embora traga em sua reportagem à página 2, com chamada de capa, o trecho que se segue: “Enquanto isso, junto a passarela subterrânea da avenida Almirante Barroso e, cercado já por verdadeira multidão, nosso saudoso companheiro se achava entre a vida e a morte.Já haviam acorrido para prestar-lhe os primeiros socorros, vários companheiros das oficinas, da redação e da caixa do Globo. Uma enfermeira, que no momento passava pelo local, espontaneamente, num gesto cativante e comovedor, secundava nossos esforços, enquanto não chegava a assistência, logo chamada insistentemente. Já então, sentíamos que seu estado se apresentava irremediável. E, com efeito, embarcado na ambulância, falecia ainda em caminho para o hospital”. A integra da reportagem, bem como a chamada de capa, segue no CD anexado a esta Tese. 122 sonhando com a atriz Grace Kelly que viu em uma capa da revista O Cruzeiro. Uma grãfina que idolatra o protagonista perguntará: “o “Boca” não é meio neo-realista?”. Para em seguida concluir: “O De Sica ia adorar o “Boca”!”, em referência ao diretor italiano Vittorio de Sica. Em Os sete gatinhos, algumas referências periféricas, mas que guardam relação com o mundo dos atores hollywoodianos, também se fazem presentes. Ao retornar à casa de seus pais, Silena fica sabendo por sua irmã Arlete que uma conhecida sua, a “magricela” Celeste, arranjou um namorado “parecido com o Vitor Mature”. Silene por sua vez contará para a irmã Aurora que Bibelô, o malandro que ao fim da estória descobrirão é o objeto do desejo das duas, se parece com o “gângster de Lana Turner”, “o que a filha da Lana Turner matou! Stampanato, não: Strompanato! Apareceu lá a revista e eu vi o retrato. Parecidíssimo, só você vendo!” (Rodrigues, 1985: 242). Jornais como Luta Democrática, Tribuna da Imprensa e O Pasquim também seriam mencionados. Há ainda a presença do jornalismo radiofônico através dos informes do Repórter Esso da Rádio Nacional e do jornalismo da emissora Continental inseridos em algumas das peças. As narrações sobre a vida comezinha da classe média carioca marcariam as primeiras peças psicológicas, mas aos poucos o foco vai mudando de direção e se centrando na vidinha ainda mais anônima e esquecida dos moradores do subúrbio e dos bairros mais pobres do Rio. Essa vida suburbana ganha assim um grau de importância inesperado aos olhos do público. O cidadão comum de que falou Umberto Eco na seção teórica de meu trabalho passa a ter uma imprevista atenção do dramaturgo que com isso alça esses personagens para o centro de seus interesses. 123 Por outro lado, essa vida de um cotidiano sem graça será revirada de cabeça para baixo pela imaginação do dramaturgo (e, como veremos adiante, do contista também). Não há, sob a perspectiva do escritor, como viver sem as paixões extremas, sem que cada instante, cada acontecimento, por menor que seja, não se torne digno de ganhar ares transcedentes. As paixões vorazes devem assim marcar a vida de todos obrigatoriamente e pontuar suas existências. Ao mesmo tempo que alça esses personagens a uma condição mítica, Nelson recorre a notações, rubricas, apontamentos que desnaturalizam o espetáculo e que aproximam o público da realidade mais imediata do ato teatral. Esses dados estabelecem uma tensão interna no drama e abrem possibilidades interessantes para as encenações e dão um sabor particular à leitura de seus dramas. 4.1.3 – A Linguagem das Peças Um elemento que contribui para marcar o interesse de Nelson por assinalar e reforçar a identificação do grupo social sobre o qual escreve é o emprego de uma linguagem extremamente coloquial, cheia de gírias e expressões que se repetiriam de peça a peça e que são características do ambiente retratado. Esse aspecto seria enfatizado por vários dos comentadores da obra do dramaturgo33. Ao mesmo tempo em que por vezes recorre a uma linguagem coloquial, Nelson, em outros momentos, coloca seus personagens a falarem com certa formalidade. É possível se verificar assim um contraste entre uma linguagem que se quer em certas 33 Os comentários sobre o coloquialismo dos diálogos do teatro de Nelson Rodrigues começam com Manuel Bandeira que diz sobre a peça de estréia do dramaturgo: “O diálogo era de classe – rápido, direto, e por ser assim, facilitava aos atores a dicção natural” (Rodrigues, 1989: 389). Magaldi complementava: “A técnica traz inovações que valorizam sempre a pesquisa formal do dramaturgo. O diálogo já é direto, enxuto, isento de literatice, como bem observou Manuel Bandeira. O ritmo agiliza-se, as cenas duram o necessário para armar a situação e definir as psicologias, os cortes injetam um novo alento nos episódios” (Rodrigues, 1981: 11). 124 ocasiões culta, literária, e em outras próxima de uma fala cotidiana. Olegário, a certa altura de A mulher sem pecado, diz: “Sabes o que eu acharia bonito, lindo, num casamento? Sabes? Que o marido e a mulher, ambos, se conservassem castos – castos um para o outro – sempre, de dia e de noite” (Rodrigues, 1981a: 71). A formalidade diz respeito ao emprego da segunda pessoa, que caiu em desuso no português coloquial, principalmente na região sudeste do Brasil, lugar onde transcorre a ação da peça. Esse emprego, comum a todos os dramas escritos pelo autor, contrasta com uma linguagem coloquial como a utilizada pelo motorista de Olegário, Umberto, que ao pedir demissão de seu trabalho informa sua saída com uma construção mal-ajambrada: “Dr. Olegário, muito obrigado. Desculpe de qualquer coisa” (Rodrigues, 1981a: 101). Um diálogo também coloquial se dá na “sala de imprensa” de Vestido de noiva quando se toma conhecimento da gravidade do estado de Alaíde: 1º. Fulano (berrando) – Diário! 2º. Fulano (berrando) – Me chama o Oswaldo? 1º. Fulano – Sou eu. 2º. Fulano – É pimenta. Toma nota. 1º. Fulano – Manda 2º. Fulano – Alaíde Moreira, branca, casada, 25 anos. Residência, Rua Copacabana. Olha ... 1º. Fulano – Que é? 2º. Fulano – Essa zinha é importante. Gente rica. Mulher daquele camarada, um que é industrial, Pedro Moreira. 1º. Fulano – Sei, me lembro. Continua. 2º. Fulano – Afundamento dos ossos da face. Fratura exposta do braço direito. Escoriações generalizadas. Estado gravíssimo. (Rodrigues, 1981a: 157: grifos do autor) Nesse trecho, Nelson se serve sem medida de coloquialismos e gírias: “Me chama”, “Toma nota”, “Manda”, “Olha ...”, “Essa zinha”, “Mulher daquele camarada”. Ao dar seqüência à prática de uma escrita com um coloquialismo extremado, o autor acabaria se servindo de uma língua portuguesa fora de padrão, o que sobressairia em passagem de Valsa no. 6. No trecho em análise, a menina Sônia refaz mentalmente, 125 dentro de seu monólogo, uma cena ocorrida em uma madrugada, quando acordou sobressaltada em sua casa. Reparem no coloquial “evém” ao fim da passagem: Fui acordar mamãe. Mãe, vem, mamãe! (irritação materna) Mas que foi minha filha? Você até assusta! (riso, apontando) Ali, mamãe! Ali, onde? (irritação doentia) Será possível que a senhora não veja, oh mamãe! (...) Eu sentia uma dor cravada na minha fronte! (fazendo coro para si mesma) Chamem a Assitência! Médico! Assistência! Dr. Junqueira! Nossa mãe! Dr. Junqueira vem já! Evém! Evém! (Rodrigues, 1981a: 176-7: grifos do original) Em seu texto, Sonia voltaria mais adiante em diapasão culto para narrar suas fantasias e se imaginar envolvida em uma disputa por uma figura masculina: Que aconteceu entre nós, Paulo? Deve ter acontecido alguma coisa! (súplice) Que fizeste, Paulo? (com enleio e volúpia) Me beijaste, foi, querido? (feroz) Ou me traíste? (cultivando a hipótese) E quem sabe se com Sônia? (já no piano dá violento acorde) Só não queria que fosse com Sônia! (Rodrigues, 1981a: 192: grifos mais uma vez da notação original) O emprego em revezamento entre o registro culto e por vezes formal e o coloquial e por vezes chulo seguiria e surgiria mesmo em um ciclo tão específico como o que corresponde à fase mítica do teatro rodrigueano. Na primeira peça do ciclo, Álbum de família, o autor chega a ser tão cuidadoso que assinala com aspas o coloquialismo no diálogo que marca o encontro dos irmãos Guilherme e Glória em uma igreja. 126 Glória (com surpresa e certo medo) – “Que dê” papai? Você não disse que ele estava esperando – aqui? Guilherme – Vem já! Não demora! (Rodrigues, 1981b: 87: grifos do original) No drama que marca o penúltimo texto mítico, Senhora dos afogados, o personagem Vendedor de Pentes, que atende pelo nome que designa sua função, é quem entra em chave chula. Recorre à dupla negativa, deixa de observar concordância apregoada pela norma culta para o verbo “ser” e ataca com o popular “madama”. Dona (para o noivo) – É o vendedor de pentes ... Morena – ... e de grampos. Vendedor de Pentes – Coisa rápida Dona (categórica) – Não pode serr! Vendedor de Pentes (ofendido) – Não lhe pedi opinião, dona! E nem nunca fui com sua cara! Dona – Melhorr! Vendedor de Pentes – A coisa que mais me invoca aqui – o senhor não faz idéia (vira-se para o noivo) – é as pernas dessa dona Dona – O doutorr me ensinou uma pomada – um remédio formidável ... Vendedor de Pentes – Até causa má impressão ... E lá porque a Madama (refere-se à cafetina) tem prédios e uma avenida ... Dona (prática) – ... com meu dinheiro! Vendedor de Pentes – ... não é razão para me destratar. (num crescendo) Afinal de contas, estou na minha terra! E é um desaforo que uma gringa me queira faltar com o respeito ... Lhe devo alguma coisa, Madama? (Rodrigues, 1981b: 313-14: grifos do original) Além da alternância entre coloquialismo e linguajar formal, a passagem assinala o sotaque estrangeiro da cafetina Dona, que puxa nos erres. O interesse de Nelson por lançar mão de vários registros prosseguiria como uma opção estilística em seus dramas futuros e se tornaria mesmo o atrativo central de várias de suas tragédias cariocas. Nelson não apenas se apropria de palavras e expressões corriqueiras, mas as incorpora tão insistentemente a seus diálogos que elas passam a ser identificadas com o autor. Citem-se algumas palavras e expressões prediletas de seu repertório: “batata”, “espeto”, “meus pára-choques”, “os colarinhos”, “chispa”, “sossega o periquito” (com variações com “sossega leoa”), “nossa amizade”, “toca o bonde” (com a variante: “tomou o bonde errado”), “até aí morreu o Neves”, “lamba os dedos”, “desinfeta”, “algum 127 bode?”. Há ainda os estrangerismos: “big”, “cáspite”, “flirt”, “bye”, “so long”, “darling”, “merci”, “mon cherri”. O autor também cria expressões e designações neológicas: “arrancos de cachorro atropelado”, “um elenco de Cecil B. DeMille”, “lagartixa profissional”, “óbvio ululante”, “barítono de igreja”, “V-8”, “Drácula de Madureira”, “Crioula das Narinas Triunfais”, “ex-contínuo”. À exceção dos dados que estão especificamente relacionados à trama de um drama específico, essas expressões neológicas seriam repetidas e empregadas pelo autor em seus contos e crônicas. Algumas nasceram mesmo nas crônicas e contos e migraram posteriormente para as peças. Outras fizeram o caminho inverso. O emprego repetido de algumas dessas expressões cria um grau de previsibilidade e de redundância nos textos do escritor, o que é um fator que estabelece empatia com o leitor/ouvinte. Certamente esse foi um dos elementos que fez haver uma identificação do público com os dramas desse período do autor. Pode-se dizer que um dos fatores que levaram as tragédias cariocas de Nelson Rodrigues a gozarem de enorme popularidade, o que contrastou com outros de seus trabalhos dramatúrgicos anteriores, foi o impacto e o gosto que o público nutria por sua linguagem popularesca. Se pelo que já foi comentado anteriormente pode-se ver saliente a presença de uma intertextualidade intersemiótica nas apropriações que Nelson faz do universo do cinema e da ópera, através dessas palavras e expressões neológicas pode-se ver manifesto aquele “híbrido visual e conceitual” comentado por Umberto Eco e referido entre as ponderações de ordem teórica da seção 3.3. Mais adiante observar-se-á como esse aspecto é trabalhado no texto do cronista, quando a ação dramática amparada em diálogos 128 cede lugar e abre possibilidades para uma elaboração estilística maior do texto do escritor-narrador. Nas obras teatrais também encontram-se sinais paradoxais que são em meu entender o traço mais marcante da escrita do autor. Eles se insinuam no âmbito das frases do dramaturgo (que, tomadas separadamente, podem ser entedidas como máximas ou aforismos per se) e na dimensão maior do discurso. Frasista de mão cheia, a ponto de já ter ganho uma antologia de seus ditos espirituosos no livro Flor de obsessão - as 1000 melhores frases de Nelson Rodrigues (1997), organizado por Ruy Castro, Nelson também salpicou alguns de seus dramas com suas máximas. Em algumas delas identifica-se o traço paradoxal evidente. Em A mulher sem pecado, por exemplo, Olegário nos diz: “Eu acho que a fidelidade devia ser uma virtude facultativa” (Rodrigues, 1981a: 65). O que se manifestaria em outras como: “O fato de você mesma olhar o próprio corpo é imoral. Só as cegas deviam ficar nuas” (Rodrigues, 1981a: 87). Em A falecida Zulmira conjectura com sua mãe: “Nenhuma mulher devia pertencer a homem nenhum!”. Para então ouvir a réplica: “Nem ao marido?”. E confirmar peremptória: “Nem ao marido!” (Rodrigues, 1985: 72). Perdoa-me por me traíres talvez seja a que congrega no universo de seu teatro os melhores dizeres. Entre as frases aparecem: “O verdadeiro defloramento é o primeiro beijo na boca” (Rodrigues, 1985: 160), “(...) é preciso trair sempre, na esperança do amor impossível” e “Amar é ser fiel a quem nos trai!” (Rodrigues, 1985: 163) . No âmbito maior do discurso também identificam-se sinais paradoxais. Muitas das narrativas dos dramas rodrigueanos se aproximam dos faits divers, típicos das 129 reportagens policiais. Se forem destacadas duas peças como Vestido de noiva e O beijo no asfalto, por exemplo, escritas com um lapso de tempo de quase vinte anos, a primeira é de 1943, e a segunda, de 1961, ver-se-á que em ambos os textos o que desencadeia a ação é algo tão corriqueiro como um acidente de trânsito, embora com o agravante de terem sido acidentes fatais. Esses acidentes, no entanto, e por paradoxal que possa parecer, não são investigados. Pelo contrário, abrem-se como espaço para a mais pura fabulação. 4.2 – Narrativas do Repórter, do Folhetinista, do Contista É significativo o número de escritores consagrados que tiveram sua trajetória marcada pela passagem pelo jornalismo. Além de, em muitos casos, terem feito literatura no jornal publicando “romances fatiados”, em forma de folhetim, bem como contos, poemas e escrita literária diversa, vários autores de renome em uma lista que inclui Daniel Defoe, Charles Dickens, Jack London, Walt Whitman, Ernest Hemingway, Euclides da Cunha, George Orwell, marcaram presença em fileiras jornalísticas produzindo o que hoje é conhecido como hard news, ou reportagem jornalística propriamente dita. O grau de adesão ao factual varia de intensidade dependendo do autor e da forma como realizou a cobertura jornalística. Há o inglês Daniel Defoe, por exemplo, o faz-tudo da revista The Review, que incursionou pelo jornalismo tradicional, com direito a entrevistas e encontros face a face com o foco de sua investigação, em reportagem sobre o larápio Jonathan Wild, enforcado por causa de seus golpes de extorsão na Inglaterra do 130 século XVIII. Jack London quis conhecer o submundo do East End londrino e foi conviver com os excluídos socialmente e o resultado foi a reportagem The people of the abyss, que virou um dos trabalhos dos quais mais se orgulhava34. Inspirado em Jack London, George Orwell faria uma incursão semelhante à de seu guru em Na pior em Paris e Londres (Orwell, 2006). Entre os americanos, tem-se investidas extensas como a do poeta de Folhas de relva, que escreveu muito sobre a Guerra de Secessão, ainda que distante quilômetros do front e a partir do relato dos soldados feridos nas frentes de batalha e recolhidos em hospitais de campanha em Washington. O relato de Whitman figura entre os escritos reunidos em “Specimen days” (Whitman, 1968). Hemingway também cobriu assuntos policiais pelo jornal Star, de Kansas City, no começo de sua carreira, mas sem gosto nenhum pelo que estava fazendo e louco para produzir o jornalismo que considerava mais nobre. Alguns anos depois iria forçar a publicação de narrativas menos cruas em sua fase em Toronto com os escritos que ganhariam as página do Star Weekly no Canadá35. Nelson Rodrigues engrossa a lista dos escritores que experimentaram a prática do hard news, com o detalhe adicional de ter-se iniciado em idade recorde nesse meio, como visto anteriormente. Estava, como alguns dos nomes citados, apenas de passagem, e, repetindo Hemingway, com vontade de sair desse mundo que fecha a possibilidade de vôos altos. Não deixou de inscrever seu nome entre os que se rebelam contra as amarras e limitações do jornalismo informativo. 34 Partes dessas reportagens podem ser conferidas em Kerrace, Kevin e Yagoda, Ben. The art of fact – a historical anthology of literary journalism. New York, Touchstone, 1997. 35 Para a prática jornalística de Ernest Hemingway, ver Stephens, Robert O. Hemingway´s non-fiction – the public voice. Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1968, e Burril, William. The Toronto years. Toronto, Doubleday Canada Limited, 1995. 131 4.2.1 – Repórter, Contista e Cronista Iniciante O que se percebe nos textos que se podem considerar, uma vez que são apócrifos, como pertencentes ao Nelson Rodrigues repórter policial é uma reação forte, ou aversão intensa mesmo, às limitações impostas pelos dados factuais, traço que, como se viu no item 3.2 da seção teórica desta Tese marcaria sua trajetória. Para comprovar esse indício de sua escrita, as pretensas coberturas jornalístico-policiais realizadas pelos jornais A Manhã e Crítica, que apresentam traços de peças jornalísticas rodrigueanas, serão contrastadas com as coberturas feitas por outros veículos (escolheu-se O Globo, principalmente, como termo de comparação)36. Algumas reportagens de A Manhã e Crítica, apontadas como escritas por Nelson Rodrigues, sequer foram objeto de inquirição jornalística por parte de outros jornais, o que leva a supor que sejam pura invencionice rodrigueana. As conseqüências trágicas da recitação faceira de Baudelaire feitas pelo português Manuel Ferreira da Silva, exemplo predileto desta Tese, já referido desde a Introdução, foi assunto de investigação apenas de A Manhã, não figurando nas páginas de folhas concorrentes como O Jornal e O Globo. Ao folhear-se estes veículos em datas próximas ao incidente narrado por A Manhã, não se vê nem o registro desse fato e nem da facada de que o açougueiro foi vítima. Ao analista da obra rodrigueana essa peculiaridade faz pensar se um sujeito que leva a vida cortando carnes merecia sofrer na própria pele as investidas do imaginário ficcional de um futuro escritor consagrado. O que parece justificar o incidente aparentemente fictício é a arte de fingimento de um autor que infestaria seu espaço ficcional futuro com giletes, navalhas, punhais e outros objetos cortantes. Contra essa 36 Todos as reportagens usadas como termo de comparação em nossa análise aparecem incluídas no CD anexado a esta Tese. 132 hipótese tem-se o fato de que os açougueiros sumiriam para sempre das preocupações e intenções estilísticas do autor. Nunca mais foram vistos. Alguns assuntos se apresentaram como pauta tanto dos jornais de Mário Rodrigues quanto de O Globo. É neste momento que se percebe a diferença significativa entre as coberturas jornalísticas desses veículos, e onde ainda se pode vislumbrar com quase total certeza a mão do escritor mirim se manifestando. Será comentado de início um fait divers que foi acompanhado simultaneamente por Crítica e O Globo, numa época em que Nelson Rodrigues trabalhava no primeiro destes veículos. A reportagem de Crítica consta da edição do dia 8 de junho de 1929, à página 7, com um título bem extenso, como era corriqueiro à época. A manchete acenava para o leitor com uma reportagem emocionante: “O desfecho de sangue e desespero da manhã de ontem fixa a tragédia de um amor que culminou em uma rajada de ódio e loucura”. Trata-se de uma tentativa de homicídio, seguida de um impulso suicida, ambos mal sucedidos. Antes de chegar ao ato extremo, há toda a história da aproximação dos protagonistas do drama: Murilo Lopes e Maria da Glória de Andrade. A narrativa de Crítica começa como um conto ou abertura dos romances e folhetins de Nelson. É notável como o repórter floreia o incidente: Apaixonou-se doidamente por aquele tipo de homem forte, másculo, atlético, que vira pela primeira vez em um baile de regatas. Dançando com maestria, simpático, bonito mesmo, aquele rapaz, a quem todos homenageavam pelos seus grandes dotes esportivos, também impressionou-se ela. E, nos compassos lentos do tango, unidos pelo mesmo amplexo de simpatia, quase amor – eles deslizavam embevecidos. Ato contínuo, vão crescendo as confidências e a identificação entre o casal: Frases exaltadas. Promessas de eternas felicidades. Juras quentes. E nasce para aquelas duas almas um mundo novo, cheio de ilusões, cheio de belezas, cheio de encanto. Moços, na idade em que a vida se nos apresenta pelo róseo prisma da felicidade, eles, os namorados venturosos, se fizeram noivos. 133 Coroando o noivado chega-se a um casamento com requinte suburbano ao qual não faltam “flores de laranja”: Queriam as famílias dos nubentes emprestrar àquele ato um brilho invulgar. Glorinha, como chamavam a noiva, na intimidade, estava linda vestida de noiva. Flores de laranja engrinaldavam-lhe a fronte. Roçagantes véus lhe envolviam o corpo de sereia. Murilo, vestido de branco, feliz, era todo sorrisos, todo alegria. Nas primeiras rugas do casal surge a tradicional bofetada e o narrador, fugindo a toda objetividade, nos avisa: “O estalido de uma bofetada prenuncia sempre uma tragédia”. Tem-se enfim a carta acompanhada por novos desentendimentos entre o casal o que levará o leitor ao “desfecho sangrento” prometido na manchete. Murilo Lopes atira: fere a cunhada, a esposa, e, em seguida, tenta se matar. O vespertino O Globo já tinha saído com a notícia sobre o incidente no dia 7 de junho, antes do matutino Crítica, portanto. Apresentava a seguinte, e muito comedida, manchete: “União infeliz entre dois jovens – casado apenas há seis meses e há três meses separado da esposa, um conhecido sportman tentou assassiná-la e suicidar-se em seguida”. A abertura da reportagem seguia o mais moderado possível para a época: O populoso bairro do Estácio movimentou-se hoje, com a notícia de uma cena de sangue desenrolada na casa de no. 59, da rua Rodrigues dos Santos. À detonação seguida de vários tiros de revólver sucederam-se as versões sobre o caso, fazendo-se grande ajuntamento em frente àquela casa, residência da viúva Belmira de Andrade [mãe de Glória de Andrade]. Bem mais curto que a reportagem de Crítica, o texto de O Globo guarda as referências ao idílio amoroso e ao casamento para o final. Somos levados direto às brigas e desentendimentos entre o casal e a afirmação por parte de Murilo Lopes de que preferia 134 ““coabitar com uma mulher de vida má do que com a esposa””. Em seguida nos defrontamos com a cena violenta: Hoje, os moradores da rua Rodrigo Santos entregavam-se aos seus afazeres habituais. Seriam aproximadamente 9 horas, quando ali chegou Murilo Lopes que entregou uma petição de divórcio à Dona Belmira. Esta senhora, como nos afirmou, predispunha-se a dar sua assinatura ao papel, quando ouviu o genro dizer para sua filha Haydée de Andrade [cunhada do rapaz], de 24 anos, noiva de Mario Vieira da Silva, empregado da casa “A Fama”. - Toma o que mandou seu noivo. Viu, diz aquela senhora, Haydée aproximar-se confiante, e Murilo de revólver em punho, detoná-lo contra ela. A jovem correu para a sala, sendo acompanhada por nossa informante. Inteiramente desvairado, Murilo perseguiu-as, atirando por duas vezes, nessa ocasião, contra Glorinha, a quem avistara, atingindo-a. No desfecho tem-se o comparecimento ao local de um policial atraído pela algazarra: Esse policial, chegando à sala de jantar, defrontou o protagonista da cena de sangue. De pistola em punho - pois desconhecia-lhe às intenções, - deu-lhe voz de prisão. O criminoso rápido, voltou a arma contra si mesmo, à altura do ouvido direito, fazendo a última detonação. Os feridos foram removidos para o Hospital do Pronto Socorro, onde ficaram internados. A reportagem de O Globo ainda conseguiu falar com Glorinha, colocar curtas declarações da moça e fazer um brevíssimo antecedente da briga do casal na parte final da reportagem. Veja-se um outro exemplo a título de confirmação das diferenças entre os textos escritos por Nelson e publicados nos jornais de seu pai e a cobertura feita por O Globo. A reportagem trata de um dos corriqueiros pactos de morte de então. Desta feita entre uma mulher adúltera, Eunice Moreira, e seu namorado, Manoel Martins de Mello. A tentativa de suicídio conjunto se mostrará no entanto frustrada, revelando que a vontade de matar e 135 morrer nem sempre era tão grande assim. A abertura, outra vez, se parece mais com o deslanchar de um romance do que com uma notícia: A Quinta da Boa Vista é o recanto pitoresco para os que querem morrer pelo amor. Os seus quadros bucólicos são cenários deslumbrantes para essas tragédias passionais. Os seus lagos, na quietude mansa das suas águas, as suas alamedas, os grandes canteiros, são molduras maravilhosas para as grandes tragédias do amor. Periodicamente, os que sentem a vida asfixiante, torturados ou atenazados pelas dúvidas que canseram a alma, ou pelas desilusões na sucessão dos dias, procuram as sombrias mas graciosas alamendas, os mais verdejantes recantos e de permeio cenários da natureza pujante e panoramas lindíssimos vão ao gesto extremo. (Rodrigues, 2004: 224) Em lugar de criar, através de cuidadosa descrição, o ambiente propício para o transcorrer de uma narrativa que mais parece a de um romance, encontra-se em O Globo, em edição do dia 25 de junho de 1929 na primeira página com foto, e em contraste com os primeiros parágrafos de Crítica, uma abertura que desce logo seu foco sobre os acontecimentos da manhã em que se deu o incidente narrado. Há ainda muito enfeite como era comum então, mas logo surge o casal que decide se matar na Quinta da Boa Vista e, antes de consumar o ato, se deixa fotografar por um lambe-lambe: Desde cedo as pessoas que se encontravam na Quinta da Boa Vista, vinham se interessando por um casal de jovens, decentemente trajados e que, muito unidos um ao outro, percorriam alegremente as alamedas do lindo parque. Pareciam dois noivos em idílio. As crianças, principalmente, que àquela hora brincavam no parque, não perdiam um movimento do garrulo par, seguindo-o onde quer que fosse. Tinham-no visto já no pequeno bosque onde se acha uma mesa de pedra, na gruta, apreciando a cascata e depois num demorado passeio de barco pelo lago. A seguir, os jovens chamaram um fotógrafo ambulante e escolhendo o recanto que mais lhe parecia agradar, tomaram posição ante a objetiva, batendo o profissional uma chapa. A passagem que trata dos antecendentes do envolvimento da moça com o rapaz tem uma narrativa curta e direta: Falamos a Martins. Disse-nos ele que Eunice, por seu gênio volúvel, fôra abandonada há dois meses pelo marido, de nome Bastos. Vindo a conhecê-la por essa época, tornaram-se amantes. Há dias, Eunice lhe dissera que o marido vinha propondo-lhe reconciliação e ela, sem saber que atitude deveria tomar, resolvera suicidar-se. 136 Para a reportagem de Crítica, esse resumo do imbróglio é muito enxuto. É preciso acrescentar outros detalhes. Voltemos em companhia da folha de Mário Rodrigues um pouco atrás na cronologia dos fatos e conheçamos os incidentes que precederam o encontro entre os dois jovens protagonistas: [Eunice] ao passar todas as tardes por aquele botequim de Nilópolis, fixava, ardente e apaixonada, aquele guapo rapaz, que sempre no estabelecimento atendia à freguesia. Ele (...) se lhe afigurava o tipo perfeito de amante. Jovem ainda, olhar faiscando concupiscência, tipo Pã modernizado, sentiu também os furtivos olhares da rapariga, onde havia tons de meiguice e laivos de luxúria. (Rodrigues, 2004: 225) O remate do caso, para os que por acaso se interessarem por sabê-lo, se deu com a sobrevivência do casal aos disparos. Ainda cabe uma última reportagem de A Manhã em um desfile de exemplos que poderia nunca terminar. Trata-se de uma tentativa de matricídio, seguida da consumação de um suicídio. Uma jovem mãe, cujo namorado e pai de sua filha pequena não quis reconhecer a paternidade da criança, atenta contra a vida de sua menina e se mata. O que é reforçado aqui, e que já se insinuava em passagens comentadas anteriormente, é a presença de um narrador onisciente: Era pobre e vivia uma vida miserável. O ordenado que o emprego lhe proporcionara era insuficiente e não bastava par dar à pobre jovem um mínimo conforto. Sofria as mais pungentes necessidades. Vivia atormentada por cruéis privações. Entretanto, como era forte e animosa, não se desesperava. Nos momentos culminantes da desventura, procurava alívio na esperança florida de uma vida melhor. Seu espírito era sadio e novo. Não se abatia. Pelo contrário. Quando a desdita golpeava-o, enchia-se de novas forças e demais robusta mocidade. E as dores de tão habituais e comuns acabaram por revigorá-lo e enrigecê-lo. Marcelina de Oliveira afagava os mais lindos sonhos. Ante seus olhos extasiados desfilavam as mais risonhas perspectivas. Um dia... (Rodrigues, 2004: 184) As reticências constam da reportagem, algo impensável nos dias de hoje, e criam expectativa pelo que virá. 137 Os textos-não-assinados de O Globo arrolados por Coelho somam apenas dezessete, e, dois deles estariam, a nosso ver, “assinados” por apresentarem fotos que mostram o “repórter em ação”. São duas entrevistas: uma com o célebre técnico de futebol Mr. Taylor, que comandou o Fluminense no tri-campeonato de 1917, 1918 e 1919 e que retornava ao clube em 1934 (Rodrigues, 2004: 293-6), e outra com o pintor Cândido Portinari (Rodrigues, 2004: 297-301)37. Em outras, Nelson deve figurar como redator apenas. A reportagem, que leva o título de “A “garçonette” que matou o amante – a tragédia que abalou Porto Alegre”, que saiu em O Globo do dia 13 de julho de 1931 à página 6, foi inclusive apurada e enviada da capital sul-riograndense, o que elimina a possibilidade de ter sido feita por Nelson exclusivamente (embora tenha muito de fabulação que um redator poderia acrescentar). “As lamentáveis conseqüências de um conchilo de Fígaro”, da edição de O Globo do dia 19 de novembro de 1931 à página 3, sobre um furto a uma barbearia quando o barbeiro tirava uma pestana é outra que parece ter redação rodrigueana sem que o texto da reportagem aponte para ele como autor. Teria dúvida ainda quanto a um último caso: “Eu sou o Jaguarão, o preto que tem shoot de branco”, publicada no dia 17 de junho 1931 à página 18, que narra passagem com esse goleiro que foi uma das figuras do esporte mais queridas de Mário Filho. Se os exemplos aqui ilustrados não saíram da pena de Nelson Rodrigues, pelo menos se teve conhecimento da “escola” em que nosso autor se formou como repórter e na qual inaugurou seu aprendizado na arte de escrever. Servem assim como panorama informativo sobre como se deu sua iniciação como escritor. 37 Para confronto das reportagens com ilustração fotográfica ver CD anexo. 138 Desses anos primeiros da vivência jornalística de Nelson Rodrigues, tem-se ainda os textos assinados. São contos, críticas, resenhas, artigos opinativos. Em vez de ter exercitado sua escrita estritamente em um desses rincões de prática jornalística, o escritor estava no fundo sempre tecendo uma crônica, ainda que esta se insinuasse como um conto, como uma resenha, como uma crítica, como um artigo opinativo. Por isso parece mais apropriado buscar apoio na nomenclatura proposta por Afrânio Coutinho (exposta na seção 2.3.1 da presente Tese). Poderia se ter assim, e seguindo a tipologia de Afrânio Coutinho, o exercício da crônica narrativa, da crônica-informação, da crônica metafísica, da crônica-comentário e da crônica-poema-em-prosa. Para tipificar a crônica narrativa, deve-se recorrer a escritos como “A tragédia da pedra...”, “O elogio do silêncio” , “Uma história banal...”, “Lucy” e “A paixão religiosa de Maria Amélia” (as quatro primeiras de A Manhã e a última de Crítica), onde há uma clara narrativa fabular orientando a escrita do autor. Aqui podemse identificar amostras limítrofes entre a crônica narrativa e a crônica metafísica, já que o conto serve muitas vezes de instrumento para uma digressão de ordem filosóficoexistencial. Uma das preocupações mais presentes nesses textos, por exemplo, se refere à discussão sobre o poder corruptor do dinheiro. Com relação à crônica-informação, onde se enquadra a resenha, tem-se a crítica de um livro de Brasil Gerson (“Vinte anos de circo”), de traduções de poemas de Oscar Wilde e Edgar Allan Poe, por Gondin da Fonseca (“Poemas da angústia alheia”), e de uma ópera brasileira (Esmeralda, de Carlos de Mesquita). Apesar de Nelson Rodrigues se proclamar monoglota e ser apresentado como tal, em seu artigo para “O Globo nas Letras”, no dia 18 de janeiro de 1932, à página 7, 139 Nelson comenta a tradução para The ballad of Reading gaol, de Wilde, feita por Gondin da Fonseca. O poema de Wilde havia saído em edição junto com O corvo, de Edgar Allan Poe, no volume Poemas da angústia alheia. É admirável que uma resenha literária, se mostre tão literária, farta em impressões e sugestões poéticas. Sobre a tradução do poema de Wilde, diz Nelson no papel de crítico literário em uma crônica-informação: Nada perdeu a “Balada do Cárcere de Reading”, de Oscar Wilde, na tradução de Gondin da Fonseca. Relendo-a não sei porque me veio ao espírito a imagem de um violino em transe. Ignoro se me expressarei bem. Mas, logo depois de iniciado o poema, não nos parece ver e ouvir os arquejos, os relâmpagos, as arestas vermelhas, os reptos bruscos, as rajadas de insânia, o formidável e glorioso desespero do divino histérico que é o violino?(...) Wilde surge, para o nosso assombro, exalçado, sublimado pela dor. A crônica-comentário pontua um número grande de textos. É quando Nelson emite opiniões sobre personalidades da vida intelectual brasileira e estrangeira como Rui Barbosa, Émile Zola, Sortero Cosme, Eros Volúsia, Felippe de Oliveira e seu irmão Roberto Rodrigues. Todos esses comentários tocam nas obras desses autores, embora alguns polemizem mais o que representou cada uma dessas personalidades para o momento cultural de sua época. Entre elas está uma famosa diatribe que se estenderia por duas edições (distantes uma semana uma da outra) na qual Nelson, com o maior topete, dizia querer provar que Rui Barbosa não era um gênio. A sua argumentação até que é bastante convincente. Afirmava o pequeno jornalista, com convicção e verve surpreendente, no dia 12 de abril de 1928, à página 3, de A Manhã, que Rui Barbosa é “grande orador, cultura formidável, inteligência estupenda .... Mas, gênio não” . E na semana seguinte, no dia 19 de abril de 1928 e na mesma página, continuava: Por que Rui Barbosa não é um gênio? 140 Depois de muito meditar, sempre digo: Ruy não é um gênio porque nada criou, porque não deixou obras. Todos os gênios criaram e deixaram farto legado. Assim aconteceu com Milton, Byron, Dante, Homero e outros. Ruy nada deixou.(...) Leitor: o único gênio do Brasil foi Euclydes da Cunha. Esse sim, esse deixou uma obra verdadeira. Nos “Sertões” ele criou. Nesse volume admirável enfrentou problemas, discutiu fatos, confrontou e descreveu figuras, previu, pintou com cores fartas e sinceras os cenários deslumbrantes e desoladores de nossa flora, traçou em linhas precisas e fiéis a psicologia do brasileiro. Se com Rui Barbosa, o garoto era incisivo, o mesmo não se daria com outros nomes que figurariam entre os assuntos que pautariam essas suas crônicas em tom de crítica. Para outros intelectuais como J. Fabrino e Zola, guardaria palavras menos duras. Com relação a Zola, por exemplo, chegaria mesmo a fazer uma verdadeira ode ao escritor. O cronista mirim chegaria mesmo a vaticinar: Mais tarde, quando o homem deixar de ser o homem de hoje, quando a vida sofrer uma transformação completa e se despojar de qualquer vestígio da vida atual, os livros de Zola terão um precioso valor histórico. Porque definem uma época e um homem extintos... (Rodrigues, 2004: 104) Na prosa do Nelson Rodrigues cronista, já foi identificado o rendimento de recursos poéticos em efeitos de aliteração e assonância, dado comentado na seção 2.5.3. Nelson, que chegou a publicar pelo menos algumas estrofes localizadas entre as suas contribuições para a seção “O Globo feminino” no ano de 1939 ( “A menina de luto” e “Revelação”; cf. estes poemas no CD anexo a esta Tese), também se exercitou no que Afrânico Coutinho identifica como a crônica poema-em-prosa. As investidas de sua escrita por essa prática, sobressaem justamente quando o cronista-resenhista se põe a comentar os versos de algum poeta. Há poucos foi mencionado como a crítica para as traduções de Wilde e Poe, feita por Gondin da Fonseca, surgiu apresentada em escrita poética. Algo semelhante acontece quando Nelson comenta a obra de outros poetas. Ele escreveu crônicas cometário em tom de crônica poema-em-prosa sobre a poesia dos 141 seguintes autores: Moacir de Oliveira (dois escritos: “Gritos bárbaros” e “O artista”), Olegário Mariano, Raul de Leone, Hermes Fontes, Juana de Ibarborou e Felippe de Oliveira. De Moacir de Oliveira chegou a digressionar em tom de poema-em-prosa: O artista tem, como ele disse [no seu poema “Gritos bárbaros”], em seu poder, nas mãos de sua fantasia ardente e ampla, todo o mundo. Dentro do crânio colossal existem alvoradas, ou apoteóticas ou doentias, dentro do crânio, manhãs fecundas e luminosas, fortes e atléticas, nuas e resplandecentes, gritam a glória alucinante da luz, gritam a glória majestosa da juventude, arrebatada e pura, gritam a glória da força e da liberdade; dentro do crânio clamam mares; mares azuis, mansos, lisos, ou desvairados e torvos; e a noite apaga o sol e entra envolta em labaredas brancas; e os mistérios trágicos dos abismos e das florestas maviosas seduzem e empolgam. (Rodrigues, 2004: 83) Visivelmente seduzido pela figura da poetisa uruguaia Juana de Ibarborou, em crônica sobre sua poesia, publicada com bela ilustração do rosto da escritora nas páginas 5 e 6 de “O Globo nas Letras”, do dia 13 de junho de 1933, Nelson comenta da seguinte forma os escritos da autora: As suas cores têm nostalgias, sonhos, lirismos, delíquios. Os seus coloridos dão a idéia de que sangram, esplendem, riem. Impõe a uma só cor, um movimento de gradações infinitas. Há nos seus versos o lampejo terrível de opalas cindidas. O seu azul é singrado de nuanças como a pupila de um tigre. Foram apresentados alguns exemplos onde a crônica poema-em-prosa se fez mais evidente, mas a poesia parecia habitar o cronista resenhista em seus primeiros escritos e esse traço poderia ser replicado em um número grande de outros casos. 4.2.2 – Folhetinista Pseudonímico 142 A produção folhetinesca pseudonímica de Nelson Rodrigues, com os heterônimos de Suzana Flag e Myrna, aparentemente marca uma negação do choque permanente que o autor estabelece entre ficção e realidade. Não há em nenhum dos romances-folhetins de Flag (cinco no total: Meu destino é pecar, Escravas do amor, Minha vida, Núpcias de fogo e O Homem proibido) ou Myrna (apenas um: A mulher que amou demais) qualquer menção a fatos de uma realidade imediata, de uma situação histórica específica. À semelhança do ciclo teatral mítico, temos que procurar aqui por detalhes para recortarmos um momento histórico particular ou associarmos a narrativa a um espaço físico peculiar, já que o elemento trabalhado com ênfase é a fabulação. Deve-se lembrar, no entanto, que há razões para isso. Nelson Rodrigues estava querendo afastar essa sua produção de qualquer vestígio que pudesse ligá-la a sua persona intelectual. Quando começou a escrever como Flag, e anos depois como Myrna, Nelson já era um autor teatral festejado por seus pares e orgulhoso de seu feito com Vestido de noiva. Era natural portanto que se recusasse a envolver seu nome com uma literatura considerada menor como a dos folhetins. Ainda que a sugestão do uso de pseudônimo tenha vindo de Frederico Chateaubriand, é difícil saber se Nelson assinaria embaixo a sua produção folhetinesca dessa fase. Essa atitude é oposta à que terá com sua produção autoral, como já foi visto e como se voltará a ver adiante. Quando assina seus escritos, Nelson não resiste a jogar insistentemente com sua imagem pública, bem como com a de seus afetos e desafetos no campo intelectual. E não só isso: trabalha também a todo momento com sua trajetória pessoal. A escolha do autobiografismo que surge em suas crônicas é uma confirmação clara dessa opção do escritor. 143 Pode-se, no entanto, identificar algumas marcas no texto do folhetinistapseudonímico que nos apontam, ainda que de maneira discreta e tangencial, o cenário das ações e a origem e situação histórica retratada pelo autor. Meu destino é pecar abre a série de folhetins pseudonímicos em atmosfera rural. Como em Álbum de família, peça escrita no mesmo período, o primeiro romance-folhetim da mais famosa persona feminina rodrigueana se passa em uma propriedade do interior, a Fazenda Santa Maria, próxima de uma cidade de nome fantasioso: Nevada. Há, porém, um bar a pouca distância dali que leva o nome de Flor de Maio, uma flor característica da região onde se localiza o estado do Rio de Janeiro. As ações do segundo folhetim, Escravas do amor, e do último, O homem proibido, se passam no Rio de Janeiro. É, no entanto, preciso prestar atenção a detalhes para se reconhecer a indicação de que o Rio de Janeiro é o cenário desses folhetins. Nos outros folhetins não há menção ao espaço da ação. Em Minha vida, a autobiografia de Suzana Flag, o terceiro folhetim, somos informados de que os pais de Flag são de origem canadense e francesa, muito embora nada mais na trama possa ter alguma relação com a nacionalidade dos pais suicidas da pretensa escritora. Em A mulher que amou demais, só há a indicação de uma lagoa e de um mar, próximos ao local em que transcorre o enredo. Durante o correr de Núpcias de fogo, fica-se sabendo que uma irmã do padrasto da protagonista, veio da cidade de Aimorés que, ainda que não seja dito, fica no estado de Minas Gerais. Essas são insinuações esparsas e casuais: nunca se vê a presdisposição da “autora” em assinalar o ambiente de seus folhetins. Na orelha do livro Escravas do amor, Ruy Castro comenta que a “delícia do livro é o seu sabor tipicamente anos 40: os trajes de banho são maiôs de borracha ou 144 sarongues, as mulheres usam cinta, combinações e meias, e um beijo na boca significa um compromisso eterno. Mas não se iluda: a inocência é só aparente. Por trás da moral de ferro que sufoca os personagens, respira-se o tempo todo a violência e as obsessões sexuais das narrativas de Nelson Rodrigues” (Rodrigues, 2001). A bem da verdade, devese dizer que a ambientação nos anos de 1940 é por demais comedida, embora o restante contido nas observações do biógrafo de Nelson seja exemplarmente correto. O detalhe fundamental é que quem se apresenta sempre como personagem transgressora no cenário desses folhetins pseudonímicos são as mulheres. Desde Lena, o foco da ação de Meu destino é pecar, identifica-se a predileção que as heroínas ganharão no texto ficcional pseudonímico rodrigueano. Se elas já aparecem como personalidades fortes em suas peças escritas até então, iriam acima de tudo dominar a cena em seus romances-fatiados. Apesar de toda a celeuma e aura machista que as declarações públicas do escritor causaram, em seu universo ficcional foi ele um dos grandes afirmadores do desprendimento feminino. Sob a pena de Flag e Myrna, as mulheres fazem e acontecem. Nada comedidas, espreitam, sem constrangimento, rubor ou timidez, o homem sedutor em todo lugar. E mais, se atiram sem pensar e sem censura em seus braços. Fazem ainda joguete de seus objetos do desejo ao sabor de seus interesses pessoais. Em vez de serem submissas ou sofrerem por aqueles que desejam, se movem em busca da realização de suas paixões individuais. Mesmo quando aceitam casamentos por conveniência, se rebelam contra essa situação e se lançam logo aos braços de novos amores, trabalhando a disrupção de uma perfeita e tranqüila ordem conjugal. 145 As heroínas jovens que ainda não casaram namoram, por sua vez, à revelia da opção dos pais e parentes. Sempre envolvidas em disputas e rivalidades com irmãs, primas, mães, elas trocam de par a todo instante e nunca sabem bem ao certo que homem de fato desejam (parecem na verdade desejar a todos). Até as mulheres mais velhas e as solteironas, que também povoam as narrativas, são mulheres permanentemente movidas por suas paixões. A ousadia maior dessas heroínas são os beijos. Beijam por iniciativa própria essas personagens. E são os beijos o momento máximo dessas narrativas. As grandes personagens femininas dos folhetins dos anos de 1940 e início dos anos de 1950 só seriam superadas no desprendimento de suas atitudes, posturas e comportamentos, pelas personagens dos contos e folhetins autorais que se seguiriam a essas produções do autor. Em contraste com as mulheres que repetidamente se enamoram de sua feminilidade em frente ao espelho, temos a aparição, em todos os romances-folhetins desse período, dos defeituosos físicos, dos mutilados, dos desfigurados. Uma escrita seduzida pelo paradoxo, não poderia deixar de explorar o contraste que nossas construções culturais estabelecem entre o belo e o feio. O Victor Hugo dos trópicos povoa assim seus escritos com personagens que seguem a linhagem do Quasímodo hugoniano: Netinha e sua perna mecânica estão em Meu destino é pecar, professor Jacob e sua tenebrosa cicatriz facial e o jardineiro Bob, o “Fantasma da Ópera” (deformado por Mag; uma das onças de estimação do professor Jacob), em Escravas do amor, Cláudio e sua perna de pau, em Minha vida. É a própria protagonista Joyce quem fica cega durante o correr da ação de O homem proibido. Isso não privará, é bom que se diga, esses peronagens, que parecem saídos de uma fita B de cinema, de despertarem paixões fortes. 146 A narrativa de Meu destino é pecar é (muito) levemente inspirada no livro Rebecca, da escritora Daphne Du Maurier, publicado na mesma época e em seguida adaptado para o cinema por Alfred Hitchcock (no Brasil, Rebecca, a mulher inesquecível). Nele temos o surgimento de mais um tipo feminino irresistível e que pautaria os escritos da época: as mortas-vivas. Ao contrário da Rebecca de Du Maurier, as mulheres dadas como mortas nas tramas de Flag e Myrna somem por decisão própria para viver alguma paixão em paz. Ressurgem sempre para dar fôlego às indispensáveis reviravoltas rocambolescas, rendendo algumas laudas a mais para o redator. Guida, a primeira delas, que teria sido devorada por cães raivosos, inaugura o tipo em Meu destino é pecar. Ela seria seguida por duas outras mortas-vivas: Helena, em Núpcias de fogo, e Virgínia, em A mulher que amou demais. Ainda que seja uma mortaviva, Helena, de Núpcias de fogo, acabará morrendo de fato em um acidente de carro. Depois de sumir em um passeio de barco e reaparecer, ela será atropelada por Carlos, seu ex-noivo no passado e com quem reatara após sua reaparição (o acidente ocorre para dar curso ao romance entre a protagonista, Dóris, e seu par). Com a morte de Helena tem-se mais um sinal do diálogo dos escritos folhetinescos, mesmo aqueles escritos sob heterônimos, com as peças, contos e romances de Nelson. Do mesmo modo como iria acontecer a Arandir, o protagonista da peça O beijo no asfalto, Helena ao ser atropelada pede um beijo (pedido que será correspondido) a um transeunte desconhecido, como último desejo. Antes disso, ela solicitara ainda para ser enterrada vestida de noiva, como o Eusebiozinho, do conto “O delicado”, de “A vida como ela é...”. A rivalidade entre mulheres (entre irmãs, entre primas e entre mães e 147 filhas), bem como as insinuações incestuosas são elementos que marcariam as narrativas folhetinescas e também permeariam boa parte das peças, contos e romances. Dentro da produção pseudonímica de Nelson como Flag e Myrna, há três escritos que merecem consideração pontual. O primeiro deles é o folhetim Minha Vida, a autobiografia de Suzana Flag; os outros dois são os “consultórios sentimentais”, como têm sido chamados, dos heterônimos femininos do autor. Ao se propor a redigir a autobiografia de uma autora inexistente, uma narrativa tão mirabolante e delirante quanto os enredos que a pretensa escritora assinava, e ao criar, com as colunas “Myrna escreve” e “Uma lágrima de amor”, publicadas respectivamente nos jornais Diário da Noite e Última Hora, personalidades públicas que respondem às cartas de leitoras angustiadas em suas relações amorosas, Nelson volta a jogar com as noções sobre os limites entre ficção e realidade. E pouco importa que as cartas nos pareçam ser em sua vasta maioria inventadas pelas próprias “colunistas”. 4.2.3 – Repórter, Contista Consagrado, Folhetinista Autoral Se em suas primeiras reportagens como “jornalista-foca”, Nelson Rodrigues não se constrangia, como visto, em projetar sua imaginação para além dos dados factuais, nos textos do jornalista-repórter, escolhido por Samuel Wainer para ser uma das estrelas do diário que faria história na imprensa brasileira, essa opção apareceria como uma prerrogativa indiscutível. As reportagens do Última Hora, assinadas pelo escritor, reforçam essa tendência de suas produções como repórter. 148 Em sua atuação na reportagem do Última Hora, Nelson fez a ronda da cidade do Rio de Janeiro a bordo de uma radiopatrulha, recebeu a visita e conversou na redação do jornal com ex-combatentes brasileiros da Segunda Guerra e incursionou por uma casa de correção carioca em Bangu (esta última reportagem resultou em uma série de três relatos). Se saiu com narrativas surpreendentes, nas quais não resistiu a tentação de deixar patente sua perspectiva pessoal. Na reportagem sobre a ronda policial, em uma matéria não assinada, mas que pode ser identificada por uma fotografia do “repórter em ação”, na edição do dia 16 de julho de 1951 à página 8, tratou da paixão, segundo ele, do carioca pelo serviço de rádio patrulha: Primeiro houve o namoro da cidade com a Rádio-Patrulha. Nós a conhecíamos do cinema. E quando ela se inaugurou entre nós, não houve nenhum esforço de assimilação. Era como se os carros e as respectivas antenas se transferissem, diretamente, da tela para a realidade carioca. E foi um [amor], uma paixão, um exagero. Qualquer coisinha chamavam a Rádio-Patrulha. Brigas de família, discussões [de casais] e até parto, davam margem ao chamado. E os carros apareciam instantaneamente, de uma maneira quase surrealista. Mas essa prodigiosa eficiência não durou muito. A RP começou a falhar. Às vezes não atendia, ou custava a atender. Até que chegou o momento em que passou a ser um espectro de si mesma. Essa a abertura da reportagem que seguirá acompanhando a ronda de um serviço de Rádio Patrulha que, sob o comando do major Bruno Fraga Ribeiro, se reestrutura para atender novamente com eficiência ao cidadão carioca. Com o repórter e o fotógrafo sentados no banco de trás de uma viatura e tendo contato com os incidentes testemunhados pelos policiais em uma noite de sábado, acompanha-se um acidente de carro na Presidente Vargas que feriu um jovem gravemente e tirou a vida de um rapaz e de uma moça. O leitor é levado à cena pelo repórter: Súbito irrompe alguém do carro, cambaleia e estaca, num deslumbramento. É um homem pintado da cabeça aos pés, pelo próprio sangue. Parte do couro cabeludo desprendido. Tão escarlate seu sangue – tão berrante – que mais parece tinta, maquilage mal feita de carnaval ou de teatro. Fala, isto é, soluça palavras que ninguém entende. E parece, sobretudo, espantado, como se fossemos espectros diante dele ou 149 como se ele fosse espectro diante de nós. A guarnição da RP, diligente, dinâmica, eficaz, cumpre sua função. No fim de tudo, um dos seus membros dirá, impressionadíssimo: - Olha só o tamanho desse carro. Sobre as agitadas noites do fim de semana, registra a pena do escritor que se esconde na pele de réporter: (...) São fatos que estavam contidos durante a semana e se desembestam no sábado e no domingo. Paixões, frenesis, bodas secretas e impossíveis, ódios e os íntimos desgostos libertam-se no fim de semana. (...) Voltaria sábado, sim. Para completar as 24 horas de RP. E, naquele momento, uma moça de 19 anos deixara de ser e, no mármore parnasiano do necrotério, estava enfim tranqüila, a boca sem rictus, a vaidade esquecida, enterrada na sua morte como num claustro para sempre. De sua incursão por um presídio feminino, em reportagens que inauguram sua atuação no jornal de Wainer, trouxe os dramas das detentas Dinaura Amorim Cruz, Léa Costa de Albuquerque e Alzira Smovischi, que aparecem na série intitulada “No cemitério das mulheres vivas”, que circulam nos dias 12, 13 e 25 de junho na página 12 do jornal38. De Dinaura, o repórter nos conta que ela foi presa por sua colaboração passiva no assassinato do marido (cometido por um amante da moça) e posterior ocultamento do crime. Antes de presenciar a cena do crime, nada fazendo, a detenta sofreu com as pressões do esposo que desconfiava do romance e que prometia insistentemente matá-la. Nelson relata a história à sua moda, floreando o episódio. Do drama de Dinaura nos fala como narrador onisciente incontido que, como já se comprovou em outras reportagens, gosta de ser: [E]la sem querer e sem sentir, foi pensando nessa morte que antecipavam [ela e o amante] com uma certeza tão absoluta. De noite, no quarto, imaginava-se morta. Umas idéias puxavam outras: não era o fato de morrer que a espantava e assustava: era ser enterrada. Pensava que os mortos são mais dóceis e, na verdade, deixam fazer tudo com uma doçura, uma resignação que nunca tiveram na vida. Sob sugestão do “rapaz” 38 Conferir o CD anexo desta Tese para apreciação, confronto e preciso conhecimento de todos esses textos que aparecem também identificados em listagem ali alocada. 150 [seu amante], imaginava, quantas vezes, o momento em que fecha o caixão e ... O outro interpelava: - Você quer morrer? - Não! - Pois parece. A extensão do apego do repórter aos fatos pode ser questionado pelo leitor atento quando este esbarra em um segundo drama, este protagonizado por Lea Costa de Albuquerque, que matou o marido. Os atos de crueldade com animais, que permeiam muitas narrativas rodrigueanas, aparecem aqui nas atitudes da filha de Lea Costa, que foi pega a quebrar pernas de passarinho. Descontente com o comportamento da filha, o pai da menina decide aplicar-lhe um castigo, o que desperta a ira incontrolável da esposa, que o mata. Alzira Samovischi fará o mesmo com o marido, depois que este resolve extorquila, ameaçando levar a filha do casal caso ela não emprestasse uma quantia em dinheiro. Uma última reportagem do Nelson Rodrigues repórter é apresentada com o título de “Os mendigos da Pátria – romance de três pracinhas”, surge na edição do dia 19 de junho na costumeira página 12, e narra a vida de medicância a que os soldados brasileiros que foram enviados à Europa durante a Segunda Guerra tem de se submeter depois da volta. Após o encerramento das atividades do jornalista-repórter, é a hora de assumir a pena o contista. Nelson diz que os folhetins da fase pseudonímica serviram de ensaio para suas pretensões de escritor. Além do aprimoramento de sua técnica narrativa, ajudaram-no no refinamento da prática de elaboração de diálogos. A maturação desse projeto nós iríamos ver extraordinariamente realizada nos contos e folhetins que assinou com seu próprio nome e que se iniciaram nos anos de 1950 dentro do jornal Última Hora. São os contos das seções “Atirem a primeira pedra”, “A vida como ela é...” e “Pouco amor não é amor”, 151 e ainda os folhetins “A mentira” e “Asfalto selvagem”, dos quais nos ocuparemos a seguir. Com os contos e folhetins autorais, esta Tese adentra a sua vertente mais deliciosamente aprazível. Um espaço onde a reportagem rudimentar, o choque do que ficou conhecido como o “teatro desagradável” (a fase pesada das peças míticas), a narrativa arrastada dos folhetins pseudonímicos, cedem lugar à concisão de contos brilhantemente escritos, ricos em sua variedade de perspectivas e de abordagem. É o momento também em que se pode avaliar os limites do trágico dentro da produção do autor. A estréia daquela que seria sua coluna de contos, que começa com o título de “Atirem a primeira pedra” para depois de perto de cinqüenta edições assumir o título definitivo de “A vida como ela é...”, ainda seria feita, como já visto, a partir de um incidente real: o desabamento de um cinema em Campinas, quando um número grande de crianças, que assistia à matinê da fita de mocinho Os salteadores, em sessão dupla com Amar foi minha ruína (Leave her to heaven, em inglês), no cine Rink, acabou vitimada. Mas já na segunda coluna, com o conto “Inútil vestido de noiva”, sobre uma noiva que vê seu parceiro sumir no dia do casamento, o espaço assumiria a feição dos textos de todas as contribuições subseqüentes do autor para o jornal. Com relação à questão do trágico, deve-se dizer que se o autor, em em seus contos, não consegue abandonar por completo a morbidez, ele de qualquer jeito assumirá o papel de um cômico de mão cheia. O lado farsesco, picaresco, burlesco, domina a pena do escritor (tintas estas que também respingariam indiscriminadamente o quadro do teatro das tragédias cariocas). Se for feita uma avaliação geral dos contos rodrigueanos 152 do período, se verá que o lado cômico do autor predominava. Com base nas três coletâneas que são objeto da presente análise e no material por mim consultado em microfilme e anexado a esta Tese, é possível constatar essa tendência em sua escrita. O entrecho zombeteiro, rico em troças, satírico, comanda as narrativas da grandissíssima maioria das estórias. Se Magaldi destaca o desfecho trágico como característica do teatro rodrigueano e ele também está presente nos contos, deve-se trabalhar essa visão de forma mais comedida em relação a outros segmentos de sua escrita. Isso porque, se há casos de narrativas como as de “Delicado” e “As gêmeas”, dois entrechos assombrosamente sinistros, muitas estórias, entretanto, têm um tom indisfarçavelmente cômico. É o caso de “A eterna desconhecida” (Rodrigues, 1999b: 142). Ao descrever Andrezinho, protagonista desse conto, o narrador dá o tom da narrativa. Perguntava por toda parte: “Sou ou não sou bonito?”. A princípio, fazia isso por brincadeira. Mas, pouco a pouco, pela repetição, aquilo tornou-se um hábito, um vício. E acontecia, não raro, uma coisa interessante: apresentado a uma pessoa, em vez de dizer “muito prazer”, perguntava: - Sou ou não sou bonito? (Rodrigues, 1999b: 143) O restante do enredo se passará com um amigo do protagonista, Peixoto, um defeitoso físico, desafiando Andrezinho a conquistar uma pequena que, garante, não daria a mínima para o garboso galã. O protagonista acabará, com a morte de Peixoto, inconsolável por não ter podido conhecer a dama inconquistável. Como este, vários outros contos têm um desfecho trágico tão caricato, que nada apresentam de dramático. Há outros desenvolvidos com a exposição de uma situação trágica, mas cujo desenlace também é cômico. É o caso de “O grande viúvo”, que se aproxima bastante do enredo do primeiro escrito de “A vida como ela é...”, intitulado “O homem do 153 cemitério”, e de uma estória posterior, que levou o título de “O mausoléu”. Neles, um viúvo inconsolável deixa seus familiares preocupados com a sua obsessão com a morte da mulher. Todos passam a procurar uma solução para demover os viúvos dessas estórias de suas fixações doentias com suas ex-mulheres. A solução aventada em todas essas narrativas é sempre a invenção de um amante para macular a imagem da esposa morta. No caso de “O grande viúvo”, há o agravante de que o viúvo anuncia reiteradamente que quer dar cabo à própria vida. Quando a família consegue um primo conhecido para “passar pelo amante”, vem a grande reviravolta, o viúvo ao invés de ódio mortal ao suposto amásio de sua ex-esposa, diz ter finalmente encontrado alguém com quem pode conversar de igual para igual sobre sua mulher. O paradoxo da situação e do desfecho é evidente e é traço repetido em outros contos. Um segundo caso seria a estória de “Para sempre fiel” (Rodrigues, 1999a: 31), que de novo é emblemática do que se procura assinalar aqui. O conto narra a tentativa do personagem Odilon de convencer a namorada Odaléia de que era melhor uma separação entre os dois porque ele não acreditava na possibilidade de uma fidelidade incondicional e eterna por parte de sua amada. O paradoxo já surge na própria proposição do enamorado. Odilon diz a certa altura: - Você deve me chutar enquanto é tempo. Eu não interesso nem a você, nem a mulher nenhuma. Agora mesmo, neste momento, eu estou pensando que você há de me trair um dia. Isso deve ser doença. Eu sou um doente mental. – Num esgar de choro, pede: - Arranja outro namorado, arranja um sujeito que acredite em ti. (Rodrigues,1999a: 33) A apreensão do rapaz com a traição, como se vê, não envolve em momento algum sua consideração pessoal e privada sobre a condição de traído. Em vez disso, Odilon está preocupado com a pessoa que por ventura poderá vir a traí-lo, e enxerga mesmo um aspecto doentio em sua descrença na fidelidade. Odilon acha que Odaléia deve viver sua 154 fantasia de credulidade na lealdade amorosa com alguém que compartilhe devaneio semelhante. Odaléia se sente ofendida e diz que vai provar que nunca o trairá. E eis que ao final da breve narrativa ela o faz se matando. Não comete o suicídio, no entanto, sem antes deixar suas últimas palavras para o namorado nos dizeres: “As mortas não traem” (Rodrigues, 1999a: 34). O elemento paradoxal deste conto está presente em tudo: no inusitado da situação apresentada, no inesperado da conclusão da estória e na frase que confirma que, de fato, a moça nunca mais trairá a pessoa amada, ainda que isso não venha a acontecer porque ela não estará viva para fazê-lo. Com o primeiro folhetim autoral, A mentira (2002), publicado originalmente no Jornal da Semana Flan (encarte que circulava aos domingos com o jornal Última Hora) e editado como resultado do trabalho de recuperação dos escritos perdidos de Nelson Rodrigues feito pelo pesquisador Caco Coelho, tem-se outro exemplo. A falsa gravidez de uma adolescente, fruto de um diagnóstico errôneo, segura a trama do começo ao fim. Um pai, apaixonado por sua filha menor (uma nova incursão do autor pelo tema, reincidente em sua escrita, de problematização da interdição do incesto), supõe, em conseqüência da inépcia de um médico esclerosado, que a menina está grávida. Passa, como todos na trama, a viver a gravidez imaginária como um fato. E, ao invés de recriminar a garota (que mora com a mãe, outras três irmãs e respectivos maridos sob o mesmo teto), tem a reação inicial de alertar a todos os familiares para a necessidade de compreensão e proteção adicional para com a menina em função do inconveniente ocorrido com ela. 155 A ausência de recriminação não é o único dado inesperado em um ambiente conservador. A ambivalência das atitudes do pai é patente. Ele pode ser sensato como na passagem descrita acima, ou pode ser capaz do disparate de, ao descobrir no correr da estória que a filha não é legítima, dar graças aos céus pela possibilidade de viver a fantasia de um dia talvez ter um caso com a menina (o que será desenvolvido, obviamente, com requinte na trama). Os paradoxos do autor extrapolaram a própria estória. Na época do lançamento do folhetim ainda nos anos de 1950, Nelson Rodrigues deu entrevista ao Jornal da Semana Flan para divulgar o romance seriado e se saiu com um sortimento de afirmações totalmente em desacordo com o que se entende por senso comum. A mentira, cuja condenação está enraizada no pensamento popular e que é sempre preterida frente à verdade, ganhou um inesperado interesse do escritor. Passou, em função disto, a ser vista mesmo como uma dádiva. Na entrevista que concedeu na ocasião, o autor comentava: “A mentira mantém a máquina do mundo e impede que ela seja destroçada. As relações humanas, mesmo as mais íntimas, se constroem sobre a mentira e dela extraem sua melhor carga de poesia. Chego mesmo a pensar que a verdade é uma coisa hedionda, feita para habitar os asilos de psicopatias incuráveis” (Rodrigues apud Pires, 2002). Não é preciso dizer que nada disso tem relação alguma com a estória presente no folhetim. Lá a mentira é o elemento que move o conflito e que traz instabilidade para a narrativa. O paradoxo nos leva a um outro elemento muito explorado por Nelson que é o contra-senso. Rosinha, personagem do conto “Marido fiel”, garante: “Pois fique sabendo. Confio mais em meu marido do que em mim mesma” (Rodrigues, 1999a: 144). Marlene, no conto “Despeito”, diz, em tom cômico, que seu marido Rafael “é um caso sério”. 156 “Não me dá uma folga. Faz uma marcação tremenda. Desconfia até de poste!” (Rodrigues, 1999a: 174). A personagem Vilma de “Traído por ser bom” vive um “adultério sem sobressaltos, sem correrias, sem incidentes” que “pouco diferia da rotina matrimonial”. E chega mesmo à conclusão: “Não tenho amante. Tenho dois maridos” (Rodrigues, 1999b: 235). Em “Anemia perniciosa”, o protagonista Alcides recebe uma carta anônima informando sobre as traições de sua mulher, que julgava a mais fiel das esposas. Como era a primeira carta sem assinatura que recebia em seus trinta e seis anos de vida, resolve pedir ajuda informal a um amigo, Godofredo, que diz: “- Respeito muito as cartas anônimas. São as únicas que dizem a verdade!”. O amigo gagueja incrédulo, para ouvir de Godofredo: “- Claro! O fato de não ser assinada é uma garantia de veracidade. O anônimo não mente!” (Rodrigues, 1961a: 168). Citou-se há pouco o entrecho de “A eterna desconhecida” (Rodrigues, 1999b: 142) e entre as falas do personagem-galã Andrezinho, um conquistador às voltas com o fato de não saber quem é a mulher inconquistável mencionada por um amigo, pode-se colher mais um nonsense rodrigueano. Diante da dificuldade de vir a saber quem seria a mulher, o protagonista chega à conclusão: “Estou apaixonado e não sei por quem. Vê se pode?” (Rodrigues, 1999b : 145). Adiante o narrador definirá a situação do rapaz como a de alguém “condenado a amar uma mulher que jamais conheceria” (Rodrigues, 1999b : 146). Como nos folhetins pseudonímicos, as mulheres são as grandes personagens dos contos. Fazem e acontecem. Só que dos folhetins de Suzana Flag e Myrna para os textos autônimos, elas se tornaram mais ousadas e traem com uma desinibição, audácia e 157 atrevimento como nunca vistos até aqui nos escritos do autor. A Jandira de “Sem caráter” (1999 a: 52) não esconde do amante que está noiva. É quando o rapaz em seu raciocínio, embebido em contra-senso, faz a constatação inesperada de que o noivo dela é um paxá e de que ele, o amante, não passa de um pobre coitado. Pede, assim, que ela termine seu noivado. No entanto, tem de ouvir o seguinte comentário inescrupuloso da moça: “Desmanchar com meu noivo para quê? Não está tão bom assim?”, observação que será completada pela frase audaz: “Eu continuarei contigo, bobo!”. Ao que o amante retrucará: “Mesmo depois do casamento?”. Para ouvir: “Claro” (1999 a: 55). Numa sociedade patriarcalista, machista, como a brasileira, chama a atenção uma amante desinibida. Por outro lado, nessa mesma sociedade, só um amante rodrigueano poderia aparecer como um pobre coitado. Muitos críticos, a partir de declarações do próprio autor, destacam a proximidade dos contos rodrigueanos desse período com algumas das peças rotuladas de “tragédias cariocas”39. E, de fato, Nelson Rodrigues experimentou algumas idéias em seus contos antes de desenvolvê-las em suas peças. Há como se identificar, por exemplo, as origens de A falecida nas estórias de “A incrível Madame Esmérie” e de “A cartomante”. Tratase de dois contos do período de “Atirem a primeira pedra”, que já trazem a praticante de cartomancia que vaticina o horror em suas clientes. O enredo de A falecida seria mais desenvolvido ainda no conto “Um miserável”, do dia 27 de novembro de 1951, nono texto de “A vida como ela é...”, quase dois anos antes, portanto, de a peça estrear, em junho de 1953. Se em suas peças e folhetins produzidos até aqui o foco de interesse era a classe média, Nelson nesses contos escolhe também retratar, como em suas tragédias cariocas, a 39 Entre eles deve-se citar especialmente Magaldi, Sábato (op. cit, 2004). 158 vida comezinha de uma população suburbana localizada em um degrau ainda mais abaixo na escala social. É o cenário do subúrbio carioca das classes operárias que será especialmente mitificado e dramatizado pelo contista. A classe média ascendente, os novos endinheirados, aparece como elemento de contraste. Há o estabelecimento de uma oposição entre a vida de personagens ricos, perdulários, e o destino daqueles que são destituídos de quase tudo. A riqueza comum a todos é a paixão, e seu fulgor é dependente do elemento que traz instabilidade e move o andamento de todos os contos: a traição (ou a possibilidade de sua concretização). É o que justifica as ações extremadas, apaixonadas e cegas dos personagens. A inserção de dados factuais em seus contos desse período surgirá de novo como aspecto importante. Nelson segue, por exemplo, exercitando seu gosto e despudor em se apropriar de imagens da cultura de massa. De novo temos referências a óperas, ao cinema e aos símbolos dessa cultura: Cavalleria rusticana, King Kong, Tarzan, havaiano de filme, Cecil B. De Mille. Surgem também as divergências intelectuais e os ataques aos seus desafetos na cena intelectual brasileira do período. Em seus contos, Nelson não se constrange em recorrer a sua pena ficcional para desferir estocadas nas opiniões de pessoas como Carlos Drummond de Andrade e Gustavo Corção. É através de seu personagem, dr. Eustáquio, que, por exemplo, investe contra o poeta de Itabira. No conto “Covardia” (Rodrigues, 1999 a: 16), a personagem Rosinha queria apenas um amor espiritual com Agenor, mas resolve prevaricar depois que Marcondes, seu marido, se mostra um frouxo quando um padeiro a desacata. No dia em que vai ao encontro do pretenso amante aparece o dr. Eustáquio, justo quando ela 159 aguardava o amante, e se oferece para fazer-lhe companhia enquanto Rosinha espera “uma amiga”. Dr. Eustáquio, então, comenta: - A minha amiga tem lido o Drummond, o Carlos Drummond de Andrade? O poeta! Pois é. A gente vive aprendendo. O Drummond é contra Brasília. Meteu o pau em Brasília. Acompanhe o meu raciocínio. Se Drummond não aceita Brasília, é um falso grande poeta. Não lhe parece? A senhora admitiria um Camões que não aceitasse o mar? Um Camões que, diante do mar, perguntasse: -“Pra que tanta água?”. Pois, minha senhora, creia. Recusando Brasília, o Carlos Drummond revela-se um Camões de piscina ou nem isso: - Um Camões de bacia! Desatinada, Rosinha via o tempo passar. O dr. Eustáquio fazia-lhe outra pergunta amável: -“Gosta de poesia?”. Quase chorando, diz: -“O Araújo Jorge aprecio”. (...) Esperaram ali, dez, vinte, trinta, quarenta minutos. O dr. Eustáquio não parava; é estava dizendo: - “Nós tivemos um Homero. O Jorge de Lima. Morreu. Brasília está lá, profetizada, em “Invenção de Orfeu”. Subitamente, Rosinha corta: - Minha amiga não vem mais. Vou-me embora. (Rodrigues, 1999 a: 19) No caso de Corção, vê-se um ataque tão cáustico quanto os que faria em suas crônicas da década seguinte em relação a nomes como o de Dom Hélder Câmara e de Tristão de Athayde (ou Alceu de Amoroso Lima). O conto “Sórdido” apresenta as seguintes falas em seu trecho inicial: Começa perguntando: - Topas uma farrinha hoje? Do outro lado, Camarinha boceja: - Hoje não posso. Outro dia. E Nonato: - Escuta seu zebu. Tem que ser hoje. Vamos hoje. Escuta, Camarinha. Eu acabo de ler o Corção. Deixa eu falar. E quando leio o Corção tenho vontade de fazer bacanais horrendas, bacanais de Cecil B. De Mille! (Rodrigues, 1999 a: 62) Ao examinar-se o caso de Asfalto selvagem - Engraçadinha, seus amores e seus pecados (1995), que retoma a prática folhetinesca nas páginas do Última Hora, agora enriquecida pela experiência de contista, se constatará que Nelson Rodrigues faz de novo entrar em sua trama seus companheiros de redação do jornal de Wainer, bem como personalidades da vida cultural brasileira como Guimarães Rosa, José Carlos de Oliveira, Wilson Figueiredo, Tristão de Athayde, ou mesmo Eduardo Portella, um jovem crítico 160 literário então, alguns deles tratados de forma tão ácida e cáustica como nos contos. Além disso, o autor trouxe mais uma vez referências culturais da época. Há, por exemplo, a menção recorrente ao filme Les amants, de Louis Malle (a película predileta de um dos protagonistas) e as movimentações políticas com a eleição de Jânio Quadros. 4.2.4 – A Linguagem das Reportagens, dos Folhetins, dos Contos O século XX viu aparecerem as preocupações literárias que se traduziam em experimentações de ordem técnica e formal. O desafio à ordem cronológica da narrativa tradicional, a criação de uma atmosfera complexa, a representação da subjetividade e a escrita como um jogo cerebral marcaram essa tendência literária. No contexto do Modernismo, e do seu desdobramento no Pós-Modernismo, vimos escritos que recriaram inventivamente o suporte mesmo com o qual os escritores se exprimem, às vezes para produzir efeito narrativo como na passagem abrupta do discurso direto para o indireto e, às vezes, trabalhando o efeito da escrita em seu aspecto mais elementar: sua expressão gráfica. As novidades formais nessa área podiam surgir num romance de James Joyce, que começa com letra minúscula, num texto de Clarice Lispector, que se inicia com uma vírgula e termina em suspenso com dois pontos, ou no encerramento de uma epopéia rosiana, assinalado pelo símbolo de infinito. No campo jornalístico nos anos de 1960, ninguém trabalhou as possibilidades expressivo-gráficas de maneira mais exuberante do que o escritor Tom Wolfe. Wolfe foi um dos que se utilizou de uma escrita rica em grafismo para expressar principalmente suas conhecidas onomatopéias. Os dois recursos gráficos trabalhos por Nelson são o 161 ponto de exclamação e as reticências. Nelson era saudosista do tempo em que os jornais salpivam suas chamadas com o “grito gráfico”, como dizia, do ponto de exclamação. As passagens comentadas no fim da seção anterior, que tematizam os ataques de Nelson a Carlos Drummond e a Gustavo Corção, podem ser apreciadas justamente por apresentarem um excessivo uso do ponto de exclamação. Mas sua mania eram, principalmente, as reticências. São incontáveis os textos assinados por ele, em que elas aparecem. Nos títulos dos primeiros textos de A Manhã temos: “A tragédia da pedra...”, “”Gritos bárbaros”...”, “Uma história banal...”, “O rato...”, “Palavras ao mar...”, “As cedulas...” e “Rui Barbosa...”. Dos tempos de Crítica surgem duas: “Um homem fora de moda...” e “O homem que se destacou...”. Em O Globo, durante a década de 1930, a mania prosseguiria: “O estilista do amor e da morte...”, “Sonho de Leviathan...”, “A noiva de Pan...”, “Retrato lírico do morro...” e até no título (“O irmão...”) daquele que deveria ser o capítulo inicial de “A cidade”, seu primeiro romance, nunca publicado. Finalmente, as reticências aparecem inevitavelmente no título de sua coluna mais falada: “A vida como ela é...”. Este gosto surge ainda no próprio corpo do seu texto, como já devem ter notado os leitores mais atentos. Cristiane Costa, em seu Pena de aluguel (2004), trata da chegada dos modernistas brasileiros e de sua influência sobre a linguagem jornalística que marcaria o século XX, acentuando o papel desempenhado nesse contexto por escritores como Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade e Oswald de Andrade. Depois de lembrar a trajetória de mestre Graça, Drummond e Oswald, e como esses três literatos tiveram atuação na imprensa brasileira da era que antecedeu a chegada da televisão, 162 associa a participação dos três na definição de uma nova linguagem para os jornais. Da prática de Graciliano, nos diz especificamente: Impopular, logo ganharia no jornal um apelido: neurótico da língua. (...) Só respeitava o substantivo, riscando o adjetivo, que ele chamava de miçanga literária. Era contra “reticências porque é melhor dizer do que deixar em suspenso”. Exclamações também não usava: “não sou idiota para viver me espantando à toa”. (Costa, 2004: 93) As críticas de Graciliano trazem para a autora uma condenação do estilo que vingou entre os jornalistas brasileiros enquanto éramos uma “provícia da França” (ou seja, até as primeiras décadas do século XX). Costa destaca as observações de Nelson Werneck Sodré que caracterizou o período como “marcado pela ênfase, na fascinação pela palavra sonora, pela expressão desusada, pela orgia de adjetivos e pela pletora das metáforas” (Sódre, apud Costa, 2004: 99). Todos estes elementos eram queridos a Nelson que, além de ter nos adjetivos sua “tara estilística”, como destaca Cristiane Costa, abusava dos superlativos (outro recurso de escrita condenado por mestre Graça). Os traços explorados pelo texto do repórter, seguiriam como característica dos folhetins e contos, onde se fariam novamente presentes. Vejamos essas duas vertentes ficcionais nelsonrodrigueanas. De início é importante ver o que significa para um dramaturgo o exercício ficcional nesses outros dois campos de criação literária. O teatro é conhecido como a literatura dos analfabetos. Ainda que eventualmente um dramaturgo lance mão do coro, do corifeu, da voz em off, de um personagem-narrador (e Nelson Rodrigues muitas vezes usou alguns desses recursos), o que marca fundamentalmente a dramaturgia é a narrativa amparada em uma sucessão de diálogos. O que se perceberá, em termos de ordem estrutural de organização da escrita rodrigueana, na passagem do teatro para o folhetim e o conto, é justamente a presença de um narrador, primeiramente, 163 nos folhetins, discreto, mas logo em seguida, nos contos, personalíssimo com um papel fundamental e decisivo para o tom desses escritos. Esse aspecto é importante para se compreender o passo que será dado em seguida, quando o autor for fazer suas crônicas, gênero no qual se tornou um especialista na tradição dos grandes nomes do gênero. Pode-se observar uma mudança significativa na passagem do folhetim para o conto na presença de um narrador personalíssimo, como dito. Uma das características mais marcantes do narrador rodrigueano como contista, por exemplo, é a maneira como ele, em referência ao próprio ato de escrever, demonstra hesitações que expõem ao leitor o próprio ato da escrita. Trata-se de uma constante nos contos de “A vida como ela é...”. Quando narra, por exemplo, o caso de Sandoval e Dorinha no conto “Amor próprio”, o narrador, como se estivesse pensando alto, nos diz que “Enquanto Sandoval, paulista de quatrocentos anos, com bandeirantes no sangue, era um aristocrata autêntico, a pobre da Dorinha era filha de um contínuo da Câmara. Morava no posto 3 ou 4.” (Rodrigues, 1961: 54; grifo meu). Outro caso de hesitação, que torna explícito o caráter ficcional do texto, bem como e indiretamente aponta o ato da escrita, pode ser identificado em “O beijo”, quando se tem a descrição da protagonista que registraria em seu passado uma vida mundana: “E, de fato, Aída tinha um passado tenebroso; dizia-se a seu respeito, o diabo; que andava com todo mundo; que fôra vista não sei onde, de madrugada, com o dono de uma tinturaria” (Rodrigues, 1961: 285; grifo meu, novamente). Haveria como citar outros tantos casos semelhantes como nas aberturas da narrativa de “Agonia” e de “O dilema”. Nesses dois casos deixa-se bem mais explícita a presença de um narrador que, descortinando o ato da escrita, expõe a subjetividade que 164 teria criado o texto. A primeira traz em suas primeiras linhas o comentário: “Uma semana antes do casamento, foram os dois ao cinema ver um filme, se não me engano, de Clark Gable” (Rodrigues, 1961: 19; grifo por mim acrescido); já o narrador de “Senhora honesta” nos traz o cotidiano desinteressante do mirrado Valverde, cuja esposa está sendo assediada por um rapaz esbelto, como algo para lá de sem graça. Sem acreditar no assédio a sua esposa, Valverde vai a certa altura fazer a tradicional “fezinha” no bicho. O narrador nos apresenta a inocência de Valverde: “O marido saiu, muito alegre, dizendo que ia jogar no bicho; sonhara com não sei que animal e planejara o jogo” (Rodrigues, 1999a: 116; grifo meu). Sobre essas “imprecisões”, o próprio Nelson se manifestaria com mais um sortimento de comentários evasivos em um dos textos da própria coluna, intitulado “Não tenho culpa que a vida seja como ela é”, publicado à página 8, na edição do dia 13 de junho de 1952, no jornal Última Hora. Depois de um ano publicando contos abertamente ficcionais, Nelson mais uma vez opta por evasivas e por sugerir aos leitores a possibilidade de seus relatos basearem-se em incidentes reais: Outra característica da seção: suprimir nomes e residências dos personagens. Meus personagens têm sempre um domicílio vago ou não têm nenhum. Posso admitir a indicação sumária de bairro; de rua, nunca. O que me importa são os atos e, mais que os atos, os sentimentos. Com a eliminação do endereço e nome reais, a seção atinge, em cheio, um resultado, qual seja o de atenuar a vergonha dos personagens. Ninguém os identificará debaixo do disfarce criado. Só não altero, nem falsifico as suas paixões e os seus crimes. Há ainda outros comentários de um narrador auto-referente. Em “A inocente” (Rodrigues, 1961: 29), o personagem Balduíno, que enxergava “até demais!”, “começou a ter uma série de perturbações visuais. Eram pequenos pontos na visão que, com o correr 165 dos dias, se multiplicaram. Assustou-se. E vamos e venhamos: quem não tem medo de ficar cego?” (Rodrigues, 1961: 29; grifo meu, mais uma vez). Outra característica que irmana os contos e as crônicas rodrigueanos é o emprego insistente de marcadores de discursos e de imagens de extremo vigor, verdadeiras metáforas vivas, como quer Ricouer, que recheariam o texto do contista e depois reapareceriam como recurso de destaque nos escritos do cronista. Há ainda a presença da redundância, típica de uma escrita do excesso. Existem dois livros muito interessantes a tratar da relação entre escritores e seu repertório linguístico. Escritos pelo doutor em letras Deonísio da Silva, levam os títulos de A vida íntima das palavras (2002) e A vida íntima das frases (2003). Neles, esse estudioso da língua portuguesa discute o emprego de itens lexicais e frases por escritores consagrados. Muitos são os escritores que se utilizam de vocábulos, frases, expressões, com tal insistência, que parecem mesmo ser donos delas. Jornalistas como Elio Gaspari, por exemplo, têm o seu jargão próprio. Além de criar personagens como Madame Natasha, a professora de português que odeia música, e Eremildo, o idiota, Gaspari recorrentemente emprega vocábulos, neologismos, que são identificados com sua escrita: tigrada, patuléia, choldra, ervanário, a bolsa da viúva (em referência ao dinheiro público) e outras mais. Antes de Gaspari, e como inspirador dele e de outros jornalistas como Paulo Francis, Nelson Rodrigues também criou seu idioleto. Da paixão por termos como “arquejar”, “ulular”, “idílio”, “bofetada”, “terno”, “sentimental”, chegando aos de índole mais agressiva como “canalha”, “besta”, “bestafera”, “débil mental”, Nelson estabelecia o seu repertório particular. Esse repertório seria 166 acrescido de imagens fortes como “atirar patadas no assoalho”, apresentar alguma característica como algo “nato e hereditário”, ter um “choro grosso como um mugido”, estar “mais sujo do que pau de galinheiro”, ter o “olho rútilo e o lábio úmido”, entre outras. Para caracterizar, por sua vez, os personagens de seus contos se apropriava de expressões como “Rainha de Sabá” ou criava outras como “escorpião de banheiro” e “escravo etíope”. É possível reconhecer também, reforçando a adesão a um pensamento paradoxal, um sortimento de oxímoros em frases e expressões do autor. São passagens como “caprichava no desleixo” (Rodrigues, 1999b: 116), “sentou-se e continuou o velório do marido vivo” (Rodrigues, 1999 a: 223), “não ganho nem para morrer de fome” (Rodrigues, 1961, vol. II: 113), “a mais recente paixão imortal” (Rodrigues, 1999 a: 35) e “Não trairia o homem que amo, nem com meu marido!” (Rodrigues, 2002: 166). Nelson Rodrigues sempre foi muito elogiado pela rapidez e correção de sua escrita, mas se pode, depois de longa convivência com seu texto, identificar alguns poucos e raros tropeços do autor. No texto de abertura desta Tese, tem-se uma reportagem não assinada que é atribuída a Nelson. A convicção do acerto dessa opção no que se refere a sua linguagem se deve em parte ao uso de expressões como “um sentimental, um derramado” para caracterizar o açougueiro que é foco da notícia. Essa convicção pode ser fortalecida com o reconhecimento de um erro de grafia que apareceria anos depois nos contos de Nelson. Trata-se da palavra “xuxu”, grafada com “x”, que figuraria em muitos contos em sua grafia correta com “ch”, mas que no conto “O malandro” (Rodrigues, 1961: 200) surgiria escrita com “x”. Outros problemas 167 ortográficos que se repetem ao longo dos contos são: “encima” (duas vezes em Rodrigues, 1961: 74 e 278), “cotucava” (Rodrigues, 1961: 70), o estragerismo “by, by” (Rodrigues, 1961: 212) e “socega” (no conto “O miserável”, em anexo). Mais adiante nas crônicas o autor também confunde repetidamente os prefixos “anti” e “ante”. De novo, como nas peças, Nelson se alterna entre os registros formal e coloquial do idioma. Os diálogos reincidem assim no emprego por parte dos personagens de falas na 2ª. pessoa do singular, para marcar uma dicção literária, que se revezam com gírias e expressões extremamente coloquiais. Os diálogos em “tom lisboeta” (expressão empregada pelo autor) com “tu vais”, “tu gostavas”, “Hás de ser”, se alternam com expressões e vocábulos como “a senhora é um xarope”, “vá lamber sabão”, “você é uma bola”, “bucho”, “carambolas”, “papagaio”, “chispando”, etc. Falou-se que a redundância é uma das marcas de uma escrita do excesso. Com Nelson Rodrigues temos a repetição de sobejo em sua narrativa de algumas expressões. Citem-se algumas. É comum ocorrer a utilização daquilo que poderia classificar como suas pontuações textuais em expressões como “dir-se-ia”, “uma vez foi até interessante”, “basta dizer o seguinte...”. Ou, ainda, do recorrente “entre parêntesis”, que anuncia um comentário pontual. Como chiste, chacota, zombaria adicional, Nelson batiza com raro esmero seus personagens. Ou com alcunhas de uma invencionice a toda prova, ou com nomes que já caíram em desuso, mas que, para efeito de sua pena galhofeira, decide reavivar. Assim desfilam por seus contos: Filadelfo, Elesbão, Analecto, Galatéia (aparece para nomear personagens de dois escritos), Epaminondas, Hildegardo, Balduíno, Asdrúbal, Abigail, 168 Eustáquio, Gervásio, Malva, Ismênia, Edgardina, Borborema, Amádio, entre outros nomes esdrúxulos, ou se preferirem, pouco usuais. 4.3 – Narrativas do Cronista As crônicas da maturidade rodrigueana são divididas em crônicas esportivas, crônicas memorialistas e crônicas confessionais, o modo como cronologicamente os textos dessa vertente de sua escrita foram sendo apresentados aos leitores a partir de meados da década de 1950. Desde o ínicio, no entanto, quando começou com as crônicas esportivas no jornal Última Hora, e logo em seguida na revista Manchete Esportiva, suas colunas de cronista já apresentavam manifestações em tom confessional, bem como capitulações memorialistas. Muito embora tragam eventualmente dados factuais e enfoquem um evento jornalisticamente relevante, essas crônicas do autor lembram pouco o que Afrânio Coutinho caracterizou na seção teórica da presente Tese como crônica-informação. O que marcaria essa prática seria a divulgação de fato, o que raramente aparece entre as preocupações centrais das crônicas que estarão aqui sendo analisadas. Um número significativo dessas crônicas segue o modelo do que, de novo recorrendo a Afrânio Coutinho, deve-se classificar como crônica narrativa. Trata-se de crônicas que se aproximam do conto. Pode-se identificar desse modo a contaminação das crônicas pela prática do contista, comentada na seção anterior. Existem alguns textos que são 169 autênticos contos atemporais e que poderiam ter sido desenvolvidos como tal, pois trazem até mesmo personagens já tipificados nos escritos do contista. Há crônicas que trabalham, finalmente, pela vertente da crônica-comentário e da crônica metafísica. É uma espécie de exercício que está presente desde os primeiros escritos rodrigueanos, nos textos do cronista iniciante, e que volta agora. Ele nos mostra um Nelson Rodrigues divagando sobre questões pontuais, às vezes em tom mais abertamente filosófico, às vezes exibindo observações críticas de ordem comportamental. Uma caracterização para melhor definir as crônicas como um todo, por sinal, é a de serem sempre um comentário comportamental, a despeito de apresentarem uma conotação política mais explícita em algum momento, ou abertamente cultural em outro. A monografia de Elaine Silveira Teixeira (2006), em seu apanhanhado sobre os aspectos comuns às crônicas brasileiras, aponta os seguintes elementos como sempre se manifestando nesses textos: o humor, a utilização da metadiscursividade e a escolha da cidade do cronista como palco de seus relatos. Como se viu na seção de análise anterior, que cuidou principalmente do universo ficcional do contista Nelson Rodrigues, esses são aspectos presentes também em seus contos, e que voltarão a ser tematizados, como será visto adiante, nas crônicas. Se as crônicas rodrigueanas sempre foram o espaço de escrita do autor mais francamente otimista, também não faltarão a elas retratar passagens dramáticas vivenciadas pelo escritor. No teatro existe um recurso narrativo, empregado por muitos dramaturgos, que é o de buscar apoio, no desenrolar de um drama, naquilo que se convencionou chamar de comic relief. A intenção é que os espectadores tenham alguma forma de alívio de estórias mais difícies de serem fruídas. Presente no teatro rodrigueano 170 através da narração de entrechos cômicos, esse recurso pode ser identificado numa espécie de inversão na obra do cronista, quando narrativas que festejam e glorificam os feitos de atletas surgem entremeadas por episódios dramáticos. Será visto que esse foi outro aspecto trabalhado com empenho pelo cronista. Foi, por fim, no espaço de suas crônicas que Nelson criou seus personagens mais conhecidos. Explorando o limiar entre o acontecimento jornalístico e a invenção literária, povoou o imaginário de seus leitores com tipos que ficaram famosos: o Sobrenatural de Almeida, o Gravatinha, o padre de passeata, os idiotas da objetividade, a grã-fina das narinas de cadáver, as estagiárias de jornal, o príncipe etíope de rancho, o rei do futebol. Alguns desses personagens eram de ordem estritamente fabular, outros inspirados em contrapartida real. Foram eles os protagonistas incessantes de suas crônicas. 4.3.1 – Cronista Esportivo Falemos primeiramente das crônicas esportivas. Ao afirmar-se que as crônicas esportivas também apresentam traços memorialistas e confessionais, tem-se em mente a atmosfera autobiográfica que Nelson imprime a seus relatos. Das crônicas esportivas que escreveu para o jornal Última Hora e para a revista Manchete Esportiva, a partir de meados da década de 1950, dez anos antes portanto de aparecerem as crônicas memorialistas e confessionais, podem-se destacar vários textos com essa característica. Na crônica “Assassinato do Sanduíche”, em Manchete Esportiva, edição do dia 10 de dezembro de 1955, o autor nos fala sobre a inauguração de uma tribuna de imprensa no campo sede do Botafogo de Futebol e Regatas, no Rio de Janeiro, ocasião em que foram 171 oferecidos aos jornalistas comes e bebes. No entusiasmo de sua desgustação, o cronista acaba mergulhando proustianamente em um retrospecto memorialista: Comparada às outras tribunas de imprensa – a do Botafogo tem um luxo asiático de consultório de psicanalista. Vi colegas perplexos, desconfiados e, mesmo, temerosos. Mas não foi só. Houve mais:- houve champanhe, houve guaraná, biscoitos e sanduíches. Num ambiente cordialíssimo, confraternizaram jornalistas e paredros. Em dado momento, irrompe um garção irrepreensível, com uma bandeja de sanduíches. Aceito um deles.Vejam vocês:- o sanduíche desencadeou em mim um processo proustiano. Recuei no tempo e vi-me a comer outro sanduíche, há trinta anos atrás, num campo de futebol, também. Naquele tempo, certos clubes ofereciam, uma vez por outra, um lanche à imprensa nos intervalos dos jogos. Hoje, o cronista esportivo conquistou um nível social e econômico vertiginoso. Pode olhar um mísero, um franciscano sanduíche com um desprezo de rajá. Naquela época era diferente:- o repórter especializado andava de taioba e morria fisicamente de fome. Duas colunas a deixarem mais patente o memorialismo do autor foram publicadas sob os títulos de “Bocage no futebol” e “O craque na capelinha”, respectivamente nos dias 14 de janeiro de 1956 e 11 de fevereiro de 1957, na mesma Manchete Esportiva. Na primeira coluna, Nelson nos conta sobre o “impacto criador e libertário” do “nome feio”, não só em conversas corriqueiras, mas também e especialmente no futebol. Trata-se de crônica em que ele se colocará a rememorar o caso do jogador Jaguaré, goleiro com passagens esportivas folclóricas40, que não se adaptou a jogar na Europa, porque os palavrões que conhecia não produziam impacto algum em campos estrangeiros. Para abrir a narrativa sobre o atleta, Nelson escolhe a clave memorialista: Quando eu tinha meus cinco, meus seis anos, morava, ao lado da minha casa, um garoto que era tido e havido como o anticristo da rua. Sua idade regulava com a minha. E justiça se lhe faça:- não havia palavrão que ele não praticasse. Eu, na minha candura pânica, vivia cercado de conselhos, por todos os lados:-“Não brinca com Fulano, que ele diz nome feio!”. E o Fulano assumia, aos meus olhos, as proporções feéricas de um drácula, de um Nero de fita de cinema. (Rodrigues, 1994: 17) Se serve, de início dessa abertura, para chegar, por fim, ao episódo com Jaguaré, e relembrar ainda em sua recordações passadistas a pessoa desse atleta que não conseguiu 40 Para conhecer as narrativas sobre Jaguaré, ver Filho, Mário. O negro no futebol brasileiro. Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1964. Para o episódio mencionado por Nelson Rodrigues consultar especialmente p. 191-3. Há uma edição nova desse livro pela Mauad Editora (Rio de Janeiro), 2004. 172 atuar “desfalcado” da sua “pornografia luso-brasileira”. Jaguaré voltaria para o Brasil para jogar e morrer sem dinheiro, depois da dificuldade de adaptação na Europa: “Aqui, agonizou e morreu na mais horrenda miséria. Mas feliz, porque pôde soltar, no idioma próprio, seus últimos palavrões terrenos” (Rodrigues, 1994: 18). Em “O craque na capelinha”, escrito que fala sobre o “frívolo desamor à morte e aos mortos”, de nossa época, a recapitulação da infância surge no meio do escrito. Nelson menciona que no passado o morto permanecia no aconchego do lar e não, como hoje, no ambiente melancólico das capelinhas: Lembro-me de uma menina que morreu, de febre amarela, quando eu tinha meus cinco anos. Pois bem. A mãe da morta quase pôs a casa abaixo. Batia com a cabeça nas parede; derrubava cadeira; e queria arrancar os próprios olhos. Teve que ser contida, amordaçada, quase amarrada. Todos haviam parado de gemer, de chorar, para espiar essa dor maior. Houve um momento em que só ela gemia, só ela chorava, como uma insuperável solista. Hoje isso não é possível. A capelinha esvaziou a morte do seu conteúdo poético dramático e, direi mesmo, histérico. O propósito da crônica é falar de um craque, ou segundo a avaliação indecisa do cronista “um perna de pau” (não identificado nominalmente), que surge anônimo na capelinha após uma “agonia fétida e terrível” que o levou à morte. O memorialismo nesse e em outros escritos se avizinhava do saudosismo, como em uma outra crônica que se inicia rememorando um clube de futebol que já não existia quando o cronista se pôs a escrever. Contou ele em texto do dia 1 de julho de 1953, publicado no jornal Última Hora: Conheci ontem um torcedor fanático do Mangueira. Lembro-me que no ato da apresentação fiz espanto:-Do Mangueira? E, com efeito, custava a crer que existisse alguém que torcesse por um clube que não existe, que deixou de existir há uns bons trinta, trinca e cinco anos. Entramos num bar e o homem, atrelado ao grande assunto de sua vida, só me falava do Mangueira. Conversa vai, conversa vem, e no fim de meia hora, ele se tornara meu mais recente amigo de infância. Estivemos juntos comendo batatinha frita e bebendo chop, umas duas horas, no mínimo. Pois bem. Eu fui, ali, durante essas duas horas, um mero, um reles, um platônico ouvinte. Não consegui dizer uma frase, uma palavra, nada. Porque o homem impunha-se 173 como um solista absorvente, tentacular, implacável. Só no fim é que ele bate na testa e bufa:-“Ih, minha mulher morreu e eu tenho que tratar do enterro.” A abertura dessa crônica, com seus tons fabulares, torna patente, além do exercício memorialista e passadista, a investida do autor no exercício da crônica narrativa que, como se disse, aproxima a crônica do conto. Em um outro texto, feito para o jornal Última Hora, algumas semanas depois, tem-se mais um indicativo dessa prática. Agora deve-se destacar o traço de crônica narrativa. Ele levou o título de “Pancada de mulher”, e apareceu à página 8, da edição do dia 30 de julho de 1955. Primeiramente vêm os ataques à reportagem, semelhantes aos que já havia feito dias antes, à “falsidade”, segundo o cronista, contida em todo texto jornalístico. Nelson inicia suas digressões: Eu já disse, aqui mesmo, por várias vezes, que a reportagem é cega, surda e muda. Em verdade, ela não vê, não ouve, não fala, as coisas essenciais. O jornalismo é a arte de omitir tudo que possa caracterizar e explicar os fatos e as pessoas. Por exemplo:- Há na imprensa o tabu de não mexer na vida particular de ninguém. Critério erradíssimo como se vê. Seguirá um pouco adiante citando um caso específico para corroborar seus comentários: Ainda outro dia, eu li uma imensa reportagem sobre o ambiente doméstico de um craque famoso. Era o jogador sem uniforme, fora de campo, em trajes, civis de marido, chefe de família e dono de casa. Aparecia o homem em várias poses, ao lado da esposa, senhora rotunda, cujo busto opulento faria pensar no próprio seio de Abraão. Em todos os flagrantes, marido e mulher pareciam irradiar a mais perfeita e compacta felicidade conjugal. Mas o que me impressionou, acima de tudo, foi o equívoco patente:- Um casal de, apenas, duas pessoas, ou seja marido e mulher. Quando nós pensamos que um casal se constitui somente de marido e mulher, estamos, na verdade, incidindo em um erro numérico. Nós contamos duas pessoas, onde existem três, quatro e, às vezes, cinco. Eu conheci um marido que era amante de uma amiga íntima da esposa. Um dia, eles foram a um passeio na Cascatinha. Lá, apareceu um lírico fotógrafo lambe-lambe. E o cínico, descarado, pousou entre a mulher e a amante. Estava certa a fotografia: era um casal de três. Se, por ventura, tivesse omitido a amante, então o casal estaria incompleto, desfalcado, amputado. Também conheci um lar em que eram elas por elas:-traía o marido por um lado, traía a esposa por outro. E, assim, constituiam um casal de quatro. 174 Não custa lembrar que idéia semelhante foi desenvolvida em um conto que explora já desde o seu título o oxímoro trabalhado acima: “Casal de três” (cf. Rodrigues, 1999a: 26). Ainda podem-se citar dois escritos do cronista esportivo, preparados respectivamente para a revista Manchete Esportiva e para o jornal O Globo, que seriam casos mais taxativos de crônica narrativa. O primeiro abre novamente com a inflexão típica do memorialismo rodrigueano: Nunca me esqueço de um vizinho que tive na minha infância profunda. Era um santo da cabeça aos sapatos ou, melhor dizendo, da cabeça às sandálias. Do berço ao túmulo, não praticou uma má ação. Era todo amor, todo bondade. E só me admira que não andasse com um passarinho em cada ombro. Pois bem:-um dia, casou-se. Para usar uma velha imagem minha, direi que entrou por um cano deslumbrante. Já os conhecidos diziam-lhe:-“Cuidado, que um dia tua mulher te dá bola de cachorro”. E, certa vez, na presença de visitas, ela o destratou de alto a baixo:-“Eu queria um marido, não um santo”. E ainda completou:-“Tenho nojo de tua bondade”. Em outra ocasião, a víbora explodiu:-“Arranja um defeito ou me desquito”. Não foi possível. A perfeição do infeliz aumentava de quinze em quinze minutos. Até que se separaram. E quando um inocente do Leblon perguntou à víbora se ele a maltratava, ela urrou:-“Aquela besta é um santo!”. Por aí se vê, a virtude exagerada, em vez de favorecer o amor, pode liquidá-lo. Estou farto de ver sujeitos que são amados pelos seus defeitos. (Rodrigues, 1994: 152) Reparem que estamos diante de uma crônica publicada em uma revista esportiva. E Nelson Rodrigues se põe a narrar mais uma vez um entrecho que poderia perfeitamente ter sido desenvolvido como um conto. Atitude idêntica por parte do escritor tem-se com o texto que se vê a seguir e que foi editado não em uma revista esportiva, mas, de qualquer jeito, na seção de esportes de um jornal. É de uma fase bem posterior, e Nelson parece não saber mais se está fazendo uma crônica esportiva, uma crônica mêmoreconfessional, uma vez que já as havia iniciado, ou mesmo se está escrevendo mais um texto de “A vida como ela é...”. A crônica é de junho de 1970. Nelson abre o relato: “Quando era garoto, na altura aí de 1920. (Já chego ao futebol. Vocês não perdem por 175 esperar) Mas em 1920 as pessoas tinham honra. E, então, lavava-se a honra a tiros, lavava-se a honra a bengaladas” (Rodrigues, 1994: 176). Lança em seguida a tradicional afirmação-tese, que, presente em muitos dos seus contos, era geralmente enunciada por um protagonista. Nas crônicas essa iniciativa caberá ao cronista-narrador. Ele afirma: “Como sempre digo, todo casal exige uma vítima, assim como exige um algoz. Para o bom equilíbrio da casa, é preciso que a vítima aceite o seu papel e que o algoz como tal se comporte” (Rodrigues, 1994: 176). A ilustração virá com o caso de um senador que era “uma cabeça” e cuja retórica “tinha um nível de Rui Barbosa”. Porém, “onde acabava o grande tribuno começava o marido crudelíssimo”. Sobre a esposa do senador nos contará: Aquela vítima era bonita, um pouco fanada, mas bonita. Ao mesmo tempo, sabia que a beleza é um prazo. Dizia às amigas:-“Estou ficando velha, estou ficando velha”. Até que, um dia, apareceu-lhe um antigo namorado. Aproveitando um minuto, o ex-namorado disse-lhe, de passagem:-“Eu sou o mesmo”. A mulher quase desfaleceu. Sentiu-se atravessada de luz, sei lá. Mas passou. Até que uma manhã, por causa de um botão que faltava na camisa, o senador disse, quase doce:-“Vai buscar a vara de marmelo”. (...) Não sei se no mesmo dia, ou no dia seguinte, ela apareceu no escritório do antigo namorado. Começa, ofegante:-“Você ainda me quer?”. Ele, fora de si, disse tudo:-“Não te esqueci um minuto. Hei de te amar sempre, sempre”. (...) Quando chegou em casa, estava o marido. Ele disse, com um ódio sem exaltação:-“Você foi vista, no Alto da Boa Vista, com um homem”. Pausa. Repete:-“Pode me explicar o que estava fazendo com um homem no alto da Boa Vista?”. Nesse momento, ela teve um leve sorriso, de ironia quase compassiva:-“Só podia estar traindo você”. Desta vez não foi vara de marmelo, mas bengala. (Rodrigues, 1994: 177) O caso é replicado, nessa longa crônica, em uma narrativa sobre um casal, Otacílio e Odete, que também passou por estremecimentos em seu relacionamento por causa de traição feminina. Como se trata de uma crônica esportiva, o episódio teve seu clímax durante o campeonato do mundo de 1958, que será o pano de fundo da parte final dessa crônica narrativa. 176 As crônicas esportivas às vezes partiam de um episódio factual, mas não se limitavam a ele e investiam pela vertente da crônica-comentário e da crônica metafísica. Não se diferenciavam, assim, nem mesmo das outras crônicas mêmore-confessionais rodrigueanas no que tange à busca de vislumbrar algo de transcendente no que é cotidiano. As observações eram em geral abertamente comportamentais, e para isso Nelson se servia da galeria de tipos do mundo do esporte, aos quais acrescia retoques de sua imaginação. Trataria assim do juiz ladrão, que dinamiza uma partida, e de sua antítese, o juiz imparcial, capaz de tirar o brilho de um clássico; dos cronistas pouco inspirados, que não souberam, por exemplo, festejar a vitória do Brasil no Campeonato Pan-Americano de 1956, e que contrastam em sua atitude com um outro modelo de repórter, aquele que com suas mentiras alcança um admirável resultado poético e dramático; da torcida que, em seu furor, é capaz de forçar a escalação de um atleta, e do lúgubre torcedor botafogense, que comparece ao estádio para emanar o seu “pessimismo imortal”. Entre as crônicas-comentário, com tons de crônica metafísica, podem-se citar duas colunas escritas em seguida uma à outra e publicadas em Manchete Esportiva. Nelas, um acontecimento extra-campo levava o escritor a divagar sobre o suicídio. Isso aconteceu quando da morte de Maneco, um esquecido jogador do América que diante do declínio profissional e de uma dívida insolúvel se matou ingerindo formicida. O cronista tomou um ato, que sempre foi socialmente condenado, como uma decisão sublime. Escreveu ele à época: Cada um de nós é um suicida frustrado. E se ainda não estouramos os miolos, ou não pendemos de uma forca, ou não tomamos formicida, é que nos salva, sempre em cima da hora, a nossa incoercível pusilanimidade vital. Mas se cancelamos o nosso suicídio, admiramos e, mais do que isso, invejamos o alheio. (Rodrigues, 1996: 21) 177 Na coluna seguinte, um novo suicídio forçou Nelson a seguir com o assunto. Já tendo sido chamado no passado de Filósofo41, o cronista divaga sobre as nossas relações com aqueles que dão cabo à própria vida: Na última crônica, escrevi, por outras palavras, o seguinte: - o suicídio tece entre o morto e os demais um útil, mas irresistível parentesco. O sujeito que se enforca, que toma formicida, que se atira da barca, não é jamais um estranho, um desconhecido. Torna-se profundamente irmão de todos nós e de cada um de nós.(...) Mas um suicídio não é um ato como há tantos. Eis a verdade: ele é em si mesmo tão persuasivo e autêntico que não sabemos como resistir-lhe. (Rodrigues, 1996: 23) A abertura é para falar de um colega de clube de Maneco, o também ex-jogador do América Itim que, uma semana depois do suicídio do amigo, se matou de forma idêntica ao seu companheiro de clube. Sobre o duplo episódio, comenta Nelson: Seria um erro separar os dois fatos. Na realidade, aquele que se mata está chamando, está aliciando os outros, todos os outros, para um abismo só. E os casos de Maneco e Itim parecem demonstrar que há entre os suicídas uma compreensão secreta, um idioma próprio e intraduzível, uma fidelidade inefável. Nós, que vivemos a nos trair uns aos outros, que somos infiéis por vocação, por destino, precisamos invejar Maneco e Itim. Imaginem a cena:- Itim velando o amigo morto, fazendo quarto e, depois, acompanhando o enterro a pé, debaixo da chuva. Se todo suicida deixa um apelo a cada um de nós, um cálido apelo, eis a verdade:- Só um, entre todos os que estavam ali, recebeu o apelo de Maneco. (Rodrigues, 23-4) Nelson viu na decisão de Itim um exemplo de amizade. Disse ele: “Vejam vocês a imagem vil que formamos uns dos outros:-admitimos que um semelhante se mate por amor, por dinheiro, por jogo, por desemprego ou, até, por tédio. E não queremos aceitar, nem por hipótese, que se possa morrer por amizade” (Rodrigues, 1996: 24). Se essas duas crônicas, e mesmo trechos citados anteriormente, não sinalizam para a presença de passagens dramáticas, mesmo entre as crônicas esportivas, pode-se 41 Sobre a pecha de filósofo, Rodrigues conta: “Certa vez, descia as escadas de O Globo e cruzo com um boxeur e meu amigo de infância, o Camarão. Ele solta um berro jucundo e fraternal:-“Filósofo! Filósofo!”. Os outros também me chamavam de “filósofo” por causa de meu desleixo agressivo e constrangedor. E ainda outros perguntavam, numa curiosidade séria:-“Esse cara é maluco?” (Rodrigues, 1997: 122) 178 conferir a narrativa de uma coluna de Manchete Esportiva, que aparece na edição do dia 15 de fevereiro de 1958, para se reforçar essa visão. Na coletânea À sombra das chuteiras imortais, ela recebeu o título de “Vestido de fogo”, repetindo as incorrigíveis alusões à peça maior de Nelson. O assunto comentado é a tragédia ocorrida com o jogador Tommy Taylor, que, junto com toda uma delegação do Manchester United, feneceu após um desastre aéreo em Munique. Nelson, em sua crônica publicada uma semana após o acidente, traduz “nossos” sentimentos em face desse acontecimento e rememora uma partida da seleção inglesa contra o escrete brasileiro (ocorrida dois anos antes, em 9 de maio de 1956, no estádio de Wembley). A coluna é dedicada ao goleador do Manchester, que provocou a ira da torcida brasileira ao converter dois gols para os ingleses nesse célebre confronto. 4.3.1.1 – Personagens das Crônicas Esportivas Muitas foram as alcunhas, epítetos, codinomes que Nelson criou para se referir aos protagonistas de suas crônicas esportivas. Em 1958, a seleção brasileira fez, durante a Copa da Suécia, a campanha que confirmaria o seu favoritismo, já ensaiado anteriormente na Copa de 1950, como uma das grandes forças do futebol no mundo. Uma das estrelas desse campeonato foi Edson Arantes do Nascimento, que contava apenas 17 anos na ocasião. Jogando na Europa e frente à realeza européia, Pelé acabou sendo chamado de rei do futebol, um codinome que o acompanharia pelo resto de sua história dentro do mundo esportivo. Nelson credita, não se sabe se de forma fantasiosa, a alcunha à reportagem da revista Paris-Match, embora o próprio cronista já houvesse se referido à 179 realeza de Pelé e de outros jogadores brasileiros antes do torneio em que o Brasil chegou ao seu título inaugural de campeão do mundo. Como bem lembra José Castelo, Nelson mencionou pela primeira vez a realeza de Pelé meses antes da Copa de 1958. A primeira referência foi em um jogo entre Santos e América, sobre o qual o cronista escreveu uma coluna publicada em edição da revista Manchete Esportiva, mais precisamente a do dia 8 de março de 1958. Nela o cronista comenta: Pois bem:- Verdadeiro garoto, o meu personagem anda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei, não sei se Lear, se imperador Jones, se etíope. Racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. Em suma:- ponham-no em qualquer rancho e a sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável:- a de se sentir rei, da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola, e dribla o adversário, é como quem enxota, quem escorraça um pebleu ignaro e piolhento. E o meu personagem tem uma tal sensação de superioridade que não faz cerimônias. Já lhe perguntaram:-“Quem é o maior meia do mundo?”. Ele repondeu, com a ênfase das certezas eternas:-“Eu”. Insistiram:-“Qual o maior ponta do mundo?”. E Pelé:-“Eu”. Em outro qualquer, esse desplante faria rir ou sorrir. (Rodrigues, 1996: 42) Antes de Pelé, o cronista já havia estabelecido outros epítetos nobres para os protagonistas de seus escritos. Didi, craque do Botafogo, aparecia em algumas crônicas esportivas de Nelson sob o codinome de príncipe etíope de rancho, em outras, como imperador Jones. Outros atletas, que não alcançariam a fama de Pelé e Didi, também ganharam a reverência do escritor. Denílson, jogador do Fluminense na segunda metade dos anos de 1960, era ora príncipe Zulu, ora rei Zulu. Se para os atletas há pouco referidos, Nelson gostava de assinalar o caráter nobre de suas atuações, para outros sua imaginação escolhia imagens ainda mais elaboradas. Assim, aos olhos do cronista, o alvinegro Amarildo era o possesso, Zagalo, também alvinegro depois de ter atuado como atleta rubro-negro, era o Coração de Leão, e Bellini, 180 capitão do Brasil na vitória de 1958, era, defendendo a camisa cruzmaltina, o Javali do Vasco. À sua galeria de personagens verdadeiros, Nelson haveria de acrescentar suas criaturas fabulares como o Sobrenatural de Almeida, o seu antípoda, o Gravatinha, o Ceguinho, a grã-fina das narinas de cadáver e o Profeta. A primeira manifestação do Sobrenatural de Almeida, ainda sem o sobrenome que o consagraria e a identificação com o escrete tricolor, data de um escrito de Manchete Esportiva, da edição do dia 10 de novembro de 1956. Em um jogo decisivo para o clube que quisesse levar o tetracampeonato, Vasco e Flamengo se enfrentaram. O Vasco podia perder. O Flamengo tinha que vencer a todo custo para alentar o quarto título, que ficaria no final das contas com o time cruzmaltino. O jogo seguia empatado até os instantes finais quando o escrete flamenguista converteu um gol. Para realizar tal feito, o time rubro-negro contou, segundo o cronista, com forças externas: “O Flamengo tinha, porém, um elemento extra-tático, extraesportivo, em que os outros não acreditavam e ele sim. Refiro-me ao apelo ao sobrenatural que, na luta do tetra, o rubronegro vem renovando, com apaixonada tenacidade”. Anos depois, o Sobrenatural de Almeida surgiria, já devidamente identificado por nome e sobrenome, a se encarregar de tentar influir nos resultados em favor do Fluminense e de levar má sorte aos adversários. Outros protagonistas fabulares são o Gravatinha, o Ceguinho e o Profeta. Enquanto o Gravatinha trata apenas de trazer bons fluídos para o escrete tricolor, o Ceguinho, personagem terno, se embevece em assistir aos jogos do time das Laranjeiras. 181 O Profeta, por fim, cuidava de vaticinar as vitórias do Fluminense para depois sofrer horrores quando suas previsões não se confirmavam. A aversão de Nelson Rodrigues aos grã-finos levaria o escritor à criação de um dos protagonistas mais falados de suas crônicas esportivas: a grã-fina das narinas de cadáver. Data da peça Boca de Ouro, de 1959, a repulsa rodrigueana por pessoas de hábitos requintados. Trata-se de um sentimento que chegaria às crônicas esportivas e que se estenderia às crônicas mêmore-confessionais. Uma primeira manifestação dessa ojeriza à opulência e à ostentação dos endinheirados surgiu no texto do cronista, em coluna do dia 12 de maio de 1962, em O Globo, à página 3. Ainda ontem, dizia eu que apareceram, no Maracanã, as caras mais inesperadas. E os grã-finos não faltariam, porque têm o que eu chamaria de faro histórico. Amigos, eles não falham no grande acontecimento. Há uma Revolução Francesa? O grã-fino compra seu ingresso e lá comparece. Imensamente divertido, vê a turba acabando com Maria Antonieta, a pauladas. Há Hiroshima? Pois bem. E o grã-fino, com turístico elã, e cintilante curiosidade, percorre as mutilações hediondas. Vi pequenas lindas, perguntando quem era a bola. E tinha tanta gente que o sujeito pensava: “Não ficou ninguém em casa!” Estendeu-se a citação acima, porque caberia à grã-fina das narinas de cadáver, e não às jovens mencionadas há pouco, a célebre pergunta: “Quem é a bola?”. Mas, por curioso que possa parecer, a personagem fez sua estréia nas crônicas confessionais do escritor. Primeiro em uma crônica de meados de 1968 (Rodrigues, 1997: 151) e depois exemplarmente caracterizada em escrito do início de 1969: Uma noite, entro no Estádio Mário Filho. Iam jogar Santos e Botafogo. Retifico:- era outro jogo. Talvez Fluminense com não sei quem. Não me lembro. Passo pelas borboletas, entro no hall dos elevadores, tomo o meu lugar numa das filas. E súbito, vejo uma grã-fina. Como já escrevi, as grã-finas não são, via de regra, nem bonitas, nem interessantes. Mas fingem ambas as coisas.(...) E, súbito, ela, que ia na minha frente, volta-se para ver um conhecido. Seu rosto é uma máscara amarela. Mas a cor era o de menos. (van Gogh adorava o amarelo.) Tantas se pintam assim, em qualquer país e em qualquer idioma. Mas aquela grã-fina tinha, sim, um sinal exterior que a distinguia de tudo e de todos:- as narinas de cadáver. O Marcello Soares de Moura ia comigo. Baixei a voz:-“Olha 182 aquela ali”. O amigo olhou. Perguntei-lhe:- “Não tem narinas de cadáver?”. O Marcello deu quase um pulo:-“É mesmo! é mesmo!”. (Rodrigues, 1995: 23) Depois de sua apresentação, a grã-fina passaria a ser personagem assídua das crônicas esportivas. Além dos personagens comentados, há outros de presença menos precisa e de comparecimento mais difuso em seus escritos. Nos referimos aos idiotas da objetividade, aos cretinos fundamentais e aos lórpas e pascácios. Nelson também tinha fascinação pelos cáprulas em geral, uma galeria onde explode em sua riqueza a “irisada, a multicolorida variedade do vigarista”, segundo o autor. Nesse grupo estavam os juízes gatunos, os goleiros desonestos, que facilitavam a vitória dos times adversários, os banderinhas artilheiros, que convertiam gol para a equipe vencedora, e os canalhas. Esses últimos surgiram nos contos de “A vida como ela é...”, mas marcaram presença nas crônicas esportivas e depois iriam aparecer nas crônicas memorialistas e confessionais na figura do Palhares, o que atacaria, sem pudor algum, as próprias cunhadas. 4.3.2 – Cronista Mêmore-Confessional Vejamos o início da seguinte crônica: Muita gente não entende o nome de minha peça. Sujeitos perguntam, numa amarga perplexidade:-“Por que Otto Lara Resende?”. Entendo o espanto, entendo o escândalo. Normalmente, só os defuntos e, ainda assim, só os defuntos monumentais é que entram na ficção. Mas o Otto está aí, escandalosamente vivo e contemporâneo. Nós podemos apapá-lo, farejá-lo e até pedir dinheiro emprestado. (Rodrigues, 1996: 16) Façamos o mesmo com o trecho que se segue: Amigos, na minha crônica de ontem fiz uma pequena meditação sobre a mulher bonita. Marilyn Monroe morrera, na véspera, dessa enfermidade terrível que 183 é a beleza. Enfermidade, disse eu. E, de fato, a beleza causa na mulher um desgate interior, macio, incidioso, fatal. E, no fim de certo tempo, a mulher bonita se volta contra si mesma, com tédio e ira de todos os seus dons plásticos. (Rodrigues, 1996: 29) E, por fim, com essa última passagem, um pouco mais longa: Amigos, eu gosto muito de falar de mim mesmo. Sempre que conto uma experiência pessoal, sinto que nasce, entre mim e o leitor, toda uma identificação profunda. É como se, através do meu texto, trocássemos um imaterial aperto de mão. Pois bem. Eu queria referir, hoje, uma dessas experiências individuais que implicam todo o ser humano. Trata-se da minha peça Otto Lara Resende ou Bonitinha, mas ordinária. O fato é que a escritora Clarice Lispector foi assistir à minha nova tragédia carioca. Entre parênteses, preciso dizer quem é Clarice, porque o povo quase não conhece os seus artistas, os seus poetas, nem os seus profetas. É a maior escritora do Brasil e da América. Mas Clarice assistiu à Bonitinha e saiu do teatro impressionadíssima com o autor! O bonito, o realmente lindo, foi a imagem que ela formou de mim. Segundo a escritora, eu sou um menino. Vejam vocês:- Um menino que acaba de olhar pelo buraco da fechadura uma cena monstruosa! (Rodrigues, 1996: 35) Todos os textos acima estão na compilação intitulada O remador de Ben-Hur (1995), que reúne as “crônicas culturais” de Nelson Rodrigues, assim identificadas por seu organizador, Ruy Castro. Foram, no entanto, e sem exceção, publicados originalmente na seção de esportes de O Globo. Saíram em edições do jornal da primeira metade dos anos de 1960, antes das crônicas mêmore-confessionais começarem a ser escritas. Lidas na íntegra, essas três crônicas invariavelmente acabam chegando transversalmente ao esporte (e ao futebol especificamente; já que era esse o assunto ao qual estavam associados seus escritos de cronista feitos para o jornal O Globo, nessa época), mas mostram o autor tentando forçar observações de ordem comportamental em seus escritos esportivos. Das crônicas esportivas para as autênticas crônicas memorialistas e confessionais, que surgirão na segunda metade dos anos de 1960, veremos mudar os motivos originais e 184 os protagonistas, mas os escritos ainda manterão uma proximidade com os textos anteriores. Sobretudo porque o repertório linguístico, os marcadores de discurso e as peculiaríssimas metáforas criadas pelo autor, permeavam, e continuarão permeando, os seus textos jornalísticos de maneira indiscriminada. E, acima de tudo, Nelson agora não terá de forçar as suas observações de ordem comportamental e poderá investir por elas em grande estilo. Para falar sobre as crônicas-comentário que surgem dentro dessa produção do autor é pertinente que se estenda e se discuta um pouco sobre a pessoa pública de Nelson Rodrigues. Com esse fito é crucial recorrer a tese de Doutorado de Facina (2004), que se preocupou especialmente em traçar um perfil intelectual do escritor. Uma das conclusões importantes desse estudo é que não vale a pena confundir a trajetória de um autor, traduzida eventualmente em obras revolucionárias, com seus posicionamentos politícos. Apesar de todos as polêmicas que causou com suas obras, sempre foram muito claras as opções políticas de Nelson Rodrigues, algumas expressas em seus próprios escritos, outras destacadas por pessoas como seu biógrafo, Ruy Castro. Elas apresentavam um escritor que sempre combateu abertamente qualquer opção política que significasse uma guinada à esquerda no cenário da vida pública brasileira. Em suas escolhas privadas, Nelson foi, por sua vez, um eleitor de opções conservadoras: sempre votou, por exemplo, na UDN, uma das facções políticas brasileiras mais tradicionais, que teve um de seus ativistas de destaque na pessoa de Carlos Lacerda (intelectual tão contraditório quanto o dramaturgo, mas que, assim como ele, sempre apoiou e, mais do que o cronista, empenhou-se politicamente em favor de um ideário conservador). 185 Nelson aparecerá atuando na imprensa como contista e cronista de peso em momentos extremamente conturbados da vida política nacional. Durante a década de 1950, o jornal Última Hora, onde trabalhava, esteve no centro de uma crise política que levou ao suicídio do presidente Getúlio Vargas e a um estremecimento da ordem democrática. Na década de 1960, sua prática será cercada pelos acontecimentos desencadeados pelo movimento golpista de 1964 e pelos cenários de mudanças políticas e culturais no Brasil e no mundo. A segunda metade da década de 1960 e os anos de 1970, o período em que estarão sendo escritas as crônicas que estarei comentando nesta seção, são momentos de produção intensa para o escritor-cronista e de grandes mudanças no mundo. Os movimentos hippie e feminista, a liberação sexual, as iniciativas revolucionárias em busca de transformações políticas à esquerda e à direita, aparecerão como pano de fundo nesse momento. Nelson se insere nesse quadro disposto a causar celeuma. Com sua escrita irascível povoará suas crônicas-comentário (às vezes, em versão híbrida com arestas de crônica narrativa), discutindo e atacando todos esses assuntos. Sempre com sua visão crítica, se colocará a debater e a investir por temas como a Psicanálise, as movimentações e manifestações políticas, a luta de minorias por direitos igualitários, as mudanças radicais de comportamento por parte principalmente da juventude, entre outros tópicos. Para diferir de estudos anteriores, vou primeiramente acompanhar as crônicas mêmore-comportamentais de Nelson estabelecendo contraponto com acontecimentos específicos de ordem político-cultural no cenário brasileiro e internacional. Essa abordagem favorecerá a percepção de seus escritos em relação a alguns eventos e 186 episódios comentados, o que é de sobremaneira importante para se avaliar quais os posicionamentos que adotará em seus textos. Não há como se dizer ao certo se Nelson Rodrigues apoiou de fato o golpe militar de 1964, embora seja possível vislumbrar que houve de sua parte uma simpatia pela tentativa de barrar uma radicalização à esquerda no Brasil, nesse período agitado e dramático da história brasileira. No primeiro volume do longo estudo de Gaspari (2002), se confirma a percepção corrente de que houve uma ausência de poder que ensejou o Golpe. A obra de Gaspari descortina toda a luta interna e a divisão que se encontrava no interior do movimento golpista. Havia uma facção de militares moderados e outra de militares linha dura. Orquestrada como uma ação conjunta entre essas duas forças internas, o golpe militar de 1964 acabará por consagrar a vitória da segunda delas. A radicalização à direita, com a cassação e perseguição a políticos, a professores e intelectuais e atos arbitrários como o fechamento de entidades representativas da sociedade civil como a UNE, levará a um movimento de reação forte da esquerda, que, por sua vez, se entregará à organização de grupos de guerrilha. Os anos de 1960 marcam um período também de efervescência na vida cultural brasileira. É a época dos Centro Populares de Cultura (os CPCs), da Bossa Nova, do movimento renovador do Cinema Novo, dos festivais da canção, do Tropicalimo, da experimentação concretista e das novidades nas artes plásticas brasileiras. No cenário internacional temos a vivência da geração flower power, as agitações dos estudantes nas universidades americanas e européias, a música de protesto e a busca de experimentações sensorias com o uso de drogas. O ano de 1968, por si só, com a ofensiva norte-vietnamita 187 do Tet e a repercussão do desastre da Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, a invasão da ex-Tcheco-Eslováquia, por tropas do Pacto de Varsóvia, a Primavera de Praga e as célebres barricadas nas ruas de Paris, marcou um momento de agitação em todo o mundo. Como se comportará o Nelson Rodrigues cronista frente a esses acontecimentos todos? Suas colunas memorialistas começam a ser escritas após a promulgação da Constituição de 1967, que viria a substituir a redigida em 1946. Apesar de ser encarado como um adesista ao Golpe Militar de 1964, Nelson surgiu com uma irreverente crônicacomentário, em um de seus primeiros textos. A nova Constituição brasileira, gerada no bojo do movimento golpista, foi votada no dia 24 de janeiro de 1967, por um congresso já expurgado de muitos de seus representantes, cassados pelo Golpe. A coluna de estréia de Nelson é publicada no dia 18 de fevereiro, antes, portanto, da promulgação da nova Carta Constitucional, que só aconteceria no dia 15 de março de 1967. Em sua primeira crônica, extremamente irreverente, o escritor volta-se para esse assunto delicado e que poderia ter evitado. Em seu texto inaugural, Nelson se vê no centro da cidade do Rio de Janeiro, perseguido pela voz de um camelô que anuncia o produto que tem à venda: “a nova Prostituição do Brasil”. Irônico, o cronista finge confundir o produto autêntico, a nova Constituição Brasileira, com essa surpreendente e inesperada mercadoria: Para mim, era uma experiência inédita:- pela primeira vez, via uma prostituição promovida como sabonete, coca-cola ou grapete. Já na outra calçada, estaco. O que eu reclamava de mim mesmo era todo o espanto que não sentia. Sim, eu devia estar espantado, todos deviam estar espantados. De outra calçada, ainda vejo o camelô com sua euforia absurda. E o povo passando. (Rodrigues, 1997: 13) Mais adiante, segue com suas indagações: Tomando meu leite, faço as minhas reflexões de leiteria. Sem querer, e por causa de um engano acústico, eu descobria o seguinte, dois pontos:- o que nos falta é o que chamaria de “espanto político”. Aqui, as coisas espantosas deixaram de 188 espantar. Se um camelô brotasse de uma alucinação, invadisse a vida real e berrasse a “nova Prostituição do Brasil” – ninguém cairia ferido de assobro. Vejamos outra hipótese. Se baixassem um decreto mandando a gente andar de quatro – qual seria a nossa reação? Nenhuma. Exatamente:- nenhuma. E ninguém se lembraria de perguntar, simplesmente perguntar:-“Por que andar de quatro?”. Muito pelo contrário. Cada um de nós trataria de espichar as orelhas, de alongar a cauda e ferrar o sapato. (Rodrigues, 1997: 13-4) É necessário assinalar que Nelson foi muito perseguido por iniciativas de ordem censória, que atingiram muitas de suas peças e, no ano anterior, haviam alcançado seu romance de estréia, O casamento, proibido de ser comercializado por portaria de Carlos Medeiros da Silva, Ministro da Justiça do Governo Castello Branco. Em uma época em que a censura desenfreada do período pós-Ato Institucional Número 5 (AI-5) ainda não grassava, Nelson tinha motivos de sobra para se mostrar ressabiado com os possíveis ditames de uma nova Constituição, e podia externar seus posicionamentos sobre o assunto sem maiores riscos e conseqüências. Um dos incidentes cruciais para o desenrolar de muitas das manifestações políticas de rua que fizeram parte da vida carioca na segunda metade dos anos de 1960, foi a morte, no dia 29 de março de 1968, do estudante secundarista Edson Luís de Lima Souto, vítima de um tiro no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. Sobre a morte de Edson Luís, Elio Gaspari avalia que surgia com esse episódio o primeiro e mais central entrave entre o regime militar e os estudantes. Depois que uma bala atingiu e matou o rapaz, houve por parte da PM a tentiva fracassada de levar Edson Luís para o Instituto Médico Legal, para reduzir a repercussão do caso, mas os estudantes conseguiram carregá-lo até à Assembléia Legislativa, onde ele ficou exposto em uma mesa para o registro dramático de fotógrafos, o que trouxe desdobramentos políticos importantes. Nelson também escreveu uma crônica-comentário sobre essa passagem da história brasileira. Sua indignação, além do ato em si, se estendeu à frieza da cobertura 189 jornalística feita pelo Jornal do Brasil. A crônica comenta primeiramente a imagem de Edson Luís que ilustrou vários jornais, inclusive a capa do Jornal do Brasil e, depois, chega à crueza da objetividade do texto que acompanhou a fotografia publicada na primeira página do JB. Diz o cronista: Na fotografia aparece seminu, como um santo. Lá está o peito varado. E eu começo a pensar. Seria parecido com quem? Uma senhora veio me mostrar o retrato, trêmula de beleza:-“É Ofélia, não é Ofélia?”. Fez uma pausa e completou:-“Lindo como Ofélia!”. E começou a chorar. Vejam vocês. Fora a fotografia, toda a cobertura foi, para o leitor, uma amarga frustração. Falo, sobretudo, das primeiras páginas. Ah, eu ainda apanhei a última geração romântica da imprensa. Uma manchete era, por vezes, uma solução em oito colunas, em tipos garrafais.(...) Vejamos ao acaso, o Jornal do Brasil. O fuzilamento do menino era uma catástrofe. Mas a catástrofe não foi tratada como tal. De modo algum. Fui ler a primeira página do velho órgão. Eis os termos em que se apresenta a tragédia: “A morte do estudante Edson Luís de Lima Souto – baleado no peito, às 18h30m de ontem, durante um conflito da PM com estudantes no restaurante calabouço”. E só. Tenham paciência. Mas esse tom impessoal, sumário, desumano, seria apropriado para noticiar um atropelamento de cachorro. O leitor tem vontade de bater para o Departamento de Pesquisa do Jornal do Brasil e lembrar-lhe:-“Vocês estão falando de um estudante, um menino, um ser humano”. E assim o patético da fotografia não existe no texto. Uma objetividade idiota arranca do fato as suas entranhas ou, se preferirem outra imagem, castra todas as potencialidades do fato. (Rodrigues, 2000: 198-9) Desde 1966, o descontentamento com a situação política vinha desencadeando manifestações de rua. O incidente com Edson Luís levou ao paroxismo esse embate, principalmente porque uma confusão, em uma missa na Igreja da Candelária em favor de sua memória, também degringolou em novo confronto entre a força policial e os estudantes (cf. Ventura, 2006). A uma breve calmaria, em seguida a esse episódio, sucederia um novo confronto, desta vez entre a Polícia Militar e estudantes universitários que ocuparam a Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na ocasião muitos manifestantes foram espancados e as fotos nas primeiras páginas dos jornais no dia seguinte causaram desconforto para a classe média que viu universitários serem humilhados pela força policial. A esse episódio se seguiria outra manifestação com 190 mortos no centro do Rio de Janeiro. As demonstrações de rua vinham assim se transformando em verdadeiras batalhas campais com policiais perseguindo manifestantes a cavalo e pessoas atirando objetos do alto dos prédios (cf. Gaspari, 2002). É nesse momento que começa a se ensaiar a maior de todas as manifestações, a que entraria para a história brasileira como a Passeata dos Cem Mil. Com uma diferença em relação às demonstrações anteriores: tinha caráter pacífico e incluía uma gama grande de representantes de diferentes setores da sociedade, como artistas, intelectuais, religiosos, deputados. A Passeata dos Cem Mil reuniria uma esquerda dividida. Havia a ala moderada, com os intelectuais que seguiriam externando de forma pacífica seu descontentamento com a situação política, e os radicais, que se encaminhavam para a luta armada. As divisões dentro da esquerda brasileira não se davam apenas na esfera de atuação política. No ambiente cultural isso podia ser percebido dentro da Música Popular Brasileira, por exemplo, nas apostas estéticas de compositores com experiências artíticas tão diferenciadas como Geraldo Vandré, Chico Buarque de Hollanda e os integrantes do movimento que ficou conhecido como a Tropicália42. O espaço dos festivais da canção foi o lugar onde essas opções estéticas antagônicas apareceram de maneira mais evidente, com a platéia participando e, através da vaia, consagrando seus ídolos e tentando constranger os supostos rivais de suas escolhas artísticas, principalmente os que do ponto de vista dessa platéia simbolizavam o entreguismos a uma cultura estrangeira. Sobre as manifestações de rua, a Passeata dos Cem Mil e os festivais da canção, Nelson escreveu várias crônicas. As menções às passeatas foram antecedidas por 42 Ver Hollanda, Heloísa Buarque de. Impressões de viagem – CPC, vanguarda e desbunde 1960-70. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2005. Especialmente capítulos 1 e 2. As divisões dentro da música popular brasileira surgem ainda em maiores detalhes em meio as lembraças memorialísticas de Caetano Veloso sobre o movimento musical da tropicália. Consultar Veloso, Caetano. Verdade tropical. São Paulo, Companhia das Letras, 1997. 191 comentários sobre o maio de 1968 francês. Nelson discute, dentro do cenário político da Europa, o fim da figura do herói, que estaria em decadência para dar lugar a uma multidão amorfa: Em nosso tempo, só conhecemos o heroísmo coletivo. Na guerra, não se viu uma Joana D´Arc. A heroína era Varsóvia, Roterdã, Londres ou Hiroshima. E, depois da guerra, o homem nunca mais ficou só. Cada um de nós é um comício, uma assembléia, uma unanimidade. Na hora de odiar, ou de matar, ou de morrer, ou simplesmente de pensar, os homens se aglomeram. As unanimidades decidem por nós, berram por nós. Qualquer idiota sobe num pára-lama de automóvel, esbraveja e faz uma multidão. Um camelô de caneta-tinteiro é mais ouvido do que os profetas antigos. As maiorias, as unanimidades ululantes, é que dão à nossa covardia um sentimento de onipotência. (...) Ainda há pouco, viu-se a França se levantar contra De Gaulle. Lembrome de uma fotografia das greves francesas. É uma rua de paralelepípedos arrancados. É como se até os paralelepípedos estivessem contra o herói. (...) Mas como ia dizendo:-o país se levantou contra o mito. Estudantes levavam cartazes assim:-“De Gaulle assassino”, “Fora De Gaulle” etc. etc. E o prodigioso é que a França foi a pátria dos heróis. Mas não se iludam. A própria França é o passado. Diante de nós está a anti-França. No momento em que o país se matava em greves. De Gaulle fez um pronunciamento. Disse:-“Eu sou a revolução”. Mas vejam a obstinação com que ele diz “eu”. (...) O que se passou entre ele e seu povo é uma incompatibilidade irremediável, fatal. A França das assembléias, das maiorias, das unanimidades, não aceita mais o herói solitário e formidável. De Gaulle não sabe que está morto, e faz discursos. (Rodrigues, 1997: 132-3) Pode parecer pelas linhas acima que Nelson estivesse distante e mesmo contra as mobilizações da sociedade contra os atos arbitrários do governo, o que não é verdade. Em fevereiro de 1968 ele havia participado, por exemplo, de um protesto nas escadarias do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, contra a censura de peças de Tennesseee Williams, Roy Jones e Jorge de Andrade e a suspensão de uma atriz (Maria Fernanda) e de um produtor teatral (Oscar Araripe)43. Esteve também, a se confiar na veracidade de seus relatos, na passeata dos Cem mil. Só que, tocado pelas idéias do Ibsen de O inimigo do povo, não se conteve em exibir pouco entusiasmo pela manifestação. Ao mesmo tempo 43 O episódio é referido por Ventura, Zuenir. 1968: o ano que não terminou. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 2006, p.105. 192 queria polemizar trabalhando uma idéia que iria se transformar em um dos seus aforismos mais famosos e citados, aquele que diz que toda unanimidade é burra e que, quem pensa com essa unanimidade, não precisa pensar. E de fato, se a esquerda estivesse atenta a algumas das ponderações de Nelson teria visto que elas eram sob alguns aspectos até pertinentes. Poderia ter constatado, por exemplo, um dado essencial que só foi perceber anos mais tarde: o de que estava, em seus sonhos revolucionários, sozinha e distante dos movimentos populares. Observador arguto, Nelson comentou sobre a passeata dos Cem mil: Fui testemunha auditiva e ocular da marcha. Como sou uma “flor de obsessão”, não me saía da cabeça a ausência do negro.(...) O fato é que no dia seguinte, falando com o meu amigo Guilherme da Silveira Filho, fazia um escândalo amargo:-“Nem um preto, Silverinha! Nem um desdentado! Nem um favelado! Nem um torcedor do Flamengo! Nem um assaltante de chofer”. (...) A coisa era tão antipopular que não apareceu nem um batedor de carteira. Onde há povo, são obrigatórias uma série de figuras:- o vendedor de laranjas, de mate, de chica-bom, de mariola. Quando o povo sentasse, acabaria a passeata e começaria o piquenique. Palavra de honra, eu ficaria radiante se, de repente, aparecesse uma mãe plebéia. Sim, uma santa crioula, que tirasse o seio negro e generoso e desse de mamar ao crioulinho sôfredo. Não tinha a mãe plebéia. Em compensação, vi duas grã-finas que ficaram em pé. Um cineasta que ali estivesse havia de anotar o valor plástico da coisa:duas em pé e os Cem Mil, ou Cinqüenta Mil, ou Vinte ou Cinco Mil sentados. O leitor há de perguntar por que uma e outra não fizeram como os demais. Explico:uma, porque estava vestida à Saint-Laurent, e outra porque tinha uma saia tão apertada que não dava jeito. (Rodrigues, 1995: 28-9) Mas a par essas considerações que de fato são válidas para a discussão sobre o cenário dessas manifestações, o objetivo maior de Nelson era mesmo ridicularizar aquele grupo que se tornaria seu saco de pancadas predileto: a intelectualidade. Pode-se perceber que o cronista começava a não resistir a empregar sua pena para atacar especialmente a esquerda. Em julho de 1968, ainda no calor do debate sobre as demonstrações de ruas e a passeata dos Cem mil, escreveu: 193 Hoje, queria pingar duas palavras sobre a inteligência nas passeatas. Reparem:- qualquer um pode falhar, menos o intelectual. Não houve chuva em nenhuma marcha. Mas, se fizesse um mau tempo de quinto ato de Rigolleto e já estaria ele, firme, inarredável, inexpugnável. Mas escrevi “intelectual” e cabe uma especificação:-falo do escritor, romancista, do ensaísta e, numa palavra, daquele que depende sempre de um leitor. (...) Mas o escritor não tem possibilidade nenhuma de massas. Bem que gostaria de ser lido , no Estádio Mário Filho, por 200 mil pessoas ao mesmo tempo. Ora, a passeata o desagrava de sua humilhante solidão. Fui com Raul Brandão, o pintor de igrejas e grã-finas, ver o desfile. E, súbito, o Raul crispa no meu braço:-“Olha lá! Ali”. Virei-me, e confesso o meu deslubramento. Primeiro, vi a tabuleta:-“Intelectuais”. Sempre tive a impressão injusta, a impressão iníqua de que há, na cidade, uns sete intelectuais. Ou nove. Vá lá, dez. E eis que, no espaço reservado à “inteligência”, se concentrava uma multidão nunca vista. Jamais me ocorreu a hipótese paranóica de que o Brasil tivesse tantos intelectuais.(...) Não larguei mais os intelectuais. O Raul Brandão tremia:-“Viste como o Brasil é inteligente?”. De fato, a evidência numérica estava a demonstrar que somos uma potência espiritual de primeiríssima. Já começava a marcha. Eu e o Raul Brandão fomos ao lado de um romancista. Caminhamos até à rua do Ouvidor de olho no romancista. E em outros romancistas, e ensaístas, e poetas, e cronistas, e sociólogos (cada vez me convencia mais da insuportável inteligência do Brasil). Cada intelectual marchava como se fosse, no mínimo, um Proust, um Joyce. (Rodrigues, 1997: 141-2) É relevante assinalar entretanto que apesar de parecer que Nelson estivesse sempre agindo com parcialidade, isso não era necessariamente obrigatório. Algumas das considerações do cronista sobre os acontecimentos em pauta eram bastante contraditórias. Assim, foi implacável com a Passeata dos Cem Mil, mas se desdobrou em elogios ao líder-mor dessas manifestações, Vladimir Palmeira, que, aos 18 anos, era o símbolo maior do que se entendia então como “poder jovem”, outro dos tópicos prediletos para o chiste do autor. Vale a pena ver o que ele disse sobre Vladimir Palmeira: E vejam como nasce um líder. De repente, a cidade começou a falar em “Vladimir”. Nas esquinas e botecos, o simples nome ia passando de um para o outro. (...) Eu próprio só o vi na passeata. E fiz fulminante constatação:- é, sim, um líder. Imaginem um jovem que sobe num pára-lama e, com um gesto, faz a unanimidade. Eu o vi trabalhar a multidão. Dizia:- “Vamos fazer isso, aquilo e aquilo outro”. Até pessoas que não tinham nada com a passeata, simples transeuntes, entravam na disciplina. Mesmo os inimigos da passeata eram tocados e convencidos. E foi impressionante no fim da marcha. De repente, Vladimir falou (com irresistível simplicidade, sem nenhuma ênfase). Disse:- “Estamos cansados”. Ninguém estava cansado. E completou:-“Vamos sentar”. E todos sentaram, como na passagem bíblica (não há tal passagem. Desculpem). Assim ficamos, sentados, como se estivéssemos de joelhos. Senhoras, mocinhas, intelectuais, estudantes, avós, cada qual se sentou no meio-fio, no asfalto, na calçada. E foi um maravilhoso quadro plástico. Não sei, 194 ninguém pode saber, qual será o destino desse rapaz. Mas sei que é esta coisa cada vez mais rara:- um homem. (Rodrigues, 2000: 283-4) Em tempo, o destino do rapaz, e o de outros intelectuais de esquerda também, seria os cárceres da ditadura, que Nelson logo testemunharia com a prisão de amigos próximos, mas cuja existência seguiria desconsiderando ou fazendo pouco caso de sua existência. Palmeira foi preso várias vezes entre 1967 e 1968 por sua atuação nessas manifestações e só viria a ser libertado quando do seqüestro do embaixador norteamericano Charles Burke Elbrick. Com relação aos festivais, se deu algo semelhante. Comparou a atitude da esquerda que vaiou Caetano Veloso em um desses eventos, com as práticas nazistas e chegou mesmo a escrever: Mas vejamos o sr. Caetano Veloso. A vaia selvagem com que o receberam já me deu uma certa náusea de ser brasileiro. Dirão os idiotas da objetividade que ele estava de salto alto, plumas, peruca, batom etc. etc. Era um artista. De peruca ou não, era um artista. De plumas, mas artista. De salto alto, mas artista. E foi uma monstruosa vaia. A menina, já citada, batia com os saltos dos sapatos, em delírio. Mas era um concorrente que vinha, ali, cantar; simplesmente cantar. Mas os jovens centauros não deixaram. Na minha casa, lembrei-me de uma velha solenidade nazista – a queima de livros. (1995: 242-3) Apesar disso, achou a composição de Geraldo Vandré, concorrente que disputava com o músico baiano o festival, mais autêntica. A música de Veloso, inspirada na frase “É proibido, proibir”, que povoara as ruas no maio de 1968 parisiense, era aos olhos de Nelson pouco inspirada. O cronista se perguntava por que o compositor teve de recorrer à tradução. E dizia que a composição de Vandré era, ao contrário, de uma “fascinante originalidade” e que ficou comovido com sua “integridade autoral”. Em dezembro de 1968 temos a decretação do AI-5, e começam os anos negros da ditadura. É o período em que o cidadão brasileiro enfrentará o duro cerceamento às suas 195 liberdades individuais em uma das mais vergonhosas passagens de nossa história. Nelson chegou a escrever uma crônica muito irônica sobre uma das medidas que definiram o fechamento do Congresso e o fim do que ainda restava de convivência democrática. Na primeira edição do livro O reacionário (1977), há uma crônica que se volta para a discussão do AI-5, mas trata-se mais de uma crítica à passividade do poder legislativo que, diante desse Ato Institucional, se limitou a se manifestar acanhadamente com um telegrama ao presidente, do que com um ataque ao dispositivo em si (cf. Rodrigues, 1977: 371-4). Após o AI-5, Nelson Rodrigues seguirá atacando, e com peso dobrado, o grupo que mais vinha sofrendo as conseqüências das medidas casuísticas que o Ato institucionalizava: a esquerda. A época era de atitudes extremadas e Nelson não cansava de se auto-proclamar anticomunista. Apesar de poder ser questionado se a época era pertinente aos ataques e divisões propostos por Nelson, o fato é que ele preferiu se prender à liberdade de poder manifestar suas opiniões e afirmar tudo em que acreditava a contemporizar. Nelson Rodrigues já vinha se desentendendo até mesmo com os próprios amigos, muitos esquerdistas incorrigíveis. Isso ocorria porque levava até o fim suas posições por mais desagradáveis que fossem e independentemente do número de desafetos que trouxessem. Passaria em seguida a viver sua vida em pólos extremos, o que o faria transitar por ambientes antagônicos, principalmente quando de sua aproximação a alguns dos militares que estavam por trás dos desdobramentos recentes do Golpe. Por seus interesses esportivos comuns, conheceu o presidente Emílio Garrastazu Médici, simbolo maior do período ditatorial. Conviveu e viajou com ele de avião para acompanhar partidas de 196 futebol (cf. Rodrigues, 1995) e não mediu elogios a sua pessoa. Essa proximidade dos militares que tinham contribuído para a criação do cenário dos anos de chumbo no Brasil acabou por depor historicamente contra uma arte libertadora como a pregada por seus escritos44. Um biógrafo como Ruy Castro mantém o álibi de que Nelson desconhecia as torturas do governo militar e que realmente só veio a tomar ciência de perto do lado mais cruel da ditadura quando encontrou o próprio filho preso (cf. Castro, 1993). Tornando suas atitudes mais inesperadas ainda, Nelson Rodrigues ajudou, ao mesmo tempo, e em negociação com os militares que conhecia, intelectuais próximos como Hélio Pellegrino e Zuenir Ventura, a serem liberados pelas forças da repressão. O incidente ocorreu na esteira do AI-5, quando vários intelectuais com ativa atuação política foram encarcerados. Entre eles estava um dos grandes amigos de Nelson Rodrigues, o psicanalista Hélio Pellegrino, de quem o cronista chegou a declarar que se tivesse que optar entre a humanidade e o amigo, ficaria com o segundo. O episódio da prisão de Hélio Pellegrino é revisitado por Ventura em seu livro de memórias jornalísticas: A primeira vez que Nelson foi nos visitar na prisão dei-lhe as costas e disse ao Hélio que não queria conversar com quem escrevia a favor da ditadura. Ele era o único intelectual importante que apoiava abertamente o regime militar e continuou apoiando mesmo depois que seu filho Nelsinho foi preso. Dele, eu queria distância. Mas como, se eu estava confinado na mesma cela do Hélio e Nelson ia visitá-lo todos os dias, inclusive no carnaval, durante os três meses em que ficamos encarcerados? A verdade é que Nelson nunca deu muita confiança ao meu amuo, e aos poucos Hélio foi me ensinando a entender aquele personagem contraditório, complexo e riquíssimo. Em três meses, havíamos estabelecido uma relação tão afetuosa que ele acabou intercedendo para que o general Assunção Cardoso, chefe do Estado-Maior do I Exército, ao libertar Hélio, me soltasse também. Hélio havia dito que só saía se eu saísse junto. 44 A proximidade do presidente militar Emílio Garrastazu Médici está em Rodrigues (op. cit., 1995), nas páginas 132-3. Rodrigues foi assistir à inaguração do Morumbi e conta que a pedido de Médici acabou voltando de São Paulo no avião presidencial, vencendo o medo que o fez evitar as viagens aéreas até esse dia. Por ironia, quem o levou a São Paulo, foi Nelson Rodrigues Filho, pouco antes de entrar para a cladestinidade como militante do movimento de guerrilha. 197 - Hélio, mas você garante que essa doce figura não vai botar uma bomba no Palácio? – perguntou Nelson bem à sua maneira, desmoralizando ele mesmo, com humor, sua cômica suspeita. (Ventura, 2005: 161-2) Não foram apenas Pellegrino e Ventura as únicas pessoas que o dramaturgo se empenhou, em negociações com os militares, a ajudar a escapar à prisão: o diplomata Miguel D´Arcy de Oliveira e o teatrólogo Augusto Boal também entraram nessa lista (cf. Castro, 1993). Sobre a aproximação de Nelson Rodrigues com o presidente mais identificado com o período ditatorial, Ricardo Beserra da Rosa Oiticica (1988) levanta uma hipótese persuasiva: evitar que seu filho, Nelson Rodrigues Filho, fosse morto. Nelson Rodrigues Filho havia entrado para o grupo de guerrilha Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) no final dos anos de 1960 e iria permanecer na clandestinidade entre fevereiro de 1970 e março de 1972, quando foi capturado. A atitude de Nelson favoreceu o filho, como se comprova em Castro (1993): os militares que o perseguiram tinham ordens expressas de evitar a sua morte. Assim, ganha embasamento a tese de que a aproximação a Médici fosse um caso de manobra pessoal para evitar que o pior acontecesse a seu filho. Com o filho condenado a setenta anos de exclusão, Nelson Rodrigues faria de um dos seus últimos escritos uma “Carta pela anistia”, publicada pelo Jornal do Brasil, em 13 de junho de 1979, e endereçada ao então presidente da República João Baptista Figueiredo. Nela, Nelson primeiro rememora quando conheceu Figueiredo em uma comitiva de Médici em uma carona depois de um jogo no Maracanã. Em seguida, conta o seu drama pessoal e suplica pela anistia que vinha sendo prometida pelo governo. É o momento em que começavam a aparecer os primeiros sinais do que ficaria conhecido como o período de abertura política. É o seguinte o tom da carta aberta ao presidente: 198 Quis o destino que meu filho, Nelson, na altura dos 24 anos, entrasse na clandestinidade. Talvez, um dia, eu escreva todo um romance sobre a clandestinidade e a prisão do meu filho. A prisão não é tudo. (Preciso chamar você, novamente, de senhor.) O senhor precisa saber que meu filho foi torturado. Isso me foi ocultado por Nelsinho, por causa do meu estado de saúde. Ora, um presidente não pode passar como um amanuense. Há uma anistia. Tem que ser uma anistia histórica. O que não é possível é que seja uma anistia pela metade. Uma anistia que seja quase anistia. O senhor entende, presidente, que a terça parte de uma misericórdia, a décima parte de um perdão não tem sentido. Imagine o preso chegando a boca de cena para anunciar:- “Senhores e senhoras, comunico que fui quase anistiado”. Não se faz isso para uma platéia internacional abismada. Que se dirá em todas as línguas e sotaques? E que dirá o próprio Deus? Bem, nunca se acreditou tão pouco em Deus. Mas não importa, nada importa, o que importa é o que disse Dostoiévski, certa vez:-“Se Deus não existe, então tudo é permitido”. (Rodrigues, 1996: 289-90) Da leitura dessa carta se depreende que o aspecto pessoal não era desprezível. Principalmente no caso de Nelson Rodrigues. É sabido que duas das pessoas mais atacadas pelos escritos do cronista foram Dom Hélder Câmara e Alceu Amoroso Lima (ou Tristão de Athayde). E é notório também que o que levou Nelson a voltar sua artilharia contra essas duas vozes muito importantes dentro do quadro político do período ditatorial foram questões de ordem pessoal. Tanto Dom Hélder Câmara quanto Alceu de Amoroso Lima estiveram em foco em crônicas narrativas de Nelson. Quando a pena do autor-ficcionista já não resistia aos limites das crônicas-comentário, Nelson investia pelas crônicas de feição narrativa. Nosso cronista elegia, entre outros, os seguintes lugares para situar e desenvolver suas crônicas deste filão: um terreno baldio, onde, em companhia de uma cabra, entrevistava uma personalidade conhecida, as dependências do Antonio´s, conhecido bar da boemia carioca, o ambiente de um sarau de grã-finos, que acontecia sempre em alguma área nobre da cidade, o meio da rua, onde o cronista era abordado por um transeunte desconhecido, ou, ainda, a redação do jornal em que o jornalista trabalhava, onde recebia visitas, telefonemas, cartas, de pessoas que queriam externar suas aflições. 199 Sobre as crônicas narrativas com o que ele chamava de “entrevistas imaginárias”, o próprio escritor conta como lhe ocorreu a idéia. Diz de início que a entrevista verdadeira é sempre falsa, daí a inevitabilidade de transformá-la em um acontecimento fabular. Segundo o cronista, “aí estava a única maneira de arrancar do entrevistado as verdades que ele não diria ao padre, ao psicanalista, nem ao médium, depois de morto” (Rodrigues, 1997: 50). Entre os entrevistados figuraram jogadores, dirigentes, literatos e Dom Hélder Câmara e Alceu Amoroso Lima. Do encontro com o então arcebispo de Olinda resultou o diálogo em que se percebe o deliberado sarcasmo: Faço a pergunta:-“Que notícias o senhor me dá da vida eterna?”. Riu:-“Rapaz! Não sou leitor do Tico-Tico nem do Gibi. Está-me achando com cara de vida eterna?”. No meu espanto, indago:-“E o senhor acredita em Deus? Pelo menos em Deus?”. O acerbispo abre os braços, num escândalo profundo:-“Nem o Alceu acredita em Deus. Traz o Alceu para o terreno baldio e pergunta”. Ele continuava:-“O Alceu acha graça na vida eterna. A vida eterna nunca encheu barriga de ninguém”. D. Hélder falava e eu ia taquigrafando tudo. Aquele que estava diante de mim nada tinha a ver com o suave, o melífluo, o pastoral d. Hélder da vida real. E disse mais:-“Vocês falam de santos, de anjos, de profetas, e outros bichos. Mas vem cá. E a fome do Nordeste? Vamos ao concreto. E a fome do Nordeste?” Esse era o tom das incontáveis troças que Nelson desferia contra Dom Hélder Câmara. E justo ele, que representava a ala mais progressista dentro da Igreja Católica no Brasil. Dom Hélder Câmara apareceria ao lado de Alceu Amoroso Lima em novo encontro no terreno baldio. Eles surgem no papel de co-adjuvantes e bajuladores de um jovem canalha. Ambos eram conhecidos pela afirmação da importância de uma nova geração de brasileiros na influência que teriam nos destinos políticos do País. A narrativa tem início na redação do jornal quando o telefone toca: (...) O contínuo pergunta:- “Quem quer falar com ele?”. Pausa. O contínuo repete:-“Quem? O Canalha?”. Alguém que se dizia “o canalha” queria falar comigo. Levanto e vou atender. Mas achava curioso que no mesmo dia, na mesma hora, fosse eu solicitado pelo falecido homem de bem e por um salubérrimo canalha. Do outro lado da linha, diz alguém:-“Seu Nelson Rodrigues? Eu queria dar uma entrevista 200 imaginária. Pode ser?”. Fiz-lhe a pergunta:-“Quem é o senhor?”. E o outro, com voz de quem está mascando chicletes:-“Já disse. Sou o canalha”.(...) (...) Pergunto:-“Afinal, que idade tem o senhor?”. Eis a resposta:-“Dezessete anos”. (...) Imediatamente, liguei para o contra-regra do terreno baldio:-“Sou eu. Manda providenciar papel picado e listas telefônicas. Vamos receber a mais ilustre visita de toda a história do terreno baldio”. Pergunta, pálido, o contra-regra:-“Quem?”. Imaginou, por certo, que seria um rajá montado em um elefante. Disse-lhe:-“O jovem canalha!”(...) É, súbito, a cabra põe a boca no mundo:-“Evém o jovem canalha!”. Era a pura verdade. Vinha ele e com costeletas ao vento. Mas não vinha só. Uma massa o seguia, berrando como nos comícios do Brigadeiro:-“Já ganhou! Já ganhou!”. De um lado do jovem canalha marchava o dr. Alceu; de outro lado vinha d. Hélder. E ambos abanavam o pulha com uma Revista do Rádio. Foi sublime quando o patife entrou no terreno baldio. Num desvairado arroubo, o dr. Alceu forrou o chão com o próprio paletó para o jovem pisar. Do alto, choviam listas telefônicas e papel picado. (Rodrigues, 1997: 230-1; grifos do original) Em uma única crônica, Nelson decidia destilar sua ironia sobre todos aqueles que havia eleito para execrar publicamente: o jovem, o ativista das passeatas, Dom Hélder Câmara e Alceu Amoroso Lima. Outros que estiveram no alvo de seus ataques foram os cineastas e público de correntes vanguardistas no cinema. Eles podiam aparecer simbolizados na pessoa de um diretor inovador como o francês Jean-Luc Godard e na platéia de seus filmes representada pelo que ficou conhecido como a “geração paissandú”. Outras crônicas narrativas tratariam da Igreja Progressista, da educação sexual, da nudez, do sexo livre, da psicanálise, do pensador Jean-Paul Sartre, do dramaturgo Bertold Brecht, todos temas de discussão nos anos de 1960 e 1970. É impressionante como a leitura dos escritos de Nelson nos revela um cronista antenado com todos os assuntos mais queridos à intelectualidade naquele momento (e indiretamente podemos imaginar que queridos a ele também). Para ridicularizar a pose daqueles que eram identificados, e por ele especialmente, como a “esquerda festiva”45, dizia que os intelectuais compareciam 45 Ventura credita a invenção do termo “esquerda festiva” ao cronista Carlos Leonam em uma festa organizada pelo cartunista Jaguar. “Leonam, um atento cronista do comportamento carioca, estava dançando quando teve a idéia. Correu para a mesa de Ziraldo e disse: “Tem outra esquerda, é a esquerda festiva.” No dia seguine, ele [Ziraldo] noticiava sua descoberta na coluna que mantinha no Jornal do Brasil. Estava inaugurada uma expressão que teria presença assegurada no léxico e no espectro ideológico da política nacional” (op. cit., 2006, p.53). 201 a reuniões de grã-finas que só liam as orelhas dos livros de Herbert Marcuse (pensador alemão que tinha enorme projeção no pensamento das universidades americanas), que recorriam à psicanálise e tinham um poster de Che Guevara46 na parede do quarto de dormir. 4.3.1 – Personagens das Crônicas Mêmore-Confessionais Como suas crônicas mêmore-confessionais tinham como alvo a esquerda brasileira e todos os representantes de correntes com aberta militância política e abordagem questionadora da realidade social, Nelson reservou a eles o espaço para dar vida a uma galeria de novos personagens que nasceram do embate entre fato e ficção. O cronista não se limitou aos ataques nominais a Dom Hélder Câmara: criou, para gerar desconforto no arcebispo e em outros religiosos de esquerda que haviam participado das mobilizações e manifestações públicas, as figuras dos padres de passeata. A ridicularização seria estendida às mulheres religiosas, naquelas que seriam identificadas pelo escritor como as freiras de mini-saia. Nelson iria argumentar que os padres de passeata extrapolaram o momento das manifestações de rua e continuaram sua militância em outros ambientes (especialmente, poderia ter acrescentado, em suas crônicas). Flagrou um dos representantes dessa ala avançada da Igreja em uma aparição televisiva, justo quando o cronista aguardava por mais uma reprise dos bangue-bangue que gostava de ver. Pode-se aproveitar a passagem para observar as voltas que a escrita do autor dá para trabalhar um pensamento que se 46 Para uma avaliação da implicância de Rodrigues com os próprios amigos vale checar o registro de Paulo Roberto Pires em seu perfil de Hélio Pellegrino. Quando Hélio Pellegrino se encontrava foragido por suas atitudes políticas, no período pós-AI-5, sua casa foi invadida por policiais. Na passagem que registra a investida das forças da repressão, Pires menciona um detalhe que acaba nos revelando quem Rodrigues tinha em mente em suas investidas fabulares: “Revistaram tudo, desconfiados da empregada, que já avisara que o doutor Hélio não estava. Decidiram esperar. Com o tempo, a situação tensa, a empregada resolve dar uma de Hélio Pellegrino e desabafa:- Por que vocês não procuram aí debaixo do sofá pra ver se o doutor Hélio está, hein? Os policiais acharam graça e resolveram ir embora. Deixaram de encontrar, justamente embaixo daquele sofá, todos os livros considerados proibidos e, o que seria um troféu máximo, um pôster de Che Guevara” (Pires, Paulo Roberto. Hélio Pellegrino – perfis do Rio. Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1998, p.70) 202 sustenta em um contra-senso argumentativo em sua parte final. O cronista quer questionar se “desenvolvimento”, essa palavra tão em voga na ocasião, significaria necessariamente a “paz”: Pois bem. Na expectativa do faroeste, calhou-me ver uma entrevista com um “padre de passeata”. Quando liguei na emissora, vi aquela figura de Falstaff com terno da Ducal.(...) Os “idiotas da objetividade” pensam que os “padres de passeata” acabaram com as passeatas. Doce ilusão. Já existiam antes das passeatas e continuam depois delas. Imaginem uma sinistra figura anticatólica, anticristã, antimística etc. etc. Assim é, se me exprimo bem, o “padre de passeata”. E o da televisão era uma almofadinha ou, como se dizia no tempo, um janota gordo. Eis a palavra exata, tão inatual, tão obsoleta:-janota. Vocês querem saber, decerto, o que pensou e disse a papada. Disse:-“Desenvolvimento é paz”. Não sei se vocês repararam na pose de certas bobagens. São solenes, enfáticas, bem-postas, como se vestissem casaca, com Legião de Honra e outras. E o “desenvolvimento é paz” figura entre as mais enfáticas bobagens do século XX. E com efeito, não há a menor relação entre a paz atribuída ao Desenvolvimento e os fatos de cada dia. Pode-se dizer, inversamente, que o Desenvolvimento é angústia, é ódio, é tédio, é desespero, é frustração, é solidão. Começarei pela Suécia. Segundo tudo o que sabemos, é desenvolvida. Pois a Suécia bate todos os recordes de suicídio. Lá, um dos passatempos mais amenos é estourar os miolos, atirar-se do Pão de Açucar e beber formicida na Casacatinha. Não há povo mais triste, mais dilacerado, de uma solidão mais brutal. (Rodrigues, 1996: 159-60) Uma instituição como a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro surgiu como fonte de mais personagens para o autor. Padres-professores, professores e alunos dessa Universidade, que sempre teve um papel combativo no campo das idéias e das ações, seriam colocados na mira de suas investidas. Um dia uma leitora chegaria mesmo a perguntar ao cronista o que ele tinha contra a Instituição. Nelson deveria andar com saudades do consultório sentimental de Myrna e Suzana Flag, pois o tom da carta, como o das missivas endereçadas às personas pseudonímicas do autor, parecia ser inventada. Como as leitoras dos consultórios sentimentais do escritor, a leitora de suas crônicas recentes queria questionar as opiniões manifestas no texto do cronista em relação à PUC do Rio de Janeiro. 203 É mais uma crônica narrativa que visa a ridicularizar as mulheres que tentavam escapar à submissão que representava terem de desempenhar o papel de donas de casa. Nelson conta a estória de uma jovem aluna de psicologia da PUC, que conhecera e que andava descontente com tudo e com todos e com pensamentos lúgubres, e que, por fim, teria encontrado a felicidade voltando a cuidar do lar e cumprindo tarefas como cozinhar, lavar roupa, arrumar a casa, tudo o que era contestado então no papel da mulher. E conclui: Já escrevi que nunca mais apareceu na PUC? Pois é:- nunca mais. O que tenho a declarar, em minha defesa, é outro óbvio, ou seja:- em todas as comunidades, há de tudo. O sujeito quer um santo? Há um santo. Quer um pulha? Há um pulha. Um gênio? Bem. O gênio, não sei por que, é mais difícil que o santo ou o pulha. Em suma:- na PUC há um elenco imenso, diversificado e, mais, altamente representativo da nossa desgraçada e ilustre condição humana. (Rodrigues, 1996: 263) A grã-fina, agora sem as narinas de cadáver da personagem das crônicas esportivas, e acompanhada por seu marido endinheirado surgiria em crônicas narrativas como a anfitriã nos salões onde a “esquerda festiva” ia desfilar sua pose. Reparem como o Reacionário fica sensibilizado e tocado pela foto de Che Guevara, uma imagem que há décadas vem sendo reproduzida à exaustão sem perder o efeito sobre o imaginário de várias gerações: Já falei da grã-fina que mora no Alto da Boa Vista. (No seu jardim, há uma estátua nua que, nas noites frias, morre gelada.) Seu palácio saiu nos “mais belos interiores” de Manchete. Mas o que me fascina, em certas casas, é o requinte. Outro dia, fui visitar um casal de grã-finos. E, na hora de lavar as mãos, vi uma pia inexcedível. A pia ainda não era nada. O que me deslumbrou foi a bica. Enxuguei as mãos e, depois, chamei o dono da casa. Disse-lhe, de olho rútilo:-“Que bica! Que bica!”. E ele, na sua flamejante modéstia:-“Ouro maciço!”. Volto ao Alto da Boa Vista. A dona da casa é exatamente aquela que, certa vez, dizia, lânguida, meio alada:-“Eu sou amante espiritual do Guevara”. Em seguida, voltando à vida real, levou-nos para ver o retrato do “Che” em sua alcova. Lá estava ele, de boina; a barba crespa virilizava a doçura da expressão quase infantil. Pois bem. E foi justamente a “amante espiritual” de Guevara que telefonou, ontem, para mim. Perguntei-lhe, inicialmente, se o retrato do Guevara ia bem de saúde etc. etc. Zangou-se, risonhamente:-“Cada vez mais reacionário!”. E eu:-“Pelo amor de 204 Deus!”. Mas ela estava com pressa e foi dizendo:-“Vem hoje aqui em casa, ouviu?”. Criou um mistério, um suspense:-“Tenho uma surpresa”. Resisti de puro charme. Finalmente, disse que ia. Assim nos despedimos. Cheguei lá, às nove e pouco. Perguntei-lhe:-“E a surpresa?”. Brincou com a minha curiosidade:-“Calma, calma”. Acabou dizendo que a surpresa era um padre. Assustei-me:-“Padre de passeata?”. Fez espanto:-“Que história é essa de padre de passeata? Isso não existe!”. Expliquei-lhe que o padre de passeata era um fato concreto e histórico. Acabou admitindo realmente, o sacerdote comparecera a duas passeatas; e acrescentou:-“Uma cabeça. E olha. Mais inteligente que d. Hélder”. (...) (O padre de passeata fazia conferências a domicílio para grã-finas. Especializara-se em sexo e Guevara.) Daí a pouco, sou chamado:-a “cabeça” ia falar. A anfitriã fizera um teatrinho, com cinqüenta cadeiras e um pequeno palco, quase ao nível da platéia. Alguém me sussurou:-“Uma cultura!”. E. Justamente, a “cultura” começava a falar. (Rodrigues, 1997: 194-5) O mais célebre personagem das crônicas mêmore-confessionais foi o crápula, o vil, o infame Palhares. Transvestido de canalha, ele surgiu nos contos de “A vida como ela é...”, passou pelas crônicas de Manchete Esportiva e chega agora às crônicas comportamentais. Em crônica de junho de 1968, Nelson repassa os antecedentes desse personagem e observa que o próprio já declarou: “-Desde garotinho, sempre fui Palhares, e só Palhares!”. O cronista prossegue lembrando a lenda que o personagem teria construído em torno de si: Nada quer ser mais além de Palhares. De mais a mais, o nosso herói é conhecidíssimo do leitor. Várias vezes, aqui mesmo, nesta coluna, narrei o seu maior feito. Se vocês não se lembram, posso repetir. Eis o episódio:- certa vez, o Palhares cruza com a cunhada no corredor. Não diz nada. Segura a mocinha e dá-lhe um beijo no pescoço. Ali, inaugurou-se um novo canalha. Não sei se por inconfidência de quem, a torpeza espalhou-se. E quando o Palhares passava, havia o cochicho estarrecido:-“O que não respeita nem as cunhadas!”. (Rodrigues, 1997: 115) Num momento em que se começava a falar da importância de esclarecimentos sobre questões sexuais mesmo para a população mais jovem (às vezes, como currículo obrigatório em algumas escolas), era esperado que Nelson escolhesse o Palhares para atacar mais essa tendência que ganhava apelo e repercussão na sociedade. Voltemos portanto à mesma crônica: 205 Mas nunca me ocorrera, nem por hipótese suicida, que, um dia, o Palhares viesse a explodir como revolucionário da educação sexual. Bati o telefone:-“Escuta, Palhares. Que negócio é esse de professor? E de educação sexual ainda por cima?”. Fiz-lhe a pergunta contudente:-“Desde quando deixaste de ser analfabeto?” Sendo um canalha, o Palhares tem uma virtude admirável:-não reage. Achou uma graça saudabilíssima. Inicialmente, foi de um luminoso impudor:-“Continuo o mesmo analfabeto, o mesmo. Não leio nem manchete”. Fiz a pergunta impaciente:-“Mas qual é o teu colégio?”. Ao ouvir falar em colégio, Palhares soltou uma gargalhada de se ouvir no fim da rua:-“Colégio, me achas com cara de colégio?”. Eu já não entendia mais nada. Já o canalha explicava:-“Faço educação sexual a domicílio. Percebeste? A domicílio”. (Rodrigues, 1997: 115-6) Os amigos de Nelson Rodrigues receberiam alcunhas variadas. O jornalista e futuro produtor musical Nelson Motta seria um Werther, a desfilar em plenos trópicos o seu “perfil diáfano” que nunca viu uma praia, o psicanalista Hélio Pellegrino e o jornalista Cláudio Mello e Souza, seriam os nossos Dantes, a derramar suas culturas para deleite de platéias boquiabertas nos salões da cidade, o romancista Antonio Callado, o único inglês da vida real, era o Doce Radical, e o jornalista de esporte de origem espanhola Hans Henningsen, por seu porte físico, o Marinheiro Sueco. 4.3.2 – A Linguagem das Crônicas Se se podem condenar muitas das opiniões e atitudes políticas do Nelson Rodrigues cronista mêmore-confessional, deve-se aplaudir a intuição visionária do cronista esportivo que celebrava as potencialidades dos atletas brasileiros. No lastro do texto de ambos não há como resistir à graça e sofisticação da linguagem trabalhada pelo autor em suas crônicas de modo geral. Ao longo das análises feitas anteriormente, entramos em contato com um escritor de rara inventividade no trato com a linguagem, um autor que trabalha uma escrita do excesso. 206 Nas crônicas, veremos esse autor, que gosta das metáforas fortes, vivíssimas, e que recheia seus textos com imagens de impacto, seguir descortinando novos horizontes fabulares para adensar ainda mais a riqueza de sua prática escritural. Em contraste com o que vimos em seu teatro, seus folhetins, seus contos, observaremos a presença de um narrador-autor que trabalha uma abordagem fabular dos acontecimentos do mundo dos esportes e dos eventos sociais. As crônicas se irmanariam, portanto, com as reportagens do autor, embora os giros fabulares ocorram em uma voltagem bem mais elevada. Esse narrador-autor-cronista lançará mão de alguns recursos semelhantes aos já trabalhados em sua obra ficcional, com a intenção de estabelecer empatia com o leitor. Recorrerá novamente ao emprego de uma linguagem informal. Nas crônicas rodrigueanas, isso será assinalado de diferentes maneiras. Pode transparecer, por exemplo, pela escolha de um vocativo como “amigos” para figurar na abertura de muitos de seus escritos de colunista esportivo. Nelson tinha por hábito iniciar suas crônicas esportivas se dirigindo aos leitores com essa popular saudação. Ela se tornaria sua marca registrada e faria escola sendo seguida por outros jornalistas no passado e no presente. Cronistas de gerações tão distintas como João Saldanha e Matinas Suzuki Jr. a empregariam no jornalismo impresso, e, mesmo no meio televisivo, um comentarista como Galvão Bueno recorreria em suas narrações a uma expressão semelhante, “bem, amigos”, para iniciar as transmissões de jogos na Rede Globo de televisão (a expressão batizaria também o programa de variedades esportivas do locutor, o que assinala outra manifestação tributária ao estilo de Nelson). Para que essa intimidade ficasse mais patente e presente, o cronista poderia ainda escolher tratar em seus escritos de muitos incidentes e casos que afirmava terem ocorrido 207 com pessoas de suas relações. Ao longo desta Tese já tivemos a oportunidade de citar várias passagens que tipificam esse recurso. Essas e outras narrativas que ele repartia com o fruidor de seus escritos surgem, por outro lado, envoltas em uma atmosfera de confidência, o que garante um maior grau de envolvimento entre o cronista e seu público. A intimidade é reforçada pela inclusão de passagens com conteúdo autobiográfico, o que faz com que compartilhemos de detalhes de sua vida pessoal. Como também já comentei muito sobre o autobiografismo rodrigueano em passagens anteriores, vou dispensar-me de fazê-lo aqui. Um outro fator a funcionar como índice da proximidade entre cronista e leitor é, segundo Teixeira (2006), a presença da metadiscursividade. Segundo a mestre em letras, o cronista está tão à vontade que se sente livre para tratar até mesmo da falta de assunto ou da dificuldade para achar o que dizer em sua crônica do dia. Nelson também repete essa graça comum a outros cronistas, mas em seus escritos a metadiscursividade, o metatexto, se refere menos à falta de assunto, do que ao fato de deixar transparecer o próprio ato da escrita. Já mencionei o gosto do autor por esse recurso metadiscursivo em seus contos: agora pode-se ver o metatexto rodrigueano revelar o ato da escrita nas crônicas. Aqui, é possível mesmo sentir um processo levemente inspirado na revolucionária técnica de expressão do fluxo de consciência, revelando o momento mesmo de produção do texto. Vejamos uma exemplificação no trecho a seguir. Nelson esquece o nome de uma estrela do tempo do cinema mudo e registra isso na crônica. Em seguida assinala a lembraça inesperada do nome da atriz: [N]os bons tempos do cinema mudo, todo o elenco, da mocinha ao mordomo, do vilão ao vampiro, todo o elenco, repito, era lindo. Não me lembro de nenhuma versão muda do Corcunda de Notre-Dame. Na hipótese afirmativa, creiam 208 que o Quasímodo seria uma beleza. Pois bem. E, naquele tempo, havia uma atriz que inspirava as paixões mais desvairadas. O nome era... Como é mesmo? Não me lembro como se chamava. Daqui a pouco me lembro. O certo é que foi um dos amores da minha infância. Agora me lembro do nome:-Dorothy Dalton. Isso mesmo:-Dorothy Dalton. Qualquer filme de Dorothy Dalton tinha uma bilheteria de A vida de Cristo. (Rodrigues, 1996: 138) Outro aspecto a ser observado é o da proximidade da linguagem do cronista à oralidade. Além da informalidade de seu linguajar, pode-se identificar o trabalho desse aspecto através do emprego de conjunções que classificaria como fracas e que se afastam da formalidade do texto escrito. Tome-se como exemplo uma crônica esportiva em que a conjunção aditiva “e” é utilizada bem na abertura do texto, o que mostra mais um fator de empatia: o leitor inicia sua leitura como se entrasse no meio de uma conversa, como se a conjunção aditiva assinalasse que algo foi dito antes. Transcrevo o exemplo a seguir: E, súbito, a CBD toma uma providência patética:- baixa uma ordem impedindo que qualquer jogador leve a mulher à Suécia. Ora, a finalidade da medida é de uma cândida transparência. Só um cego de nascença não vê que se trata de separar Didi e Guiomar, de obstar que ela o acompanhe ao próximo Mundial. Está claro que Didi pagaria todas as despesas de Guiomar; está claro, do mesmo modo, que ela ficaria fora da concentração, apenas como torcedora de Didi e do Brasil. Ainda assim, a entidade máxima faz finca-pé. Didi está diante do dilema: ou a Suécia ou Guiomar. (Rodrigues, 1994: 45) Nelson está discutindo um assunto que viraria a tônica dos bastidores de muitos mundiais de futebol dos quais o Brasil participou: se a presença das mulheres dos atletas durante um torneio importantíssimo funcionaria como elemento perturbador influindo no desempenho do grupo. Com relação à linguagem especificamente, pode-se reparar que Nelson também emprega o sinal gráfico de ponto e vírgula como um substituto para a conjunção aditiva comentada. Para cativar o leitor, um outro recurso é o da redundância. Isso se aplica tanto aos entrechos que são recontados com pequenas variações, como às expressões que são usadas repetidas vezes, bem como às imagens que são empregadas de maneira exaustiva. 209 Tem-se a ocorrência de um retorno permanente de temas, de situações, de coincidências, o que é possível se reconhecer presente também nas crônicas. De todos os indícios de redundância mencionados, as imagens serão a grande atração das crônicas. Vejamos como elas são trabalhadas pelo escritor em seus escritos de cronista. Trata-se do elemento mais inovador deste segmento de sua produção. Voltemos primeiro ao teatro rodrigueano. Já comentamos como Pompeu de Souza destacava no que se refere ao teatro do autor o fato de ele ser por demais influenciado por outras artes. A estruturação de seus espetáculos, desde a inovação da concepção de palco de Vestido de noiva, ao fato de as cenas parecerem serem visualizadas antes de escritas, assim como o namoro com as artes plásticas, em uma peça como Dorotéia, bem como a utilização inventiva do som em vários dramas e especialmente em Toda nudez será castigada, são sinais mais evidentes desse interesse do autor. Há outros. Uma notação que impressiona muito em sua dramaturgia é aquela que determina rigorosamente as alternâncias de iluminação no palco e a que indica que se jogue vez por outra a platéia nas trevas do teatro e a deixe na escuridão para que a cena seguinte volte com impacto. Alguns comentarista do teatro rodrigueano lembram ainda a influência da estética expressionista na concepção de seus dramas. Identifica-se como origem disso o papel que a arte do seu irmão Roberto Rodrigues exerceu sobre o dramaturgo. Nelson chegou mesmo a escrever dois artigos externando sua admiração pelo traço de seu irmão (Rodrigues, 2004: 153-65). Esses dados comentados, mostram a origem da importância que o autor dava ao elemento visual em seus espetáculos. 210 Assim como vimos no teatro e nos contos, nas crônicas rodrigueanas há, por outro lado, o que chamaria de uma constante “intertextualidade intersemiótica” na apropriação e menção de obras cinematográficas, operísticas, teatrais, pictoriais. As referências vão dos personagens de Tom Mix às superproduções hollywoodianas. Esses elementos todos devem nos levar a perceber a contaminação que acontece na escrita rodrigueana por esses vários códigos semióticos, assunto já abordado a partir de Umberto Eco na seção teórica desta Tese. Há nos textos do autor a insistente menção àqueles que na visão poética do escritor são verdadeiros “remadores de Ben-Hur” dado o esforço com que desempenham seus ofícios. É uma imagem que de tão importante deu título a uma compilação póstuma de crônicas. A metáfora intersemiótica se funda por referência a um filme do diretor americano Cecil B. de Mille e mostra o rendimento através da contaminação de códigos semiológicos distintos. Em uma menção aos vitrais que são comuns em muitas igrejas, Nelson constrói uma outra imagem de extremo apelo ao imaginário do leitor. Ele a usa em várias crônicas, inclusive uma em que fala da homenagem prestada por seu escritor favorito, Dostoiévski, a um conterrâneo russo, o poeta Pushkin: “Eis o que eu queria dizer:-num aniversário da morte de Pushkin, o romancista fez-lhe um discurso. Falou uma hora, duas, sei lá. E o discurso foi uma alucinação. O olhar de Dostoiévski vazava luz como o de um santo” (Rodrigues, 2000: 119). Há metáforas cuja beleza está na sua própria concepção inventiva, embora o efeito visual em nossa imaginação não possa ser menosprezado. Na crônica “A caveira no espelho” tem-se um exemplo pontual: em vez de fazer a mulher “beber o sangue” do 211 marido, essa metáfora já castigada pelo tempo, o narrador vai fazê-la “chupar” a carótida do esposo “como laranja” (Rodrigues, 1994: 110). Outras metáforas de extremo vigor podem ser identificadas em passagens que falam em “atirar patadas no assoalho”, em cumprir uma tarefa “como uma lagartixa profissional”, em ter “as sombrancelhas tão ásperas e eriçadas como as cerdas bravas do javali”, no registro de um calor com “um sol de rachar”, ou alternativamente, “um sol de derreter catedrais”, em ter uma saúde de “vaca premiada”, ou na identificação irônica em alguma coisa de uma profundidade tão grande que “uma formiguinha atravessaria a pé com água pelas canelas”, entre muitas outras. A intertextualidade com a obra de outros literatos foi fonte na construção de outras criações imagísticas. Nelson se apropriava das sugestões advindas da leitura de alguns dos autores que prezava para utilizar como material criativo para suas próprias imagens. Um dos escritores brasileiros mais lembrados por Rodrigues em suas citações foi Machado de Assis. Em muitas crônicas do escritor, pode-se, por exemplo, ver a referência a uma certa vizinha sua, “gorda e patusca como uma viúva machadiana” (cf. 2000: 66). As referências são, como neste exemplo, sempre jocosas e superficiais e sob alguns aspectos contrariam até mesmo um pouco do mundo ficcional que é recriado. Assim, se é verdade que as viúvas proliferam nos livros do bruxo do Cosme Velho, devese advertir que por vezes elas apresentavam um estereótipo distinto deste. Basta nos lembrarmos de Lívia, de Ressurreição (Machado, 1993), para nos depararmos com uma viúva machadiana charmosa e cheia de encantos e distinta da imagem sublinhada por Nelson. 212 Citações que investem por superficialidades similares marcam ainda muitas das visitas feitas por Nelson Rodrigues aos escritos de literatos como Dostoiévski, Tolstoi e Flaubert. De Dostoiévski, a referência é sempre Sônia e Raskolnikov (de Crime e castigo), e de Tolstoi e Flaubert, Ana Karenina e Madame Bovary (dos romances homônimos). Estes são os personagens mais famosos e conhecidos desses autores, e, como em Machado, fica-se, portanto, na superficialidade da contribuição literária desses escritores. De forma semelhante, o personagem mais conhecido de Daniel Defoe, Robinson Crusoé, é objeto de várias blagues de Nelson. Nelson comenta em uma crônica, por exemplo, que um estado brasileiro, o Piauí, “é tão só, na comunidade brasileira, tão só como um Robinson Crusoé sem radinho de pilha” (Rodrigues, 1995: 68). E em outra oportunidade repeteria a imagem da solidão com o personagem de Defoe: “(...) eu escrevi que o brasileiro é ainda maior quando solitário. Ponham o brasileiro numa ilha deserta. Ele sozinho, como um Robinson Crusoé, ou apenas com uma arara no ombro. E o brasileiro bebendo água em cuia de queijo Palmira (...).” (Rodrigues, 1994: 89). Um outro pesquisador da obra de Nelson Rodrigues, o já mencionado José Carlos Marques, ainda que para destacar as características da prosa que marcariam traços do neo-barroco hispano-americano e que estão presentes nos textos do escritor, nos ajuda com dois outros exemplos. O primeiro deles acontece com uma troca intertextual com o poema mais celebrado de que se tem notícia em língua portuguesa: Os Lusíadas, de Luís de Camões. Nelson se apropria do episódio de Inês de Castro e o lança de maneira inusitada em uma de suas crônicas esportivas. Nela o cronista narra um dos engarrafamentos que enfrentou nos momentos que precederam sua entrada no Maracanã 213 para assistir a mais um dos jogos que acompanhava: “Antes de chegar ao Maracanã, pasmei para a loucura dos automóveis e das buzinas. Nem no enterro de Inês de Castro teve tantos carros. Eles subiam nas calçadas, ou trepavam nas árvores como macacos e quase pulavam os muros” (Rodrigues, 1996: 93). Com Edgar Allan Poe tem-se um segundo exemplo curioso: as menções que Nelson faz ao escritor norte-americano recaem sempre no poema mais conhecido e popularizado do autor. E o detalhe é que vamos dar única e exclusivamente no refrão de de “O Corvo”. É verdade que tudo é feito, mais uma vez, acentuando o lado cômico como já assinalei antes. Na crônica que comenta a derrota da seleção brasileira no mundial da Inglaterra de 1966, Nelson “confunde” o corvo de Poe com um urubu que não se cansa de repetir para o capitão da seleção inglesa (vitoriosa na competição): “nunca mais, nunca mais!” (1996: 125). Em uma outra crônica, o mote de Poe é recriado por Otto Lara Resende que sai a propalar mecanicamente: “O Poder Econômico! O Poder Econômico!” (1996: 32) para se referir a um amigo que era poderoso funcionário de um banco. As aparições do pássaro de Poe poderiam se dar ainda nas situações mais inusitadas como em uma crônica em que Nelson discutia a inépcia dos médicos burocratas que diante dos males mais evidentes são capazes de repetir: “Não é de urgência”, “Não é de urgência”, “Não é de urgência” (Rodrigues, 1995: 315). Além dessas referências diretas, tem-se outras que se incorporam à tessitura textual de maneira mais elaborada. É famosa uma passagem de Ibsen de Um inimigo do povo em que o personagem Dr. Stockmann afirma: 214 Não! A maioria nunca tem razão! Esta é a maior mentira social que já se disse! Todo o cidadão livre deve protestar contra ela. Quem se constitui na maioria dos habitantes de um país? As pessoas inteligentes ou os imbecis? Estamos todos de acordo, penso eu, em afirmar que, em se considerando o globo terrestre como um todo, os imbecis formam uma maioria esmagadora. E este é um motivo suficiente para que os imbecis mandem nos demais. Sim, vocês podem gritar mais alto do que eu, mas não podem me responder. A maioria tem o poder, infelizmente! Mas não tem razão! (Ibsen, 2002: 127) Nelson, que ficou famoso como frasista e autor de máximas antológicas, em meu entender, recria com extrema criatividade a frase do teatrólogo norueguês no seu muito falado aforismo: “Toda unanimidade é burra. Quem pensa como a unanimidade não precisa pensar”. Apesar de não ser uma apropriação literal dos dizeres de Ibsen, não há como não reconhecer um parentesco entre as idéias trabalhadas pelos dois dramaturgos. É bom que se diga também que a idéia de que “os imbecis formam uma maioria esmagadora” aparece em várias crônicas do escritor brasileiro. Nelson, entretanto, associa à figura do imbecil a do idiota. Em uma crônica de 1968, por exemplo, comenta: Há quinze ou vinte dias atrás, escrevi sobre o grande tema de nossa época. Não sei se vocês lembram. Falei da ascensão do idiota. No passado, eram os “melhores” que faziam os usos, os costumes, os valores, as idéias, os sentimentos etc. etc. Perguntará alguém: - “E que fazia o idiota?”. Resposta:- Fazia filhos. Mas vejam: - o idiota como tal se comportava. Na rua passava rente às paredes, gaguejante de humildade. Sabia-se idiota e estava ciente da própria inépcia. Só os “melhores” sentiam, pensavam, e só eles tinham grandes esposas, as grandes amantes, as grandes residências. E, quando um deles morria, logo os idiotas tratavam de erguer um monumento ao gênio. E, de repente, tudo mudou. Após milênios de passividade abjeta, o idiota descobriu a própria superioridade numérica. Começaram a aparecer as multidões jamais concebidas. Eram eles, os idiotas. Os “melhores” se juntavam em pequenas minorias acuadas, batidas, apavoradas. O imbecil, que falava baixinho, ergueu a voz; ele, que apenas fazia filhos, começou a pensar. Pela primeira vez, o idiota é artista plástico, é sociólogo, é cientista, é romancista, é prêmio Nobel, é dramaturgo, é professor, é sacerdote. Aprende, sabe, ensina. No presente mundo ninguém faz nada, ninguém é nada, sem o apoio dos cretinos de ambos os sexos. (Rodrigues, 1997: 92) 215 De início Nelson identifica o idiota com o “imbecil” de Ibsen. E assim, as idéias que movem a argumentação dos dois autores me parecem próximas. Teria apenas de lembrar que para o personagem de Ibsen, a imbecilidade é um estado permanente. Nas confabulações de Nelson, a idiotia é um fato recente. Mas isso se explica com a lembrança de que, para o cronista brasileiro, a grande época foi uma época passada, romântica, em que tínhamos os gênios criadores. Nelson ficou conhecido pelas afirmações polêmicas, semelhantes à que acabei de mencionar. Uma das marcas da retórica que busca polemizar é a ênfase hiperbólica. Quando Alfredo Bosi comenta a escrita de outro ilustre polemista brasileiro, Rui Barbosa, o professor da USP nos diz: Não só a matéria subordinava-se às exigências do polemista, também a forma estruturava-se consoante as necessidades da oratio: Rui propunha, desenvolvia e perorava, ainda quando o gênero não fosse o oratório. Carecendo, porém, de gênio autenticamente dialético, o seu processo de composição caminhava à força de amplificar. Partindo sempre de uma convicção apriorística, Rui passava a provar, justapondo palavras, frases, períodos; de onde a prolixidade e a ênfase como vícios inerentes a muitas de suas páginas. A cadeia de sinônimos constituíam, por isso, seu titulo de honra; e sabe-se o que de econômico lhe valeu a cópia de vocábulos com que nomeou as meretrizes na Pornéia e os azorragues na Rebenqueida. Um dos recursos mais consentâneos com o estilo polêmico-enfático é a enumeração triádica. Rui dele usou e abusou. (Bosi, 1975: 288) É de se observar como Nelson incorpora à tessitura de seu texto justamente essa enumeração triádica tão característica de Rui Barbosa. É muito recorrente o recurso da enumeração triádica na prosa rodrigueana e vou lançar mão de alguns exemplos para caracterizar a opção estilística do autor. No primeiro exemplo, ele comenta um desentendimento com o crítico Paulo Francis: “Súbito, começo a pensar no meu exinimigo Paulo Francis. Já nos chamamos de “palhaços”, de “analfabetos”, de “burros”.” 216 (Rodrigues, 1997: 79). Em outra crônica, ao fazer menção à decadência do jornalismo à época em que escrevia, Nelson diz: “São duzentas, trezentas, quatrocentas figuras, entre redatores, repórteres, estagiárias. Todavia falta alguém na selva humana. É o “grande jornalista”” (Rodrigues, 1995: 95). Existe mesmo uma adjetivação tríplice que se repetiria por demais em seus textos e sempre na mesma ordem. Nelson gostava de repetir incansavelmente que algo lhe parecia “difuso, volatizado, atmosférico”. Tem-se um exemplo em crônica em que fala da época de sua primeira peça, Vestido de Noiva. Escreveu ele sobre o período: “Era ainda a época de Pirandello. Qualquer autor, que não fosse um débil mental de babar na gravata, tinha que ser “pirandelliano”. Pirandello estava por aí, difuso, volatizado, atmosférico.” (1995: 285). Esses são alguns dos escritores e estilistas com os quais a prosa de Nelson trava contato e dialoga insistentemente em sua intertextualidade. Um último e derradeiro ponto a tratar, antes de dar por encerrada as análises, é o do gosto do autor pelo emprego de prefixos: “ex-”, “anti-” e “ante-”, são os mais freqüentes. Marques (2000), que produziu um dos estudos mais interessantes a que tive acesso sobre a linguagem de Nelson Rodrigues comenta o assunto em mais profundidade. Cabe-me aqui apenas assinalar e registrar que, como já mencionei, Rodrigues confunde por distração a correta utilização dos prefixos “anti-” e “ante-”. Vogel (1997) menciona alguns casos dessa confusão rodrigueana, à qual pode-se acrescentar passagem da crônica publicada sob a rubrica de “Futebol e paixão”, no dia 9 de maio de 1962. 5 — Considerações Finais No artist has ethical sympathies. An ethical sympathy in an artist is an unpardonable mannerism of style Oscar Wilde 217 Da perspectiva de seu estímulo inicial, a tese, que aqui chega ao seu fim, teve seu começo em uma visita a uma livraria, mais precisamente à Livraria da Travessa, em Ipanema, no Rio de Janeiro, onde a coleção da então ainda recente edição em dez volumes dos escritos jornalísticos de Nelson Rodrigues pela editora Companhia das Letras (em suas primeiras, segundas, terceiras e até mesmo sétimas e nonas reimpressões), mais o romance O casamento (Rodrigues, 2003) e a seleção de máximas Flor de obsessão – as 1000 melhores frases de Nelson Rodrigues (Rodrigues, 1997), bem como dos, naquele momento, novíssimos lançamentos que traziam os folhetins de Flag e Myrna, pareciam acenar como um convite a um mergulho no universo rodrigueano. De um ponto de vista prático, a pesquisa se iniciou como um ensaio. Na mesma época da visita à Livraria da Travessa, cursava a cadeira de Teoria Literária I, dentro do currículo da pós-graduação em Ciência da Literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ministrada pela professora e pesquisadora Beatriz Resende, que discutia o papel do intelectual nas sociedades modernas. Como trabalho de final de curso escrevi o texto que acabou sendo o ponto de partida para a Tese que o leitor vê agora se encaminhar para o seu fechamento. Essa opção levou à mingua uma pesquisa de Doutorado que versaria sobre a tradução de autores brasileiros para a língua inglesa, tentativa de prosseguir com os estudos sobre o campo tradutório que marcou o meu Mestrado e ao qual um dia pretendo retornar. Edward Said tem um escrito de fôlego que surpreende justamente por tematizar um assunto aparentemente prosaico e banal como o relatado acima: como se começa, se 218 inicia, se dá a partida em um projeto intelectual. Não se trata, no entanto, de uma investida aleatória sobre o tema por parte do ensaísta. Said escreve um tratado de lastro teórico admirável na área dos estudos literários e que iria deslanchar a carreira que o consagraria como um dos grandes pensadores da Literatura Comparada no mundo. Beginnings – intention and method (1985) focaliza a prática e a discussão sobre como e a partir de que impulso ou razão teórica se marca o início de um texto literário ou crítico. Dessa obra, o que se deve aproveitar para essas considerações finais é a discussão levantada pelo ensaísta sobre como o cânone que se construiu nas letras no Ocidente sempre privilegiou, em sua prática literária, a produção do romance de formação e a autobiografia, e, em seu criticismo literário, a definição de autor e obra e sua inserção em um quadro histórico determinado. Os pontos levantados pelas ponderações de Said podem ser identificados no ambiente em foco neste estudo, tanto na maneira como Nelson Rodrigues trabalhou sua criação, explorando o autobiografismo, como na forma com que críticos, pesquisadores e estudiosos de seus escritos vêm procedendo ao levantamento e à exegese de sua obra, num esforço pela sua delimitação. Um dos momentos de confluência entre as visões teóricas de Edward Said e de Harold Bloom encontra-se na maneira como esses dois grandes críticos afirmam a incontestável singularidade do autor, essa entidade de quem Roland Barthes já tentou até mesmo declarar a morte. Da parte de ambos, essa perspectiva se configura em uma crítica ao pensamento de Michel Foucault. Bloom (2002) é rasteiro em seus comentários e afirma que o assunto é puro jogo de retórica do pensador francês. Said prefere uma abordagem mais comedida. Comenta então na introdução do seu Orientalism: (...) eu acredito que todos os textos são temporais e circunstanciais de (claro) diferentes maneiras que variam de gênero para gênero, e de período histórico para período histórico. 219 Ainda assim, e diferente de Michael Foucault, a cujo trabalho sou profudamente devedor, eu acredito na marca singular de escritores em sua individualidade sobre um corpo coletivo e anônimo de textos que constituem uma formação discursiva (...). (Said, 1979: 23) Foram destacados no correr desta Tese os nomes de Pompeu de Souza, de Sábato Magaldi, de Ruy Castro e de Caco Coelho, como importantes e centrais para o estabelecimento do legado rodrigueano. Entre esses nomes, apenas o de Sábato Magaldi encontra-se relacionado diretamente com o espaço de discussão acadêmica. De qualquer maneira seria injusto e, mais do que injusto, impreciso, menosprezar o impacto que o trabalho de Ruy Castro e de Caco Coelho (este último, especialmente para a presente Tese) tiveram e ainda vão ter em investigações vindouras dentro dos estudos universitários sobre a obra de Nelson Rodrigues. A astúcia desses trabalhos-não-acadêmicos se faz presente na maneira como intuitivamente e fora do âmbito universitário esses escritores e pesquisadores, confirmando a pertinência das ponderações de Said e Bloom, acabam por reafirmar a singularidade desse autor excepcional que foi Nelson Rodrigues, identificando sua escrita onde quer que ela apareça, e dando tanto destaque a sua trajetória quanto reconhecendo e acentuado a importância de seus escritos. Ruy Castro foi o precursor. Primeiro com uma biografia que é referência obrigatória e citação insistente em todos os trabalhos universitários consultados para a elaboração desta Tese. Longe dos rigores acadêmicos, ainda que bem próximo dos rigores tanto jornalísticos como de estilo, Castro aparece, com o seu livro biográfico e com seu empenho pelo relançamento dos escritos rodrigueanos em reedições rebuscadíssimas, como o grande divulgador da obra rodrigueana47. 47 Em todo o trabalho excepcional de Castro, os pesquisadores hão de lamentar talvez apenas a ausência de alguns detalhes. Por exemplo, a falta de identificação das faturas dos contos de “A vida como ela é...”, uma espécie de cuidado 220 Walnice Nogueira Galvão (2004) já destacou o memorialismo e o seu ressurgimento no que chamou de “novo biografismo”, a partir dos anos de 1970, como uma experiência fundamental dentro das letras brasileiras. Deu relevo ainda ao fato de os melhores e mais empenhados autores dessa nova tendência terem incorporado suas experiências como militantes da imprensa brasileira para realizarem seus trabalhos. E Castro desponta como o melhor entre os biógrafos. Para o meio acadêmico, o mérito maior de Castro foi, além de ter divulgado detalhes sobre a vida de Nelson Rodrigues, ter procedido ao estabelecimento preciso de boa parte da produção do autor, ter mostrado a extensão da obra e o quanto desconhecíamos dos escritos do jornalista. Caco Coelho seguiu os passos do biógrafo e ajudou a melhor descortinarmos o que ainda temos por conhecer. A partir do contato com o trabalho de Coelho, acabei constatando inadvertidamente uma situação gravíssima que desconhecia quando iniciei essa pesquisa. Havia, então, de minha parte a crença de que a obra de Nelson Falcão Rodrigues já fosse em sua completude do conhecimento e divulgação pública via mercado livreiro. Imaginava assim que uma pesquisa sobre o autor se resumiria a investigar como se deu a recepção dos escritos e como se construiu a fortuna crítica nos textos dissertativos que no correr de mais de meio século foram aparecendo como comentários à instigante e sempre perturbadora obra do jornalista e ficcionista. Qual não foi a surpresa ao constatar que ainda estamos longe, muito longe mesmo, de termos a edição dos escritos completos do Anjo Pornográfico. que não ficou de fora da apresentação das crônicas e que ajudaram no preciso estabelecimento da produção do autorcronista. No que se refere às crônicas, note-se apenas um leve deslize: a repetição de uma coluna de O óbvio ululante (Rodrigues, 2000, p. 207-9) em O remador de Ben-Hur (Rodrigues, 1996, p.277-9). 221 O levantamento de fontes primárias de Coelho deixou patente como a extensíssima obra do autor necessitaria de muitos pesquisadores e muitos anos de estudo até ser alinhavada em toda sua amplitude. Esta investigação cumpriu assim o papel de ajudar nesse esforço, comum a vários estudiosos, de proceder a um melhor estabelecimento da vastíssima obra nelsonrodrigueana. Espero ter contribuído, ainda que parcimoniosamente, para uma melhor definição desse legado. Todo pesquisador de fontes primárias se sente um pouco como a Marlyse Meyer e o seu Sencler das ilhas. Corre bibliotecas e centros de pesquisa na tentativa de encontrar uma indicação que leve a uma pista de um escrito, de um autor. No caso particular desta Tese, esse enigma era uma peça jornalística, um texto-não-assinado, e por isso esquecido, uma crônica inédita. E nada se compara à sensação de encontrar um escrito que, em vez da vida amorfa que tem nos livros, pode ser contemplado na beleza de sua diagramação nas páginas dos periódicos onde foi originalmente publicado. É possível assim conferir, por exemplo, o destaque que as páginas duplas de Manchete Esportiva, em toda sua sofisticação gráfica, davam aos escritos de Nelson. Nessas páginas, os textos surgem para o pesquisador envoltos na aura de um novo ineditismo. O material aqui apresentado e de fato ainda inédito em livro, procurei, dentro do possível, privilegiar no momento da análise. Mas nem sempre isso foi passível de ser posto em prática. Aqueles escritos, entretanto, que foram levantados e não foram usados seguem em anexo e ficam à disposição dos olhos curiosos e da sensibilidade crítica de futuros pesquisadores. Lembro, no entanto, que ainda há muito material a ser recenseado. Imagino que uns trinta por cento de seus escritos ainda sejam inéditos em livro e não foram sequer listados. A busca e escrutínio desse material fica, portanto, como uma indicação de encaminhamento. 222 Se essa foi a contribuição deste estudo ao inventário do escritor, espera-se que a sistematização da fortuna crítica tenha um papel complementar ao que vem sendo discutido. Tratou-se de privilegiar e dar destaque às três aberturas que se mostraram as mais evidentes para a obra de Nelson Rodrigues e de aprofundá-las individualmente. O empenho dos comentadores, cada um a seu modo, em destacar o aspecto mítico, o choque entre as dimensões real e ficcional e o paradoxo, como traços da escrita rodrigueana foi incorporado e aprofundado a partir de aparato consagrado no meio acadêmico. Ainda que esses três pontos já venham sendo destacados por vários comentadores, a esta Tese coube trabalhá-los com uma abordagem nova e investindo por um quadro teórico que a recepção crítica rodrigueana ainda não havia explorado. Ao mesmo tempo não se trata de desconsiderar as outras contribuições pessoais com que críticos, scholars, estudiosos, investiram por outros temas. Espera-se até mesmo que a perspectiva desta Tese tenha incorporado, ainda que sem atacar diretamente em detalhe, algumas dessas visões. Observações extremamente cruciais, como os comentários de Pompeu de Souza, que convergiram para o interesse mais imediato da investigação, puderam ser assimiladas até mesmo durante a análise. O que foi comentado até aqui, dá conta das discussões no campo historiográfico e da Teoria Literária. Faltaria, assim, uma manifestação com relação à Crítica ou valoração da escrita rodrigueana. Um pouco desse debate emergiu quando foram confrotadas as visões de Lima Lins e de Süssekind na seção 2.1.2. desta Tese. Viram-se duas posições divergentes: a primeira, de Lima Lins, que identificava o teatro rodrigueano como expressão de um escritor moralista. E a segunda, de Süssekind, que procurava afastar a 223 persona polêmica do autor – cuja atuação controvertida ao longo dos anos de 1960 e 1970 bem acompanhamos na seção de análise –, do caráter questionador de seus dramas. Mas Lima Lins não está sozinho. Sua visão é compartilhada, ainda que de maneira mais sutil, por pelo menos dois outros comentadores da obra de Nelson Rodrigues que tiveram a seu lado a “distância histórica” para procederem às suas avaliação: Ismail Xavier (2003) e Adriana Facina (2004). Ao contrário de Lima Lins, os dois não se limitam ao teatro do dramaturgo. As observações de Xavier, por exemplo, se estendem aos folhetins. Antes de chegar às discussões sobre as adaptações cinematográficas feitas a partir dos escritos de Nelson Rodrigues, Ismail Xavier comenta as peças do teatrólogo. Para o crítico de cinema, o universo ficcional de Nelson nos traz um: Congresso de filhos da culpa, habitantes de um mundo à deriva porque separado de um estado de pureza ideal que nenhuma experiência histórica pode ensejar. No entanto, pureza que permanece como referência do dramaturgo a alimentar uma observação inconformada da experiência possível. Diatribe de moralista cujo horizonte é a religião mas cuja sintaxe é a de um inconsciente feito superfície, paisagem familiar que funciona como uma fábula encomendada por Freud à procura de ilustrações que, não raro, deslizam. A ficção de Nelson Rodrigues é essa recorrência. Personagens, situações, motivos se entrelaçam e se completam num jogo de ser e aparência que se repõe a cada peça ou romance-folhetim. São Glorinhas perversas a manipular primos (talvez, irmãos) ou noivos de aluguel, são pequenos Noronhas ou Olegários a produzir o que parecem temer, ou destruir o que parecem preservar, minando a família por dentro. Burgueses insolentes como Werneck ou J. B. Albuquerque, a funcionar como pais corruptores para provar que a humanidade não presta (ou o Brasil é medíocre). (Xavier, 2003: 161) Tem-se, portanto, mais um crítico a identificar os escritos de Nelson Rodrigues como a manifestação de um autor moralista. Isso não é tudo. Para Ismail Xavier não há ponto de escape viável no universo do escritor. O crítico recorre ao próprio autor para justificar o pessimismo extremo dessas criações: O progresso dissolve valores e faz avançar a “mais cínicas de todas as épocas”, nas palavras de Nelson Rodrigues; nada de melhor, portanto, coloca à vista em substituição a uma ordem patriarcal desmoralizada pelos novos costumes 224 e minada por dentro, seja por figuras de pais incapazes de cumprir o papel que a tradição lhes reserva, seja por uma galeria de maridos fracos cuja mediocridade, moralismo ou paranóia arruínam a vida conjugal. Por essas e outras vias, o escritor desenha a crítica incisiva do presente, conduzindo o processo da família a partir de um pressuposto: modernidade rima com decadência. (Xavier, 2003:162) Embora o que seja comentado por Xavier proceda, essa simplificação pode compromenter outros aspectos igualmente essenciais na escrita do autor. Quando esbarra no caso de Arandir em O beijo no asfalto, por exemplo, um personagem a quem não se aplicam essas observações, o crítico de cinema prefere concluir que o tipo apresentado “é a exceção que confirma a regra” (cf. Xavier, 2003: 162). Essa opção, que desconsidera também outros modelos importantes do plantel de personagens rodrigueanos, como o Edgar de Otto Lara Resende ou Bonitinha, mas ordinária, acaba funcionando única e exclusivamente como uma alternativa para contornar os entraves inconvenientes que comprometem tais simplificações. Há ainda a questão dos folhetins e contos que teimam em negar essas visões sobre a escrita rodrigueana. É o que vai prejudicar também a avaliação de Facina, que, ao contrário de Xavier, incluiu os textos de “A vida como ela é...” em suas análises. Ainda assim, a historiadora e professora da Universidade Federal Fluminense, junta sua voz à do crítico paranaense: Nelson desconfia profundamente da capacidade da civilização em produzir seres humanos melhores e mais felizes, pois a coerção da civilidade não conseguiria domar os instintos, especialmente os sexuais, que tenderiam a gerar, entre os homens, mais canalhas do que santos. Portanto, a redenção humana dependeria de uma educação dos sentimentos e do desenvolvimento de talentos individuais que pudessem expressar, como cultura, o que há de melhor, a metade santa da coletividade. Surge daí a sua visão do amor romântico como o sentimento capaz de tornar bons os seres humanos, assim como a sua crença na capacidade libertadora do futebol, que pode fazer cada brasileiro sentir-se “desagravado de velhas fomes e santas humilhações”. (Facina, 2004: 315; aspas do original) Entender as personagens rodrigueanas como expressão da “coerção da civilidade” por não conseguirem “domar os instintos, especialmente os sexuais” (pensem principalmente nos tipos femininos de “A vida como ela é...”), é um ponto de vista com o 225 qual é difícil concordar e que parece em franco desacordo com o que interessa ao autor retratar. Para fugir à uma condenação rigorosa do escritor, Facina reconhece uma ordem de coisas mais complexa: Não há nessas proposições de nosso autor nenhuma ilusão de que uma harmonia permanente e duradoura fosse possível, ou mesmo desejável. Se a bondade pode ser despertada nesse processo de educação dos sentimentos, também seria preciso reconhecer que os demônios interiores são constitutivos da natureza dos homens. Na ótica de Nelson Rodrigues, é nessa tensão permanente entre a “metade Deus” e a “metade Satã” que residiria a humanidade dos seres humanos. Se os canalhas absolutos são desumanizados, os santos absolutos também o são. O horizonte da reconciliação da natureza humana não implicaria suprimir essa dualidade, sim assumi-la, de modo radical, em toda sua complexidade. (Idem, ibidem, 316; aspas de novo do original) Às ponderações restritivas, Facina se vê forçada a corrigir o rumo de suas observações. Não parece de todo modo interessante ficar à caça de mensagens nas entrelinhas da escrita de Nelson Rodrigues e nem tampouco confinar seus enredos a esquemas reducionistas que tentam esgotar sua força dramática. Mesmo porque, Nelson Rodrigues nunca falou em “santos e canalhas”. Para o Anjo Pornográfico, criador de obras incomparáveis em sua síntese do lado cruel, perverso, e do lado puro, sublime, do ser humano, a conjunção reduz a força daquilo que seus escritos querem comunicar e comunicam. 6 — FONTES E BIBLIOGRAFIA Arquivos, bibliotecas Arquivo do autor, Arquivo jornal O Globo, Biblioteca Nacional Periódicos 226 A Manhã, Crítica, O Globo, Última Hora, Diário Carioca, O Jornal, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo Mensais O Cruzeiro, A Cigarra Referências bibliográficas 1. ARISTÓTELES. Arte retórica e arte poética. Trad. Antônio Pinto de Carvalho. Rio de Janeiro: Ediouro Publicações, s/d. 2. ARMONY, Adriana. “Nelson Rodrigues, leitor de Dostoiévski”. Tese de doutorado. UFRJ, 2002. 3. ASSIS, Machado de. “Ressurreição”. In: ASSIS, Machado de. Romances 1. Rio de Janeiro: Livraria Garnier, 1993, p.55-180. 4. ASSIS, Machado de. “O folhetinista”. In: ASSIS, Machado de. Obra completa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1997, p.958-60. 5. BANDEIRA, Manuel. “Vestido de Noiva”. In: Rodrigues, Nelson. Teatro completo de Nelson Rodrigues – tragédias cariocas II. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1989. 6. BARTHES, Roland. Crítica e verdade. Trad. de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Editora Perspectiva, 1999. 7. _____________. A aventura semiológica. Trad. de Mario Laranjeira. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001. 8. _____________. Mitologias. Trad. de Rita Buongermino, Pedro de Souza e Rejane Janowitzer. Rio de Janeiro: Editora Difel, 2003. 9. BERNUCCI, Leopoldo M. A imitação dos sentidos. São Paulo: Edusp, 1995. 10. BERNUCCI, Leopoldo M. “Prefácio”. In: CUNHA, Euclides. Os sertões – campanha de Canudos. São Paulo: Atêlie Editorial, 2001, p.13-49. 11. BLOOM, Harold. Shakespeare – a invenção do humano. Trad. de Jose Roberto O ´Shea. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1998. 12. BLOOM, Harold. A angústia da influência. Trad. de Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Imago Editora, 2002. 13. BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1975. 227 14. BURRIL, William. The Toronto years. Toronto, Doubleday Canada Limited, 1995. 15. CAMPOS, Haroldo de. Ruptura dos gêneros na literatura latino-americana. São Paulo: Editora Perspectiva, 1977. 16. CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Editora Itatiaia, 1975. 17. CANDIDO, Antonio (org.). A crônica – o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa e São Paulo: Editora da Unicamp, 1992. 18. CANDIDO, Antonio. “Mário e o concurso”. In: CANDIDO, Antonio. Recortes. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p.241-4. 19. CARNEIRO LEÃO, Emmanuel. “A hermenêutica do mito”. In: CARNEIRO LEÃO, Emmanuel. Aprendendo a pensar. 5ª. Edição. 2 volumes. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2002, vol. 1, p.193-208. 20. CARPEAUX, Otto Maria. “Marionette, che passione!”. In: CARPEAUX, Otto Maria. Ensaios reunidos – 1946-1971 – volume II. Rio de Janeiro: Topbooks, 2005, p.293-7. 21. CASTRO, Ruy. O Anjo Pornográfico: a vida de Nelson Rodrigues. 2a. Reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 22. CASTRO, Ruy. “A estrela de um iluminado”. In: RODRIGUES, Nelson. A menina sem estrela - Memórias. 2a. reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 7-9. 23. CESAR, Ana C. “Literatura não é documento”. In: CESAR, Ana C. Crítica e tradução. São Paulo: Instituto Moreira Salles-Editora Ática, 1999, p.13-134. 24. COELHO, Caco. “O baú de Nelson Rodrigues”. Pesquisa realizada com apoio do Instituto Rio-Arte, 2000. Cuidadoso levantamento e transcrição dos textos jornalísticos de Nelson Rodrigues, alguns deles assinados pelo autor e outros supostamente de sua autoria. Tem como base as colaborações do escritor para os jornais A Manhã, Crítica e O Globo entre 1925 e 1935. Encontra-se disponível para consulta apenas no setor de bolsas de pesquisa da Rio-Arte, Rio de Janeiro. Parte desse material está editado em livro (cf. Rodrigues, 2004). 25. COSTA, Cristiane. Pena de aluguel. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 26. COSTA LIMA, Luiz. “Nos Sertões da oculta mimesis”. In: COSTA LIMA, Luiz. O controle do imaginário – razão e imaginação nos tempos modernos. 2ª. Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 1989, p.201-39. 228 27. COSTA LIMA, Luiz. “Concepção de história literária na Formação”. In: COSTA LIMA, Luiz. Pensando nos trópicos. Rio de Janeiro: Rocco, 1991, p.148-66. 28. COSTA LIMA, Luiz. Terra ignota – a construção de Os sertões. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. 29. COUTINHO, Afrânio (org.). A Literatura no Brasil. 5ª. edição. 6 volumes. São Paulo: Global Editora, 1997, vol. 6, p.117-43. 30. COUTINHO, Eduardo de Faria. Literatura Comparada na América Latina – ensaios. Rio de Janeiro: Editora UERJ, 2003. 31. CRUZ, Isabel de Oliveira. “Nelson Rodrigues: um moderno autor folhetinesco”. Dissertação de mestrado, UFRJ, 1997. 32. CUNHA, Euclides. Obra completa. Reimpressão atualizada da 1ª. edição. 2 vols. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1995. 33. DANTAS, Pedro. “Prefácio”. In: Rodrigues, Nelson. Álbum de família e vestido de noiva. Rio de Janeiro: Edições do Povo, 1946, p.9-16. 34. DELEUZE, Gilles. A lógica do sentido. Trad. de Luiz Roberto Salina Fontes. São Paulo: Editora Perspectiva, 2000. 35. ECO, Umberto. A estrutura ausente. 3ª. edição. Trad. Pérola de Carvalho. São Paulo: perspectiva, 1976. 36. ECO, Umberto. Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington: Indiana University Press, 1986. 37. _____________. Apocalípticos e Integrados. Trad. Pérola de Carvalho. São Paulo: Editora Perspectiva, 2000. 38. ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. Trad. de Póla Civelli. 5ª. Edição. São Paulo: Eidtora Perspectiva, 2000. 39. FACINA, Adriana. Santos e canalhas – uma análise antropológica da obra de Nelson Rodrigues. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. 40. FILHO, Mário. O negro no futebol brasileiro. Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1964. 41. FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro, Editora Nau, 2003. 42. FRANCIS, Paulo. Trinta anos esta noite – o que vi e vivi – 1964. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 229 43. GALVÃO, Walnice Nogueira. “Heróis de nosso tempo”. In: Folha de São Paulo, Caderno Mais!, São Paulo, 5 de dezembro de 2004, p.5. 44. HELIODORA, Bárbara. “O beijo no asfalto”. In: Rodrigues, Nelson. Teatro completo. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p.222-6. 45. HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Impressões de viagem – CPC, vanguarda e desbunde 1960-70. Rio de Janeiro: Editora Aeroplano, 2005. 46. IBSEN, Henrik. Um inimigo do povo. Trad. Pedro Mantiqueira. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2002. 47. KARNEY, Robin (ed.). Cinema – year by year – 1894-2004. London: Amber Books, 2004. 48. KERRACE, Kevin e YAGODA, Ben. The art of fact – a historical anthology of literary journalism. New York: Touchstone, 1997. 49. LAGE, Nilson. Ideologia e técnica da notícia. 3ª. edição. Florianópolis, Editora da UFSC, 2001. 50. LAGO, Pedro Corrêa do. Documentos & autógrafos brasileiros na coleção de Pedro Corrêa do Lago. Rio de Janeiro: Sextante Artes, 1997. 51. LINS, Álvaro. Os mortos de sobrecasaca. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1963. 52. LOPES, Ângela Leite. Nelson Rodrigues, trágico então moderno. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro-UFRJ Editora, 1993. 53. MAGALDI, Sábato. Nelson Rodrigues: dramaturga e encenações. São Paulo: Editora Perspectiva. 1992. 54. _____________. Teatro da obsessão: Nelson Rodrigues. São Paulo, Global Editora, 2004. 55. MARON FILHO, Oscar e FERREIRA, Renato (org.). Fla-Flu... e as multidões despertaram! – Nelson Rodrigues e Mário Filho. Rio de Janeiro: Edição Europa, 1987. 56. MARQUES, José Carlos. O futebol em Nelson Rodrigues. São Paulo: EDUCEditora da PUC/SP, 2000. 57. MARTINS, Wilson. “Machado e José de Alencar, observadores críticos e realistas”. In: O Globo. Caderno Prosa e Verso. Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2003, p.4. 230 58. MEIRELLES, Domingos. 1930 – os orfãos da revolução. Record, 2005. Rio de Janeiro, 59. MEYER, Marlyse. Folhetim. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 60. _____________. “Voláteis e versáteis. De variedades e folhetins se fez a chronica”. In: CANDIDO, Antonio (org.). A crônica – o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa e São Paulo: Editora da Unicamp, 1992, p.93-133. 61. MONESTIER, Martin. Faits-divers – encyclopédie contemporaine cocasse et insolite. Paris: Le Cherche Midi, 2004. 62. NETO, Accioly. O império de papel – os bastidores de O Cruzeiro. Porto Alegre: Editora Sulina, 1998. 63. OITICICA, Ricardo Bezerra da Rosa. “Nelson Rodrigues: o bobo da corte de Médici”. Dissertação de Mestrado em Literatura Brasileira. PUC/RJ, 1988. 64. ORWELL, George. Na pior em Paris e Londres. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 65. PASOLINI, Pier Paolo. “O gol fatal”. Folha de São Paulo, Caderno Mais!, São Paulo, mar. 6 de 2005, p.4-5. 66. PENA, Felipe. Teoria do jornalismo. São Paulo: Contexto, 2005. 67. PEREIRA, Victo Hugo Adler. Nelson Rodrigues e a obscena contemporânea. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999. 68. PIRES, Paulo Roberto. Hélio Pellegrino – perfis do Rio. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1998. 69. POSNETT, Hutcheson M. “O método comparativo e a literatura”. In: COUTINHO, Eduardo de Faria e CARVALHAL, Tânia (orgs.). Literatura Comparada – textos fundadores. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p.15-25. 70. RESENDE, Beatriz. “A indisciplina dos estudos culturais”. In: Resende, Beatriz. Apontamentos de crítica cultural. Rio de Janeiro: Aeroplano-Fundação Biblioteca Nacional, 2002, p.9-54. 71. RICOEUR, Paul. A metáfora viva. Trad. de Dion Davi Macedo. São Paulo: Edições Loyola, 2000. 231 72. RIBEIRO, Leo Gilson. “O sol sobre o pântano”. In: RODRIGUES, Nelson. Nelson Rodrigues – teatro completo. Volume IV. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1989, p.374-88. 73. RODRIGUES, Nelson. 100 contos escolhidos - A vida como ela é.... Rio de Janeiro: J. Ozon Editor, 1961. Volumes I e II. 74. RODRIGUES, Nelson. O óbvio ululante – as primeiras confissões de Nelson Rodrigues. Rio de Janeiro: Livraria Eldorado, 1968. 75. RODRIGUES, Nelson. A cabra vadia. Rio de Janeiro: Livraria Eldorado, 1970. 76. RODRIGUES, Nelson. O reacionário – memórias e confissões. Rio de Janeiro: Record, 1977. 77. RODRIGUES, Nelson. Nelson Rodrigues – teatro completo. Volume I. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1981a. 78. RODRIGUES, Nelson. Nelson Rodrigues – teatro completo. Volume II. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1981b. 79. RODRIGUES, Nelson (sob pseudônimo de Suzana Flag). O homem proibido. 1a. reimpressão. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1981c. 80. RODRIGUES, Nelson. Nelson Rodrigues – teatro completo. Volume III. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1985. 81. RODRIGUES, Nelson. Nelson Rodrigues – teatro completo. Volume IV. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1989. 82. RODRIGUES, Nelson. Nelson Rodrigues – teatro completo. 2ª. reimpressão da 2ª. edição. Volume único. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003. 83. RODRIGUES, Nelson. À sombra das chuteiras imortais. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 84. RODRIGUES, Nelson. O reacionário. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 85. RODRIGUES, Nelson. A pátria em chuteiras. 7ª. reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 86. RODRIGUES, Nelson. A menina sem estrela - Memórias. 2a. reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 87. RODRIGUES, Nelson. O remador de Ben-Hur. 1a. reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 232 88. RODRIGUES, Nelson. A cabra vadia. 1a. reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 89. RODRIGUES, Nelson. Flor de obsessão. 2a. reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 90. RODRIGUES, Nelson. A vida como ela é... - o homem fiel e outros contos. 9ª. reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1999a. 91. RODRIGUES, Nelson. A coroa de orquídeas. 4ª. reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1999b. 92. RODRIGUES, Nelson. Asfalto selvagem. 2ª. reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 93. RODRIGUES, Nelson. O óbvio ululante. 7a. reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 94. RODRIGUES, Nelson (sob o pseudônimo de Myrna). Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo. São Paulo: Companhia das Letras, 2002a. 95. RODRIGUES, Nelson. A mentira. São Paulo: Companhia das Letras, 2002b. 96. RODRIGUES, Nelson. Pouco amor não é amor. São Paulo: Companhia das Letras, 2002c. 97. RODRIGUES, Nelson. O profeta tricolor – cem anos de Fluminense. São Paulo: Companhia das Letras, 2002d. 98. RODRIGUES, Nelson. O casamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2002e. 99. RODRIGUES, Nelson. O baú de Nelson Rodrigues – os primeiros anos de crítica e reportagem (1928-35). São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 100.RODRIGUES, Nelson (sob pseudônimo de Suzana Flag). Núpcias de fogo. 1a. reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 101.RODRIGUES, Nelson (sob pseudônimo de Suzana Flag). Meu destino é pecar. 4a. edição. Rio de Janeiro: Ediouro Publicações, 1998. 101. RODRIGUES, Nelson (sob pseudônimo de Suzana Flag). Escravas do amor. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 102. RODRIGUES, Nelson. A vida como ela é.... Rio de Janeiro: Editora Agir, 2006. 233 103. RODRIGUES, stella. Nelson Rodrigues, meu irmão. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 1986. 104. ROSOLEM, Sylvia R. de. “Nelson Rodrigues: a sina verde-amarela da cor do arco-íris”. Dissertação de Mestrado. ECO-UFRJ, 1995. 105. SAID, Edward W.. Orientalism. New York: Vintage Books, 1979. 106. SAID, Edward W.. Beginnings – intention and method. New York: Columbia University Press, 1985. 107. _____________. Culture and imperialism. New York: Vintage Books, 1993. 108. SAMPAIO, Maria Lucia Pinheiro. O demoníaco, o caos e o renascimento no teatro de Nelson Rodrigues. Cascavel: Edunioeste, 2003. 109. SARTRE, Jean-Paul. Em defesa dos intelectuais. Trad. Sergio Goes de Paula. São Paulo: Ática, 1994. 110. _____________. Que é a literatura? Trad. Carlos Felipe Moisés. São Paulo, Editora Ática, 1999. 111. SEVCENKO, Nicolau. A literatura como missão – tensões sociais e criação cultural na Primeira República. 1ª. reimpressão. São Paulo: Editora Brasiliense, 1999. 112. SILVA, Deonísio da. A vida íntima das palavras. São Paulo: Editora ARX, 2002. 113. SILVA, Deonísio da. A vida íntima das frases. São Paulo: Editora Girafa, 2003. 114. SILVA, Rogério Forastieri da. História da historiografia. São Paulo: EDUSC, 2001. 115. SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. 4a. edição. São Paulo: Mauad, 1998. 116. SOUZA, Marcos Francisco Pedrosa Sá Freire de. “O jornalista e cronista Nelson Rodrigues”. In: II Semana de Ciência da Literatura. UFRJ, 2002. Endereço na Internet: < http://www.ciencialit.letras.ufrj.br/index_terceira_margem.htm> . 117. SOUZA, Pompeu. “Introdução”. In: Rodrigues, Nelson. Teatro completo de Nelson Rodrigues – tragédias cariocas II. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989, p.329-34. 234 118. STEPHENS, Robert O. Hemingway´s non-fiction – the public voice. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1968. 119. SÜSSEKIND, Maria Flora. “O Fundo falso”. In: I Concurso Nacional de Monografias. MEC, Funarte, Serviço Nacional de Teatro, 1976, p.7-42. 120. SCHWARTZ, Adriano. “Euclides entre a ficção e a história”. In: Folha de São Paulo, Caderno Mais!, São Paulo, 26 de outubro de 2003, p.14. 121. SÜSSEKIND, Flora. Papéis colados. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 122. TEIXEIRA, Elaine Silveira. “A atualidade da crônica do Rio de Janeiro”. Monografia de final de curso de Comunicação Social (habilitação jornalismo), Rio de Janeiro, Universidade Estácio de Sá, 2006. 123. TINHORÃO, José Ramos. Os romances em folhetins no Brasil (1830 à atualidade). São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1994. 124. VELOSO, Caetano. Verdade tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 125. VENTURA, Zuenir. 1968: o ano que não terminou. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 2006 126. VIANNA, Hermano. “Filosofia dub”. In: Folha de São Paulo, Caderno Mais!, São Paulo, 9 de novembro de 2003, p.4-6. 127. WAINER, Samuel. Minha razão de viver. 5ª. edição. Rio de Janeiro: Editora Record, 1987. 128. WELLEK, René. “O nome e a natureza da Literatura Comparada”. In: COUTINHO, Eduardo de Faria e CARVALHAL, Tânia (orgs.). Literatura Comparada – textos fundadores. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p.120-48. 129. WELLEK, René e WARREN, Austin. Teoria da literatura e metodologia dos estudos literários. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 130. WHITMAN, Walt. “Specimen days”. In: WHITMAN, Walt. The works of Walt Whitman in two volumes. Volume II – the collected prose. New York, Funk and Wagnalls, 1968. 131. XAVIER, Ismail. O olhar e a cena - melodrama, Hollywood, Cinema Novo, Nelson Rodrigues. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 235 SOUZA, Marcos Francisco Pedrosa Sá Freire de. Nelson Rodrigues – Inventário Ilustrado e Recepção Crítica Comentada dos Escritos do Anjo Pornográfico. Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade de Letras, 2006. 237 fl. mimeo. Tese de Doutorado em Literatura Comparada. RESUMO Esforço de síntese sobre o inventário e a recepção crítica da obra de Nelson Rodrigues, esta Tese procede a uma avaliação de sua produção como repórter, dramaturgo, folhetinista, contista e cronista, destacando três pontos que exercem centralidade em sua escrita: o interesse por explorar discursivamente uma dimensão mítica em seus textos, o questionamento permanente sobre os limites entre fato e ficção e o gosto em trabalhar um pensamento que tem o paradoxo como matriz. Esses três aspectos são destacados através de análise das reportagens, peças, folhetins, contos, crônicas, em exame que discorre sobre a linguagem trabalhada no âmbito mais amplo do discurso e em detalhes formais na estrutura dos períodos, orações, frases e mesmo do repertório vocabular do texto nelsonrodrigueano. É nesse momento que encontramos um criador de narrativas ricas em sua diversidade de abordagem de temas recorrentes, um escritor com raro dom para o estabelecimento de imagens de efeito surpreendente, além de deflagrador de expressões e repertório lexical personalíssimos. Por trás de toda a discussão levada a efeito nesse longo ensaio, temos uma perspectiva que se ancora nos estudos em Literatura Comparada. 236 SOUZA, Marcos Francisco Pedrosa Sá Freire de. Nelson Rodrigues – Inventário Ilustrado e Recepção Crítica Comentada dos Escritos do Anjo Pornográfico. Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade de Letras, 2006. 237 fl. mimeo. Tese de Doutorado em Literatura Comparada. ABSTRACT A summary on the legacy and critical reception of Nelson Rodrigues´s works, this dissertation conducts an assessment of his production as a reporter, playwright, columnist and writer of installments and short-stories, singularizing three prominent aspects of his writings: the exploitation of a mythical atmosphere, the deliberate will of confronting the limits between fable and fact and the pleasure of incurring on a narrative whose origins are embedded in a paradox matrix. These three aspects are highlighted through the analysis of news stories, plays, installments, shortstories, columns, in a survey which delves into Nelson´s use of language from the overall perspective of discourse to the closerange examination of words, phrases, clauses and sentences. It is at this point that Nelson is unveiled as a spinner of tales which are rich in their diverse approaches to recurring themes; a writer with a unique gift to create surprising images as well as a very personal lexical repertoire. Informing the analytical study developed throughout this dissertation is a perspective anchored in the field of Comparative Literature. 237
Download