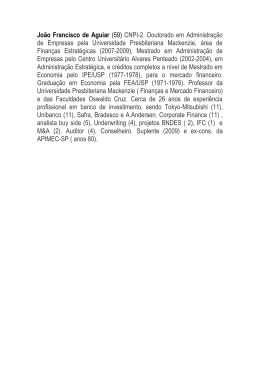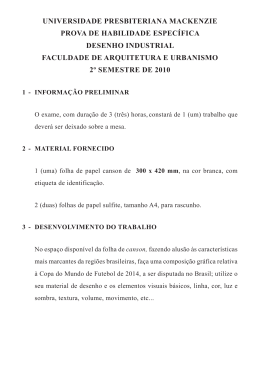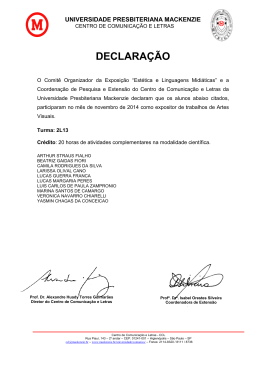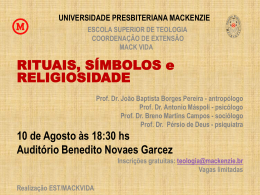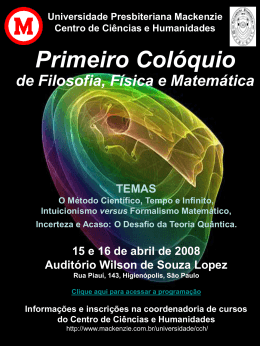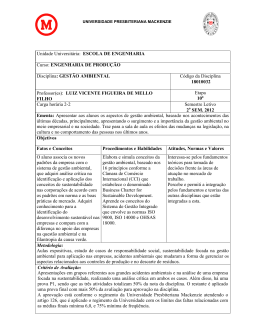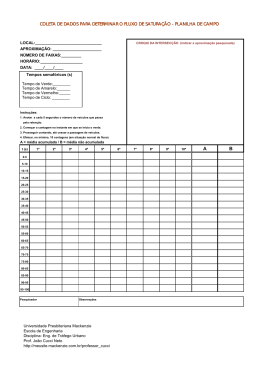II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO – FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO APRESENTAÇÃO Esta publicação traz os 33 artigos selecionados pela Comissão Científica da II Jornada Discente, promovida pelo Programa de Pós Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi realizada nos dias 16 e 17 de outubro de 2013 no âmbito do 8º Fórum de Pesquisa FAU-Mackenzie. A II Jornada consistiu em evento para difusão e debate da produção científica dos discentes do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU-Mackenzie, e encontro entre os alunos de mestrado e doutorado e orientadores. O ensejo de produzir um artigo sobre a pesquisa em andamento e discuti-la com seus pares e outros professores do Programa serviu como estímulo e abertura de perspectivas aos alunos, que puderam levar, da experiência, novas possibilidades e ânimo renovado para seus trabalhos. Elaborados pelos discentes ou co-autorias entre alunos de mestrado e doutorado e seus orientadores, estes textos são uma mostra das abordagens de pesquisa que vêm sendo desenvolvidas no contexto de sua área de concentração - “Projeto de Arquitetura e Urbanismo” – e de suas duas linhas de pesquisa - Arquitetura Moderna e Contemporânea: representação e intervenção; e Urbanismo Moderno e Contemporâneo: representação e intervenção”. O conjunto de artigos alocados na Linha Arquitetura Moderna e Contemporânea: representação e intervenção privilegiam a discussão do projeto arquitetônico, indicando a amplitude dos temas explorados pelas investigações ligadas a essa linha de pesquisa, incluindo questões ligadas ao Design. Estes trabalhos dedicam-se à reflexão sobre processos de projeto e seus modos de representação; às relações do projeto de arquitetura e design com o campo mais amplo da arte e cultura; a contextualização histórica de projetos e seus autores. Comparecem ainda preocupações envolvendo soluções tecnológicas numa abordagem de transformação e inovação. Os artigos alinhados à Linha Urbanismo Moderno e Contemporâneo: representação e intervenção” refletem a produção de pesquisas que se dedicam ao projeto do urbanismo e aos processos de transformações da cidade, em especial nos seguintes âmbitos: planos e projetos; legislação; habitação em áreas irregulares ou de proteção ambiental e suas relações com a paisagem. Novas edições do evento devem ser organizadas como forma não sós de intensificar a convivência acadêmica e o intercâmbio entre alunos e professores, mas também de promover e valorizar a qualidade da pesquisa que vem sendo produzida em nosso Programa. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO – FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DIREÇÃO Prof. Dr. Valter Caldana (Diretor) Prof.ª Dr.ª Eunice Helena S. Abascal (Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo) Prof. Dr. Paulo Roberto Correa (Coordenador do Curso de Graduação FAU-Mackenzie) Prof. Dr. Charles C. Vincent (Coordenador de Curso de Design FAU-Mackenzie) Prof.ª Dr.ª Denise Antonucci (Coordenadora de Pesquisa) Prof. Dr. Marcelo de Oliveira (Coordenador de Extensão) COMISSÃO ORGANIZADORA Prof.ª Dr.ª Eunice Helena Sguizzardi Abascal (Coordenação Geral) APOIO DISCENTE PROJETO GRÁFICO Fanny Schroeder de Freitas Araujo Marco Aurélio (Kito) Castanha (Doutoranda PPGAU FAU-Mackenzie) (professor DI-UPM e pós-graduando PPGAU-UPM) Marco Aurélio (Kito) Castanha (professor DI-UPM e pós-graduando PPGAU-UPM) E-MAIL Camila Forcellini [email protected] (Mestranda PPGAU FAU-Mackenzie) Responsável: Sandra Medina Benini Fanny Schroeder de Freitas Araujo (Doutoranda PPGAU FAU-Mackenzie) (pós-graduanda PPGAU-UPM) SITE (PUBLICAÇÃO ON LINE) http://www.amigosdanatureza.org.br/livros Responsável: Sandra Medina Benini ISSN 2238-5037 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO – FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO COMISSÃO CIENTÍFICA Prof. Dr. Abílio da Silva Guerra Neto (PPGAU-UPM) Prof.ª Dr.ª Ana Gabriela Godinho Lima (PPGAU-UPM) Prof.ª Dr.ª Angélica T. Benatti Alvim (PPGAU-UPM) Prof. Dr. Candido Malta Campos Neto (PPGAU-UPM) Prof. Dr. Carlos Egídio Alonso (PPGAU-UPM) Prof. Dr. Carlos Leite de Souza (PPGAU-UPM) Prof.ª Dr.ª Célia Regina Moretti Meirelles (PPGAU-UPM) Prof.ª Dr.ª Eunice Helena Sguizzardi Abascal (PPGAU-UPM) Prof. Dr. Charles Vincent (PPGAU-UPM) Prof.ª Dr.ª Gilda Collet Bruna (PPGAU-UPM) Prof. Dr. José Geraldo Simões Junior (PPGAU-UPM) Prof.ª Dr.ª Maria Augusta Justi Pisani (PPGAU-UPM) Prof.ª Dr.ª Maria Isabel Villac (PPGAU-UPM) Prof.ª Dr.ª Nadia Somekh (PPGAU-UPM) Prof.ª Dr.ª Ruth Verde Zein (PPGAU-UPM) Prof. Dr. Wilson Florio (PPGAU-UPM) Prof. Dr. Valter Caldana __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO – FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO Jornada Discente Pós/FAU-Mackenzie. (2.: 2013 : São Paulo, SP). II. Jornada Discente Pós/FAU-Mackenzie: Pesquisa em Arquitetura, Urbanismo e Design / coordenação: Eunice Helena Sguizzardi Abascal. - São Paulo : Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2013. ISSN: 2238-5037 1. Arquitetura Moderna e Contemporânea. 2. Urbanismo Moderno e Contemporâneo. 3. Design Moderno e Contemporâneo. I. Abascal, Eunice Helena Sguizzardi. II. Título. CDD 720 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO – FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO SUMÁRIO LINHA DE PESQUISA: ARQUITETURA MODERNA E CONTEMPORÂNEA: REPRESENTAÇÃO E INTERVENÇÃO Fausto B. Sombra Jr e Abílio Guerra LUÍS SAIA E LÚCIO COSTA: A PARCERIA NO SÍTIO SANTO ANTÔNIO. _________________________10 Fernanda Amorim Militelli REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL DE SÃO PAULO. ________________________38 Gabriel Claude Joseph Daou e Carlos Leite de Souza AVALIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO LEED PARA EDIFÍCIOS REVITALIZADOS NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO CASO DE ESTUDO: EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL. ________________________________________51 Henny Aguiar B. Rosa Favaro e Ana Gabriela Godinho Lima DESIGN ECOLÓGICO, PESQUISA ACADÊMICA E O DESIGN DE JOIAS: APROXIMAÇÕES E DISTINÇÕES. _______________________________________________________70 Joice Chimati Giannotto e Carlos Guilherme Mota REVISITANDO A GROTA DO BIXIGA. ____________________________________________________86 José Lima Bezerra e José Geraldo Simões Júnior O METRÔ DE SÃO PAULO E AS NORMAS DE ACESSIBILIDADES. ___________________________106 Leticia Soares Daniel e Rafael Antônio Cunha Perrone EDIFÍCIO CEPISA: REFLEXOS DE UM ARQUITETO MIGRANTE. _____________________________122 Mario Biselli e Eunice Helena Sguizzardi Abascal O TODO E A PARTE – CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO DE HABITAÇÕES COLETIVAS. ______________________________________________136 Oswaldo Antônio Ferreira Costa e Candido Malta Campos LECHTWORTH: PERMANÊNCIA E ATUALIDADE DOS APORTES DOGARDEN CITY MOVEMENT. ___________________________________________151 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO – FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO Patricia Cecilia Gonsales e Carlos Guilherme Mota AS COMEMORAÇÕES DO IV CENTENÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO E SEUS REFLEXOS NO AMBIENTE URBANO E CULTURAL DA CIDADE. ________________________168 Paulo Canguço Fraga Burgo e Carlos Egídio Alonso ANÁLISES DE FOTOGRAFIAS: A “CASA DE VIDRO”. _______________________________________191 Paulo Eduardo Borzani Gonçalves e Carlos Leite de Souza POTSDAMER PLATZ COMO TERRITÓRIO HÍBRIDO. _______________________________________207 Ricardo Luis Silva e Maria Isabel Villac ELOGIO À INUTILIDADE: RECONHECIMENTO E APROPRIAÇÃO DO INÚTIL NA METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA. ___________________________________________________224 Silverio Syllas Saad (ARQ) OS LUGARES E AS ARQUITETURAS PARA A ARTE CONTEMPORÂNEA NO SÉCULO XXI. _______247 LINHA DE PESQUISA: URBANISMO MODERNO E CONTEMPORÂNEO: REPRESENTAÇÃO E INTERVENÇÃO Andre Reis Balsini e Maria Isabel Villac SUSTENTABILIDADE, ÉTICA E ARQUITETURA: DISCUTINDO A QUALIFICAÇÃO DO HABITAT URBANO. ____________________________________259 Cássia Calastri Nobre e Nadia Somekh AS RECENTES TRANSFORMAÇÕES URBANAS NO ABC PAULISTA. __________________________277 Daniela Getlinger e Carlos Leite de Souza INTERVENÇÕES URBANAS: MAIS PROCESSO, MENOS “DESIGN”. ___________________________298 Daniela Getlinger e Carlos Leite de Souza MEGACIDADES CONTEMPORÂNEAS. ___________________________________________________308 Elaine C. Costa e Angélica T Benatti Alvim PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO E OS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: O CASO DA ZONA NORTE (2005 – 2012): INSTRUMENTO DE INTERVENÇÃO NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS? ______________________________________________________319 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO – FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO Elisabete Castanheira PAISAGEM URBANA: LEITURAS POSSÍVEIS. _____________________________________________343 Fernanda Figueiredo D’Agostini e Eunice Helena Sguizzardi Abascal VILA FERROVIÁRIA DE PARANAPIACABA – POLÍTICAS URBANAS E DESENVOLVIMENTO. ______360 Janaína Stédile TERRITÓRIOS HÍBRIDOS: REFLEXÕES SOBRE O CONTEMPORÂNEO. _______________________376 Lacir Ferreira Baldusco e José Geraldo Simões Júnior ATUAÇÃO DO SEGMENTO HABITACIONAL DO SETOR IMOBILIÁRIO NA MACROMETRÓPOLE PAULISTA. ____________________________________________________392 Mariana de Souza Rolim e Carlos Guilherme Mota PARA UMA APROXIMAÇÃO DE ESTUDOS COMPARATIVOS: AS CIDADES DE BRIGGS, ROMERO E MORSE. ___________________________________________424 Mauro Calliari, Roberta Laredo, Valter Caldana e Nadia Somekh HIGH LINE: O PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO. _______________________________________________439 Mauro Calliari e Valter Caldana A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO PÚBLICO NA IDENTIDADE DA CIDADE CONTEMPORÂNEA. _______458 Paulo Eduardo Borzani Gonçalves e Gilda Collet Bruna BASES PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO CONTEMPORÂNEO NO CONTEXTO DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL. ________________________________________485 Sandra Medina Benini, Jeane Aparecida Rombi De Godoy Rosin e Gilda Collet Bruna CONTRADIÇÕES DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA: ÁREAS VERDES PÚBLICAS X HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL. ________________________509 Silvia P. S. M Vitale e Angélica T Benatti Alvim CONFLITOS ENTRE A OCUPAÇÃO URBANA E A PROTEÇÃO HÍDRICA-AMBIENTAL NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL: O MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ, SP. ________________527 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO – FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO Verônica Polzer e Maria Augusta Justi Pisani GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. _________________________________544 Viviane Manzione Rubio PARA QUEM PROJETAMOS? UMA DISCUSSÃO SOBRE O DIREITO A CIDADE A PARTIR DO PLANO PARA BRASÍLIA. _________________________________________558 Wendie Aparecida Piccinini e Gilda Collet Bruna A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. ____________________________________583 Wu Chiang Kuo Navarro e Gilda Collet Bruna RECUPERAÇÃO DA VÁRZEA DO RIO TIETE E QUALIDADE VIDA, EM SÃO PAULO. _____________601 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 LUÍS SAIA E LÚCIO COSTA: A PARCERIA NO SÍTIO SANTO ANTÔNIO RESUMO O presente artigo analisará parte do processo de restauro do Sítio Santo Antônio em meados do século XX através das ações de Luís Saia e Lúcio Costa, expondo o ideal modernista presente neste coeso grupo de intelectuais. Palavras-chave: Luís Saia, Lúcio Costa, Sítio Santo Antônio ABSTRACT This article will examine part of the restoration process of Sitio Santo Antonio in the mid-twentieth century, through the actions of the architect Luis Saia and Lucio Costa's coordinating, triggering the modernist ideal of this cohesive group of intellectuals. Key words: Luís Saia, Lúcio Costa, Sítio Santo Antônio 11 LUÍS SAIA E LÚCIO COSTA: A PARCERIA NO SÍTIO SANTO ANTÔNIO 1 Fausto B. Sombra Jr. Abílio Guerra 2 Imagem 01: Sítio Santo Antônio – vista do exterior a partir do alpendre casa-grande Fonte: Fausto Sombra, 2013 1 Arquiteto formado pela Universidade Belas Artes de São Paulo (2002). Cursou o master “El Proyecto: aproximaciones a la arquitectura desde el medio ambiente histórico y social”, pela UPC – Barcelona (2008), e atualmente desenvolve sua pesquisa de mestrado através da Universidade Presbiteriana Mackenzie com orientação do professor Abílio Guerra. E-mail: [email protected] ² Arquiteto (FAU PUC- Campinas), mestre e doutor em História pelo (IFCH Unicamp), professor adjunto de FAU Mackenzie (graduação e pós-graduação). É editor da Romano Guerra Editora e do Portal Vitruvius – www.vitruvius.com.br, e coordena o Conselho Editorial da revista científica Arquitextos. Participa como curador e organizador de atividades culturais brasileiras e internacionais e tem vários artigos e livros publicados como autor e editor. E-mail: [email protected] __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 12 INTRODUÇÃO Em 1940, o arquiteto franco-brasileiro Lúcio Costa ou “Dr. Lúcio como era chamado no Patrimônio” (ROLIM, 2006, p.29), já há quatro anos como consultor técnico e teórico do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 3, coordenaria a distância juntamente com o diretor geral do referido órgão, Rodrigo Mello Franco de Andrade, os trabalhos de intervenção e restauro do Sítio Santo Antônio. Localizado a aproximadamente setenta quilómetros da capital paulista, no município de São Roque, a meio caminho da cidade vizinha Araçariguama, este reconhecido monumento remanescente da arquitetura rural colonial se encontraria implantado em meio a uma topografia irregular, com acesso através de um sinuoso caminho, conhecido atualmente como estrada municipal Mário de Andrade. Debruçados sobre este paradigmático conjunto arquitetônico do século XVII, protegido pelo processo de tombamento federal a partir 1941 4 , buscaremos abordar a parceria de trabalho de seu consultor técnico, Dr. Lúcio, e o futuro diretor da delegacia paulista, Luís Saia, considerado o principal personagem responsável pela coordenação dos trabalhos ali empreendidos ao longo do segundo e terceiro quarteis do século XX. Como abordagem e base de argumentação, transcreveremos parte das correspondências, ofícios e outros documentos relacionados ao processo de intervenção, nos permitindo aproximar do então período e o latente intercâmbio ideológico deste coeso 3 Órgão criado em janeiro de 1937 através do projeto do advogado e jornalista Rodrigo Mello Franco de Andrade, e constituído na íntegra, através do Decreto-Lei nº 25, de novembro do mesmo ano, sendo este pautado no ideário de importantes intelectuais brasileiros, articulados pelo Ministério da Educação e Saúde e seu jovem ministro Gustavo Capanema. 4 O referido monumento se encontra na lista de Patrimônios Materiais e Bens Tombados do IPHAN, com a inscrição: Casa do Sítio de Santo Antônio e capela que lhe é anexa; nº Processo: 0214-T-39; no Livro Belas Artes: Nº inscr.: 291 ;Vol. 1 ;F. 050; Data: 22/01/1941; sendo que seu “tombamento foi estendido às áreas de 2.84 ha e de 8.80 ha, delimitadas na planta anexa ao processo, em 20/11/1969." O mesmo bem também se encontra protegido pelo órgão estadual CONDEPHAAT, através do nº Processo: 00374/73; Resolução de Tombamento: Ex-Officio em 11/12/1974; Livro do Tombo Histórico: inscrição nº 99, p. 13, 06/05/1975. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 13 grupo de pensadores modernos, aqui forjado pelo estudo e empenho aplicado à arquitetura colonial através destas duas figuras emblemáticas. Imagem 02: Sítio Santo Antônio – levantamento planialtimétrico e conformação áreas tombadas Fonte: Interpretação com base no lev. aerofotogramétrico de 1979 – IGC-SP e planta parcial do monumento – IPHAN 9ª – desenho Augusto Piccoli 1. O CONJUNTO: UMA BREVE DESCRIÇÃO No final da década de 30, a exemplo de outros exemplares paulistas já conhecidos no então período, o conjunto definido por Sítio Santo Antônio já se encontraria parcialmente descaracterizado e em precário estado de conservação. Conformando a propriedade encontrávamos a casa-grande, de caráter tipológico definido posteriormente como de “casa bandeirista”5, e a sua “deliciosa” capela, disposta no mesmo alinhamento e a “uns 30 metros de 5 Acerca da denominação que se convencionou atribuir as casas remanescentes rurais coloniais paulistas, principalmente do segundo e terceiro séculos, estas só se firmariam com o título de "casas bandeiristas" em meados da década de 50. Segunda afirmação da arquiteta e pesquisadora Lia (MAYUMI, 2008, p.23-24), nos primeiros anos do SPHAN seus diretores e técnicos tratariam tais edificações como de "casas velhas", e em alguns casos, a exemplo do Sítio Santo Antônio e em “analogia com as residências das classes rurais abastadas do Nordeste”, definindo-as como de "casas-grandes", como podemos observar no inventário de bens paulistas, de Mário de Andrade, encaminhado em 16 de outubro de 1937 ao Dr. Rodrigo Mello Franco de Andrade. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 14 distância” (ANDRADE, 1937, p.119). Ambas as construções seriam erigidas sobre embasamento de pedra, paredes em sua grande maioria de taipa de pilão e cobertura com telhas capa e canal, ocupando “um pequeno compartimento de vale situado em posição suspensa e em setor de perfil marcante assimétrico”, junto ao córrego “Boy-Poruçuguaba” (AB’SABER Apud KATINSKY, 1976, p.81). Imagem 03: Sítio Santo Antônio – fachada principal do conjunto anterior ao restauro Fonte: IPHAN 9ª SR/SP – Acervo Arquivo Fotográfico Este conjunto seria edificado no século XVII pelo sertanista capitão Fernão Paes de Barros 6 , sendo a construção da capela posterior à casa-grande em aproximadamente quatro décadas, mais precisamente em 16817, ano que segundo Mário de Andrade seria dada a provisão 6 Katinsky (1976, p.128-129) mencionara nas Notas do Capítulo 2: Descrição das casas e situação atual, o Auto de inventário de 18 de abril de 1714, de Fernão Paes de Barros, atribuindo o Sítio Santo Antônio como de propriedade do referido sertanista. O autor também citara que através da análise de demais documentações históricas disponíveis seria possível concluir que a casa-grande teria sido construída por volta de 1640. 7 A publicação elaborada por Carlos G. F. Cerqueira e José Saia Neto, intitulada Sítio e Capela de Santo Antonio: Roteiro de Visitas reconstruíra a história relativa à administração da capela confiada aos descendentes de Fernão Paes de Barros, desde sua constituição em 1681 até o período posterior à extinção do sistema de morgadio, vigente no Brasil até o ano de 1835. (CERQUEIRA; SAIA NETO, 1997) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 15 para a benção da capela pelo Dr. Francisco da Silveira Dias, protonotário apostólico do bispado de São Sebastião do Rio de Janeiro. (ANDRADE, 1937, p.120) Imagem 04: Sítio Santo Antônio – fachada posterior do conjunto anterior ao restauro Fonte: IPHAN 9ª SR/SP – Acervo Arquivo Fotográfico – gaveta 34, ficha 747 No período, a casa-grande ocuparia um volume de perímetro irregular com aproximadamente 25,00m de comprimento por 16,00m de profundidade, protegido por cobertura de três águas e apresentando fortes indícios de considerável descaracterização, pois prospecções da época apontariam para um edifício originalmente definido por uma fachada de 36,00m e ocupando um perímetro retangular. Esta diferença espacial seria fruto do desaparecimento de quatro ambientes na lateral esquerda e posterior do prédio. Em seu interior seria constada a criação de alvenarias posteriores ao desenho primitivo da construção, compartimentando e reduzindo as grandes dimensões dos ambientes originalmente idealizados. Externamente também encontraríamos reconfigurações de aberturas e fechamentos, inclusive na área que outrora definira o alpendre frontal da edificação, sendo este ambiente considerado como um dos traços característico deste grupo de edificações paulistas8. 8 Segundo pesquisas da historiadora Aracy (AMARAL, 1981, p.28-29), em seu livro A Hispanidade em São Paulo: da casa rural a capela de Santo Antônio, publicado em 1981, o fenômeno da casa bandeirista, com seus volumes __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 16 Já o edifício da capela, este seria definido por um corpo retangular de 9,10m de frente por 14,20m de profundidade, protegido por cobertura de duas águas formadas por panos de comprimentos assimétricos e anexados a torre sineira. Esta última apresentaria discreto descolamento em relação ao corpo principal e seria conformada por quatro paredes em pedra. Externamente, na plataforma de acesso à nave principal, não encontraríamos nenhum abrigo (alpendre), porém as estruturas e encaixes presentes indicariam que em período anterior elemento similar houvera existido. Imagem 05: Sítio Sto Antônio –casa-grande anterior ao restauro – área do alpendre descaracterizado Fonte: IPHAN 9ª SR/SP – Acervo Arquivo Fotográfico – gaveta 34, ficha 743 Posicionado entre estes edifícios e construído contiguo a edificação principal, encontravase uma terceira construção, de planta quadrada, 12,30x11,80m, apresentando-se já sem retangulares, de pequenas fenestrações e alpendre posicionado entre paredes laterais, que segundo sua definição teria o nome de corredores, não seria exclusividade do planalto piratiningano, pois sua tipologia seria constante em diversos países latinos americanos. Em seu trabalho a autora incluíra, além de imagens de edifícios similares encontrados em países vizinhos, o relato do arquiteto e historiador equatoriano Gustavo Borja, atribuindo a matriz desta tipologia a colonização espanhola: “essas casas, de planta quadrada ou retangular, são uma versão popular das casas da Andaluzia. De planta simétrica, corredores fronteiros (alpendre), amplos telhados de quatro águas, discreta fenestração”. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 17 cobertura e parcialmente em ruínas. Este edifício seria conhecido como a casa do Barão, pois teria sido construído e habitado pelo Barão de Piratininga no século XIX, fato este ratificado pela transcrição abaixo referente ao depoimento do Sr. Manuel Oliveira (ROSA, 1948), datado de 20 de setembro de 1948 e endereçado ao “Exmo Snr Dr. Luís Saia”. Visitando o sitio “Santo Antonio”, no dia 2 do corrente, tenho o imenso prazer de informar a Vª Exª que as obras de restauração da casa grande me parecem exatas, sobre tudo na parte da recomposição da ala, que destruída, o seu material aproveitado pelos Senhores João Venancio Fernandes e Euclides d´Oliveira. Tanto o telhado como os compartimentos e o alpendre estão atualmente do mesmo modo que eu os conheci em 1884. Nessa data, o Barão de Piratininga construiu uma casa nova entre a antiga e a capela, abrindo nessa ocasião uma porta para fazer ligação entre a construção nova e a antiga. As senzalas que existiam na frente da casa nova foram queimadas em 1887. Meus agradecimentos pelo modo carinhoso com que fui recebido no referido sitio no dia mencionado. Pedindo desculpas pelos erros e falta nestas informações, subscrevo-me. De Vª Exª or Attº adm. e aºobrgº a)Manuel Oliveira Rosa Sobre o destino dado as ruínas da Casa do Barão, por se tratar de um monumento constituído fora do plano do conjunto colonial original, seus “restos” não suscitariam grande interesse por parte dos diretores e técnicos do SPHAN que logo descartariam sua estrutura, exceção apenas às tentativas de serrar em grandes blocos os trechos das paredes de taipa remanescentes, com o objetivo de reaproveitá-los na reconstituição da porção já inexistente da casa-grande. Contudo, os procedimentos não alcançariam o resultado esperado, pois a composição e tipo de terra que conformavam as paredes não proporcionariam a estruturação adequada às peças, que facilmente se rompiam. (GONÇALVES, 2007, p.128-129) 2. A COLABORAÇÃO DE MÁRIO DE ANDRADE O trabalho inicial do processo de restauro no conjunto arquitetônico de São Roque, conduzido à distância por Lúcio Costa, teria o acompanhamento de seu futuro proprietário: o escritor, poeta e __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 18 musicólogo modernista Mário de Andrade, que ao longo da década de 30 participara ativamente das questões relativas ao patrimônio, material e imaterial, na busca de monumentos e símbolos tradicionais que dessem lastro ao espírito artístico-cultural e da própria identidade regional e nacional9 ou como definira a pesquisadora Cristiane Souza Gonçalves, “em busca pela produção artística genuinamente brasileira” (GONÇALVESa, 2007, p.176). Imagem 06: Sítio Santo Antônio – Mário de Andrade em visita ao local em 18 jan. 1945 Fonte: IPHAN 9ª SR/SP – Acervo Arquivo Fotográfico Em visita ao Sítio em 1937, juntamente com Paulo Duarte, Mário se encantaria com a propriedade, vindo a adquiri-la alguns anos depois, em 1944 (ROLIM, 2006, p.31), com o intuito de doá-la ao SPHAN após a sua morte. Entretanto, Mário estabelecera duas condições: a primeira 9 Segundo os estudos realizados pelo arquiteto e editor Abílio Guerra, em sua tese de doutorado: Lúcio Costa: modernidade e tradição – Montagem discursiva da arquitetura moderna brasileira (GUERRA, 2002, p.138-139), a proximidade do poeta Mário de Andrade com Capanema e seu ministério, “se deu, além da evidente indicação do amigo”, Carlos Drumond de Andrade, chefe do gabinete de Capanema, “ao fato, nada desprezível, de ser católico atuante”, o que certamente contava muito para Capanema. Guerra destacaria ainda que a identificação de Capanema ao modernismo estaria mais ligada “a tentativa de fazer do catolicismo tradicional e do culto de símbolos e líderes da pátria a base da mítica do Estado forte que se tentava construir”, do que ligado às preocupações de Mário de Andrade com as “raízes mais populares e vitais do povo”. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 19 seria o “usufruto em vida” e a segunda seria destinar o local “a um repouso de artistas brasileiros” (ANDRADE, 1981, p.184), fatos estes que não chegariam a ocorrer em virtude de seu precoce falecimento, em 25 de fevereiro de 1945, com apenas 51 anos de idade. Ainda assim, a vida profissional de Mário de Andrade seria marcada por diversas ações relacionadas ao patrimônio, desde a criação e direção do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo (DC) – 1935; o curso de Etnografia e Folclore ministrado por Lévi-Strauss e a fundação da Sociedade de Etnografia e Folclore (SEF) – ambos em 193610; a participação na criação do próprio SPHAN e o inventário de bens paulistas – ambos em 1937; e talvez a mais importante contribuição de Mário no âmbito do patrimônio: a idealização e organização da Missão de Pesquisas Folclóricas em 193811. Segundo Aurélio Eduardo do Nascimento e Vera Lúcia Cardim de Cerqueira, responsável pela publicação de parte dos apontamentos presentes nas “cadernetas de campo” utilizadas ao longo da referida Missão, este último importante projeto de Mário fora elaborado no sentido de “construir com rigor científico um conjunto documental sobre tradições culturais brasileiras que viabilizasse consultas e estudos com desdobramentos em variados campos do conhecimento e da criação artística” (CERQUEIRA, NASCIMENTO, 2010, p.07). Para este feito, Mário organizara um grupo composto por quatro pesquisadores e técnicos que percorreriam vasta área do território nacional, visando à seleção e o recolhimento de informações referentes à grande diversidade da 10 Segundo o Catálogo da Sociedade de Etnografia e Folclore produzido em 1993, após a realização do curso de Dina Lévi-Strauss, que contara com a participação de 54 estudiosos, dentre eles: Hélio Damante, Oneyda Alvarenga, Antonio Rubbo Muller, Luís Saia e Ernani Silva Bruno, e que tivera duração de 6 meses, em 4 de novembro de 1936, durante almoço de despedida da intelectual francesa, Mário de Andrade propõe a criação do Clube de Etnografia. No dia 2 de abril de 1937, durante as primeiras discussões sobre os objetivos e denominação, o primitivo Clube de Etnografia passa a denominar-se Sociedade de Etnografia e Folclore, tendo por finalidade “orientar, promover e divulgar estudos etnográficos, antropológicos e folclóricos”. Mário se tornaria presidente da referida instituição em reunião realizada em 20 de maio do mesmo ano, após aprovação dos primeiros estatutos. 11 Juntamente com Mário, Oneyda Alvarenga, então chefe da Discoteca Pública Municipal, teve importante papel na organização e orientação metodológica da Missão. Oneyda ainda teria sido a principal responsável pela organização do material no retorno da Missão, “que passou a integrar o acervo da Discoteca” (ROLIM, 2006, 58). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 20 cultura espontânea popular brasileira, já constatada pelo próprio escritor em suas andanças pelo país afora em períodos anteriores12. Imagem 07: membros Missão de Pesquisas Folclóricas – Ladeira, Pacheco, Saia e Braunwieser Teatro Santa Izabel – Recife – mar.1938 – Fonte: Discoteca Oneyda Alvarenga – CCSP Ao longo da Missão, seus pesquisadores efetuariam uma grande quantidade de apontamentos nas já mencionadas “cadernetas de campo”; além de coletar e adquirir diversos artefatos, instrumentos, cantigas e canções provenientes dos diversos locais visitados, utilizandose dos últimos recursos tecnológicos de captação de imagem e som disponíveis. Fazendo parte deste seleto grupo de pesquisadores, além de Martin Braunwieser, Benedicto Pacheco e Antônio Ladeira (TONI, 2010, p.28), encontrava-se a importante figura do ainda jovem e futuro engenheiro-arquiteto Luís Saia, uma vez que este somente se formaria na Escola Politécnica em 1948, após 16 anos de seu ingresso na instituição em 1932 (ROLIM, 2006, p.40). Ainda assim, Mário que acompanhara a evolução de Saia ao longo de sua participação no já citado curso etnográfico de Lévi-Strauss e no auxílio sobre a criação da SEF, o nomearia como 12 Aqui nos referimos à viagem de Mário de Andrade, planejada e realizada por conta própria ao nordeste do país, de dezembro de 1928 a fevereiro de 1929. “As fotos que tirou nessa ocasião continuam a dar a medida da sua sondagem cultural” (ANDRADE, 1981, p.10). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 21 chefe da Missão, deixando-o responsável pela coordenação das principais ações da equipe ao longo da expedição. Neste contexto, transcrevemos abaixo trecho do início de uma correspondência de Mário (ANDRADE, 1981, p.65) ao diretor Rodrigo Mello Franco de Andrade, datada de 06 de abril de 1937, e também presente na dissertação de Mariana de Souza Rolim, Luís Saia e a ideia de patrimônio – 1932-1975, onde a autora retratara as impressões do escritor paulista sobre o jovem estudante Saia e a possibilidade de “aproveitá-lo” se bem orientado. [...]Quanto à indicação dum indivíduo pro SPHAN matutei duas horas e depois mais tempo matutei diálogo com o Sérgio Melliet. É difícil...Me diga uma coisa: o fulano contratado, contrato precário, seis meses, quanto tempo? Pode-se retirar o cargo a qualquer momento? No caso de ser possível experimentar e não dando certo retirar o cargo, poderia propor um rapaz bastante inteligente, estudante de engenharia, dedicado à arquitetura tradicional, não passadista: Luiz Saia. Tem o defeito de ser integralista. Serviria havendo este complexo de inferioridade? Sei que é ativo e como vivo em contacto com ele, poderia orientá-lo bem. [...] Aqui, nos parece provável que os “Andrades”, Mário e Rodrigo, já buscassem um profissional com qualidades e habilidades específicas para coordenação da referida pesquisa, pois em função de seu importante cargo e a instabilidade política que se instalara no então período, o escritor de Macunaíma teria dificuldades em permanecer ausente de São Paulo. Por fim, suas preocupações não seriam em vão. Os reflexos advindos das mudanças políticas geradas pela instituição do Estado Novo, implementado através do golpe político de Getúlio Vargas no final de 1937, teriam como consequência direta o afastamento de Mário da direção do DC e o substancial corte de verbas sobre as ações do grupo de pesquisa, provocando a reformulação de seu roteiro de viagem e a concentração dos seus esforços na região nordeste: Pernambuco; Paraíba; Piauí; Ceará; e sobre duas localidades no norte do país, mais precisamente nos estados do Maranhão e Pará (ROLIM, 2006, p.58-59). Ainda assim, o resultado do trabalho de campo elaborado pelos seus quatro pesquisadores, através de sua coordenação, se consolidaria como um importante marco na __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 22 história da pesquisa cultural nacional, qualificando ainda mais os esforços empreendidos por Luís Saia e dando-lhe a experiência necessária para que pudesse assumir seus próximos importantes trabalhos e ações, desde a coordenação e elaboração de projetos de intervenções, à publicação de artigos. Nesta relação, destacamos o primeiro projeto de restauro do SPHAN no Estado de São Paulo sobre o conjunto jesuítico Nossa Senhora do Rosário, em Embú – 1939; seguido da publicação do artigo O alpendre nas capelas brasileiras, na revista nº 3 do SPHAN – 1939, o restauro da igreja de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, e a fortaleza de São João em Bertioga –1941-1942; a publicação do artigo Notas sobre a arquitetura paulista do segundo século, na revista nº 8 do SPHAN – 1944; até ser nomeado chefe do 4º Distrito do DPHAN em fins de janeiro de 194613, momento em que a regional paulista passaria a abranger a direção dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul14. Contudo, vale salientarmos, segundo esclarecimentos do arquiteto Victor Hugo Mori, em seu artigo 70 anos do Patrimônio em São Paulo (MORI, 2008, p.26-28), que Saia já seria o representante paulista legal do SPHAN desde fins de 1938, quando do afastamento de Mário do posto de Assistente Técnico do órgão federal, fruto dos desajustes políticos já mencionados. Na época, para ocupar seu lugar, o escritor modernista indicara o nome de Luís Saia ao diretor e amigo Rodrigo M. F. de Andrade que não acatara logo de início sua sugestão. Para Rodrigo, o jovem estudante Luís Saia era “imaturo demais para ocupar o lugar de um intelectual de peso de Mário de Andrade”. Todavia, Mário persistira na indicação, até que seu discípulo Luís Saia, após elaborar um pioneiro estudo acerca da “Aldeia Jesuítica de Carapicuíba”15, e depois de passar 13 Neste mesmo ano (1946), pelo Decreto-Lei nº 8.534, o Serviço PHAN seria transformado em Diretoria (DPHAN), nome este que permaneceria representando o órgão federal até 1970 (ROLIM, 2006, p.151). 14 A presente síntese dos trabalhos realizados por Saia fora extraída da exposição: Luís Saia: memória e política, realizada na Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos meses de fevereiro e março de 2013, idealizada e coordenada por Carlos Roberto Monteiro de Andrade (IAU/USP), Francisco Sales Trajano Filho (IAU/USP), Jaelson Bitran Trindade (IPHAN/SP), e Paulo Roberto Masseran (FAAC/UNESP). A referida exposição, apresentada em outras tantas instituições, celebraria o centenário de nascimento de Luís Saia, que se deu em 16 de outubro de 2011. 15 O referido trabalho, composto de aproximadamente 70 páginas, se encontra arquivado no Arquivo Documental da 9ª SR/IPHAN – Processo: Carapicuíba MTSP – Conjunto Arq. e Urb. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 23 pelo crivo do diretor Rodrigo, fora aceito como o novo Assistente Técnico, cargo que permaneceria até o seu falecimento em 1975. 3. LUÍS SAIA E LÚCIO COSTA Diante deste breve panorama conformado entre as décadas de 30 e 40, retornamos ao período de participação de Luís Saia como principal responsável, juntamente com a coordenação técnica do arquiteto Lúcio Costa e a direção geral de Rodrigo M. F. de Andrade, pela elaboração e acompanhamento no processo de restauração do Sítio Santo Antônio durante os anos de 19401947, período este que definiria a primeira fase dos trabalhos de intervenção no monumento. Imagem 08: Sítio Sto Antônio – imagem geral conj. durante segunda fase das intervenções – déc.60 Fonte: IPHAN 9ª SR/SP – Acervo Arquivo Fotográfico Uma segunda e também importante fase de intervenções seria realizada ao longo da década de 60, período em que seria realizada a “restauração das pinturas do forro policromado da Este trabalho seria mencionado pelo próprio Saia no livro Morada Paulista, de 1972, onde ele citara: “[...]trabalho exaustivo e cheio de erros – éramos tão inocentes e ignorantes em matéria de arquitetura tradicional que nem sabíamos o que não sabíamos...Nunca publiquei nem publicarei tal estudo, o qual tem estado à disposição dos estudiosos na sede do 4º Distrito. E tem sido usado não poucas vezes.” (SAIA, 2005, p.20) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 24 capela, bem como a constituição do lago e a instalação da casa do zelador”. Esta periodização seria definida por Cristiane Souza Gonçalves através do seu artigo: A experiência do Serviço de Patrimônio Artístico e Nacional em São Paulo: o caso do restauro do Sítio Santo Antônio, 19401947. (GONÇALVESa, 2007, p.172) Neste artigo a autora analisaria a primeira fase de intervenções no monumento, no sentido de buscar compreender as decisões tomadas por Luís Saia e os resultados obtidos no término do processo. Para isso, Gonçalves se utilizaria de relatórios, ofícios, cartas e consultas à sede do órgão no Rio de Janeiro, explicitando algumas análises, aprovações e questionamentos elaborados principalmente por Lúcio Costa, que como já apontado, seria o então consultor do órgão federal, mais precisamente o Diretor da Divisão dos Estudos e Tombamento, posto este abaixo apenas do Diretor Rodrigo e o ministro Capanema. Sobre este importante cargo ocupado por Costa, o mesmo lhe garantia o respaldo necessário para que suas opiniões fossem geralmente respeitadas e acatadas16, sendo fruto da experiência por ele adquirida através dos estudos e projetos realizados sobre o patrimônio, como o seu profundo entendimento acerca do barroco mineiro – reconhecido como uma das primeiras importantes manifestações artísticas de cunho nacional; a experiência da direção da Escola de Belas Artes, juntamente com o já reconhecido arquiteto modernista Gregori Warchavchik – 1930; o revolucionário projeto do edifício do MES, em conjunto com outros importantes arquitetos e a consultoria do mestre franco-suiço, Le Corbusier – 1936; a criação do Museu das Missões, no Rio Grande do Sul – 193717; o projeto para o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York – 16 Por vezes a centralização das decisões do SPHAN em Lúcio Costa seria questionada, como no artigo do professor Carlos Lemos, À procura da memória nacional, de 1993: “às vezes, O SPHAN não passava de uma irrepreensível repartição pública com decisões cariocas; outras vezes, não passava de aglomeração de delegacias regionais tomando decisões independentes, às escondidas, com medo que o doutor ‘Lucio ficasse com o nariz torcido’”. Aqui Lemos se referia ao artigo publicado por Antônio Luiz Dias de Andrade, em 1992, e intitulado O nariz torcido de Lucio Costa. LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. À procura da memória nacional. Memória. São Paulo, ano V, nº 17, 1993, p.24. Apud ROLIM, 2006, p.93) 17 No livro Arquitetura no Brasil: 1900-1990, o crítico de arquitetura Hugo Segawa destacara o trabalho de intervenção de Lúcio Costa como funcionário do SPHAN nas ruínas da missão jesuítica do século XVIII, em Santo Ângelo, RS. “O __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 25 1938/39; e o projeto do Grande Hotel de Ouro Preto – 1939, sendo estes últimos dois elaborados em parceria com Oscar Niemeyer. Em nosso objeto de estudo este processo pode ser novamente observado através de documentos onde Dr. Lúcio questionara e divergira acerca das definições tomadas por Saia, conforme ofício abaixo, de 22 de novembro de 1947 (COSTA, 1947), próximo ao término das obras de restauro referentes à primeira fase das intervenções. Apezar da lógica da argumentação do Dr. Luiz Saia e da documentação em que ele se baseia, considero inaceitável a divisão do vão do alpendre em seis lanços. Basta confrontar as fotografias 393 e 394, com 3 esteios apenas, com as fotografias 432 e 433, com cinco, para constatar que a solução original não pode de forma alguma ser esta ultima, que não se enquadra no ritmo geral da construção e mais parece escoramento provisório. Alias o exame mais demorado do problema leva a uma conclusão um tanto alarmante: sera que o Dr. Saia se equivocou, aceitando como primitivas as paredes que constituem um dos cantos extremos do alpendre, e fez a casa maior do que terá sido? É que a extranheza 18 provocada pela extensão desmedida da fachada se agrava quando se constata que, em planta, a disposição dos vãos do alpendre – porta e duas janelas equidistantes – parece indicar que, originalmente, o alpendre teria sido menor, redução que viria então restituir a fachada e ao alpendre as suas verdadeiras proporções. Em 22 de novembro de 1947 (a.) Lúcio Costa Diretor da Divisão de Estudos e Tombamento museu – construído em parte com elementos arquitetônicos remanescentes encontrados na região – e a casa do zelador integram-se inteligentemente ao conjunto monumental. Esta realização – uma referência do papel de Lúcio Costa na formulação de uma prática arquitetônica que integra o antigo com o moderno – caracterizou o arquiteto como um dos principais responsáveis pelo pensamento oficial do patrimônio histórico doravante”. (SEGAWA, 1998, p.80) 18 A citação de Lúcio Costa sobre sua “extranheza” frente às proporções da fachada da casa-grande do Sítio Santo Antônio, pode ser facilmente compreendida quando comparada com as proporções presentes nas demais casas bandeiristas, que em muitos casos contavam com fachadas de 18,00 a 20,00 m, e não 36,00 m como constatamos no monumento de São Roque. Este é o caso das fachadas da Casa do Butantã – 17,70 m; Caxingui – 19,30 m; Padre Ignácio – 20,00 m; e Mandu, também com 20,00 m, segundo descrições dos referidos monumentos presentes no livro de Julio Roberto Katinsky (KATINSKY, 1976, p.73-81). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 26 Imagem 09: Sítio Santo Antônio – fachada frontal casa-grande – 36,00m Fonte: Fausto Sombra, 2013 Imagem 10: Casa Mandu – Cotia – o contraste do comprimento da fachada – 20,00m, frente ao Sítio Fonte: Fausto Sombra, 2013 Em seu artigo, a pesquisadora Cristiane Souza Gonçalves já citara este ofício, inclusive ela incluíra um pequeno trecho da defesa de Saia transcrito de uma longa correspondência de quatro páginas, datada de 27 de novembro de 1947 (SAIA, 1947) e endereçada ao Dr. Rodrigo M. F. de Andrade. Nela, Saia esmiuçaria ponto a ponto os questionamentos levantados por Lúcio Costa, __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 27 inclusive frisando que teria confirmações verbais comprovando as dimensões e a concepção adotada entre as proporções do edifício e o alpendre restaurado. [...]Quanto ao fato do senhor Diretor da D.E.T se alarmar com a “extensão desmedida da fachada cabe-me apenas informar que so foram executados as bitolas irrecusáveis encontradas no proprio local. Neste sentido tenho procurado-e encontrado confirmação integral por parte de pessoas que conheceram a casa grande antes da demolição parcial. Mas ainda que não se tivesse esta especie de confirmação verbal estaria absolutamente seguro das medidas adotadas, pois todas o foram na base dos alicerces procurados e encontrados.[...] Saia seguiria defendo sua concepção acerca do restauro na página final do ofício. [...]Resumindo posso assegurar que as proporções da fachada e do alpendre são fieis...De fato, é impressionante uma fachada enorme de comprimento e tão pobre de pe-direito e cheios. Apenas duas pequenas janelas é tão pouco para uma extensão tão grande que faz a gente pensar em defender o cheio do alpendre a todo o transe. Estou nesta altura lembrando o clarissimo artigo Documentação Necessaria sobretudo no que se refere ás proporções de cheios e vasios nos edificios das diversas fases da arquitetura nacional.[...] Destes trechos, mais especificamente da primeira parte transcrita, podemos constatar que Luís Saia buscaria se defender e reforçar os seus argumentos com relação às questões colocadas por Lúcio, pois, conforme ilustrado inicialmente, encontra-se arquivado nas pastas do referido monumento, no escritório paulista do IPHAN, o depoimento do Sr. Manuel Oliveira Rosa, de setembro de 1948, ajudando a fortalecer a concepção compositiva adotada por Saia para a restauração do referido conjunto arquitetônico. Neste ponto, é importante destacarmos que a data de resposta de Saia ao Dr. Rodrigo seria anterior ao depoimento citado do Sr. Rosa em aproximadamente 10 meses, nos parecendo plausível supor que após ser questionado por Costa, o arquiteto paulista buscaria recolher as informações pertinentes que assegurassem suas convicções19. 19 Segundo Victor Hugo Mori, pesquisas realizadas em período posterior à direção de Luís Saia no órgão federal, já após o seu falecimento, revelariam o “Inventário dos Bens Religiosos e Confrarias-1833-1836”, arquivado no Dep. do Arquivo do Estado (Ind.: Maço 22 – Sala 10). Nele, encontraríamos o “Inventário da Capella de S.Antonio”, datado de __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 28 Também nos parece evidente que Saia não deixa de demonstrar sua postura de respeito e admiração frente aos seus superiores diretos, pois ainda que defenda suas prospecções e demais análises realizadas, Saia busca ser, de certa forma, conciliador quando da citação do artigo de Lúcio Costa, Documentação Necessária, publicado na Revista do SPHAN, nº 01, de 1937, demonstrando que não seria contrário ao seu superior, mas que apenas lhe parecia evidente que o referido monumento teria peculiaridades distintas em relação às demais casas até então estudadas. Imagem 11: Documentação Necessária – evolução dos vãos na arquitetura a partir do séc. XVII Fonte: COSTA, Lúcio. Registros de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995, p. 461. Já no parágrafo final da extensa defesa de Saia, conforme abaixo, o arquiteto paulista manteria sua postura frente à concepção de restauro adotada, concluindo seu pensamento com 1835 e atestado pelo Juiz Municipal Francisco Figueiredo Coimbra. Seu conteúdo comprovara as convicções e prospecções elaboradas por Luís Saia no processo de intervenção do referido bem, pois a descrição apresentada referente à casa-grande seria precisa em relação aos lanços do respectivo edifício: “Huma morada de cazas de quatro lanços, de taipa e cobertas de telhas, huma Capella do Santo com imagens a saber:”. Ainda segundo Victor Hugo Mori, este documento comprovaria a forma atípica e alongada do monumento, contrariando o padrão tipológico presente nas demais casas bandeiristas de taipa de pilão, reconhecidas por serem conformadas por apenas três lanços, com o alpendre central interligado a apenas uma sala na porção central da edificação, e não duas conforme no Sítio Santo Antônio. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 29 sua percepção positiva com relação à ambiência final do alpendre da edificação restaurada e comentando acerca dos inúmeros convites feitos ao Dr. Lúcio, para que finalmente fizesse uma visita a São Paulo e ao referido monumento arquitetônico. [...]Por último, não quero deixar de assinalar o meu sentimento pessoal do agenciamento: resultou um alpendre espaçoso e acolhedor. Muito maior do que as suas medidas podem sugerir por causa da plataforma que parece aumentar o seu tamanho e acentuar o ar acolhedor. Este é contudo uma impressão muito pessoal que eu teria o maior prazer em ver compartilhada pelo Dr. Lucio Costa, caso ele senhor Diretor da D.E.T quisesse aceitar o convite tantas vezes feito e repetido de fazer uma viagem a este Distrito. Atenciosamente, Luis Saia Chefe do 4º Distrito Sobre este ponto, na verdade Lúcio Costa não estivera em São Paulo não mais que duas vezes ao longo de toda sua vida, sendo este afastamento físico sobre o 4º Distrito do órgão federal reforçado pela transcrição de uma entrevista dada a Gonçalves pelo arquiteto José Saia, filho mais velho de Luís Saia. (GONÇALVESa, 2007, p.182) Vale ainda destacar, seguindo o raciocínio presente no artigo da referida pesquisadora, que outros posteriores estudiosos, assim como o próprio Lúcio o fizera, questionariam parte das soluções adotadas à intervenção do conjunto localizado no município de São Roque. Neste sentido a pesquisadora cita a hipótese levantada pela historiadora Aracy Amaral, defendida em seu livro, A Hispanidade em São Paulo: da casa rural a capela de Santo Antônio, publicado em 1981, onde a autora defendera que o alpendre frontal da capela se trataria de uma inserção posterior à construção original, ou seja, contrariando o pensamento de Saia no período. Este processo suscitaria questionamentos e desdobramentos diversos, como o desenho de analise realizado pelo sucessor de Saia no IPHAN, o arquiteto Antônio Luiz Dias de Andrade, o Janjão, que ao longo de sua direção no órgão, durante os anos de 1978-1994 (MORI, 2008, p.36), nos deixara importantes reflexões sobre as ações empreendidas nas primeiras décadas do órgão federal, sendo este então período definido pelo próprio Saia como “A Fase Heroica”. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 30 Imagem 12: Sítio Santo Antônio – desenho de análise de trecho da capela anterior ao restauro Fonte: IPHAN 9ª SR/SP – Acervo Arquivo Documental – autoria: Janjão Ainda sobre suas importantes reflexões, em 1992, Antônio Luiz Dias de Andrade publicaria o artigo na Revista Sinopse intitulado O nariz torcido de Lucio Costa (ANDRADE, 1992) onde o autor nos descreveria trechos relacionados ao “intenso debate entre os arquitetos Lúcio Costa e Luís Saia” durante as obras de restauração do já mencionado conjunto jesuítico de Nossa Senhora do Rosário, em 1939. Nele, Janjão citara a expressão utilizada por Saia durante uma exposição no curso de “Conservação e Restauração de Monumentos e Conjuntos Históricos”, em 1974, onde Lúcio Costa aceitara com “o nariz o torcido” as suas proposições frente à forma primitiva do telhado da sineira da referida Igreja. Para Saia a cobertura deste elemento seria com quatro águas e não duas conforme defendera Costa. No ano seguinte a esta publicação Janjão defenderia sua importante tese de doutorado, Um estado completo que pode jamais ter existido, com a orientação do amigo e professor Carlos Lemos. Nele o autor buscara demonstrar que os “restauradores modernistas do Patrimônio”, __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 31 através da ideologia de Lúcio Costa, seguiam a trajetória da “construção de uma história da arquitetura de caráter finalista, lógica e linear”, seguindo caminhos similares aos percorridos por outros importantes nomes do restauro, como “Viollet-le-duc e seus discípulos” na França (MORI, 2008, p.33). Este contexto intelectual nos ajudaria a compreender as oposições não menos acaloradas de outras gerações de estudiosos frente às análises e interpretações sobre as intervenções nos sítios históricos, principalmente sobre o tema relacionado ao universo das casas bandeiristas20. Imagem 13: Trecho da capa da tese doutorado de Janjão Fonte: ANDRADE, Antônio Luiz Dias de. Um estado completo que pode jamais ter existido. São Paulo: FAUUSP, 1993 Mesmo nesse sentido, em uma análise mais abrangente, podemos constatar através deste processo de chefia, e porque não, do trabalho em parceria de Lúcio Costa com o chefe da 20 No artigo originalmente publicado em 1999, no Jornal da Tarde, com o título: Um olhar sobre a arquitetura de morar paulista, referente à análise do livro Casa Paulista – 1999, de autoria do arquiteto Carlos Alberto Cerqueira Lemos, Hugo Segawa definiria de forma precisa as divergências entre o pensamento de Luís Saia e seus colegas, mais precisamente Lemos. Segawa defenderia que o tema retratado neste livro teria “uma ascendência direta nas inquietações que rondaram a estirpe fundadora do que hoje se chama Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional” e nos recorda que Saia teria sido o “instaurador de uma interpretação da habitação paulista”, enquanto que Lemos, de uma geração seguinte, “sem negar a contribuição de Saia”, desenvolveria uma nova interpretação destas questões com base nas fontes que formara o grupo de intelectuais em que Saia se desenvolvera na década de 30, ou seja, Mário de Andrade, Gilberto Freyre, Lúcio Costa, e outros não-arquitetos como Aracy Amaral. (SEGAWA, 2013). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 32 regional paulista e seu subordinado, Luís Saia, que o paradigma de intervenção que viera a se converter o referido Sítio seria referência para outras tantas ações empreendidas no meio do patrimônio nacional. Neste processo Lúcio assumira o seu caráter de comando frente ao SPHAN, já demonstrado em ocasiões anteriores. Aqui nos referimos à construção do Grande Hotel de Ouro Preto, onde, desde Nova York, durante o projeto do Pavilhão do Brasil na Feira Mundial, em 1939, e na companhia de Oscar Niemeyer, Dr. Lúcio enviara de volta ao Brasil o jovem e talentoso arquiteto para interferir no projeto de Carlos Leão, então elaborado “com forte teor neocolonial”, versão esta que seria “do agrado do diretor do SPHAN, Rodrigo M. F. de Andrade, e das autoridades mineiras”. (GUERRA, 2002, p.142-143) Também nos parece claro que a força de Lúcio Costa em torno do órgão federal e sua equipe técnica: Oscar Niemeyer, Carlos Leão, José de Souza Reis, entre outros, além das chefias regionais, como Luís Saia, formariam um grupo de profissionais e intelectuais coesos em torno de um pensamento comum, fazendo do Sítio Santo Antônio, conforme palavras do arquiteto e professor Victor Hugo Mori, “o mais belo monumento paulista sob a ótica da estética do modernismo”. Imagem 14: Sítio Santo Antônio – fachada da capela __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 33 Fonte: Fausto Sombra, 2012 4. RESSONÂNCIAS Imerso nesta linha de pensamento, tempos depois à primeira fase de intervenções no Sítio Santo Antônio, Luís Saia retomaria o tema referente ao paradigmático monumento, através de um artigo publicado na Revista de Engenharia Mackenzie nº 130, de agosto/setembro de 1956 (SAIA, 1956, p.37-42.), seguindo trecho abaixo transcrito. Nele, o já engenheiro-arquiteto paulista elaboraria seu discurso através da análise e analogia da capela do Sítio em São Roque e a Igreja de São Francisco de Assis, localizada em Pampulha e projetada por Oscar Niemeyer, a pedido de Juscelino Kubistchek no início da década de 40. [...] Nestas condições, quando acontece que um arquiteto altamente qualificado seja convocado para projetar um edifício de arte religiosa – o que é realmente raro – não é estranhavel que o projeto resultante signifique um rápido salto capaz de compensar a defasagem do gôsto corrente, ainda preso ao ecletismo e à repetição. A razão é relativamente simples: um arquiteto que tenha a sensibilidade em dia, e a cabeça no lugar, propõe a sua tese em termos consentâneos, não apenas quanto ao funcionalismo da peça – funcionamento necessariamente vinculado aos peculiares aspectos de técnica construtiva e de partido plástico. Estão neste caso tanto a capela que Oscar Niemeyer estudou para o conjunto da Pampulha como a igreja que Corbusier projetou para a localidade de Ronchamp.” Se recuarmos 275 anos, encontraremos em São Paulo, no município de São Roque, no sítio Santo Antônio, uma capela cuja contemporaneidade deve ter sido tão chocante, para época, quanto as citadas. Contemporaneidade traduzida nas modificações que introduziu e cuja acolhida foi responsável pela tradicionalização e popularização das soluções adotadas. Em que pesem, portanto, as diferenças de técnica e de partido plástico que separam a capela de Niemeyer e a do sítio Santo Antônio, ambas se assemelham no partido geral, na sua validade revolucionária e, especialmente, pelo fato de se enraizarem profundamente na época, nas regiões. Na cultura que as propiciou e nas intenções das comunidades que assistiram seus nascimentos. De fato, a capela paulista, que data de 1681, representou, ao que tudo leva acreditar, uma profunda inovação nas construções religiosas de então. Tendo vasado a fachada da principal – aproveitando para isso da proteção do alpendre que era então corrente nas capelas paulistas...Na opinião autorizada de Lúcio Costa a talha desta pequena capela seiscentista representa uma das primeiras manifestações da arte brasileira...Tudo leva a acreditar, enfim, que o arquiteto desta capela do sítio Santo Antônio tenha rompido uma __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 34 linha de tradição existente, creando novas perspectivas para a arquitetura das pequenas capelas da época bandeirista. Imagem 15: esquerda: fachada capela Sítio Sto Antônio anterior ao restauro – direita: Igreja da Pampulha Fonte: Artigo Arquitetura – Luís Saia – 1956 Em uma rápida análise cronológica, podemos identificar que a concepção da Igreja da Pampulha seria contemporânea à primeira fase das intervenções no Sítio Santo Antônio. Parece assim possível estabelecermos à relação direta entre os esforços aplicados por Lúcio Costa, na coordenação das obras de restauro do Sítio em parceria com Luís Saia, e os trabalhos de Niemeyer empreendidos no próprio órgão federal, ou seja, que o material que Lúcio manipulara acerca do Sítio paulista seria provavelmente de conhecimento de Niemeyer. A própria existência da capela do Palácio da Alvorada, em Brasília, teria suas raízes na arquitetura colonial nacional. De certo, baseado no panorama apresentado, nos parece correto afirmarmos que Costa seria a ponte de conexão acerca de um grande numero de ações de caráter arquitetônico e artístico-cultural, praticados em diversos sítios nacionais em meados do século passado, desde as primeiras obras-primas realizadas pelo ainda jovem gênio carioca Oscar, até os inúmeros estudos acerca do patrimônio histórico arquitetônico, onde Luís Saia, um dos principais e mais atuantes articuladores paulista até meados dos anos 70, dedicara grande parte de sua vida. Agradecimentos. Prof. Abílio Guerra Prof. Victor Hugo Mori e Carlos Gutierrez Cerqueira Prof. Carlos Roberto Monteiro de Andrade e Jaelson Bitran Trindade Anita Hirschbruch e Eduardo Miranda Siufi – 9ª SR/IPHAN __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 35 Wilma Martins de Oliveria – CCSP – Centro Cultural São Paulo Imagem 16: Sítio Santo Antônio – imagem do conjunto arquitetônico Fonte: Fausto Sombra, 2013 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AMARAL, Aracy A.. A Hispanidade em São Paulo: da casa rural a capela de Santo Antonio. São Paulo: Nobel: Editora da Universidade de São Paulo, 1981. ANDRADE, Antônio Luiz Dias de Andrade. O nariz torcido de Lucio Costa. Sinopses. São Paulo: nº18, dez. 1992. ANDRADE, Mário de. A capela de Santo Antônio. Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro:1937, nº01. ANDRADE, Mario. Mário de Andrade: cartas de trabalho. Correspondências com Rodrigo Mello Franco de Andrade (1936-1945). Brasília: Secretária do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: Fundação PróMemória, 1981. CERQUEIRA, Carlos G. F., SAIA NETO, José. Sítio e Capela de Santo Antonio: Roteiro de Visitas. São Paulo: 9ª Coordenadoria Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1997. CERQUEIRA, Vera Lúcia Cardim de, NASCIMENTO, Aurélio Eduardo do. Um trabalho de equipe. Missão de Pesquisas Folclóricas: cadernetas de campo. (org. Vera Lúcia Cardim de Cerqueira). São Paulo: Associação Amigos do Centro Cultural, 2010. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 36 COSTA, Lúcio. 1947 – 22/nov. Informação nº 181 em que Lúcio questiona as análises e ações de Luís Saia no processo de restauro do Sítio Santo Antônio. Processo: São Roque – MTSP – Casa do Sítio Sto Antonio e a capela que lhe é anexa. Pasta: Pt00586 / 0214-T-39 / 162 Folhas / P2, IPHAN 9ª SR/SP. GONÇALVES, Cristiane Souza. Restauração Arquitetônica: a experiência do SPHAN em São Paulo, 19371975. São Paulo: Annablume, Fapesp 2007. GONÇALVESa, Cristiane Souza. A experiência do Serviço de Patrimônio Artístico e Nacional em São Paulo: o caso do restauro do Sítio Santo Antônio, 1940-1947. Revista Pós. São Paulo: nº21, 2007. GUERRA, Abílio. Lúcio Costa: modernidade e tradição – Montagem discursiva da arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Tese (Doutorado – orientador: profª. Dr. Maria Stella Martins Bresciani) – IFCH Unicamp, 2002. KATINSKY, Julio Roberto. Casas Bandeiristas: Nascimento e reconhecimento da arte em São Paulo. São Paulo: (orientador: Flávio Motta) IGEOG–USP, Série Teses e Monografias, 1976, nº26. MAYUMI, Lia. Taipa canela-preta e concreto: estudo sobre o restauro de casas bandeiristas. São Paulo: Romano Guerra, Coleção Olhar Arquitetônico, 1ª ed., 2008. MORI, Victor Hugo. 70 anos do Patrimônio em São Paulo. Patrimônio: 70 anos em São Paulo. (org. Marise Campos de Souza / Rossano Lopes Bastos). São Paulo: 9ª SR/IPHAN, 2008. ROLIM, Mariana de Souza. Luís Saia e a ideia de patrimônio – 1932-1975. São Paulo: Dissertação (Mestrado em Arquitetura – orientador: prof. Dr. Carlos Guilherme Motta) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2006. ROSA, Manuel Oliviera. 1948 – 20/set. Correspondência endereçada a Luís Saia comprovando composição arquitetônica adotada no restauro do Sítio Santo Antônio. Processo: São Roque – MTSP – Casa do Sítio Sto Antonio e a capela que lhe é anexa. Pasta: Pt00586 / 0214-T-39 / 162 Folhas / P2, IPHAN 9ª SR/SP. SAIA, Luís. 1947 – 22/nov. Trecho da página 03 do ofício Of. 239/47 de 04 páginas, endereçado ao Diretor Geral do SPHAN – Rodrigo Mello Franco de Andrade onde Luís Saia responde as questões levantadas por Lúcios Costa no ofício “Informação nº 181”. Processo: São Roque – MTSP – Casa do Sítio Santo Antônio e a capela que lhe é anexa. Pasta: Pt00586 / 0214-T-39 / 162 Folhas / P2, IPHAN 9ª SR/SP. SAIA, Luís. Arquitetura. São Paulo: Revista de Engenharia Mackenzie, nº130, 1956. SAIA, Luís. Morada Paulista. São Paulo: Editora Perspectiva – 3ª ed. – 1ª reimp., 2005. SEGAWA, Hugo. Arquitetura no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1998. SEGAWA, Hugo. Casas Vetustas. In: www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/01.001/3260. Acessado em: 15/04/2013. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 37 TONI, Flávia Camargo. As Cadernetas da Missão de Pesquisas Folclóricas. Missão de Pesquisas Folclóricas: cadernetas de campo. (org. Vera Lúcia Cardim de Cerqueira). São Paulo: Associação Amigos do Centro Cultural, 2010. 1 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL DE SÃO PAULO RESUMO O presente trabalho tem objetivo de analisar a reabilitação de edifícios para habitação de interesse social, a luz dos marcos legais, Constituição de 1988 e Estatuto da Cidade. O foco da pesquisa é a região central do município de São Paulo, neste cenário, serão avaliadas as políticas habitacionais desde a gestão Luiza Erundina, iniciada em 1989, pós-constituição, marcada pela reabilitação de edifícios na região central por meio do Programa de Cortiços, passando pela gestão de Paulo Maluf e Celso Pitta, período de descontinuidade à política habitacional de interesse social na região central, bem como sua retomada, na gestão de Marta Suplicy, amparada legalmente pelo Estatuto da Cidade em âmbito federal e pelo Plano Diretor Estratégico de São Paulo, aprovado em 2002. As políticas habitacionais analisadas nas periodizações acima descritas terão como foco a reabilitação de edifícios para promoção de habitação de interesse social na região central de São Paulo. Reabilitado por meio do Programa de Arrendamento Residencial (PAR), o edifício Maria Paula, tombado pelo patrimônio municipal será o exemplo demonstrado, por localizar-se na região central, e ser destinado á famílias com renda até 03 salários mínimos. Palavras-chave: Habitação de Interesse Social, Reabilitação de Edifícios, Região Central ABSTRACT This study aimed to analyze the rehabilitation of buildings for social housing, focusing legal framework , the 1988 Constitution and the “Estatuto da Cidade”.The focus of the research is the São Paulo’s downtown. This scenario , will be analyzed housing policies from the management Luiza Erundina , started in 1989 , post constitution , for buildings rehabilitation in the downtown through the “Programa de Cortiços”. After, management of Paulo Maluf and Celso Pitta period of discontinuity policy of social interest housing in the downtown, as well the return with Marta Suplicy managing, between 2000-2004 , legally supported by the “Estatuto da Cidade” in the federal scenario and the Strategic Plan São Paulo approved in 2002 . Housing policies analyzed in periodization described above will focus on the rehabilitation of buildings for promotion of social housing in Sao Paulo’s downtown. Rehabilitated through “Programa de Arrendamento Residencial” ( PAR ) , the Maria Paula’s building, will be listed by the example shown , because it is located in the central region , and will be for families with income up to 03 minimum salary . Key words: Social Housing, buildings rehabilitation, downtown 39 REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL DE SÃO PAULO Fernanda Amorim Militelli 1 INTRODUÇÃO Em 1988 com a promulgação da nova Constituição entraram em vigor dispositivos específicos para guiar os processos de desenvolvimento territorial e determinar as condições de gestão urbana. Parte do capítulo constitucional foi escrito com base na emenda popular da reforma urbana, que tinha sido formulada, discutida, disseminada e assinada por mais de 100.000 organizações sociais e indivíduos envolvidos no Movimento Nacional de Reforma Urbana2, (SAULE, 2001). Essa emenda propunha o reconhecimento constitucional dos seguintes princípios gerais: autonomia do governo municipal, gestão democrática das cidades, direito social à moradia, direito à regularização de assentamentos informais consolidados, função social da propriedade urbana e combate à retenção especulativa do solo urbano, neste diapasão, inicia-se em 1989, o primeiro período de análise, marcado pela gestão municipal de Luiza Erundina. 1 Arquiteta e Urbanista. Pós Graduação em Gestão Ambiental, Especialização em Direito Urbanístico, Mestranda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Mackenzie. Rua da Consolação, 930. Tel. (11) 2114-8000. email: [email protected] 2 A trajetória do Movimento Nacional de Reforma urbana é explanada por SAULE, N. e UZZO, K. A trajetória da reforma urbana no Brasil. Disponível em http://base.d-p-h.info/pt/fiches/dph/fiche-dph-8583.html. Acesso em 04 de out. de 2013. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 40 1. POLÍTICA HABITACIONAL NA REGIÃO CENTRAL DE SÃO PAULO: 1989 A 2004. 1989 A 1993: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA CENTRAL DE SÃO PAULO: PRIMEIROS PASSOS. Em São Paulo pela primeira vez, a gestão municipal iniciada em 1989, foi norteada pelo principio constitucional da função social da propriedade e da cidade, priorizando a política habitacional e a implementação da habitação de interesse social por mutirão autogerido. (ARANTES, 2004) . Além do êxito obtido pela autogestão3, a gestão municipal entre 1989 e 1993 destacou-se por colocar em pauta a concepção de habitação de interesse social em áreas centrais da cidade, (BONDUKI, 2000). Na gestão de Luiza Erundina (1989 – 1993) pela primeira vez foi possível colocar em prática experiências de reabilitação de edifícios na região central da cidade, destinados á Habitação de Interesse Social para os moradores de cortiços. (PASTERNAK, 2007) O Programa de Cortiços desenvolveu duas vias de intervenção nas áreas centrais, uma baseada em compra e desapropriação de imóveis pelo poder público para implantação de projetos habitacionais, e outra baseada na autogestão que fundamentava-se em financiamento público através do Funaps (Fundo Nacional de Habitação) para as associações comunitárias, constituídas por famílias moradoras de cortiços, adquirirem os imóveis deteriorados e promoverem sua reforma ou reconstrução, (BONDUKI, 2000). O mutirão Celso Garcia como prática bem sucedida, o projeto executado na região central da cidade, além de reabilitar um casarão do século XIX para atividades culturais, promoveu 3 Bonduki (2000) explica que o mutirão autogerido é baseado na organização autônoma da sociedade civil, apoiado e financiado pelo poder público, proporciona a produção de novas moradias com introdução de avanços tecnológicos e sociais, proporcionando resultados positivos em relação á qualidade arquitetônica, baixo custo e menores prazos de execução. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 41 habitação de interesse social e equipamentos sociais por meio de mutirão autogerido. Este projeto atendeu tanto a população moradora do cortiço (localizado anteriormente no casarão) quanto à população dos cortiços do entorno. Este projeto foi emblemático por ressaltar a questão do direito à cidade, demonstrado pela permanência da população de baixa renda na região central de São Paulo, (BONDUKI, 2000). 1993 A 2000: DESCONTINUIDADE A prática de mutirão e reabilitação de cortiços foi descontinuada no período marcado entre 1993 e 2000, que priorizou a construção de edifícios de apartamentos por métodos convencionais4, (ARANTES, 2004). Em janeiro de 1993, quando Luiza Erundina transferiu para Paulo Maluf a administração de São Paulo, estava em andamento o maior programa habitacional promovido pelo município em toda sua história, e que foi interrompido pelo novo prefeito. Quase duzentos empreendimentos - incluindo a construção de milhares de unidades habitacionais em mutirão, urbanização de favelas, intervenções em cortiços e outros programas - ficaram paralisados, gerando grande prejuízo para prefeitura (BONDUKI, 2000, p.98) Em relação à política habitacional nas áreas centrais, a gestão de Maluf (1993-1997) não apresentou propostas consistentes. A atuação na área central foi marcada pela criação do Programa de Requalificação Urbana e Funcional do Centro de São Paulo (Procentro), que entre as ações iniciais previa basicamente recuperação de fachadas, empenas cegas, regulamentação para anúncios, implantação de equipamentos e mobiliário urbano, (DIOGO, 2004) Entre 1997 e 2000, anos marcados pela gestão de Celso Pitta, a política habitacional na região central da cidade foi pontuada pela divulgação do Projeto HabiCentro, com diretrizes vinculadas 4 Programa de Verticalização de Favelas – “Cingapura” __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 42 a promoção de projetos habitacionais para classe média, operação cortiço, projeto terceira idade e projeto residencial estudantil, (DIOGO, 2004). A Unificação das Lutas de Cortiços (ULC) e o Fórum dos Cortiços reivindicaram ao Procentro um plano com projeto que abarcava 24 edifícios novos, 10 reformas e 08 reabilitações. Entre as reabilitações está o edifício Baronesa Porto Carrero, com 32 unidades habitacionais. Em 1997 foi instituída, pela Lei nº 12.349, a Operação Urbana Centro (OUC) que em relação ao viés habitacional, previa a construção de novas habitações e incentivo a recuperação de prédios públicos existentes na área central, porém sem enfatizar a questão Habitação de Interesse Social. DE 2001 A 2004: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA REGIÃO CENTRAL DE SÃO PAULO: NOVAS PERSPECTIVAS Em 2001, concomitante ao início da nova gestão municipal foi promulgada a Lei Federal n° Lei Federal n° 10. 257, que instituiu o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade renovou e criou uma série de instrumentos jurídicos, urbanísticos e fiscais, que podem ser utilizados pelas administrações municipais, especialmente no âmbito dos Planos Diretores, a fim de regulamentar, induzir e reverter a ação dos mercados de terras e propriedades urbanas, de acordo com os princípios de inclusão social e sustentabilidade ambiental. Estes instrumentos podem e devem ser utilizados de maneira combinada, visando não apenas regular os processos de uso e desenvolvimento do solo, mas especialmente de induzi-los de acordo com um “projeto de cidade”, expresso, sobretudo, a partir dos planos diretores. (ROLNIK, 2001). Neste contexto, a política habitacional na região central vinculada a gestão municipal iniciada em 2001 foi caracterizada, em 03 frentes, (DIOGO, 2004). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 43 A primeira delas consiste no Plano Reconstruir o Centro, que definiu diretrizes com ênfase na habitação, viabilizado por meio do programa Morar no Centro. A segunda frente foi representada pelo Plano de Reabilitação da Área Central (Ação Centro), viabilizado por com financiamento do BID e gerenciado pela EMURB, posteriormente englobou o Procentro e o Programa Morar no Centro. A terceira e última frente foi marcada pela aprovação do Plano diretor estratégico (PDE), em 2002, e pelo o Plano Municipal de Habitação, que em relação á política habitacional nas áreas centrais, definiu as Zonas Especiais de Interesse Social 3 5 , que embasaram juridicamente a implementação dos planos que visam a promoção de habitação de interesse social na região central. PROGRAMA MORAR NO CENTRO O Programa Morar no Centro, pautou sua proposta estruturada em 3 modalidades de intervenção urbana, os Perímetros de Reabilitação Integrada do Habitat (PRIH), os Projetos habitacionais em terrenos ou edifícios vazios e os Projetos Especiais (Requalificação da Foz do Tamanduateí Parque do Gato e Reabilitação do Edifício São Vito). Estas intervenções preveem atendimento habitacional, de forma isolada ou combinada, das seguintes modalidades: locação social, bolsa aluguel, moradia transitória, programa e intervenção em cortiços e Programa de Arrendamento Residencial (PAR), no qual é enquadrada a reabilitação de edifícios com ênfase na habitação de interesse social, (DIOGO, 2004) 5 De acordo com o PDE, ZEIS 03 podem ser definidas como: áreas com predominância de terrenos ou edificações subutilizados situados em áreas dotadas de infraestrutura, serviços urbanos e oferta de empregos, ou que estejam recebendo investimentos desta natureza, onde haja interesse público, expresso por meio desta lei, dos planos regionais ou de lei especifica, em promover ou ampliar o uso por Habitação de Interesse Social - HIS ou do Mercado Popular HMP, e melhorar as condições habitacionais da população moradora. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 44 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR O Programa de Arrendamento Residencial consistiu em um convênio assinado pela Prefeitura Municipal e Caixa Econômica Federal (CEF), que visava o financiamento para a reabilitação de edifícios, indicados pela Secretaria de Habitação ou pelos movimentos de moradia, com finalidade de habitação de interesse social. O atendimento era destinado à famílias com renda entre 04 a 06 salários mínimos, com financiamento previsto em 15 anos, com opção de compra do imóvel ao final do período. Para financiamento, entre outros, a CEF exigia que o empreendimento estivesse localizado em área com infraestrutura consolidada, próxima a transportes públicos, além da regularização jurídica do imóvel, laudo estrutural, orçamento detalhado e cronograma físico financeiro. De acordo com a PMSP (2004), as exigências relacionadas à regularização jurídica do imóvel, a negociação para compra do imóvel frente à especulação imobiliária no centro de São Paulo, a falta de mão de obra especializada para reabilitação dos edifícios, foram alguns dos obstáculos presentes neste tipo de iniciativa, (DIOGO, 2004). Até 2006 o PAR deveria permitir a produção de 1.523 unidades habitacionais até o final de 2006. Em 2004, 464 unidades habitacionais distribuídas por 05 edifícios reabilitados haviam sido entregues: Rizkallah Jorge (167 Unidades Habitacionais), Fernão Sales (54 Unidades Habitacionais ), Celso Garcia (84 Unidades Habitacionais), Brigadeiro Tobias (84 Unidades Habitacionais) e Maria Paula (75 Unidades Habitacionais), (PMSP, 2004), que será objeto de análise. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 45 6 Figura 01 : Maria Paula 75 UH’s 2. REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: MARIA PAULA Concebido em 1941, o edifício Maria Paula foi projetado para abrigar habitações de alto padrão. Implantado em terreno com 500m² (aproximadamente 20,60m x 24,26), conta com 13 pavimentos e 01 subsolo, totalizando 3.910m² de área construída, com 7,82 de coeficiente de aproveitamento. Projetado pelo Escritório Técnico A. B. Pimentel, o edifício apresentava equipamentos coletivos no subsolo, comércio no térreo, dois elevadores e escada para o acesso às residências, configuradas por um apartamento por andar (com aproximadamente 250m²) nos pavimentos superiores. Devido ao esvaziamento do centro da cidade na década de sessenta para outros vetores de expansão, aliado à ausência de garagens, acarretou na desocupação do edifício, que permaneceu vago até 1997, data da ocupação da edificação por integrantes do movimento fórum de cortiços, (SALCEDO e JOBOJI, 2006). 6 Fonte: Autora __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 46 Em 2002, o edifício foi tombado pelo COMPRESP, por meio da resolução 22/2002 (anexo 1), com Nível de Preservação 3 (NP3), que versa sobre a preservação parcial do bem tombado, com manutenção das características externas e ambiência e coerência com os imóveis vizinhos. Neste cenário, visando à reabilitação do centro de São Paulo, a preservação e recuperação do patrimônio e o atendimento da demanda habitacional (Programa Morar no Centro), a Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF), por meio do Programa arrendamento residencial (PAR), adquiriu o edifício da Rua Maria Paula, para reabilitação a promoção de habitação de interesse social de famílias com renda entre três a seis salários mínimos, (SALCEDO e JOBOJI, 2006). No convênio estabelecido entre a PMSP e CEF, coube à Prefeitura adquirir o imóvel, reduzir custos e prazos para licenciamento e isentar o IPTU, a CEF por sua vez, foi responsável por destinar os imóveis à demanda indicada pela municipalidade, repassar os subsídios municipais para os arrendatários e garantir o cumprimento dos critérios relativos à inserção urbana e infraestrutura. As obras da reabilitação levaram dois anos com custo de $ 1.980.596, 69 (Média de R$ 26. 408,00 por Unidade Habitacional (SALCEDO,2007), o projeto contou com 05 tipologias distintas, totalizando 75 unidades habitacionais, conforme indicado na tabela 01. Por ser um edifício tombado a fachada foi recuperada e mantida conforme projeto original. Os caixilhos foram tocados e as janelas arredondadas recuperadas. A estrutura original do edifício de concreto armado e as vedações de bloco cerâmico, permaneceram. A circulação foi ampliada em estrutura metálica e as divisões internas concebidas em bloco cerâmico, o telhado foi substituído e os elevadores recuperados. (JESUS, 2008). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 47 Localização Rua Dona Maria Paula, 161 - Bela Vista/SP Programa PAR Uso inicial Habitação de Alto Padrão (11 Uh’s com aproximadamente 250m² cada) Unidades Propostas 75 Uh's Início das Obras mai/01 Entrega da Obra dez/03 36 Uh’s – Ambiente Multiuso, cozinha e banheiro (Áreas entre 38,19 e 40,03m² ) 02 Uh’s - Ambiente Multiuso, cozinha e banheiro (unidades adaptadas para deficientes- 53,36m²) Tipologias 24 Uh’s Ambiente multiuso e banheiro (Áreas 25,73 e 26,43m²) 12 Uh’s - Ambiente multiuso , copa, cozinha e banheiro (48,54m²) 01 Uh’s – 02 dormitórios, sala, cozinha, depósito e banheiro Equipamentos Lavanderia Coletiva Coletivos Propostos Custo Salão de Festas/Reuniões R$ 1.980.596, 69 (Média de R$ 26. 408,00 por Uh) 7 Tabela 01 : Síntese do Projeto de reabilitação do edifício Maria Paula 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS O exemplo da reabilitação do edifício Maria Paula para habitação de interesse social na área central foi uma referencia para otimização de custos em relação á obra civil, pois acordo com dados do SINDUSCON, em 2004 o custo por m² para um edifício de 12 andares de padrão popular era de R$592,00/m², o custo da reabilitação do edifício Maria Paula foi de R$ 506,54/m² e o custo com infraestrutura urbana nulo , haja vista que edifício esta localizado no centro de São Paulo. 7 Elaborada pela autora com base em dados de: Beraldes, 2009 e Salcedo, 2007 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 48 O diferencial deste projeto vai além da redução de custos, perpassa pela como recuperação de imóvel tombado, patrimônio arquitetônico da cidade, redução de uso de matéria prima para obra, minimizando impactos ambientais, entre outros. Contudo, o maior expoente desta iniciativa não são as vantagens econômicas, patrimoniais, arquitetônicas, urbanísticas ou ambientais, e sim a inclusão de população de baixa renda na área central, com acesso a infraestrutura urbana e à urbanidade, validando o principio constitucional da função social da propriedade e da cidade. REFERÊNCIAS ARANTES, P. F. Reinventando o canteiro de obras. In: Elisabeta Andreoli; Adrian Forty. (Org.). Arquitetura moderna brasileira. 1 ed. London: Phaidon, 2004 BIANCHIN, L.H e SCHICCHI, M.C . Cortiços no centro de São Paulo: Um convite à permanência. Cuadernos de vivienda y urbanismo. Vol. 2, No. 3, 2009: 12 – 37 BERALDES, D.C. Gestão, Pós Ocupação em edifícios reabilitados para Habitação de Interesse Social no centro de São Paulo. 2009. 165f. Dissertação de Mestrado. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, 2009 BONDUKI, N. Habitar São Paulo: Reflexões sobre a gestão urbana. São Paulo, Estação Liberdade: 2000. DIOGO, E.C.C. Habitação Social no Contexto da Reabilitação Urbana na Área Central de São Paulo. 2004. 174f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2004. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 49 JESUS, C.R.M. Análise de Custos para Reabilitação de Edifícios para Habitação. 2008.194f. Dissertação de Mestrado. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, 2008. PASTERNAK, S. Favelas e Cortiços no Brasil: 20 anos de Pesquisas e Políticas. São Paulo, LAP: 1997 ROLNIK, R. e SAULE, N. (org.). Estatuto da Cidade: Guia para Implementação pelos municípios e cidadãos. Brasília, DF, 2001. SALCEDO, R;F.B. Documentação e Análise da Reciclagem e Requalificação dos Edifícios Maria Paula, Riskallah Jorge e Brigadeiro Tobias no Centro Histórico de São Paulo. In 7° Seminário O moderno já passado/o passado no moderno, 2007 , Porto alegre. Anais. Porto Alegre: Docomomo Brasil , 2007. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/153.pdf>. Acesso em 24 set.2013 SALCEDO, R;F.B. e JOBOJI, D. Programa de Arrendamento Residencial (Par): Reabilitação do Edifício Residencial Maria Paula, Centro Histórico de São Paulo (Brasil). In VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDIFICACIÓN. 2006, Buenos Aires. Anais. Buenos Aires: Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, 2006. Disponível em: <http://www.cicopar.com.ar/congreso/participacion.htm>. Acesso em: 24 set.2013 SÃO PAULO (Município). Lei n° 12.349, de 06 de julho de 1997. Estabelece programa de melhorias para a área central da cidade, cria incentivos e formas para sua implantação, e dá outras providências. Disponível em: __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 50 <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/opera coes_urbanas/centro/index.php?p=19620 >. Acesso em: 22 set. 2013. ______. Lei n° 13.430, de 13 de setembro de 2002. Dispõe sobre o Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/legislacao/plano_dire tor/index.php?p=1386>. Acesso em: 25 mai. 2013 _____.Balanço Qualitativo da Gestão 2001 - 2004. Secretaria da Habitação de São Paulo e Companhia Metropolitana de Habitação ode São Paulo, 2004. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 AVALIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO LEED PARA EDIFÍCIOS REVITALIZADOS NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO CASO DE ESTUDO: EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL RESUMO O objetivo deste artigo é avaliar a possibilidade de, em se revitalizando e modernizando edifícios, mesmo sendo históricos de centros urbanos em especifico no centro do Município de São Paulo, chamado neste artigo de “Centro Velho”, torná-los sustentáveis de acordo com os padrões estabelecidos pelo processo de Certificação LEED. Palavras-chave: Certificação LEED, Reabilitação e Requalificação de Edifícios, Centro Cultural Banco do Brasil/SP. ABSTRACT The aim of this paper is to evaluate the possibility, if in revitalizing and modernizing buildings, even though historical urban centers in specific the center of São Paulo, called this article "Old Downtown", make them sustainable in accordance with the standards set by the LEED Certification process. Key words: LEED certification, Rehabilitation and Upgrading of Buildings, Centro Cultural Banco do Brazil / SP. 52 AVALIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO LEED PARA EDIFÍCIOS REVITALIZADOS NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO CASO DE ESTUDO: EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL 1. Msc. Gabriel Claude Joseph Daou 1 Dr. Carlos Leite de Souza 2 INTRODUÇÃO O debate em volta da reabilitação e requalificação de centros urbanos, embora já bastante explorado em diversos trabalhos e artigos acadêmicos, ainda apresenta novas facetas a cada novo olhar, embora quase sempre com o olhar voltado para a necessidade de políticas públicas por parte do ente municipal. Porém, é importante para este artigo definir que, dentro do que se chama de requalificação urbana, adotou-se o sentido de renovação e revitalização definidas por Yazigi (2005, p.83): “A renovação é sempre precedida de demolição de edifícios ou conjuntos; a revitalização é a operação que muda a função do edifício ou do espaço urbanístico,...” e da definição de requalificação que Yazigi (2005, 85) define como “a requalificação se impõe muito mais no âmbito da totalidade urbana (renovações e revitalizações): ela sugere uma ideia mais abrangente, um conjunto de operações que a distingue das outras”. Bomfim (2004, p.45) aborda que, ao trabalhar a questão da vacância de imóveis no centro histórico de São Paulo, a renovação/recuperação ou requalificação de áreas centrais passa necessariamente por políticas de reabilitação das futuras gestões municipais, políticas estas que incorporem “os novos instrumentos urbanísticos (Estatuto da Cidade e Zonas Especiais de Interesse Sociais do Plano Diretor)”. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 53 Carlos (2005, p.30-31), ao falar do processo de urbanização que se realiza como processo de reprodução da cidade, ao sintetizar esse processo informa que há uma nova relação “Estado-espaço” que por meio de políticas públicas, como as de requalificação de áreas centrais, vem criando parcerias com os setores privados, o que se pode exemplificar, no caso da cidade de São Paulo, com a ONG Associação Viva o Centro que atuando em parceria com o poder público municipal, vem conseguindo revitalizar importantes edificações históricas do “Centro Velho” de São Paulo, como por exemplo, o Complexo Cultural Júlio Prestes, Praça do Patriarca, revitalização e restauro da iluminação da fachada e do órgão do Mosteiro de São Bento entre outros3. Reabilitação e requalificação de centros urbanos, modernização de edificações, inclusive com adoção de novos usos, têm sido debatidos e estudados com mais ou menos profundidade, embora o tema pareça nunca se esgotar, sempre ressurgindo através de novos olhares. Vários projetos e planos de renovação e reabilitação ou requalificação do centro de São Paulo vêm sendo propostas nas últimas décadas. Nobre(2009), por exemplo, analisa o período de 1970 a 2004, onde levanta e analisa os diversos planos e projetos e intervenção urbana no centro de São Paulo, quando foram executados. Por outro lado, os planos e projetos do ente municipal não se restringiam a parcerias com o os setores privados, mas também a projetos em parceria com os poderes públicos da administração estadual e federal, como por exemplo, o Programa de Arrendamento Residencial – PAR da Caixa Econômica Federal para populações com renda entre três a seis salários mínimos (SALCEDO, 2007), parceria esta que revitalizou e requalificou, ou como Salcedo (2007) denomina de reciclar, três edifícios, ou ainda o Programa Morar no Centro, durante o período de 2001-2004 (COTELO, 2009, p.615-635), com crédito subsidiado da Caixa Econômica Federal, além de programas como o Programa Ação Centro em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 54 No entanto, no seu artigo, Salcedo (2007), ao analisar a “reciclagem e requalificação dos edifícios Maria Paula, Riskallah Jorge e Brigadeiro Tobias”, todos no centro histórico ou é chamado no presente artigo de “Centro Velho” de São Paulo, abordou “questões referentes ao patrimônio arquitetônico e ambiência, documentação, restauração, reabilitação e reciclagem.” Destas edificações. Embora Salcedo (2007) não trate diretamente da questão de sustentabilidade destas edificações, ela cita o termo sem se aprofundar, nas suas conclusões, ao analisar a questão do restauro e requalificação destes edifícios, temas dos mais influentes na análise de sustentabilidade de edificações revitalizadas ou ainda requalificadas, ela faz, exatamente por este fator, a ponte necessária entre os planos e políticas públicas e a questão do olhar sobre a sustentabilidade de edificações do “Centro Velho” de São Paulo. Assim, o olhar que se pretende apresentar neste momento representa uma indagação à questão da sustentabilidade de edificações revitalizadas e modernizadas em centros urbanos e como paradigma é tomado o edifício Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB/SP, do assim chamado “Centro Velho” da cidade de São Paulo. Não se pretende um olhar mais abrangente que envolva todo o centro urbano. Mas sim, ao se tomar como paradigma este edifício, lançar um olhar sobre as edificações destes centros que vêm sofrendo revitalização e muitas vezes com mudança de uso, a fim de modernizá-las, possibilitando-lhes a denominação de edificações sustentáveis. Entretanto, não se poderia pensar a revitalização de edifícios sem pensá-la dentro do bojo mais amplo de políticas públicas de reabilitação e requalificação de centros urbanos que conforme se pode ver na introdução, onde foram apresentadas algumas ideias de pesquisadores, entre uma grande gama de pesquisadores que vêm pesquisando e debatendo a questão da degradação de centros urbanos e a necessidade de revitalizá-los, debatendo as políticas públicas representadas por planos e projetos urbanísticos de revitalização e requalificação de centros urbanos. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 55 Mas, antes de passar-se à qualificação do edifício do CCBB e debater se o resultado da requalificação é ou não sustentável, é importante falar um pouco sobre certificação LEED (1999) (Leadership in Energy and Environmental Design) que “...é um sistema de certificação e orientação ambiental de edificações. Criado pelo U.S. Green Building Council é o selo de maior reconhecimento internacional e o mais utilizado em todo o mundo, inclusive no Brasil”, que assim como outras certificações tais como BREEAM (1990), BEPAC (1993), QQE (1993), GBC (1996), CABEE (2002), além do AQUA e o Selo da Casa Azul da Caixa Econômica Federal, todos com o aspecto de serem voluntários, vem de alguma forma avaliar o desempenho de edificações conforme referenciais estabelecidos, visando à melhoria do desempenho. 2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS Os procedimentos metodológicos utilizados para a elaboração deste artigo se apropriam da combinação de pesquisa teórica em livros, artigos de revistas impressos e digitais, pesquisa empírica através de sites e entrevistas e utilização da metodologia LEED NC para a avaliação do edifício do Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo – CCBB/SP. 3. SISTEMA LEED DE CERTIFICAÇÃO A escolha da Certificação LEED neste artigo é pelo seu caráter voltado ao mercado, o que representa um desafio quando o edifício é, como o caso, um edifício voltado para eventos culturais e tendo sido requalificado por um banco público o Banco do Brasil. A certificação LEED, se estabelece no Brasil a partir da criação do Green Building Council Brasil em março de 2007 como uma organização não governamental, assim como nos outros 21 países em que existem membros “...do World Green Building Council, entidade supranacional que regula e incentiva a criação de Conselhos Nacionais como forma de promover mundialmente tecnologias, iniciativas e operações sustentáveis na construção civil” e que ela se apresenta no __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 56 seu site4 como entidade “...que surgiu para auxiliar no desenvolvimento da indústria da construção sustentável no País, utilizando as forças de mercado para conduzir a adoção de práticas de Green Building em um processo integrado de concepção, construção e operação de edificações e espaços construídos”.. A intenção da certificação LEED é avaliar “...as melhores práticas adotadas, incluindo tecnologias, materiais, processos e procedimentos operacionais,...”. A certificação ocorre através de vários tipos de LEED: LEED NC – Novas construções e grandes projetos de renovação; LEED ND – Desenvolvimento de bairro (localidades); LEED CS – Projetos da envoltória e parte central do edifício; LEED Retail NC e CI – Lojas de varejo; LEED Healthcare – Unidades de saúde; LEED EB_OM – Operação de manutenção de edifícios existentes; LEED Schools – Escolas; LEED CI – Projetos de interiores e edifícios comerciais; A certificação LEED no Brasil analisa as questões de eficiência energética, uso racional da água, materiais e recursos, qualidade ambiental interna, espaço sustentável, inovações e tecnologias e créditos regionais, o que acaba, conforme Santos e Abascal (2012) como “indicador de qualidade” ao avaliar e reconhecer “soluções tecnológicas que em tese contribuiriam para tornar as construções sustentáveis”. Assim, para a avaliação pretendida neste artigo será usado LEED NC, pois além de certificar novas construções, avalia e certifica projetos de renovação. Além dos diferentes tipos e necessidades, a certificação também tem diferentes níveis de acordo com o desempenho do empreendimento como Silver, Gold e Platinum. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 57 4. EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL – SÃO PAULO Construído em 1901 e localizado à Rua Álvares Penteado nº 112, esquina com a Rua da Quitando no coração do “Centro Velho” de São Paulo e tombado pelo processo nº 24084/85 e Resolução de Tombamento nº 40 de 02/09/2004, com proteção Z8 200-026/Condephaat5. Em 1923, o Banco do Brasil adquiriu o edifício e comissionou o engenheiro-arquiteto Hippolyto Gustavo Pujol Junior para a reforma de seu primeiro edifício próprio na capital do Estado de São Paulo, local em que funcionou como agência bancária de 1927, data da conclusão das obras até 1996, quando transferiu as suas instalações e em 2001 as obras foram concluídas. O início da elaboração do projeto original de restauro ocorreu em 1992, mas que por problemas burocráticos e trocas de administrações na prefeitura de São Paulo prorrogaram a conclusão da obra que somente foram retomadas após sete anos. Arquitetonicamente, o edifício, antiga sede do Banco do Brasil, segundo Rubies6 “revela influências da Escola de Chicago, evidenciadas pela grande área das janelas emoldurada por pilares monumentais”, ou conforme o arquiteto Luiz Telles 7 , cujo escritório LT Arquitetura, foi responsável pelo projeto de restauro e requalificação do atual CCBB, o edifício é uma mistura de estilo Neoclássico com Art Nouveau. O edifício foi um dos primeiros no uso do concreto armado, o que lhe possibilitou apresentar um aspecto mais leve. O edifício tem uma área construída 4.100,00 m², distribuídos em cinco pavimentos incluindo o subsolo e o mezanino. Tem balcões trabalhados, brasão original e claraboia com vitral, elevador antigo pantográfico e luminárias da época em que funcionou como agência bancária. A fachada desenhada, caixilhos de ferro e vidro, alusões a ramos de café, abacaxis e folhas de fumo – ícones da aristocracia pré-industrial. Os desenhos da cúpula são em cobre, as portas são de ferro e vidro e levam ao hall de entrada em forma de elipse. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 58 O relógio de latão ornado de ramos de café e o lustre central com 17 globos de vidro foram totalmente restaurados. As colunas são revestidas em mármore bege com bases também revestidas em latão sobre mármore rosa. Atualmente o CCBB/SP conta com salas de exposições, cinema, teatro, auditório, cybercafé, restaurante, livraria e exposições no interior dos antigos cofres do banco no subsolo. Foi construída uma torre a parte onde foi instalada a escada de incêndio que possui ventilação, exaustão e sistema de câmeras. De forma proposital, outra escada moderna, revelando o seu não pertencimento na edificação original, foi instalada dentro do edifício levando os visitantes ao subsolo, antes utilizado como cofre, restaurado e transformado em galeria. Foram instalados dois elevadores modernos inteligentes que percorrem do térreo ao quarto andar, tendo sido totalmente restaurado o antigo elevador com porta pantográfica. Os conduítes elétricos e a tubulação de hidráulica foram totalmente refeitos a fim de possibilitar o controle de pressão nos hidrantes, disponibilidade de água, detectores de fumaça e controle de temperatura. O sistema de comunicações é moderno, possibilitando ao edifício receber aparelhagens de grande porte. Foi realizado reforço estrutural e de fundação em concreto e estruturas metálicas em quase toda a edificação, principalmente onde foi instalado o sistema de ar-condicionado. A execução do projeto de climatização teve como desafio principal a compatibilização da rede de dutos com as restrições impostas para a reforma do edifício tombado pelo Condephaat (Conselho de defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e turístico) de São Paulo além da completa mudança de funcionalidade. Outra dificuldade encontrada pela Bettoni, empresa especializada em automação e segurança, refere-se na época da reforma à limitação de capacidade de fornecimento de energia __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 59 elétrica na região, além da impossibilidade de se obter grande capacidade de armazenamento de água. Para o CCBB/SP foi escolhido o sistema de água gelada para atender as diversas condições de condicionamento de ar, fornecido pela empresa Thermoplan, que envolve o sistema de controle de umidade, áreas com alta concentração de pessoas e grande taxa de renovação de ar e ainda o conforto térmico em geral. Assim, foram especificados dois refrigeradores com 45 TR de capacidade cada, com condensadores resfriados a ar, não consumindo água para efetuar a condensação do gás refrigerante. Foi previsto um sistema de termo-acumulação para corte de pico de carga térmica, utilizando três tanques de gelo, onde a água é congelada durante a madrugada, quando o fornecimento de energia elétrica é mais estável e econômico, reduzindo o consumo de energia elétrica. Em alguns locais foi impossibilitado o uso de dutos, pois o teto precisava ser preservado. Por esse motivo, a solução utilizada passou por ar-condicionados individuais, de gabinete vertical, montados junto às paredes, aparentes ou alojados dentro de arcabouços criados pela arquitetura, insuflando ar diretamente nas salas. Na área de exposição existe controle de temperatura e unidade relativa do ar, sendo que os equipamentos foram dotados de aquecedores e umidificadores elétricos. O ar é filtrado, resfriado e distribuído junto aos condicionadores, através de dutos, ramais que partem de um duto vertical alojado em um shaft, ou diretamente nos ambientes, onde, além da função de renovação, auxilia no resfriamento, conforme afirma Carlos Massaru Kayano, da empresa Thermoplan, responsável pelo projeto de ar condicionado à época. Os sistemas de exaustão mecânica foram aplicados para garantir a renovação de ar nos sanitários, copa e cozinha com a finalidade de eliminar os afluentes gasosos. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 60 Quanto à segurança, o circuito fechado de TV, equipado, à época do levantamento de dados, com 84 câmeras distribuídas em todos os ângulos, protege as obras de arte expostas no local, sendo que o cabeamento passa sob o piso não interferindo na arquitetura, tendo sido abertas pequenas fendas nas portas para alojar os sensores de presença e detectores de fumaça. Uma importante dificuldade à época da restauração foi encontrar câmeras pequenas e discretas para que não interferissem na arquitetura e nem conflitassem com as obras exibidas. É importante frisar que o único piso que foi mantido original foi o piso central em mosaico esmaltado. A implantação de sistemas de supervisão predial e segurança abordaram a integração entre a arquitetura, elétrica, hidráulica, incêndio, ar condicionado e automação. Segundo Roberto Luigi Bettoni, diretor da empresa responsável pela automação e segurança, a maior dificuldade era transformar o CCBB/SP em um edifício inteligente, com tecnologia de ponta, confortável, confiável, flexível a novas tecnologias, com facilidade de gerenciamento, econômico na manutenção e, principalmente, com características de controle adequadas às exposições de obras de arte, em especial no que concerne ao controle de umidade relativa do ar e temperatura adequados às características exigidas pelos expositores. Por outro lado, o sistema também supervisiona os componentes das instalações hidráulicas e elétricas. Para solucionar este desafio, foi implantado um sistema de supervisão e controle predial, totalmente eletrônico que era baseado em controladores micro-processado, gerenciados por uma central instalada na sala de controle, possibilitando aos operadores a visualização em tempo real, proporcionando segurança e confiabilidade nas instalações. Outro recurso é a facilidade de ligar e desligar a iluminação segundo uma programação horária ou a pedido do operador da central de supervisão. Outro ponto fundamental foi a questão do isolamento acústico. O teatro, o cinema, a sala de vídeo e o auditório foram os principais ambientes a serem considerados para garantir desempenho acústico adequado durante as apresentações ocorridas no local. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 61 Por causa da acústica, a laje e a madeira do cinema receberam tratamento com lã de vidro e as instalações elétricas passam todas pelo piso. O ruído externo trouxe preocupações quanto ao isolamento sonoro, principalmente quanto às janelas, portas e coberturas, pois nas ruas próximas existe um grande comércio e tráfego de pedestres. A cobertura do teatro necessitou de tratamento para impedir propagação sonora no interior do ambiente, devido à sua fragilidade com relação ao impacto das chuvas. O ruído proveniente das cabines também foi analisado evitando interferências no decorrer das apresentações e por isso portas visores e paredes receberam reforço acústico. Além disso, o vão formado entre o piso inclinado e a laje do andar inferior foi preenchido para não provocar ruído interno. As luminárias originais em bom estado foram restauradas e preservadas no projeto, enquanto as salas de exposições e múltiplo uso pediram soluções com maior flexibilidade na utilização dos espaços. Sancas para iluminação indireta, luminárias embutidas no forro para iluminação difusa e sistema de trilhos eletrificado embutido no forro para permitir a instalação de projetores com iluminação pontual destinada às exposições. As obras de arte e a iluminação são sustentadas por cabos de aço, presos nas vigas para impedir que as paredes sejam perfuradas ou danificadas pela instalação de quadros, além de permitir novas formas de layout. As lâmpadas com alto índice de reprodução de cor e tonalidade amarela foram escolhidas para proporcionar um ambiente condizente com a arquitetura do prédio. Além disso, foi possível aproveitar a iluminação natural através da claraboia situada no vão central. Já na parte externa, a fachada foi destacada com direcionamento da luz nas reentrâncias e saliências, permitindo maior visualização da arquitetura. Para evitar umidade no espaço de exposições, os locais e contenções em contato com a terra foram tratados e nas lajes de cobertura, áreas frias e áreas sujeitas a movimentação __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 62 estrutural, foi utilizado um sistema flexível de impermeabilização em dupla camada a fim de aumentar a vida útil da proteção e absorver eventuais fissuras. Vale ressaltar, antes de se iniciar a análise do Edifício CCBB/SP pela metodologia LEED NC, que o início da elaboração do projeto ocorre em 1992 e as obras tiveram fim em 2001. Portanto, o projeto e a consequente restauração, requalificação e modernização não foram pensados dentro dos conceitos para a certificação LEED. Por outro lado o projeto é de restauro, requalificação e modernização de um edifício de um banco público, o que a princípio não é o objeto do sistema de certificação LEED, embora ao se visar tornar uma edificação sustentável, os projetos de restauro, requalificação e modernização de edificações, podem utilizá-lo como balizamento. Assim, não será realizada a aplicação de pontuação dada pelo LEED para os créditos, mas sim, se atende ou não aos quesitos de cada crédito e em caso negativo analisar a possibilidade do atendimento caso o projeto tivesse sido pensado com foco na certificação. 5. ANÁLISE DO EDIFÍCIO CCBB/SP PELA METODOLOGIA LEED NC Para a análise será utilizada como sequência de análise, a sequência do formulário padrão “LEED para Novas Construções 2009 – Registo Projeto Checklist” disponível no site do órgão. Foram adotadas cinco categorias de classificação, conforme podemos verificar abaixo: a) Não comtempla – usada quando o projeto original não contemplou requisitos que atenderiam o sistema de certificação LEED NC. b) Não foi possível verificar – usada quando não foi possível verificar se o projeto atenderia ou não ao quesito. c) Não atende – usada quando o projeto/obra não atendeu ao quesito. d) Contempla – usada quando o projeto/obra atendeu ao quesito do LEED NC. e) Não se aplica – usada quando o quesito do LEED NC não se aplica ao projeto em análise. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 63 No entanto, quando o quesito do LEED NC poderia ser suprido no momento do projeto, realizouse comentário explicativo. Tabela 1: Análise do Edifício CCBB/SP pela metodologia LEED NC Requisito Classificação Obrigatório Quesito Análise Espaço Sustentável Pré-requesito 1 - Prevenção da poluição na atividade da Construção Crédito 1 - Seleção do Terreno Crédito 2 - Densidade Urbana e Conexão com a Comunidade Crédito 3 - Remediação de Áreas contaminadas Crédito 4.1 - Transporte Alternativo, Acesso ao transporte Público Requisito Não foi possível verificar No entanto, neste quesito poderia ter sido atendida uma das exigências, a que se refere à questão de evitar a poluição do ar com poeira e partículas decorrentes da obra. Não contempla Contempla Não se aplica Contempla Crédito 4.2 - Transporte Alternativo, Bicicletário e Vestiário para os ocupantes Não se aplica Crédito 4.3 - Transporte Alternativo, Uso de Veículo de Baixa Emissão Não se aplica Crédito 4.4 - Transporte Alternativo, Área de Estacionamento Não atende Crédito 5.1 - Desenvolvimento do espaço, Proteção e Restauro do Habitat Não se aplica Crédito 5.2 - Desenvolvimento do Espaço, Maximizar espaços Abertos Não se aplica Crédito 6.1 - Projeto para Águas Pluviais, Controle da Quantidade Não se aplica Crédito 6.2 - Projeto para Águas Pluviais, Controle da Qualidade Não se aplica Poderia atender a este quesito. Pois, o edifício está localizado em uma região onde existem vários edifícios com garagens públicas e ao mesmo tempo o edifício se encontra numa rua sem acesso público a automóveis. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 64 Crédito 7.1 - Redução da Ilha de Calor, Áreas Descobertas Não se aplica Crédito 7.2 - Redução da Ilha de Calor, Áreas Cobertas Não atende Crédito 8 - Redução da Poluição Luminosa Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Não se aplica Uso Racional da Água Pré-Requisito 1 - Redução no Uso da Água Requisito Não foi possível verificar Crédito 1 - Uso Eficiente de Água no Paisagismo Não se aplica Crédito 2 - Tecnologias Inovadoras para Águas Servidas Não se aplica Crédito 3 - Redução de Consumo de Água Não foi possível verificar Mesmo que não tenha sido possível verificar o atendimento deste quesito no projeto original, caso o projeto tivesse sido pensado em termos do atendimento do quesito do LEED NC, tecnicamente teria sido possível atender. Mesmo que não tenha sido possível verificar o atendimento deste quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos do atendimento do quesito do LEED NC, tecnicamente teria sido possível atender. Energia e Atmosfera Pré-Requesito 1 - Comissionamento dos Sistemas de Energia Requisito Não foi possível verificar No entanto, provavelmente, por ser uma obra de restauro e modernização de uma edificação pública deve ter atendido a este quesito. Pré-Requesito 2 - Performance Mínima de Energia Requisito Não foi possível verificar Mesmo que não tenha sido possível verificar o atendimento deste quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos do atendimento do quesito do LEED NC, tecnicamente teria sido possível atender. Pré-Requisito 3 - Gestão Fundamental de Gases Refrigerantes, Não Uso de CFC's Requisito Não foi possível verificar Este quesito provavelmente foi atendido, pois uma das premissas inicias do projeto __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 65 foi a questão da modernização da edificação com a implantação de um sistema moderno de arcondicionado. Crédito 1 - Otimização da Performance Energética Crédito 2 - Geração de Energia Renovável Crédito 3 - Melhoria no Comissionamento Crédito 4 - Melhoria na Gestão de Gases Refrigerantes Crédito 5 - Medições e Verificações Crédito 6 - Energia Verde Não foi possível verificar Este quesito provavelmente foi atendido, pois uma das premissas inicias do projeto foi a questão da modernização da edificação com a implantação de um sistema moderno de arcondicionado. Não se aplica Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Não se aplica Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Não foi possível verificar Este quesito provavelmente foi atendido, pois uma das premissas inicias do projeto foi a questão da modernização da edificação com a implantação de um sistema moderno de arcondicionado. Não se aplica Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Não atende Materiais e Recursos Pré-Requisito 1 - Depósito e Coleta de Materiais Recicláveis Requisito Não atende Crédito 1.1 - Reuso do Edifício, Manter Paredes, Pisos e Coberturas Existentes Contempla Crédito 1.2 - Reuso do Edifício, Manter Elementos Interiores não Estruturais Contempla Crédito 2 - Gestão de Resíduos da Não atende Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Tecnicamente teria sido __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 66 Construção possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Crédito 3 - Reuso de Materiais Não se aplica Crédito 4 - Conteúdo Reciclado Não se aplica Crédito 5 - Materiais Regionais Não foi possível verificar Crédito 6 - Materiais de Rápida Renovação Não se aplica Não foi possível verificar Crédito 7 - Madeira Certificada Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Qualidade Ambiental Interna Pré-Requisito 1 - Desempenho Mínimo da Qualidade do Ar Interno Requisito Contempla Pré-Requisito 2 - Controle da Fumaça do Cigarro Requisito Contempla Crédito 1 - Monitoração do Ar Externo Crédito 2 - Aumento da Ventilação Crédito 3.1 - Plano de Gestão da Qualidade do Ar, Durante a Construção Crédito 3.2 - Plano de Gestão da Qualidade do Ar, Antes da Ocupação Não atende Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Não foi possível verificar Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Não atende Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Não atende Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 67 Crédito 4.1 - Materiais de Baixa Emissão, Adesivos e Selantes Crédito 4.2 - Materiais de Baixa Emissão, Tintas e Vernizes Crédito 4.3 - Materiais de Baixa Emissão, Carpetes e Sistemas de Piso Crédito 4.4 - Materiais de Baixa Emissão, Madeiras Compostas e Produtos de Agrofibras Crédito 5 - Controle Interno de Poluentes e Produtos Químicos Não foi possível verificar Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Não foi possível verificar Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Não foi possível verificar Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Não foi possível verificar Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Não foi possível verificar Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Crédito 6.1 - Controle de Sistemas , Iluminação Contempla Crédito 6.2 - Controle de Sistemas , Conforto Térmico Contempla Não foi possível verificar Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Não foi possível verificar Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Crédito 8.1 - Iluminação Natural e Paisagem, Luz do Dia Contempla A manutenção da claraboia do vão central. Crédito 8.2 - Iluminação Natural e Paisagem, Vistas Contempla A manutenção dos vãos das janelas. Crédito 7.1 - Conforto Térmico, Projeto Crédito 7.2 - Conforto Térmico, Ventilação Inovação e Processo do Projeto __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 68 Crédito 1 - Inovação no Projeto Não se aplica Crédito 2 - Profissional Acreditado LEED Não atende Tecnicamente teria sido possível atender a este quesito, caso o projeto tivesse sido pensado em termos de certificação LEED NC. Créditos Regionais Crédito 1 - Propriedades Regionais 6. Não se aplica CONSIDERAÇÕES FINAIS Levando em consideração que o projeto de restauro, modernização e requalificação da edificação não foi pensado em termos de certificação LEED NC, ao se realizar a análise do mesmo dentro das exigências do sistema de certificação LEED NC, se verifica que, caso o projeto tivesse sido elaborado com foco em certificação LEED NC, ele teria atendido plenamente à proposta da certificação. Assim pode-se considerar que é possível, em grande parte, atender as exigências de certificação em edifícios revitalizados, bastando para tanto políticas de incentivo e no caso de edifícios públicos, vontade política para a sua realização. 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS BOMFIM, Valéria C. O Centro Histórico de São Paulo: a vacância imobiliária, as ocupações e os processos de reabilitação urbana, in Cadernos Metrópole, N. 12, pp. 27-48, 2º sem. 2004. CARLOS, Ana F A. A Reprodução da Cidade como Negócio, In Urbanização e mundialização: estudos sobre a metrópole. Ana Fano Alessandri Carlos e Carles Carreras (orgs.), pp. 29-37, São Paulo: Contexto, 2005 – (Novas abordagens. GEOUSP; v.4). COTELO, Ferando C. Padrões espaciais de ociosidade imobiliária e o Programa Morar no Centro da Prefeitura de São Paulo (2001-2004), In Cadernos Metrópole, v. 11, n. 22, pp. 615-635, jul/dez 2009. NOBRE, Eduardo A C. Políticas urbanas para o centro de São Paulo: renovação ou reabilitação? Avaliação das propostas da prefeitura do Município de São Paulo de 1970 a 2004, In PÒS – Revista do __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 69 Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP/Universidade de São Paulo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Comissão de Pós-Graduação – São Paulo: FAUUSP, v.1 (1990-), Semestral, v. 16, pp. 214-231, n. 25, jun. 2009. SALCEDO, Rosio F B, Documentação e Análise da Reciclagem e Requalificação dos Edifícios Maria Paula, Riskallah Jorge e Brigadeiro Tobias no Centro Histórico de São Paulo. In Anais do 7º seminário do.co,mo.mo_brasil, Porto Alegre, 22 a 24 de outubro de 2007. SANTOS, Mariana F. e ABSCAL, Eunice S. Certificação LEED e arquitetura sustentável: edifício Eldorado Business Tower. Jan. 2012. Disponivel em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.140/4126>. Acessado em 22 set. 2012. YAZIGI, Eduardo. Funções culturais da metrópole: Metodologia sobre a requalificação urbana do Centro de São Paulo, In Urbanização e mundialização: estudos sobre a metrópole. Ana Fano Alessandri Carlos e Carles Carreras (orgs.), pp. 81-97, São Paulo: Contexto, 2005 – (Novas abordagens. GEOUSP; v.4)., __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 DESIGN ECOLÓGICO, PESQUISA ACADÊMICA E O DESIGN DE JOIAS: APROXIMAÇÕES E DISTINÇÕES. RESUMO Este artigo apresenta algumas reflexões sobre as implicações das noções de sustentabilidade no Design de Joias, e discute alguns aspectos relativos à interação entre o Design, o artesanato e a arte, a partir de analogias propostas por autores como Grace Lees-Maffei e Linda Sandino, que apresentam o território instável e em permanente mudança. A princípio são feitas algumas considerações sobre o termo "sustentabilidade", de maneira a deixar claro o referencial sobre o qual operamos nossa reflexão. Em seguida apresentamos o conceito de "design ecológico", na busca por descrever com maior precisão o universo do qual estamos falando. Por fim, apresentamos alguns exemplos de design de joias, produzidos por alunos do curso de Design da FAU-Mackenzie, relativos às esses conjuntos de práticas e discursos que envolvem os objetos dessa cultura material. Palavras chave: sustentabilidade; design ecológico; design de joias. ABSTRACT This article presents some reflections on the implications of the notions of sustainability in Jewelry Design, and discusses some aspects of the interaction between design, crafts and art, from analogies proposed by authors such as Grace Lees-Maffei and Linda Sandino, who present territory unstable and constantly changing. At first some considerations about the term "sustainability" in order to make clear the reference on which we operate our reflection. Then we present the concept of "green design", seeking to describe more accurately the universe of which we are speaking. Finally, we present some examples of jewelry design, produced by students of the Design FAU-Mackenzie, related to these sets of practices and discourses of the objects of this material culture. Keywords: sustainability, green design, jewelry design. 71 DESIGN ECOLÓGICO, PESQUISA ACADÊMICA E O DESIGN DE JOIAS: APROXIMAÇÕES E DISTINÇÕES. Henny Aguiar B. Rosa Favaro 1 Ana Gabriela Godinho Lima 2 MEIO-AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, MARCOS REFERENCIAIS. De acordo com Philippi Jr (2000, p. 62) “o tema meio ambiente precisa ser entendido em sua complexidade como um conjunto de fatores que constitui o todo”. Ocorre que a extensão dos problemas ambientais costuma não ser reconhecida como decorrência das diversas facetas que compõem as questões ambientais e sim como se fossem compartimentos independentes, cuja importância e emergência dependem do problema a ser resolvido. Ora, o modo como nos relacionamos, e como passaremos a nos relacionar com o meio-ambiente têm recebido o nome de "sustentabilidade", um termo que convém esclarecer sempre que é evocado. Servindo atualmente de referência ao debate internacional sobre o assunto, os Princípios de Sustentabilidade, publicados no website norte-americano www.nps.gov, baseiam-se nos princípios de Hannover, desenvolvidos pelo escritório de William McDonough para a EXPO 2000, enumerando nove seguintes tópicos que julgamos conveniente reproduzir na íntegra: 1. Insistência no direito da humanidade e a natureza coexistirem em condições saudáveis, colaborativas e diversificadas; 2. Reconhecimento da interdependência. Os elementos do design humano interagem com e dependem do mundo natural com amplas e diversas implicações em todas as escalas. Expandir as 1 Designer, Prof.ª Drª do Curso de Design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie – FAU-Mackenzie - [email protected] 2 (2) Arquiteta e urbanista, Prof.ª Drª do Departamento de Arquitetura/Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie – PPGAU/UPM – [email protected] __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 72 considerações do design e reconhecer mesmo os efeitos mais distantes. 3. Respeitar as relações entre espírito e matéria. Considerar todos os aspectos do estabelecimento humanos incluindo comunidade, moradia, indústria e comércio em termos das conexões existentes e em desenvolvimento entre a consciência material e espiritual. 4. Aceitar a responsabilidade pelas consequências das decisões projetuais sobre o bem-estar humano, a viabilidade dos sistemas naturais e seus direitos de coexistir. 5. Criar objetos seguros de valor a longo-prazo. Não sobrecarregar as gerações futuras com a obrigação de administrar ou vigiar situações de perigo em potencial por causa da criação inconsequente de produtos, processos ou padrões. 6. Eliminar o conceito de desperdício. Avaliar e otimizar o ciclo de vida completo dos produtos e processos. Aproximar-se dos sistemas naturais em que não há desperdício. 7. Depender de fluxos naturais de energia. O design humano deveria, como no mundo vivo, derivar suas forças criativas da perpétua irradiação solar. Incorporar essa energia de forma eficiente e segura para usos responsáveis. Como se esclarece na própria página eletrônica, esses princípios foram adotados pelo Congresso Mundial da União Internacional de Arquitetos (UIA) em Junho de 1993, no Instituto Americano de Arquitetos (AIA), durante a Expo 93 de Chicago. Lembra-se ainda que naquele momento foi assinada a "Declaração de Interdependência para um Futuro Sustentável", em que os membros das instituições mencionadas acima, face às condições de degradação ambiental diagnosticadas daquele momento, comprometiam-se a: Colocar a sustentabilidade social e ambiental no centro de suas práticas e responsabilidades profissionais Desenvolver e continuar a aperfeiçoar práticas, procedimentos, produtos, serviços e padrões para o design sustentável Educar a indústria da construção, clientes e o público em geral sobre a importância do design sustentável __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 73 Trabalhar para modificar as políticas, regulamentações e padrões no governo e nos negócios de modo que o design sustentável torne-se uma prática completamente apoiada pelos padrões Trazer o meio construído para os padrões do design sustentável Não obstante a abrangência e a clareza destes princípios e declarações, os anos a seguir viram crescer, paralelamente aos esforços sistemáticos em fortalecer o papel do design na construção de um ambiente sustentável, a banalização do termo. Neste contexto, surgiu a necessidade de definir conceitos mais precisos e bem delimitados que norteassem os profissionais e descrevessem com mais rigor aspectos típicos da prática do design, como veremos a seguir. O CONCEITO DE DESIGN ECOLÓGICO Como pondera Lennan (2004, p. 2), a palavra sustentabilidade, ou a expressão design sustentável, têm frequentemente sido empregadas de modo superficial, ou com muitas e diferentes conotações. Nesse contexto, os equívocos e a banalização acabaram por criar várias barreiras ao seu correto emprego. Na medida em que revistas populares de moda, decoração ou de atualidades passaram a empregar o termo para descrever eletrodomésticos, bolsas e alimentos, sem a preocupação de explicar a quais critérios estão se referindo, no meio do design e da academia muitos profissionais passaram a pensar duas vezes antes de adotar o termo. O autor prossegue considerando que parte do problema decorre também da inadequação do termo "sustentável", que não é abrangente o suficiente para descrever o movimento e a filosofia por trás dele. Com efeito, no dicionário Aurélio Século XXI, encontramos as seguintes definições: 1. que se pode sustentar. 2. capaz de se manter mais ou menos constante, ou estável, por longo período. Essas definições não retratam com precisão o que os especialistas em sustentabilidade, como Lennan, chamariam de "necessidade de mudar o modo como nos relacionamos com o mundo natural". O autor lembra que termos muito melhores poderiam ter sido escolhidos, tais como "design restaurador" (restorative design), sugerindo o desafio que está adiante, ou design ecológico (ecological design). (LENNAN, __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 74 2004, p. 2) Yang, Freeman e Cote (2004, p. 97), fundamentam a noção de design ecológico em pelo menos sete princípios: 1) a necessidade de atender às necessidades inerentes dos humanos e suas economias; 2) a necessidade de sustentar a integridade estrutural e funcional dos ecossistemas sejam eles naturais ou processados; 3) considerar a conveniência de emular os desenhos inerentes à natureza em sistemas antropogênicos; 4) a necessidade de progredir em direção a uma economia sustentável por meio de maior apoio em recursos renováveis e mais foco na reciclagem, reuso e uso eficiente de materiais e energia; 5) o uso de economias ecológicas de forma a levar em conta a possibilidade de haver depreciação de recursos e dano ambiental, ou seja, ter em consideração questões de impacto ambiental; 6) a necessidade de conservar ecossistemas naturais e a biodiversidade indígena em níveis viáveis; 7) a conveniência de incrementar a educação ambiental para construir um suporte social para o desenvolvimento sustentável, conservação de recursos e proteção do mundo natural. DESIGN ECOLÓGICO OU ECODESIGN E O DESIGN DE JOIAS NA UNIVERSIDADE O intuito de propor essa abordagem sobre experiências expressivas e artísticas desenvolvidas com resíduos sólidos recicláveis, na área de design de joia, tem o potencial de provocar uma busca por novas soluções para os inúmeros problemas ambientais tais como, Recuperação; Reciclagem; Ética; Conceito de Ciclo de Vida de um Produto; Ecologia Aplicada ao Design. Estas são perspectivas que atendem as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental e da agenda 21. O documento produzido na Rio-92 e que também se refere a educação ambiental como tendo um papel relevante, como preconiza o capítulo 36 da Agenda 21, diz que: Tanto o ensino formal como o informal são indispensáveis para modificar a atitude das pessoas, para que estas tenham capacidade de avaliar os problemas do desenvolvimento sustentável e abordá-los. O ensino é também fundamental para __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 75 conferir consciência ambiental e ética, valores e atitudes, técnicas e comportamentos em consonância com o desenvolvimento sustentável e que favoreçam a participação pública efetiva nas tomadas de decisão. Para ser eficaz, o ensino sobre meio ambiente e desenvolvimento deve abordar a dinâmica do desenvolvimento do meio físico/biológico e do socioeconômico e do desenvolvimento humano (que pode incluir o espiritual), deve integrar-se em todas as disciplinas e empregar métodos formais e informais e meios efetivos de comunicação. (SMA/AGENDA 21, 1997, p. 36.3). O capitulo 21 desse documento (Agenda 21) trata igualmente da questão dos resíduos sólidos, alertando para a contaminação do solo e das águas; práticas de reutilização e reciclagem; tratamentos ambientalmente adequados e ampliação dos serviços que se ocupam desses resíduos. Recomenda também que cada país, estado e cidade elabore sua Agenda 21 com ampla participação dos diversos setores da sociedade. Entre as recomendações e ações destacadas pela Agenda 21 brasileira constam também a necessidade de estimular a simplificação das embalagens e restringir a produção de descartáveis garantindo ao consumidor a disponibilidade de produtos em embalagens retornáveis e/ou reaproveitáveis. Dessas ações, quais são as medidas mais eficazes para formar uma consciência ambiental e mudar atitudes e valores que garantam a melhoria da gestão dos resíduos sólidos recicláveis? Dentre as inúmeras ações possíveis incluem-se aquelas geradas no âmbito da participação da Universidade, produzindo recursos educativos que possam: auxiliar na abordagem das questões relacionadas aos resíduos sólidos recicláveis; reforçar a importância da educação como meio de divulgar conhecimentos, e estimular novas atitudes e valores que possam contribuir para a melhoria dos índices de qualidade de vida. Nesse sentido, o (re)conhecimento de que o tema reciclagem e __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 76 reaproveitamento do lixo têm potencial educativo para o desenvolvimento de atividades de projeto na área de design de joia, moldes interdisciplinares sugerem um campo fértil de reflexão projetual. Muito se tem escrito sobre conceitos de ecodesign e design sustentável nos últimos 10 anos, resultando em uma multiplicidade de definições, descrições e modelos. A ideia central é que o processo de design e planejamento - e os produtos e serviços resultantes – necessitam reconhecer os limites ecológicos e, em geral, demonstrar mais responsabilidade e uma maior contribuição ao ambiente e à sociedade. (SHERWIN, 2006, V.4, P.21.) PROJETOS COM METODOLOGIA FUNDAMENTADA NO CONCEITO DE DESIGN ECOLÓGICO - ECODESIGN No âmbito do ensino, disciplinas de: ecodesign; gestão ambiental; design para o meioambiente; entre outras, tem como uma das premissas a serem levadas em conta, é a da geração de produtos com uma vida útil longa, ou que seja possível a utilização de menor quantidade de matéria-prima, e que possam ser reutilizadas ou recicladas.Em se tratando especificamente do caso do design de joias, a referência à questão ecológica é trabalhada através de projetos orientados não apenas à criação, de forma que fazem alusão a culturas como a indígena, reconhecidamente frágil ao impacto dos desequilíbrios ecológicos, como também a redução de custos, a certificação, produção limpa e seleção de material de baixo impacto ambiental. Essas abordagens permitem sugerir que os esforços relativos aos temas relacionados ao pensamento ecológico, apontam para a exploração de novos valores, no fazer e nas práticas profissionais de projeto em design. Um exemplo desta postura é ilustrado com projeto da figura 1, produto de um Trabalho de Conclusão de Curso da Universidade. Inspira-se nos motivos geométricos decorativos típicos das tangas e cintos trançados da tribo indígena paraense WAI WAI, para criar um conjunto de brincos, __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 77 anel e pingente que empregam em sua confecção ouro e madeira certificada. Elementos de uma cultura autóctone e de um material não-tradicional em joalheria são re-significados no contexto desta criação. Fig. 1 Ditlind Karin Lenk – Joia inspirada na tribo indígena brasileira WAI WAI. TCC- Design. Material: ouro reaproveitado e madeira com certificado. O projeto ilustra em alguma medida a preocupação de que a atuação do designer, por meio de seu olhar treinado, possa contribuir para o fortalecimento da identidade comunitária e para a criação de mercados de trabalho sustentáveis. Sachs ao lembrar as palavras de Swaminathan (2002, p. 29), em seu "Caminhos para o desenvolvimento sustentável", coloca que uma nova forma de civilização, fundamentada no aproveitamento sustentável dos recursos renováveis, não é apenas possível, mas essencial. O pensamento projetual no design de joias sem dúvida alinha-se com essa afirmação. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 78 Fig. 2 - Fernando Pires Jorge Concurso ANGLOGOLD– 2004. Tema – RAÍZES. Bracelete Atabaque – sementes Pau Brasil, Palmeira e Açaí. O interesse pelos temas evocativos à natureza está presente nos projetos de forma reflexiva, incluindo elementos da cultura indígena brasileira bem como dos recursos naturais nacionais que transcendem o universo conhecido das pedras preciosas clássicas como as esmeraldas. O assim chamado "design diferenciado" fundamenta-se no reconhecimento de materiais alternativos, que oferecem mais diversidade nas cores, leveza, praticidade e beleza, e se utilizam de gemas tipicamente brasileiras, assim como sementes, madeiras, criando outras leituras da cultura e dos recursos nacionais. Fig. 3 - Fernando Pires Jorge. TCC – Design. Joia inspirada no gingado da capoeira. Material: ouro, topázio imperial e casca de coco. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 79 Quando se trata de pensar a relação entre pesquisa acadêmica às esses conjuntos de práticas e discursos que envolvem os objetos dessa cultura material, acreditamos que há também características importantes no processo de projeto e produção destes objetos, que merece serem observadas, tais como Lees-Maffei e Sandino sugerem: design, artesanato e arte podem ser vistos como ocupando um território instável, de mudanças permanentes, que caracterizam não apenas as histórias desses três conjuntos de práticas mas também as narrativas que os circundam. As autoras questionam a respeito do ‘status’ considerado como irrelevante à hierarquia convencional nas ligações entre essas práticas: “... o entendimento dessas tensões culturais tem sido visto em termos de desenvolvimento paralelo, ou convergente, ao invés de hierárquico.” LeesMaffei (2007). Para o entendimento das ligações entre o design, artesanato e arte, é preciso questionar a relação mutuamente informativa entre a prática e o discurso, princípios esses que se mostram sujeitos a mudanças em função da história e que variam regionalmente e culturalmente. Em qualquer análise que se apresente sobre as ligações entre os três domínios, se faz necessário um envolvimento com a história, cultura e as mudanças aplicadas através das instituições nos discursos que as rodeiam, e como observa Rosemary Hill, (apud Lees-Mafei, 2007), a crítica ocupa um lugar independente da arte, pois: “A crítica pode muito bem aproveitar histórias distintas daquelas do design, arte e artesanato, mas para assim o afirmar sem reconhecer as relações mutuamente constituintes entre essas histórias é ignorar as ligações, as quais sob análise são tão reveladoras.” Também de acordo com Lees-Maffei, o desenvolvimento da história do design, tem assegurado a importância de integrar o design, o artesanato e a arte, onde as autoras observam que: __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 80 Durante os últimos 150 anos têm se escrito sobre artesanato como sendo um antídoto à crescente industrialização. Até mesmo em 2000, o jornal inglês The Guardian foi visto reafirmando aos seus leitores que a arte em vidro sobreviveu à industrialização do século dezenove. Lees-Mafei (2007, p. 209) Teóricos do design do meio do século dezenove estavam preocupados em promover as práticas artesanais enraizadas nos séculos de tradição, como uma necessária correspondente da sociedade industrial. Atitudes como essas, afirma a autora, de maneira diferente, apoiam o trabalho e a recepção da Bauhaus, com seu conjunto de princípios relacionados incluindo a insistência de que o design, o artesanato e as belas artes fossem ensinados, exercidos e vistos juntos, ao invés de separados hierarquicamente, e que um dos objetivos seria a elevação do status do design e do artesanato aquele experimentado pelas belas artes. Podemos questionar o sucesso dessa empreitada com o contínuo cultivo dessas discussões: Martina Margetts apud Lees – Mafeei 2007, afirma que “os ‘mantras’ como ‘nova cerâmica’ e ‘nova joia’ sugerem mudanças de prioridades, na qual ideias conceituais florescem em conjunto, algumas vezes, ao invés de considerações do uso”, e afirma também que se faz necessária uma análise cuidadosa para que se possa alcançar um contexto mais sofisticado para a discussão e a compreensão do artesanato. Em face aos desafios experimentais às tradições de especialidades, Peter Fuller apud Less – Mafeei 2007 afirma em seu credo conservativo, que a originalidade é possível apenas tendo como base a tradição, ou seja, só se alcança a excelência, através da aceitação das tradições e limitações específicas de qualquer busca. Seu ponto de vista sobre a ênfase da individualidade de expressão que levou os artesãos a negligenciar suas habilidades, é explicada da seguinte forma: __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 81 A ortodoxia moderna é que concepção e execução são atividades separadas e que a execução - o mero fazer - pode tomar conta de si mesmo. Habilidades são consideradas como restrições técnicas sobre a auto-expressão e elas não são reconhecidas como sendo o conteúdo, e sim como sendo o meio de expressão. Fuller apud Less - Mafeei (2007). A recente onda de textos e eventos questionando o artesanato providenciou um interesse necessário ao envolvimento compartilhado de artistas, designers e artesãos. De acordo com documento publicado pela UNESCO, Castro (2008) afirma que o artesanato é considerado como parte integrante do patrimônio cultural de grupos e comunidades pela sua capacidade representativa do imaginário popular, tradições e costumes, com a função de preservar conhecimentos e técnicas específicas, sejam através da criação de objetos, artefatos ou mesmo instrumentos, reconhecidamente concernente às culturas de um povo. As autoras também argumentam que o espaço do artesanato dentro da tendência visual contemporânea se solidifica a partir da exposição Objects of Our Time, sediada no Crafts Council em 1996, onde o curador e então diretor Tony Ford, declarou uma mudança de posicionamento definitivo do artesanato das margens para o centro: “ocupar uma posição integrada com as belas artes, moda, arquitetura e design industrial”, e complementam que com a reorganização dos conselhos governamentais de design, arte e artesanato, e as mudanças no setor mais alto da educação, estudiosos, alunos e praticantes das mais variadas formas de cultura material e visual, precisam ver seus objetos de uma forma contextualizada e interdisciplinar, de maneira a revigorar a discussão da relação entre esses campos. De acordo com o editorial da 30ª edição de aniversário da revista Crafts publicada em 2003, são identificadas as mudanças ocorridas durante três décadas: Em março de 1973, na edição número1, um artigo intitulado The Concept of Craft (O Conceito de Artesanato) fez - entre outras - duas perguntas: "O que é artesanato?" e "Como ele se diferencia por um lado da indústria e por outro lado __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 82 da arte?" 30 anos depois, uma terceira pergunta segue-se à segunda: "Isso importa?" Certamente hoje poucos artesãos consideram as barreiras entre a arte, o artesanato e o design de tamanha significância. Artesanato e indústria são rotineiramente parceiros, e muitos designers de bom grado combinam o feitio de objetos exclusivos com a linha de produção... [e] o termo artesanato é agora simplesmente "inadequado" para resumir a diversidade colaborativa, interdisciplinar dessa prática atual. (RUDGE apud LEES-MAFFEI, 2007, p. 215) Entretanto, se por um lado, de acordo com a citação, as barreiras entre o design, artesanato e arte, não importam mais, por outro, o termo artesanato fica inadequado para descrever a prática atual. Rudge se afasta da próxima pergunta lógica: “Se não artesanato, então o quê?”. Dada a diversidade de opiniões e os sentimentos aflorados a cerca do design, artesanato e arte, qualquer observação sobre o assunto, precisa estar ciente da natureza perigosa e inflamatória do assunto, e reconhecer essas ligações como criativas e dinâmicas, pois a diversidade colaborativa e interdisciplinar da prática atual produz artefatos híbridos que rendem discussões sobre essas relações, as quais necessitam de exploração mais aprofundada. No caso do Brasil, atualmente cerca de 8,5 milhões de pessoas trabalham na produção de artesanato, sendo 87% mulheres, o que extrapola razões culturais, pois Sant’ana (2010) observa que em função do desemprego, surge como alternativa socioeconômica para populações principalmente localizadas no meio rural, ou em pequenas cidades. Com o intuito de elucidar o valor da reflexão sobre o dinamismo das relações entre arte, artesanato e design, pretende-se demonstrar que o relacionamento entre essas categorias ajuda o entendimento de seus objetos, pois se trata de áreas sub-exploradas em pesquisa acadêmica. É possível que se realizem ações conjuntas com designers e artesãos, sem a intenção de modificá-las, mas de sustentá-las como manifestação cultural, através de trocas e atualizações, sem que nenhuma delas seja aniquilada: __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 83 O artesanato é um patrimônio inestimável que ninguém pode se dar ao luxo de perder. Mas esse patrimônio não deve ser congelado no tempo, congelado, ele morre. E é na transformação respeitosa que entra o papel dos designers. Vida longa para esse namoro que apenas se inicia. (BORGES, 2003, p. 68). Linda Sandino nos lembra de que historiadores do design ignoram o significado alusivo dos materiais nos objetos, e foca no uso expressivo na arte e nas joias de estúdio atuais, e sugere uma reavaliação do significado dos materiais, e oferece uma leitura de objetos que destacam a falta de originalidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS Como já foi observada, a interação entre o design, o artesanato e a arte, não é específica apenas historicamente, mas também é determinada pela cultura e pela região, e sua relação de significados difere geográfica e culturalmente em função das práticas de produção e consumo. As experiências projetuais ilustradas no presente artigo, ensejam considerações animadoras quanto à valorização do design produzido regionalmente, que leva em conta aspectos simbólicos, culturais e vernaculares de culturas e comunidades que vivem à margem da sociedade industrializada. Novas perspectivas têm sido estimuladas a partir do momento em que se enunciam princípios como o direito de co-existência de diversos agentes e sistemas, naturais ou processados, e a importância de preservação de culturas, como a indígena, em níveis viáveis, ainda que a noção de viabilidade careça de uma descrição mais precisa e rigorosa. A título de fechamento deste artigo, parece inspirador lembrar a citação que Lennan faz de Victor Hugo na abertura de seu "The Philosophy of Sustainable Design”: "Pode-se resistir à invasão de um exército, mas não a uma idéia __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 84 cujo tempo chegou". Em linha com Lennan entendemos que o Design Sustentável é uma idéia cujo tempo chegou. REFERÊNCIAS BORGES, Adélia. Designer não é personal trainer: e outros escritos. 2.ed. São Paulo: Rosari, 2003. BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. (lei Ordinária). Política nacional de educação ambiental. Diário Oficial da União - Brasília (DF) 28 de abril de 1999: col.1. BRASIL. Lei nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Brasília DF. 2002. CALDERONI, Abetai. Os Bilhões Perdidos no Lixo. 4 ed. São Paulo: Humanitos Editora, 2003. CASTRO, Maria Laura; FONSECA, Maria Cecília. Patrimônio imaterial no Brasil. Brasília: UNESCO, Educarte, 2008. CNUMAD – Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Agenda 21 Senado Federal. Subsecretaria de edições técnicas. Brasília (DF), 1997. COIMBRA José de Ávila Aguiar. O outro lado do meio ambiental: uma incursão humanista na questão ambiental. Campinas: Editora Millenium , 2002. Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional. Agenda 21 brasileira: ações prioritárias. Brasília (199) 167 p. Disponível em http://www.mma.gov.br. Acesso em 22 de maio de 2005. DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 8ª ed. São Paulo: Gaia, 2003, p. 551. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. LENNAN, The Philosophy of Sustainable Design. Bainbridge Island: Ecotone, 2004. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 85 LEES-MAFFEI, Grace. Dangerous Liaisons: Relationship Between Design, Craft and Art. The Journal of Design History 17 (3), 2007. p. 207-220. McDONOUGH, William. Princípios de Sustentabilidade. Disponível em < www.nps.gov> Acesso em 03/mar./2009. PHILIPPI Jr., Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi. Educação ambiental-desenvolvimento de cursos e projetos. São Paulo: Signus, 2000. PHILIPPI Jr., Arlindo. O Impacto da Capacitação em Gestão Ambiental. Tese (livre-docência) Faculdade de Saúde Pública – USP. São Paulo, 2002. SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento Sustentável. 2 ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. SANT’ANA, Adriano Lins. Artesanato Brasileiro: criatividade e diversidade. Disponível em <http://www.brasilviagem.com/materia/?CodMateria=42&CodPagina=139> Acesso em: 03 nov. 2010. SANCHEZ, Petra Sanchez et al. Interdisciplinaridade da Educação Ambiental: proposta de implantação em atendimento à política Nacional de Educação Ambiental. Relatório Final; MACKPESQUISA: Instituto Presbiteriano Mackenzie, São Paulo, 2006. SHERWIN, C. Design and sustainability: a discussion paper based on personal experience and observations. The Journal of Sustainable Product Design, v. 4. Holanda: Springer, 2006. SMA, Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Agenda 21 Local – compromisso do município de São Paulo. 2º ed. Ver. São Paulo, 1997. UNESCO. A Carta de Belgrado. Belgrado, 1975 – Disponível em http://www.mma.gov.br/index.cfm?id_estrutura=20&id_menu=491 . Acesso em 10 de Fevereiro de 2006. YANG, Shu; FREEDMAN, Bill; COTE, Raymond. Principles and Practice of ecological design. Environment REview, 12 (2): 97-112 (2004) / doi: 10.1139/a04-005. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 REVISITANDO A GROTA DO BIXIGA RESUMO A Grota do Bixiga é um território ímpar dentro do centro da cidade de São Paulo, uma região que apesar de degradada, tem identidade própria e vínculo com seus moradores, além de conseguir mesclar diferentes camadas sociais em um mesmo espaço. Este estudo revisita a região e relaciona algumas das tentativas de requalificar a área. Palavras chave: Grota do Bixiga, Bela Vista, Parque da Grota, Concurso Nacional de Ideias, Casa Paulista. ABSTRACT The Grota do Bixiga is a unique territory inside the center of Sao Paulo, a region that despite of its degradation,has own identity and relationship to its residentes, also achieve a merge of diferente social classes in the same space. This study revisits the region and relates some of the attempts to rehabilitate the área. Keywords: Grota do Bixiga, Bela Vista neighborhood, Park Grota, National Competition of Ideas, Program Casa Paulista. 87 REVISITANDO A GROTA DO BIXIGA Joice Chimati Giannotto 1 Carlos Guilherme Mota 2 INTRODUÇÃO Este artigo é parte de uma pesquisa maior que busca olhar o antigo Bairro do Bixiga atual Bela Vista, procurando fazer uma abordagem a partir de seu imaginário. Em seu livro A cidade polifônica o antropólogo Massimo Canevacci compara a Cidade de São Paulo à cidade de Cecília, do livro As cidades invisíveis de Italo Calvino. Aqui vamos comparar a Grota do Bixiga à Fedora. No centro de Fedora, metrópole de pedra cinzenta, há um palácio de metal com uma esfera de vidro em cada cômodo. Dentro de cada esfera, vê-se uma cidade azul que é o modelo para uma outra Fedora. São as formas que a cidade teria podido tomar se por uma razão ou outra, não tivesse se tornado o que é atualmente. (ITALO CALVINO, 2011, P. 32) Ao longo dos anos, esta área no coração de São Paulo entre o Centro e a Paulista, vive ou sobrevive em meio à degradação. De tempos em tempos surgem projetos para sua revitalização, porém por se tratar de uma área que não atrai os investimentos do mercado imobiliário, não consegue concretizar estes desígnios restando somente um imaginário de como ela poderia ter sido se assim não fosse. 1 Arquiteta e Urbanista formada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo em 2001, Especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas em 2005, certificada Project Management Professional em 2011 pelo PMI Institute. Mestranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E-mail: [email protected]. 2 Formado em História pela Universidade de São Paulo em 1963, Mestrado em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de São Paulo em 1967, Doutor em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de São Paulo em 1970. Professor Titular na Universidade Presbiteriana Mackenzie e Professor Emérito da FFLCH USP. E-mail: [email protected] __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 88 Aqui analisaremos a Grota do Bixiga em sua evolução. Para tanto este artigo se estrutura em cinco partes: A Grota do Bixiga, com ênfase no período de 2002 a 2013. Parque da Grota, 1974 Concurso nacional de ideias para a renovação urbana e preservação do bairro do Bixiga, 1990 Programa Casa Paulista Considerações finais. 1. A GROTA DO BIXIGA O Bairro da Bela Vista situado entre dois vetores de crescimento a Área Central e a Paulista é um dos mais peculiares da cidade de São Paulo, originalmente ocupado por negros e imigrantes italianos. As principais características físicas do Bixiga são o traçado irregular de suas ruas, lotes pequenos com vários donos, relevo acidentado e vias que retalham o seu tecido urbano. Ao contrário de outros bairros degradados que envolvem o centro, a Bela Vista possui vida noturna com seus teatros e cantinas. Em 1974 a Coordenadoria Geral do Planejamento Urbano (COGEP) fez um estudo do bairro da Bela Vista e o dividiu em seis áreas homogêneas entre si: Espigão, que se localiza na parte alta do bairro próximo a Avenida Paulista; Grota, imediatamente abaixo do espigão delimitado pela Rua dos Franceses e indo de encontro com a Avenida 9 de Julho; Cantinas, eixo das ruas 13 de Maio e Rui Barbosa; Martiniano, eixo da rua Martiniano de Carvalho; Metrô, faixa lindeira à Avenida 23 de Maio; e Baixada, entre as sub áreas Martiniano e Cantinas. Segundo este estudo, os empresários consideram como área de interesse, a área do espigão e parte alta da grota, sendo que elas irão se desenvolver sem nenhuma medida modificadora, no entanto é necessário um planejamento para que a renovação do bairro não acabe com as suas __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 89 características. A área das cantinas é a mais antiga, com uma ocupação adensada, é nesta área que se localizam as tradicionais cantinas e teatros. As demais áreas encontram-se estagnadas no processo de desenvolvimento. (MARZOLA, 1985) O Bairro da Bela Vista sofre com as contradições geradas pelos seus eixos viários principais que seccionam o seu tecido urbano e marcam o seu desenvolvimento, ou seja, a parte do espigão se desenvolve em consequência ao desenvolvimento da Paulista, as cantinas e teatros se instalaram no eixo 13 de Maio / Rui Barbosa, mas a grota está locada fora da área de influência dos dois vetores. A Grota do Bixiga faz parte da sub-bacia hidrográfica do Córrego Saracura Pequeno, localizado na vertente norte do espigão central. O Córrego Saracura Pequeno tem cerca de 900 metros, nasce nas proximidades da Rua São Carlos do Pinhal, passa pela Rua Cardeal Leme e deságua no Ribeirão Saracura Grande, Avenida 9 de julho, altura da Praça 14 Bis. Os dois cursos d’água atualmente estão canalizados. (SCHUTZER, 2012). Figura 1 - Sub área da grota delimitada sobre imagem do Google Earth, edição da autora. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 90 A grota está compreendida entre a Rua Sílvia, Alameda Ribeirão Preto, Joaquim Eugênio de Lima, dos Franceses e Luiz Barreto, com área de aproximadamente 34,5ha. É vizinha das subáreas do espigão e das cantinas. A parte alta da grota tende a acompanhar o desenvolvimento da Avenida Paulista, mas o restante tende a permanecer estagnado. A grota tem características especiais de topografia e deterioração das construções. A área desperta pouco interesse da iniciativa privada, devido aos pequenos lotes pertencentes a vários proprietários; suas condições atuais não são compatíveis com os padrões das classes privilegiadas, possui construções obsoletas que são pouco valorizadas. (MARZOLA, 1985) Em 2002, através da resolução nº 22 do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP), grande parte do bairro foi tombada, e para tanto foram destacados os aspectos: importância histórica e urbanística do bairro na estruturação da cidade, pois é um dos poucos bairros que ainda guardam inalteradas as características originais de seu traçado urbano e parcelamento do solo; elementos estruturadores do ambiente urbano com interesse de preservação seja pelo valor cultural, ambiental, afetivo e/ou turístico; a permanência da conformação geomorfológica original nas áreas da Grota, do Morro dos Ingleses e da Vila o Itororó; grande número de edificações de inegável valor histórico, arquitetônico, ambiental e afetivo, muitas delas remanescentes da ocupação original do bairro (final do séc. XIX); mescla de usos; vocação e potencial turístico; população residente cuja permanência é fundamental para a manutenção da identidade do bairro; __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 91 futuras propostas de renovação urbana para melhoria de condições de uso e ocupação em harmonia com a presente resolução. Segundo o artigo 2º desta resolução a área da Grota é considerada área envoltória de bens tombados, e possui diversos tombamentos com nível de preservação 3 (NP3).3 Figura 2 – Indicação de bens tombados relacionados na resolução do CONPRESP 22/2002 indicada sobre mapa de 1972, desenho da autora. Em 2004, a Prefeitura de São Paulo aprovou um novo zoneamento para a cidade, lei nº 13.885/2004. A Grota do Bixiga teve seu zoneamento alterado para somente três tipos de zonas: ZM-3a: “zona mista de densidades demográficas e construtivas altas, com coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,20, básico igual a 1,0 e máximo variando de 1,0 até o limite de 2,5;” ZPEC: zona de preservação cultura – “são áreas do território destinadas a preservação, recuperação e manutenção do patrimônio histórico, artístico, arqueológico, podendo se configurar como sítios, edifícios ou conjuntos urbanos.” (São Paulo, 2004) 3 O nível 3 de tombamento é descrito no Art. 7º da Resolução 22/2002 do COMPRESP como: “Quando se tratar de imóvel deverão ser mantidas as características externas, a ambiência e a coerência com o imóvel vizinho classificado como NP1 e NP2, bem como deverá estar prevista a possibilidade de recuperação das características arquitetônicas originais”. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 92 ZEIS 3: zona especial de interesse social – contém destinação obrigatória de parte da área construída computável para habitação de interesse social (HIS) e habitação do mercado popular (HMP). Figura 3 – Zoneamento 2004 - O mapa utilizado como base foi o mapa 4, relativo ao uso e ocupação do solo da subprefeitura da Sé, anexo a lei nº13.885/2004, o recorte e a edição foram feitos pela autora. Em 26 de abril de 2013, foi republicado o edital da concorrência internacional para a Parceria Público Privada (PPP) da Linha 6 do Metrô (laranja), Brasilândia – São Joaquim. O bairro da Bela Vista deve receber duas estações: 14 Bis e Bela Vista. A futura estação 14 Bis está localizada dentro do perímetro da grota e a previsão para a implantação das estações é que as obras ocorram entre 2014 e 2020. Por conta desta nova estação, um dos símbolos da grota e bairro, a Escola de Samba Vai-Vai, corre o risco de ter sua sede desapropriada. 2. PARQUE DA GROTA, 1974 O projeto do Parque da Grota elaborado por Paulo Mendes da Rocha e sua equipe composta por: Cristina de Castro Mello, Flávio L. Motta, José Cláudio Gomes, Benedito Lima de Toledo, Maria Ruth do Amaral Sampaio, Samuel Kerr, Koiti Mori e Klara Kaiser Mori, integra um meticuloso estudo da COGEP para a reurbanização da Grota, suas diretrizes básicas foram: 1. Manter e ativar a Bela Vista como bairro predominantemente habitacional, aumentando a densidade demográfica com novos critérios de ocupação do solo e melhor aproveitamento dos recursos existentes na área: proximidade do centro, facilidade de transportes, infra-estrutura urbana, comércio, serviços privados e institucionais. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 93 2. Incentivar e ampliar, no bairro, as atividades de recreação e cultura, já tradicionais no Bexiga, com vistas também à população de toda a cidade e ao turismo. Para se atingir os objetivos da renovação urbana pretendida, foram previstos três tipos de intervenção: preservação, reurbanização e ordenação. (ROCHA, 1976) O projeto propôs 984 unidades habitacionais, distribuídas em apartamentos de 2 e 3 dormitórios, com área entre 50 e 70m² por unidade. A população residente em habitações precárias deveria ser relocada dentro da mesma área. As áreas livres dos edifícios deveriam preencher a necessidade de estar e lazer coletivos, incentivando o desenvolvimento da sociedade. O parque criado deveria fornecer serviços, áreas de lazer, ensino e esportes de maneira integrada. O projeto contava ainda com a criação de um hotel para cerca de 300 leitos, uma grande área para a construção de um centro de música popular e outras manifestações junto ao anel da Avenida 9 de Julho, ao longo da Rua São Vicente. As encostas deveriam ser densamente arborizadas e os meios de quadras deveriam formar caminhos de pedestres com parques e jardins. Relativo ao zoneamento da área de reurbanização seria mantido os edifícios com mais de quatro pavimentos em boas condições, alterando-se o critério de ocupação dos pavimentos térreo e sobreloja para que se destinassem ao comércio. Para a área restante deveriam ser atendidos critérios como: gabarito, ocupação de térreo e sobrelojas, obrigatoriedade do uso de pilotis no pavimento térreo, ocupação máxima de 30% para habitações e de 70% para comércio, eliminação dos muros pelo menos no recuo da frente, obrigatoriedade de recuo de fundo que posteriormente poderia ser desapropriado para se formar os jardins de meio de quadra, e na parte alta da grota não deveriam ter paredes cegas voltadas para o vale. O paisagismo nesta área teria grande importância uma vez que o próprio projeto é denominado “parque”. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 94 3. O CONCURSO NACIONAL DE IDEIAS PARA A RENOVAÇÃO URBANA E PRESERVAÇÃO DO BAIRRO DO BIXIGA, 1990. O concurso nacional de ideias não se restringiu somente a Grota, mas a todo o bairro do Bixiga. Sarah Feldman (1991), em sua matéria para a revista Projeto Design nº 138, faz uma compilação do que foi este concurso e discorre sobre a ata do júri e os três primeiros colocados, conforme veremos ao longo desta seção. O concurso surgiu da necessidade de estabelecer novas relações entre o poder público e os cidadãos. Para tanto, garantiu-se voz aos moradores e usuários do bairro para se manifestarem sobre o que deveria ser alterado, preservado, quais as soluções para moradias e principais conflitos, etc. As equipes que participaram deste concurso receberam um material oriundo de dez debates públicos. O objeto do concurso era a vida e a sua qualidade, e não sua decomposição numérica. O programa para este concurso era aberto e buscava-se valorizar soluções referenciadas nas especificidades do lugar. Dos trinta trabalhos apresentados, foram excluídos os com maior fragilidade conceitual e formal, restando dez. Segundo a ata dos trabalhos do júri, todas as intervenções pontuais apresentadas pelos projetos, mesmo os selecionados, foram insuficientes, fato que se deveu a imprecisão das demandas. Foram selecionados três projetos, que foram divulgados a partir de cartazes e cartilha explicativa, para que fosse feita uma votação com a população do bairro para a escolha do projeto e áreas em que as intervenções deveriam ser priorizadas. Segue a síntese dos trabalhos, apresentados na ordem de sua classificação final: A. EQUIPE AZUL (TRABALHO 5), DE RECIFE, COORDENADA POR AMÉLIA REYNALDO: No interior dessa proposta, a síntese de uma história, de um caminhar. De uma filosofia. Planejar a renovação urbana e preservação das cidades está associado a uma ampla e permanente discussão e participação da população. Conhecer as particularidades do Bexiga foi possível em função do acesso ao material produzido durante o processo de debates e discussões, e do viver, o quanto possível as __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 95 práticas do cotidiano do bairro. Acompanhar a evolução urbana e cultural do bairro, de chácara a loteamento popular, de terra de africanos e italianos e mais tarde migrantes rurais de diversas regiões. Descobrir a modernidade, o progresso que redesenha espaços e encobre desejos e sonhos. Descortinar um Bexiga transformado pelas grandes obras viárias; a excessiva verticalização de algumas áreas; a substituição funcional e, consequentemente populacional, mas resistente na preservação de imóveis de sua formação original. Vários deles habitações precárias de uma população que alimenta o desejo de permanecer onde está. Ou ainda um Bexiga vivo e plural quando entre contrastes e conflitos oferece a desta de toda a cidade. (FELDMAN, 1991, p. 82) O bairro foi subdividido em cinco áreas: área próxima ao centro antigo; área próxima ao centro novo; área do grotão da Bela Vista; área próxima à Avenida 23 de Maio; e área central do bairro. Destacaram três características físicas básicas: espaços consolidados, espaços adensáveis e espaços de adensamento cauteloso. Estabeleceram-se os objetivos: sistema gerencial, representado pelo Espaço Bexiga onde o público e o privado se confrontassem e onde o gerenciamento do planejamento estivesse associado a população; processo permanente de debates entre os representantes dos diversos segmentos sociais e grupos de pressão da área visando o querer coletivo onde a estratégia era tratar a quadra como unidade de intervenção. Criaram também duas áreas de intervenção prioritárias: ZIA – conjunto de quadras próximas à encosta da Avenida 13 de Maio; e ZIB – núcleo do bairro. B. EQUIPE VERMELHA (TRABALHO 25), DE SÃO PAULO, COORDENADA POR JOSÉ DE SOUZA MORAES: A visão da cidade que orienta nossa proposta para o Bexiga pode ser caracterizada como: pluralista (em vez de um modelo acabado, uma multidão de modelos); contextualista (não passa o trator, constrói ambientes e significados a partir dos tecidos existentes); participativa e aberta à refutação (a comunidade __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 96 visualiza e modifica cenários antes que ocorram); de mercado (enfatiza a inciativa privada e os mecanismos de mercado como motores das transformações do ambiente e incentiva tanto o lucro dos investimentos como sua contribuição social). A proposta básica é simples: reverter o processo imobiliário que descaracterizava o bairro redirecionando sua energia para a preservação e melhoria do ambiente. (MORAES In FELDMAN, 1991, p. 84) Através deste projeto seria possível vender o potencial construtivo de áreas que não deveriam ser adensadas para áreas vizinhas que comportassem o adensamento. Todas as normas e coeficientes seriam calibrados por mecanismos de simulação e complementados por um plano de desenho urbano que provê diretrizes para melhorias no espaço público. A equipe abordou seis temas: Zoneamento - foram identificadas quatro zonas típicas: estáveis (Paulista); degradadas (centro); de preservação (13 de maio); e de expansão (23 de maio). Haveriam mecanismos de transferência de potencial construtivo. Habitação contaria com duas políticas: conservação e melhoria do estoque existente e oferta de novas unidades de padrões diferenciados. Circulação e transportes: desviar o trânsito de passagem para as artérias e para fora do bairro; criação de três estacionamentos; criação de circuitos de micro-ônibus circulares com circuitos alternativos à noite e aos finais de semana; priorização dos pedestres, especialmente nas áreas de comércio. Meios de financiamento: antes das primeiras trocas de coeficientes construtivos o financiamento se daria por um fundo associado ao IPTU do bairro, depois se pagaria com o movimento imobiliário. Desenho urbano: criação de diretrizes para ruas e praças, a partir da identificação de fatores que degradam a qualidade ambiental. Participação e aferição: a comunidade deveria ser inserida no processo decisório através de técnicas como o método Delphi e simulação ambiental. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 97 C. EQUIPE AMARELA (TRABALHO 20), DO RIO DE JANEIRO, COORDENADA POR DEMETRE BASILE ANASTASSAKIS: Um pressuposto orientou todo o nosso trabalho. Se a cidade é o espaço que torna possível a democratização de oportunidades e nem todos podem desfrutá-la, será necessário que se criem mecanismos que garantam a todos, independentemente de classe social ou montante de renda esse direito. (FELDMAN, 1991, p. 85) A análise desta equipe verificou que o bairro está ilhado entre a Avenida 23 de Maio, Avenida 9 de Julho e os arranha-céus da Paulista, e pretende “desilhar” o bairro fazendo sua integração com o transporte de massa, privilegiando os pedestres e veículos que se destinam ao uso local. Questiona sobre qual Bixiga queremos, e propõe diversas medidas: adensamento habitacional sem prejuízo da qualidade de vida e buscando atrair investimentos da iniciativa privada; requalificação das calçadas de áreas comerciais a partir do alargamento e implantação de equipamentos; tratar a 13 de Maio como corredor cultural; arborizar ruas; criar uma universidade aberta de artes aproveitando o potencial artístico e boêmio do bairro. Por fim aborda a questão da habitação visando “desadensar” os cortiços, reduzindo o número de famílias em cada um desses imóveis e gerando moradia digna, com viabilidade econômica para atrair a iniciativa privada; estas novas edificações teriam comércio e serviços nos primeiros andares, que deverão pagar pelo ponto, pelo menos o custeio do terreno, reduzindo assim o custo da moradia. 4. PROGRAMA CASA PAULISTA – PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP) – HABITACIONAL CENTRO DA CIDADE DE SÃO PAULO Em 17 de abril de 2012, a Secretaria da Habitação de São Paulo do Governo do Estado de São Paulo, publicou o edital, 004/2012, de chamamento público para construção de habitações de interesse social (HIS) e habitação do mercado popular (HMP). No anexo 2, deste edital, são descritas as áreas de intervenção e as diretrizes técnicas que devem ser adotadas para os projetos. Este programa possui recortes em diversos bairros: Barra Funda, Santa Cecília, Pari, __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 98 Tamanduateí, Bom Retiro, Pari, República, Bela Vista, Liberdade, Brás, Cambuci, Mooca, Brás, Belém e Belenzinho, divididos em setores e subdivididos em perímetros ou áreas de intervenção, que por sua vez são agrupados em lotes. Neste estudo, abordaremos especificamente o setor B, perímetro B3. De acordo com o anexo 2, do edital, as principais diretrizes gerais para o programa são: unidade urbana – o desenho deverá ser harmônico para os novos edifícios em relação ao entorno; diversidade arquitetônica – os edifícios dos conjuntos deverão ter identidade, sem que seja desrespeitado o princípio da equivalência; evitar o gueto; evitar o condomínio fechado para a cidade; melhorar a estratégia do espaço público; cidade de uso misto; concentração das intervenções em torno das estações, integração social em torno de valores comuns; reforçar os polos urbanos configurados pelas estações (Metrô e CPTM); Concentração das intervenções ao longo das avenidas, favorecer o surgimento de polos de oportunidade; melhorar a implantação dos grandes eixos de infraestrutura; abrir novas frentes, ou seja, onde cabível abrir ruas paralelas ao trilhos; promover a transposição de barreiras; agrupamentos – agrupar os empreendimentos para potencializar as transformações oriundas destas intervenções, através da criação de eixos ou bulevares para favorecer o surgimento de polos de oportunidades e centros de referência, deverão formar pequenas praças ou largos fomentando o comércio local e os vínculos de vizinhança; __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 99 deverá haver sinergia com a rua, a partir da extensão do uso público para dentro do lote; os usos do térreo deverão ser de interesse público – institucional, comércio e serviços. As diretrizes para os edifícios são: ocupação e animação das ruas, ou seja, deve-se privilegiar a implantação junto ao alinhamento da rua ou próximo dela onde o recuo de frente for obrigatório e integrar este espaço aos passeios públicos com edifícios de maior projeção e consequentemente mais baixos; os edifícios devem se relacionar com a rua, evitando-se os paredões; os edifícios deverão ter usos mistos. Para as HIS haverá três tipologias, apartamentos de 1, 2 ou 3 dormitórios; para as HMP haverá quatro tipologias, compacto, 1, 2 e 3 dormitórios. No anexo existe um “memorial” com as diretrizes técnicas para estas habitações. O setor B é “um conjunto heterogêneo de tecidos urbanos bastante distintos, tendo em comum a vocação habitacional e uso misto de alta densidade” (p. 37). Está subdividido em cinco perímetros divididos em dois grupos, as áreas B1e B2 (Minhocão e São João) é mais verticalizado e está sob ação da Operação Urbana Centro que lhe confere o potencial construtivo máximo de 6. As áreas B3, B4 e B5 (Grota do Bixiga, Bela Vista e 23 de Maio), tem um baixo potencial construtivo e estão sob incidência de ZEPEC. As principais diretrizes para o setor B-Sul são: rede de animação de rua como estratégia de revitalização e preservação do meio urbano; circuitos cultural, gastronômico, boêmio, compras e lazer; espaços para trabalho e aprendizado, com a finalidade de inclusão da população; coexistência de diversos seguimentos sociais em um mesmo lugar; priorizar edificações de uso misto com o térreo comercial ou institucional; sempre que possível utilizar soluções ambientais e de eficiência energética; promover a inclusão dos moradores dos cortiços da área no programa. No setor B3, apesar das oportunidades serem dispersas, os empreendimentos deverão estar próximos e articulados entre si. Devem ser abertas passagens de pedestres nas quadras com mais de 200m de comprimento e promover a conexão entre o bairro baixo e o bairro alto; criar parques de encosta com no mínimo 12.350m²; e implantar escola e creche associadas ao espeço __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 100 verde livre. Deverão ser construídas 184 unidades de HIS, 64 unidades de HMP, e 2.700m² destinados a comércio e serviços. O gabarito máximo dos edifícios é de 15m e o patrimônio histórico deve ser incluído nas ações do programa. 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS Ao longo do tempo, foram elaborados diversos projetos e estudos para revitalizar a Grota do Bixiga, neste pequeno estudo foram abordados três destes projetos que ocorreram ao longo de quase 40 anos. Todos os projetos aqui apresentados têm seu mérito e seu contexto histórico. O projeto de Paulo Mendes da Rocha, na década de 70, previa uma intervenção bastante radical, pois deveriam ser mantidos somente os edifícios com mais de 4 pavimentos que estivessem em bom estado e propôs a partir dos conceitos de urbanismo moderno: pilotis para liberar o térreo, quadras abertas, espaços de uso comum abertos ao público, eliminação de muros ao menos no recuo frontal, etc. Hoje o projeto seria inviabilizado pelos tombamentos de 2002 e o zoneamento de 2004, que alteram a condição que existia na época e exige uma maior relação com as edificações e o entorno pré-existentes no local trazendo um conceito de contiguidade, conforme o desenvolvido na tese de Magalhães (2005, p. 68): “Adotei o vocábulo ‘contiguidade’ para expressar a condição a qual devem se sujeitar as novas estruturas, edilícias ou urbanísticas, a serem inseridas na cidade existente” e complementa “ela se expressa como algo que é próximo, que é vizinho, e que permite ou mantém convivência ou relação de convívio”. No Concurso Nacional de Ideias para a Renovação Urbana e Preservação do Bairro do Bixiga, na década de 90, houve um ponto muito interessante, a população residente foi consultada através de debates públicos e pôde escolher através de votação, qual dos três projetos finalistas mais se adequavam as suas expectativas em relação ao bairro. O projeto vencedor propôs a criação do “Espaço Bexiga” para gerenciar as intervenções que ocorreriam no bairro. Vale __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 101 ressaltar que apesar do “Espaço Bexiga” não ter sido formalmente criado, a população desta região é bastante engajada, o bairro conta com: a Paróquia de Nossa Senhora Achiropita, que possui diversos trabalhos sociais, além de organizar uma das festas mais tradicionais da cidade; o Museu Memória do Bixiga, criado em 1980 por Armando Puglisi e cujo acervo é composto por peças de seu criador e dos moradores do bairro; o site www.bixiga.com.br e o blog http://bixigaamoremio.blogspot.com.br, onde é contado um pouco do que acontece no bairro e são divulgados eventos para a população; a Rede Social Bela Vista, criada em 2005, com a finalidade de articular as mais de 40 organizações dos setores públicos e sem fins lucrativos, que atuam nesta área através de reuniões mensais e fóruns trimestrais, com participação expressiva da população do bairro. Esta rede atualmente trabalha no “Plano de Desenvolvimento Local Bixiga 2014” trabalhando em três pilares: meio ambiente, econômico e social, e no “Plano de Bairro Bela Vista 2020”. Neste contexto é possível verificar uma coletividade que permeia o cotidiano dos moradores do bairro. A identidade coletiva é outra questão que se coloca nos estudos de revisão do urbanismo. O tema passa a ter pertinência quando o lugar volta a ter importância, quando o universal já não é mais o único destino, quando a certeza convive com a incerteza. (MAGALHÃES, 2005, p. 54) O projeto do Programa Casa Paulista, a Parceria público-privada – Habitacional centro da cidade de São Paulo é o mais atual e está em andamento. Como a Grota do Bixiga, por si só não atrai investidores, incluíram no lote 2, três setores B (República / Bela Vista), C (Liberdade / Brás) e D (Indústrias Cambuci / Mooca). Este projeto apesar de também ter conceitos do urbanismo moderno como a quadra aberta e o térreo com acesso ao público, também presentes no projeto de Paulo Mendes da Rocha, tende a causar uma ruptura menor com o tecido urbano atual. Hoje a Grota é considerada área envoltória de bens tombados, além de conter diversos bens tombados com o nível 3 de preservação, que não permite uma demolição em massa em seu território. Até o __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 102 momento o projeto trata de premissas, e os investidores é que vão desenvolver os projetos urbanos e arquitetônicos, ficando o desafio de costurar os conceitos das diretrizes com a grota atual, procurando intensificar as relações que existem com o local. No dia 6 de junho de 2013, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (ASBEA), noticiou que o Ministério Público Estadual de São Paulo, ajuizou uma ação civil pública para paralisar o projeto, alegando que não houve participação popular na elaboração do edital da Parceria Público-Privada (PPP) de acordo com o requerido no Estatuto das Cidades (Lei federal nº 10.257/2001), alega-se também que a participação popular até o momento atende somente ao disposto na Lei de Licitações (Lei federal nº 8.666/93). O arquiteto Abílio Guerra (2012), demonstra preocupação quanto ao tema revitalização da Grota do Bixiga, especialmente por haver uma apropriação deste espaço muito típica de seus moradores e que conta um pedacinho da história de São Paulo. De vez em quando se lembram do grotão. O arquiteto Paulo Mendes de Rocha arriscou um projeto de revitalização da área e, no seu vácuo, profissionais diversos já palpitaram sobre um destino mais alvissareiro para esta região deprimida. Se alguém for realmente fazer algo nesta área, espero que seja um arquiteto do porte de nosso prêmio Pritzker. E torço para que não seja acompanhado da expulsão desta gente simples que merece estar ali. Mas, no fundo, o que torço mesmo é para que a esqueçam por mais algum tempo – com sorte, algumas décadas –, que troquem a revitalização artificial da área pela vitalidade arcaica que lhe dá o caráter. O isolamento tem como aliado a própria inexistência oficial do Bixiga, bairro tradicionalíssimo desprezado pela divisão administrativa da cidade, [...] Passear por ali é se deparar com a memória da cidade provinciana que São Paulo foi até anteontem. (Guerra, 2012) O que resta neste momento é acompanhar o desenrolar dos trâmites da parceria públicoprivada e do Ministério Público Estadual de São Paulo, além de acompanhar as modificações que serão introduzidas com a nova estação do metrô. Assim como o arquiteto Abílio Guerra, vários outros arquitetos e residentes deste bairro, que apesar de degradado possui relação ímpar com sua população fixa e flutuante, tem a preocupação de resolver a complexa equação de como fazer __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 103 uma revitalização, sem que com esta modernização se perca a identidade que hoje é tão enraizada neste território. REFERÊNCIAS ARTIGAS, Rosa (org.). Paulo Mendes da Rocha. Cosac & Naify, 2ª ed., 2002. CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. Tradução de Diogo Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 2ª edição, 14ª reimpressão, 2011. CANEVACCI, Massimo. A cidade polifônica: ensaio sobe a antropologia da comunicação urbana. São Paulo: Studio Nobel, 2ª ed., 2004. CONPRESP. Resolução nº 22, de 2002. São Paulo, SP. Disponível <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/49c99_22_T_Bairro_da_Bela_Vista.pdf>. em: Acesso em: 04 mai. 2013. ESTADÃO discute o futuro do Centro paulistano. Disponível em <www.bixiga.com.br/telas/comite-centro.html>. Acesso em 08 mar. 2001. FELDMAN, Sarah. Por que um concurso de idéias. Revista Projeto Design, nº 138, p. 80-86, fev. 1991. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria da Habitação. Anexo 2 do edital – Diretrizes para as intervenções urbanas. São Paulo: 2013. Disponível em <http://www.habitacao.sp.gov.br/casapaulista/downloads/ppp/diretrizes_para_as_intervencoes_ur banas.pdf>. Acesso em 26 mai. 2013. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria da Habitação. PPP – Habitacional centro da cidade de São Paulo – Audiência pública – Casa Paulista. São Paulo: 2013. Disponível em <http://www.habitacao.sp.gov.br/casapaulista/downloads/ppp/audiencia_publica_apresentacao_pp p_habitacional_25mar2013.pdf>. Acesso em 26 mai. 2013. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 104 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria de Transportes Metropolitanos. PPP Linha 6-Laranja de metrô – Processo STM nº 000770/2012. Disponível em <http://www.stm.sp.gov.br/index.php/acontece/ppp-linha-6>. Acesso em 26 mai. 2013. GUERRA, Abílio. Grotão do Bixiga. São Paulo: Vitruvius, Arquiteturismo, 064.01 passeio pelo bairro, ano 06, jun. 2012. Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/06.064/4389>. Acesso em 25 mai. 2013. MAGALHÃES, Sérgio Ferraz. Ruptura e contiguidade: a cidade na incerteza. 2005. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. MARZOLA, Nádia. Bela Vista. São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico – Divisão do Arquivo Histórico. 2ª ed. 1985. METRÔ. Governador Geraldo Alckmin anuncia edital de licitação para as obras da linha 6 – laranja de metrô. Disponível em <http://www.metro.sp.gov.br/noticias/governador-geraldo-alckmin-anuncia- edital-de-licitacao-para-as-obras-da-linha-6laranja-de-metro.fss>. Acesso em 30 mai. 2013. METRÔ. Obras – Desapropriações: Linha 6 – Laranja. Disponível em <http://www.metro.sp.gov.br/obras/desapropriacoes/linha-6-laranja.aspx>. Acesso em 30 mai. 2013. MOREAUX, Nazareth. Quem conta a história do Bixiga. São Paulo: Pajgraf Gráfica e Copiadora LTDA ME. [2000?] MUSEU MEMÓRIA DO BIXIGA. O museu. Disponível em <http://www.museumemoriadobixiga.com/2_brasil/museu.htm>. Acesso em 30 mai. 2013. PAES, Célia da Rocha. A cidade, o homem – uma identidade. Revista Projeto Design, nº 138, p. 78-79, fev. 1991. PROJETOS e ações para revitalizar nossa comunidade. Disponível em <www.bixiga.com.br/telas/comite3.htm>. Acesso em 08 mar. 2001. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 105 REDE Brasil Atual. Ministério Público quer paralisar projeto de PPPs para moradia no centro de São Paulo. ASBEA, 06 jun. 2013. Disponível em <http://www.asbea.org.br/escritoriosarquitetura/noticias/imprime290515.asp>. Acesso em 07 jun. 2013. REDE SOCIAL BELA VISTA. Plano de desenvolvimento local Bixiga 2014. Disponível em <http://www.redesocialbelavista.com.br/Arquivos/20101025045318_7651145_PaineisB2014%201 4Out.pdf>. Acesso em 11 mai. 2013. REDE SOCIAL BELA VISTA. Plano de Bairro Bela Vista 2020 – Versão 3. Disponível em <http://www.redesocialbelavista.com.br/Estrutura/Modulos/Noticias_Detalhe.aspx?id=432>. Acesso em 11 mai. 2013. ROCHA, Paulo Mendes da. Parque da Grôta: Reurbanização da sub-região da grôta do bairro da Bela Vista. Revista Módulo, nº 42, p. 53-57, mar./abr./mai. 1976. SÃO PAULO (SP). Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004. Estabelece normas complementares ao Plano Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo. Disponível em < http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/legislacao/planos_regi onais/index.php?p=822>. Acesso em 15 mai. 2013. SCHUTZER, José Guilherme. Cidade e Meio Ambiente: A apropriação do relevo no desenho ambiental urbano. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012. VILLAC, Maria Isabel. América, natureza e cidade: Paulo Mendes da Rocha. São Paulo: Estação Liberdade, 2012. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 O METRÔ DE SÃO PAULO E AS NORMAS DE ACESSIBILIDADES RESUMO Este trabalho tem como objetivo analisar a acessibilidade do Metrô de São Paulo, em relação à NBR9050/04 e o Decreto 5.296/04, em seu entorno, equipamentos urbanos, edificação, comunicação visual e os trens. Esta análise comparativa entre os setores que compõem o sistema do metrô e a principal norma brasileira visa principalmente alertar os projetistas e demais órgãos governamentais envolvidos na concepção de projetos acessíveis, para que possa atender especialmente as pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. A estrutura metroviária é formada por segmentos que são ou deveriam ser acessíveis e utilizados por todos os usuários com autonomia inclusiva, ou seja, qualquer usuário possa acessar os trens do metrô desde o seu entorno, plataformas e carros sem necessitar para isso, da ajuda de terceiros ou funcionários da companhia. Visa demonstrar a diferença entre o que o que as normas brasileiras tratam para os sistemas de transportes coletivos, no caso o metrô e a realidade encontrada nas diversas estações das linhas do metropolitano. Palavras-chave: metrô, normas, acessibilidade. ABSTRACT This paper aims to analyze the accessibility of the São Paulo Metro, regarding NBR-9050/04 and Decree 5.296/04, in your surroundings, urban equipment, building, visual communication and trains. This comparative analysis of the sectors that make up the subway system and the main Brazilian standard mainly aims to alert designers and other government agencies involved in project design accessible, especially to serve people with disabilities or reduced mobility. The subway structure is formed by segments that are or should be accessible and used by all users with autonomy inclusive, ie any user can access the subway trains from its surroundings, platforms and cars without the need for this, the help of third parties or employees of the company. Aims to demonstrate the difference between what the Brazilian rules deal for public transport systems, where the subway and reality found in the various stations of the subway lines. Key words: subway, standards, accessibility. 107 O METRÔ DE SÃO PAULO E AS NORMAS DE ACESSIBILIDADES José Lima Bezerra1 José Geraldo Simões Júnior2 1. INTRODUÇÃO Este trabalho tem como principal objetivo, levantar os vários problemas que ainda são decorrentes nos transportes públicos, em especial o Metrô de São Paulo, no que se refere à acessibilidade para as pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. É fundamental para que todos os usuários do sistema metropolitano indiferentes de classe social a que pertençam, tenham o direito de estarem inseridos no contexto do transporte público acessível bem como as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, possam estar também utilizando os meios de transportes públicos acessíveis, com autonomia e inclusão social. No Brasil, assim como em várias partes do mundo, vem acontecendo mudanças de atitude por parte de profissionais e governo com o intuito de priorizar os projetos e técnicas de construção voltadas à inclusão da pessoa com deficiência, o qual tem contribuído as normas e leis que regulam a obrigatoriedade nas adequações dos espaços públicos e de uso coletivos. Como exemplo a NBR-9050/04 que trouxe inovações e 1 Arquiteto e urbanista, mestrando em arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Av. Consolação, 896- São Paulo. Tel. 2114-8792 [email protected] 2 Arquiteto e urbanista pela USP, mestre pela FGV-SP, doutor pela USP, com pós-doutorado pela Universidade Técnica de Viena. Professor adjunto da FAU-Universidade Presbiteriana Mackenzie, Av. Consolação, 896- São Paulo. Tel. 21148792 [email protected] __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 108 melhorias para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e o Decreto 5.296/04 que regula as Leis 10.048/00 e 10.098/00. Infelizmente ocorreu um aumento significativo de exemplos de atuações que visam exclusivamente cumprir essas determinações legais, e que por muitas vezes apresentam-se ineficazes, oferecendo um produto ou soluções que não atendem legalmente as necessidades dos usuários. Padronizam tais projetos e serviços como se fosse uma linha de fábrica, sem considerar as normas técnicas e a evolução tecnológica, que caracterizam os ambientes e a diversidade do público alvo a ser atendido e sem agregar os demais valores e benefícios para as pessoas com mobilidade reduzida. Segundo o (IBGE, 2010), um grande número de brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência, mais precisamente 23,9% da população distribuída em todas as faixas etárias. São pessoas que apresentaram determinado grau de dificuldade, seja visual, auditiva, mental ou com uma deficiência física. Segundo ainda o (IBGE, 2010) mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, ou seja, quase 24% da população brasileira, apresenta determinada deficiência que limita ou dificulta a mobilidade. No Brasil existem várias leis que regulam os direitos dos cidadãos com algum tipo de deficiência ou com mobilidade reduzida. O decreto 5.296/04 que regula as leis 10.048/00 e 10.098/00 estabelece os critérios básicos que norteiam e promovem a acessibilidade das pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida, deficiência visual, auditiva ou mental. Mas é a NBR-9050/04 que norteia as construções e edificações bem como a comunicação visual que é ignorada pela maioria dos projetistas que lidam com a causa pública, em especial no sistema de transportes públicos em São Paulo. Considerando que é o momento de se conscientizar e mobilizar ações para lidar com a diversidade humana, promovendo a inclusão das pessoas com mobilidade reduzida, o presente trabalho teve como objetivo também, avaliar a acessibilidade urbana, no principal __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 109 sistema de transporte público de São Paulo, visando à inclusão social das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A inclusão social é a maneira pela qual a sociedade consciente, integra os cidadãos excluídos ou marginalizados a fim de criar um único sistema de convívio social, trazendo em fim, pessoas que na maioria das vezes, apresentam alguma deficiência física, mobilidade reduzida ou necessidades especiais. É pela inclusão social que essas pessoas possam se sentir cidadãs e ter a mobilidade autônoma podendo assumir seus papéis na sociedade. Se a sociedade se modifica de forma positiva e globalizada, do mesmo modo deve propiciar às pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, condições favoráveis para adaptação, de acordo com suas limitações, favorecendo o seu desenvolvimento através da educação e da qualificação para o lazer e convívio social harmonioso com toda a sociedade. Assim, por serem seres humanos, são diferentes, pertencem a grupos variados, convivem e desenvolvem-se em culturas distintas. São então diferentes de direito. É o que se chama de direito à diferença. Mesmo que as pessoas apresentem características diferenciadas, decorrentes não apenas de deficiências, mas também de condições socioculturais e econômicas desfavoráveis, elas terão direito à liberdade e à igualdade de oportunidades garantidas em forma de lei que deve ser aplicada para que todos possam ter o direito de ir e vir com autonomia. Segundo (LOPES, 2005), o estudo de como esses parâmetros da pessoa com deficiência interferem em sua relação com o ambiente dando origem aos conceitos de acessibilidade que integram a metodologia, são as informações que permitem identificar simultaneamente os problemas e as situações ideais em relação a deslocamento, circulação, alcance manual, campo de visão, alcance auditivo, facilidade de compreensão e percepção dos espaços e das informações fornecidas. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 110 Mais do que indicar modelo e ditar normas e posturas para que se torne um ambiente ou espaço com nível de acessibilidade aceitável para pessoas com deficiência, hoje o tema se qualificou com uma importância acentuada dentro dos espaços públicos, especialmente em importantes centros como São Paulo. No Brasil, a partir da década de 90 onde se chamou a atenção dos profissionais da área de arquitetura e profissionais afins, para projetar em nome de uma nova realidade e de um novo segmento da sociedade, a sociedade dos excluídos. Após esse período, aparecem leis que obrigam a construção, projeto e adequação de algumas tipologias de edificação e espaços públicos em particular o Sistema Metroviário de São Paulo. O que se pleiteia aqui é uma proposta que possa influenciar na qualidade do projeto contribuindo para que todos os conceitos de mobilidade acessível possam estar presentes em projetos que cuida da causa da acessibilidade, desde a fase inicial até a consumação do projeto executivo e sua aplicabilidade seja em construção ou reforma. Segundo ainda (LOPES, 2005), para que todos esses objetivos sejam alcançados, é necessário conhecer e compreender a evolução histórica da classificação e conceituação das deficiências, assim como das leis que ordenam as construções e edificações da cidade, particularmente aquelas voltadas a garantir a acessibilidade no transporte público. 2. CONCEITO DE ACESSIBILIDADE Segundo (RAIA, 2000), o conceito de acessibilidade tem sido abordado e debatido há bastante tempo, mas mesmo assim, ainda está moderno e continua atualizado para que se possa estudar e elaborar projetos de cunho urbanísticos e de transportes de natureza pública e privados tornando um mensurador dos serviços de qualidade acessível. Já (CHALLURI, 2006), enfatiza que não existe uma única definição para a acessibilidade, podendo ter vários significados e utilização, desde os entornos, edificações e sistemas de transportes em que há a facilidade de locomoção das pessoas com deficiências ou mobilidade __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 111 reduzida. Situações onde todos podem se locomover com autonomia inclusiva entre duas localidades, com conforto, tempo de viagem de acordo com os padrões normais e acima de tudo que não haja discriminação por parte de operadores e servidores dos sistemas de transportes. Para a maior parte da população da cidade de São Paulo, os deslocamentos são feitos através do sistema de transporte público, no caso o Metrô de São Paulo que segundo o próprio metrô transporta diariamente cerca de 2.999.000 milhões de passageiros e que precisa oferecer aos seus usuários, transporte de qualidade acessível. Portanto, para que haja acessibilidade no Sistema Metropolitano de São Paulo, é preciso haver todo um conjunto acessível, que vai desde o entorno, como calçadas, guias rebaixadas, sistemas de acesso até chegar aos bloqueios, circulação vertical, plataformas e trens. Para o (Ministério das Cidades, 2006), a acessibilidade pode ser entendida como uma maneira em que todos possam desfrutar da igualdade no desenvolvimento da sociedade em todos os níveis sem que haja interferência de outros, tornando tais indivíduos, aptos para processar o desenvolvimento socioeconômico e cultural, tornando-os importantes para a sociedade em que residem, trabalham e consomem. Em resumo, a acessibilidade é a qualidade em que todos os cidadãos sem distinção de qualquer natureza, desfrutam para a realização de suas atividades diárias com o menor esforço físico despedido e com autonomia inclusiva em todos os meios urbanos, arquitetônicos e de transportes. O sistema de acessibilidade física no transporte, definida como uma das condições para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos serviços de transporte coletivo de passageiros, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, constitui-se um dos principais aspectos técnicos na avaliação da qualidade na circulação urbana, uma vez que possibilita a utilização de veículos e espaços por todas as pessoas, especialmente para pessoa com deficiência física ou mobilidade reduzida. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 112 Segundo (PRADO, 1997), as cidades devem ser acessíveis a todas as pessoas desde o seu nascimento até a velhice. Já (GUIMARÃES, 1995), complementa afirmando que os espaços devem permitir aos seus usuários indistintamente, maneiras de serem usados, explorados, providos de elementos aglutinadores, capaz de oferecer as condições de uso sem a interferência de outros. Tornando com isso o conjunto adequado a todo tipo de necessidade ou condição. Quando as condições das cidades refletem diretamente no desempenho de seus usuários, então a acessibilidade inclusiva se expressa socialmente e sua carência impede a conquista da autonomia e da independência dos seus cidadãos. O sistema de transportes acessíveis tornou-se um grande desafio para os governos e sociedade nos dias atuais, pois determina que haja a eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas nas cidades, nos edifícios, nos sistemas de transportes e na comunicação visual em geral. Para arquitetos e urbanistas estas considerações devem ser encaradas logo no início de cada projeto acessível. Sobre a realidade brasileira e de São Paulo, as projeções enfatizam o dever principalmente por parte dos políticos, sobre a importância de se ter uma política permanente na questão da acessibilidade tanto nas edificações quanto nos sistemas de transportes coletivos públicos, e de assegurar os direitos das pessoas com deficiências e mobilidade reduzida. Segundo (RYHL, 2004), todo arquiteto, urbanista ou planejador que trabalha com o fim de criar ambientes acessíveis com a inclusão social, deve ter a acessibilidade como elemento primordial, considerando também o acesso da percepção e da experiência da qualidade arquitetônica dos ambientes planejados, caso não seja considerado, a acessibilidade como parâmetro principal em seus projetos, tornar-se-á um fiasco para o acesso parte das pessoas que irão utilizar tais espaços. As questões relativas à acessibilidade e inclusão social têm sido bastante discutidas em diferentes áreas da sociedade e de atuação de diferente profissionais. A acessibilidade, como definição de vários pesquisadores, envolve de uma maneira geral todos os __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 113 parâmetros que influenciam o movimento, a ação humana no meio ambiente. A partir da conceituação de acessibilidade, o desafio que se coloca é responder de que forma é possível que todas as pessoas, sem restrições, possam exercer seu direito de ir e vir, garantido pela constituição. A mobilidade urbana acessível é a medida de avaliação da qualidade dos serviços de transporte urbano oferecidos pelos poderes públicos, mesmo atendendo as diferenças heterogenias da população em relação às suas necessidades. (...) O principal meio de deslocamento para a maior parte da população é o transporte público. A acessibilidade era analisada apenas pela instalação de elevadores em ônibus para deficientes, o que impedia uma análise mais abrangente do problema, ignorando outras necessidades existentes. Portanto devem-se levar em conta os ambientes como calçadas, estações e os veículos do sistema de transporte. (...). PIANNICI, (2011). 3. ACESSIBILIDADE NO METRÔ DE SÃO PAULO Fazer o transporte de passageiros numa cidade com o tamanho e os problemas de São Paulo, não se resume apenas em levar e trazer pessoas de um lugar para outro com a rapidez e pontualidade que se espera de um bom transporte público sem haver a preocupação com a segurança, autonomia e facilidade de acesso para todos os usuários. Para isso, inclui também desde a malha de transporte público bem planejado até um sistema de vias coletoras capazes de atender a demanda de usuários com eficiência. Porém, este sistema eficiente de transporte público pode não ser totalmente competente, quando esta grande região, que é São Paulo, desenvolve sem o planejamento por parte dos governantes, tornando-se mais densa em uma região do que em outras, o que dificulta a mobilidade urbana acessível de seus habitantes. O Metrô de São Paulo passou por esses processos de expansão da sua rede, sem a preocupação dos projetos iniciais, de entregar ao público em geral e em especial os usuários deficientes ou com mobilidade reduzida, um sistema de transporte capaz de transportar esses passageiros com autonomia inclusiva, dignidade e respeito por parte do poder público. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 114 A primeira linha a iniciar a instalação de equipamento de transporte vertical, foi a linha 03 Vermelha que liga o Terminal Barra Funda a Itaquera. Só que um sistema acessível não funciona apenas com o transporte de pessoas das plataformas às áreas de saídas e bloqueios, é preciso haver uma preocupação que vai desde o entorno onde os passageiros iniciam suas viagens até o embarque final nos trens. Segundo o (METRÔ, 2012), a estação com maior número de passageiros foi o Terminal Barra Funda na Zona Oeste da capital, com 59,5 milhões de pessoas por dia o qual foi determinante para fazer uma breve análise da atual situação em que se encontram seus acessos e sistemas e circulação. A Estação Barra Funda objeto desse artigo, ainda não está totalmente acessível, apesar das melhorias já realizadas ao longo da sua existência como sinalização através de piso tátil e de alerta, sistema de comunicação visual, transporte vertical feito através de elevadores e troca de corrimãos juntamente com a sinalização de degraus. Só que um dos principais fatores negativos e que poucos se preocupam é o entorno juntamente com os acessos à estação. Para que se tenha ideia do que existe no acesso de quem vem ou vai para o Shopping West Plazza, simplesmente não há guia rebaixada nem piso adequado à mobilidade acessível. Na figura 1 abaixo, está demonstrada a realidade existente e o que diz a NBR-9050/04, com relação aos fatores negativos do entorno da estação. Segundo A NBR-9050/04 no item 6.10.11.9, “Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado pelo rebaixamento, de no mínimo 0,80 m, sendo recomendáveis 1,20 m”. Já no item 6.10.11.10 “As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projeção horizontal mínima de 0,50m e compor planos inclinados de acomodação, a inclinação máxima recomendada é de 10%.” __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 115 Figura 1: não há rebaixamento da calçada de acesso à estação. Fonte: arquivo pessoal. 06/10/2013. Também não há sistema de piso direcional ou de alerta, itens importantes para que as pessoas com deficiência visual possam se locomover com autonomia inclusiva. Na figura abaixo, mais uma vez é demonstrada a falta de elementos que copõem o sistema de entorno acessível. A NBR-9050/04, diz no item 6.1.1 que “os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não provoque trepidação em dispositivos com rodas cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê.” Não é o que está demonstrado na figura 1 acima em que é nítido o uso do piso intertravado em primeiro plano e mosaico português no passeio. De acordo com A NBR-9050/04, é preciso que haja o piso de alerta em situações em que envolvam risco de segurança, devendo está associado à faixa de cor contrastante com o piso adjacente, item 6.1.2. Já o piso tátil direcional tratado no item 6.1.3 diz que o piso deve ser usado quando não há uma linha tipo guia para direcionar e balizar as pessoas com deficiência visual seja em áreas internas e externas. Na próxima figura 2 abaixo, é claro a falta dos pisos táteis de alerta e direcional, o que requer pelos usuários com deficiência visual, a companhia de funcionário do Metropolitano. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 116 Figura 2: não há piso tátil de alerta e direcional. Fonte: arquivo pessoal. 06/10/2013. Uma condição constrangedora para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, é a falta de espaço para que pessoas com cadeiras de roda ou sistema de pisos de alerta e direcional onde no meio do passeio fica um pilar de concreto impedindo a passagem de tais usuários para acessar a rampa de concreto que fica por traz da escada de concreto vista ao lado direito. Na figura 3 abaixo, pode ser constatado o relato acima, mais uma vez o entorno dos acessos das estações sem o devido cuidado por parte dos órgãos governamentais no sentido de prover de sistemas acessíveis qualquer acesso que levem os usuários às plataformas dos trens. Figura 3: não há espaço suficiente para utilização da rampa. Fonte: arquivo pessoal. 06/10/2013. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 117 De acordo com a NBR-9050/04, no item 6.1.1 “os pisos Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê).” Diz também que a “inclinação transversal da superfície até 2% para pisos internos e 3% para pisos externos e inclinação longitudinal máxima de 5%. Inclinações superiores a 5% são consideradas rampas e, portanto, devem atender ao item 6.4.” Essa é mais uma barreira arquitetônica deixada como herança de um projeto que não contemplou as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. De acordo com a NBR-9050/04, 5.14.1.2 A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento nas seguintes situações: “no início e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano, conforme exemplificada.” Na figura 04 abaixo é demonstrada a rampa de acesso da Estação Barra Funda que direciona no sentido do Memorial da América Latina, nota-se que não há o piso tátil de alerta conforme tratado no item 5.14.1.2, o que caracteriza uma falha no sistema acessível do metrô. Nota-se também que não há continuidade da parede guia para ser usada pelas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 118 Figura 04: falta piso de alerta no início e fim de rampa, e mudança de direção da rampa. Fonte: arquivo pessoal. 06/10/2013. Fora o item comentado acima, o tipo de piso emborrachado dificulta o acesso pelas pessoas com deficiencia, onde há trepidação elevada dificultando a mobilidade acessível. Como foi analisado acima, a Estação Intermodal da Barra Funda onde está a Linha 03 do Metrô de São Paulo, apresenta vários itens que não atende as normas de acessibilidade. 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS O Metrô de São Paulo através da Estação Barra Funda, apresenta uma acessibilidade que ainda carece ser reformada de acordo com as normas de acessibilidade brasileira. Mas mesmo assim, houve progresso desde que foi construída, apresentando melhora atual em relação ao início quando foi construído. Espera-se que as questões identificadas e analisadas neste trabalho, possam contribuir para uma melhoria nas questões acessíveis do Metrô de São Paulo e de outras estações de convívio público e social. É baseado nesse sentido, e com os conhecimentos e estudos sobre as necessidades do homem que essa reflexão exige uma constante atualização. Evidente que o presente trabalho não __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 119 tem jamais a pretensão de ser uma resposta definitiva a todos os problemas e questionamentos nem mesmo ser prescritivo. Pelo contrário, a metodologia aqui exposta deve ser avaliada como um novo rumo para que novas variáveis sejam incorporadas, e tendo como principal meta, a inclusão social de todos os indivíduos que são usuários do Metrô de São Paulo. Baseado em uma sociedade, que tem seus transportes públicos, como cenário de sua suas relações com o meio urbano. Como considerações finais desse artigo, podemos propor um mecanismo capaz de embasar, ainda que por aproximação, uma maneira racional de técnica e conhecimento que possibilite aos profissionais da área de projetos, a criação de soluções para outros trabalhos urbanísticos e de transporte público na Cidade de São Paulo, dentro dos princípios do Desenho Universal, sem com isso deixar de praticar e atender as necessidades de cada indivíduo com deficiências ou mobilidade reduzida, usando também como parâmetro a NBR-9050/04 para direcionar os projetos futuros do Metropolitano. Além de fazer um diagnóstico dos problemas encontrados em áreas distintas do Metrô de São Paulo, essa reflexão também tem como diretriz apresentar e acrescentar certas recomendações para as adequações dos espaços, que se encontra em desconformidade, e na aplicação contínua da metodologia projetual como também oferecer insumos técnicos para novos projetos e para direcionar o conteúdo de normas e leis de acessibilidade. 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR: 9050. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. Disponível em: <http://www.mpdf.gov.br/sicorde/NBR-9050-30/06/2004.pdf. 97p> Acesso em 07 de outubro de. 2013. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14020 Transporte. Acessibilidade à pessoa portadora de deficiência, trem de longo percurso. Rio de Janeiro, 1997. 5p. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 120 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR: 14021/05. Transporte: Acessibilidade no sistema de trem urbano ou metropolitano. Rio de Janeiro: ABNT, 2005. Disponível em: <http://www.mpdf.gov.br/sicorde/NBR-14021-31/07/2005.pdf. 39p>. Acesso em 06. Outubro. 2013. BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana. Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável. Disponível em: http://www.cidades.gov.br. Acesso em: 09 de outubro de. 2013. CHALLURI, S.An Analysis of Public transit accessibility the distance constrained p-median problem approach: Bus Stop consolidation for the capital area transit system of east baton rouge parish, lousiana. 110f. (Master) – the department of Geography and Anthropology, visvesvaraya technological University, visvesvarya, 2006. Decreto n.º 5.296/2004 –. Senado Federal. Brasília, 2005. 51 p. GUIMARÃES, Marcelo Pinto. Acessibilidade ambiental para todos na escala qualitativa da cidade. TOPOS- Revista de Arquitetura e urbanismo, v.1, n. 1, p.124 - 133, 1999. <HTTP://www.ibge.gov.br.> Acesso em 07 de outubro de. 2013. LOPES, Maria Elisabete. Metodologia de análise e implantação de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e dificuldade de comunicação. 2005. Doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, 2005.428p. http://www.metro.sp.gov.br/expansao/plano_expansao_2007_2010/plano_expansao_2007_2010.a sp Acesso em: em 06 de outubro de 2013. PIANICCI, Marcela Navarro. A análise da acessibilidade do sistema de transporte público urbano: Estudo de caso na Cidade de São Carlos, SP. 2011. Mestrado em Engenharia de transportes pela Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. 100p. PRADO, Adriana Romeiro de Almeida. A cidade e o idoso: um estudo da questão da acessibilidade nos bairros Jardim Abril e Jardim do Lago do Município de São Paulo. São Paulo, 2003. Dissertação (Mestrado). PUC-SP. 112p. RAIA JÚNIOR, A.A. Acessibilidade e mobilidade na estimativa de um índice de potencial de viagens utilizando Redes Neurais Artificiais e Sistemas de Informações Geográficas. São Carlos, __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 121 2000. 217p. Tese (Doutorado)- escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2000. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 EDIFÍCIO CEPISA: REFLEXOS DE UM ARQUITETO MIGRANTE RESUMO Existe uma situação característica da arquitetura moderna produzida em Teresina, capital do Piauí pelo arquiteto Antônio Luiz Dutra de Araújo. Primeiramente devido à sua formação, vindo da escola carioca, graduado na década de 1960 e atuante na construção de agências bancárias do Banco Nacional, Brasil afora. Vindo para Teresina a trabalho, Antônio Luiz depara-se com uma cidade ainda nos primórdios da modernização e com uma demanda significativa de projetos das mais diversas tipologias. Essa grande oferta de trabalho, o traz de forma definitiva para a cidade podendo-se observar claramente a sua preocupação do arquiteto com a inserção do modernismo, sem esquecer-se da realidade em que se encontra Teresina. O arquiteto primou pelo uso de materiais construtivos locais e pela busca pelo conforto térmico (devido às altas temperaturas em que a cidade é submetida durante todos os meses do ano). O Edifício Alberto Silva aqui estudado é um exemplar notório do traço do arquiteto, já que apresenta características preponderantes do ato de projetar de Antônio Luiz, observados principalmente nas circulações e acessos do edifício, além de ser um objeto de estudo que gera questionamentos acerca de sua implantação no centro histórico da cidade. Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Teresina, Edifício Cepisa, Antônio Luiz, prática projetual. ABSTRACT There is a situation characteristic of modern architecture produced in Teresina , Piaui 's capital by architect Antonio Luiz Dutra de Araújo . Primarily due to their training , from school carioca , graduated in 1960 and active in the construction of branches of the National Bank , throughout Brazil . Coming to Teresina to work, Antonio Luiz faces a city still in the early stages of modernization and with a significant demand for projects from various typologies . This large supply of labor, brings permanently to the city can be observed clearly its concern with the insertion of the architect of modernism , without forgetting the reality that lies Teresina . The architect was conspicuous by the use of local construction materials and the search for thermal comfort ( due to high temperatures in the city is subjected during all months of the year ) . The Building Alberto Silva studied here is a copy of the notorious trait of the architect , since it has predominant characteristics of the act of designing of Luiz Antônio , observed mainly in corridors and access the building , in addition to being an object of study that raises questions about its deployment in the historic city center. Key words: Modern Architecture, Teresina, Building Cepisa, Luiz Antônio, design practice. 123 EDIFÍCIO CEPISA: REFLEXOS DE UM ARQUITETO MIGRANTE Leticia Soares Daniel¹ Rafael Antônio Cunha Perrone² 1. INTRODUÇÃO O presente artigo aborda uma análise projetual do Edifício Governador Alberto Silva (1972) (Figura 1), sede da Companhia Elétrica do Piauí em Teresina, que é de autoria do arquiteto mineiro Antônio Luiz Dutra de Araújo, a fim caracterizar sua prática de projetar e conceber um edifício. A escolha deu-se primeiramente por ser uma das principais obras do arquiteto na cidade e ser fruto de um concurso de projetos realizado durante o governo do engenheiro Alberto Tavares Silva. Além disso, devido a sua inserção urbana, seus critérios projetuais e por ser um exemplar construído em um período de modernização que a cidade estava passando. Figura 1: Edifício CEPISA ano 1974. Fonte: Escritório Maloca Arquitetura e Engenharia, maio 2013. O tema escolhido faz parte da dissertação de mestrado a ser apresentada no Programa de Pós Graduação da FAU Mackenzie São Paulo, que objetiva estudar a atuação do arquiteto Antônio Luiz Dutra de Araújo na cidade de Teresina, Piauí, elencando alguns projetos importantes de sua obra para estudo. Existe uma forma de situar o arquiteto no panorama nacional através de sua formação e atuação profissional, podendo ser __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 124 considerado como “arquiteto migrante” de acordo com Bastos e Zein (2010, p.142). A partir dos anos sessenta, houve intensa migração de arquitetos pelo território nacional tanto para conceber projetos em estados distintos quanto para atuar na docência em novas faculdades de arquitetura, esse movimento proporcionou novos debates sobre a produção arquitetônica desse período. Utilizando-se da análise projetual, de aspectos da formação do arquiteto e de sua trajetória na cidade de Teresina, objetiva-se criar uma argumentação que responda ao seguinte questionamento: Quais são as características (critérios projetuais) presentes nas obras do arquiteto, que delimitam sua forma de projetar e conceber um edifício? Waisman (2013, p.57) afirma que é necessária a situação de objetos (de pesquisa) analisados em um contexto para que estes sejam melhor compreendidos, por isso é importante salientar que o arquiteto possui uma característica preponderante em sua trajetória: sendo mineiro, formado na FNA no Rio de Janeiro e posteriormente mudando-se para o Piauí, cria-se a partir daí um contexto particular de atuação. Tenta-se inserir em um estado do nordeste brasileiro, com características provincianas e de difícil aceitação do novo por parte da população, um movimento modernizador que irá encontrar algumas barreiras tanto tecnológicas, quanto climáticas e até econômicas, essa adaptação da arquitetura moderna em um ambiente distinto merece ser alvo de discussão e questionamentos. A metodologia de pesquisa utilizada abrange o levantamento de dados historiográficos (livros, periódicos, dissertações de mestrado, teses de doutorados, artigos), busca de dados primários em arquivos privados e públicos, entrevistas com o arquiteto, visita às obras e levantamento fotográfico. O primeiro tópico da estrutura do artigo discorrerá da trajetória do arquiteto Antônio Luiz, abordando sua formação e atuação profissional. O segundo tópico será um histórico do edifício da CEPISA e o terceiro fará uma análise da obra, através de alguns critérios que __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 125 irão elencar características pertinentes ao modo de projetar do arquiteto. Por fim as considerações finais irão concluir sobre os questionamentos pertinentes. 2. A TRAJETÓRIA DO ARQUITETO ANTÔNIO LUIZ Sabe-se que a inserção da arquitetura moderna no Brasil teve até a década de 1960, Rio de Janeiro e São Paulo como principais centros irradiadores do movimento, estando ali localizados os primeiros exemplares arquitetônicos, as escolas de arquitetura e os principais profissionais. A partir desse período, houve uma disseminação do movimento para outras regiões do país sendo que Antônio Luiz também foi um exemplo desses arquitetos tidos como “migrantes” ou “peregrinos”. Segundo Segawa (2010, p.134): Essas migrações internas – como procuramos demonstrar sinteticamente – transcendem o mero sentido de deslocamento de profissionais em busca de oportunidades melhores. Esse trânsito de profissionais pelo país simboliza uma troca e um enriquecimento de valores que como sementes ao vento, vão desenvolver atitudes em outras paragens. [...] Essas migrações caracterizam um processo de transferência de conhecimento e tecnologia de regiões mais desenvolvidas (como o Rio de Janeiro, São Paulo, e os grandes centros regionais) para outras menos desenvolvidas, num processo indutivo de modernização e uniformização de valores culturais e técnicos de arquitetura. Diplomado em 1962 pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil no Rio de Janeiro, Antônio Luiz Dutra de Araújo, mineiro, de Juiz de Fora, foi aluno de Sérgio Bernardes de quem afirma ter recebido influências, como ele mesmo fala “no modo de ensinar, de projetar, de pensar a Arquitetura e no modo simples e igual de se relacionar com seus alunos”. Ao formarse, foi contratado como arquiteto do Banco Nacional de Minas Gerais S/A, vindo a projetar e acompanhar as instalações de agências do banco pelo território brasileiro como: agência de Vitória, no Estado do Espírito Santo, agência de Recife em Pernambuco, Agência de Manaus, no Amazonas, agência de Teresina, no Piauí e entre outras. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 126 No ano de 1965, Antônio vem ao estado do Piauí a fim de executar o projeto da Agência do Banco Nacional em Teresina. O local era um prédio no centro da cidade em frente à Praça Rio Branco, por trás do que seria mais tarde o Ministério da Fazenda, também projeto de sua autoria no ano de 1971. Em sua visita, conhece o engenheiro Lourival Sales Parente, dono da construtora que levava seu nome, com quem manteve amizade e veio a iniciar uma série de projetos em conjunto, sendo o primeiro deles a agência do Banco Nacional de Teresina. Segundo Afonso (2010, p.23), durante as décadas de 1950 e 1960, período em que o setor imobiliário alavancava um desenvolvimento significativo em cidades no Brasil e no mundo, Teresina ainda encontrava-se com ar de provincianismo. Poucas obras públicas foram produzidas durante esse período, no entanto, o setor privado detinha uma produção significativa de residências (algumas com caráter modernista), principalmente ao longo da Avenida Frei Serafim e em seu entorno. O arquiteto afirma que sua impressão inicial da cidade foi a quase inexistência de obras modernas, a maioria dos edifícios eram em estilo eclético e, existia ainda, uma dificuldade de se encontrar construtores locais para a realização de projetos diferenciados. Até então o arquiteto residia no Rio de Janeiro e havia aberto um escritório com outro arquiteto do Banco Nacional, Márcio Lustosa, chamado Maloca Arquitetura e Decoração Ltda, com sede na Avenida Rio Branco. No entanto, a demanda de projetos para Piauí aumentou consideravelmente e ele veio a trazer, em 1967, uma filial do escritório para Teresina. Localizada na Zona Leste, fora do perímetro da cidade, onde na década de 1960 ainda era pouco ocupada e com muita área verde, a edificação assemelhava-se a “moradias indígenas”, feita com uso de materiais locais: como o tijolo aparente e cobertura em palha de carnaúba, sendo a planta em formato curvo, era um exemplar moderno estilizado. Para Silva (2006), sua produção arquitetônica em Teresina teve das mais variadas tipologias, desde residências, escolas, edifícios institucionais, até clubes de lazer, hospitais dentre outros. No período em que chegou à cidade, existia uma carência de profissionais arquitetos, sendo Miguel Caddah e Anísio de Medeiros alguns dos principais atuantes. Isso garantia uma __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 127 variedade de projetos para o arquiteto, que teve muito de seu trabalho executado, principalmente por serem obras para o Governo do Estado. Em conjunto com o engenheiro Lourival Parente foram feitos os edifícios da Sede do Banco do Estado do Piauí e da Sede do Ministério da Fazenda, ambos estavam com a estrutura em concreto armado em execução e o arquiteto atuou na concepção formal e especificação de todo o resto. O conjunto habitacional do IAPEP (60 casas e 240 apartamentos), o Edifício do Palácio do Comércio, o escritório Maloca e dentre outros. 3. O EDIFÍCIO DA CEPISA | HISTÓRICO Durante o período posterior à segunda guerra, as cidades brasileiras passaram por uma industrialização acelerada acompanhadas de uma forte urbanização. Tal crescimento aparentemente favorável acentuou a ausência de uma política de infraestrutura energética no país, tornando-se um empecilho à dinâmica econômica emergente nesse período. Entre os anos de 1945 e 1962 (período de constituição da Eletrobrás – Estatal responsável pela política nacional de energia), foram organizadas inúmeras companhias públicas de energia elétrica (SEGAWA, 2010 p.161). O edifício sede da CEPISA faz parte de um processo de modernização que Teresina passou a partir da década de 1950. No ano de 1962 é constituída a CEPISA como Sociedade Anônima, com razão social de Centrais Elétricas do Piauí S.A. No início da década de 1970, chega à cidade, durante a atuação do até então diretor das Centrais Elétricas do Piauí, engenheiro Alberto Tavares Silva, o Plano de Distribuição da Rede Elétrica do Estado, que exigia uma sede para a empresa (CAVALCANTI, K; LOPES, R, 2010, P.246). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 128 Figura 2: Imagem da construção do edifício e da Avenida Maranhão ainda sem infraestrutura. Fonte: Site CEPISA, 2010. Em 1971 Alberto Silva é eleito governador do estado do Piauí e de imediato lança um concurso para o projeto arquitetônico da sede, na época a cidade era carente de profissionais da área e de acordo com arquiteto Antônio Luiz foram poucos os participantes. O terreno localizado no centro da cidade, às margens do Rio Parnaíba, já detinha uma usina de abastecimento de energia à base de carvão e alguns casebres de palha nas redondezas. A região, ainda não urbanizada, teve como impulsionador, a concepção do prédio, trazendo infraestrutura urbana ao entorno como o arruamento da Avenida Maranhão (Figura 2) (AFONSO, 2010). Segawa (2010, p.190) afirma que a arquitetura brasileira desenvolvida nos anos do “milagre econômico”, alimentava uma pretensão de alcance de desenvolvimento do país, por isso, planejava-se, projetava-se e construía-se como nunca se fez em outros tempos. Outra característica desse período é que “canonizava-se e burocratizava-se uma postura arquitetônica”, ou seja, não importava qual tipologia ou programa de necessidades de um edifício, a modernidade teria de estar presente, principalmente com estruturas de concreto, o concreto aparente, da competição pelos grandes vãos e maiores panos de vidro, ou seja, o uso desses sistemas para demonstrar o avanço e a modernização. O concurso teve poucos participantes e foi o arquiteto Antônio Luiz, que teve sua proposta vencedora, idealizada em caráter moderno, era um edifício em formato puro cilíndrico até então inexistente na cidade (Figura 3). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 129 Um edifício redondo, de arquitetura arrojada e estrutura inovadora é erguido ao lado de antigas usinas elétricas de carvão em plena década de setenta. Rasga os céus para mostrar a beleza dos contrastes, dos grandes desafios e das melhores ideias: um gerador de energia (CEPISA, 2009). Figura 3: Perspectiva apresentada no Concurso da sede da Companhia Elétrica do Piauí pelo arquiteto Antônio Luiz. Fonte: Acervo do Arquiteto, maio 2012. O prédio foi concebido de imediato, sendo concluído em 1973, inaugurado em janeiro de 1974 e recebeu o nome de Edifício Governador Alberto Silva. O arquiteto afirma em entrevista, que o objetivo inicial do projeto era tratar o edifício de acordo com a função à que ele seria destinado, sendo assim imaginou um gerador. A forma circular se caracteriza como uma superposição de círculos ou de anéis em “fatias, como discos sobrepostos”, afirma o arquiteto, são quatro pavimentos, sendo o térreo disposto parte em pilotis. A proposta ainda detinha um átrio central que fazia comunicação direta com o exterior e encontrava-se solta do lote. Segundo o arquiteto, a partir da década de 1980 “o progresso da cidade trouxe um contrapeso, a malandragem [...] as pessoas desandaram a levantar barricadas urbanas chamadas muros, para se defenderem contra o que, em pouco tempo, passou a se chamar violência”. Essa prática observada em Teresina principalmente no segmento residencial, também atingiu diversos edifícios do setor público como a CEPISA. No ano de 2000, um muro foi levantado em toda a extensão do lote, dificultado o ângulo de visão do edifício e o uso do espaço externo pela população. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 130 4. ANÁLISE DO EDIFÍCIO O desenho é a invenção de um objeto por meio de outro, que o precede no tempo. O projetista opera sobre este primeiro objeto, o projeto, modificando-o até julgá-lo satisfatório. Em seguida, traduz suas características em um código adequado de instruções para que seja compreendido pelos encarregados da materialização do segundo objeto, o edifício ou a “obra”. (MARTINEZ, 2000 p.11) Levando em consideração o conceito de “desenho” descrito acima, será realizada uma análise do edifício da CEPISA, identificando algumas das principais características projetuais e elencando pontos que caracterizem o modo de projetar do arquiteto. Serão utilizadas plantas, cortes e imagens externas do edifício, a fim de ilustrar o argumento. O edifício encontra-se na porção sul do centro de Teresina, foi implantado nas proximidades do Rio Parnaíba, que detém uma paisagem ambiental privilegiada e é delimitado pelas vias: ao norte rua Santa Luzia, à leste rua João Cabral, ao sul avenida Joaquim Ribeiro e oeste avenida Maranhão. Seu entorno é composto por residências e além do rio existe a Praça Da Costa e Silva na porção norte. A Praça construída durante o governo de Dirceu Arcoverde foi inaugurada em 1977 e tem como autor o paisagista Burle Marx em parceria com o arquiteto Acácio Gil Borsói. A relação do objeto de estudo com o entorno é destoante até os dias atuais. No período de sua construção a forma pura e arredondada chamava muita atenção e exaltava a disparidade tanto de arquiteturas como de tecnologias das construções próximas, que eram em alvenaria e casebres de palha, além da presença do Rio Parnaíba (Figura 1). Atualmente, o edifício ainda causa algum impacto por fazer parte do centro histórico da cidade, em uma porção em que não houve grandes mudanças na paisagem. O cuidado do arquiteto ao implantar o prédio solto do lote, é uma característica muito presente em edifícios modernos daquele período, ele parecia pairar sobre as margens do Rio Parnaíba e toda a sua forma poderia ser visualizada a partir de diversas perspectivas. O terreno possui uma topografia com certo declive, com uma diferença de cinco metros no sentido leste – oeste, tendo o arquiteto tirado partido do desnível topográfico para delimitar os acessos e a circulação do edifício. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 131 Inicialmente o projeto também teve um cuidado paisagístico, com a presença de jardins e um espelho d’água em sua entrada. Atualmente o espelho d’água está desativado por falta de manutenção e o edifício foi murado na década 2000 devido à violência do entorno, o que prejudica a visibilidade do conjunto arquitetônico. A planta de formato circular foi essencial para a resolução dos critérios projetuais adotados pelo arquiteto. Primeiro o programa de necessidades, que foi assentado de maneira lógica, ordenado por espaços modulados e observando a sinuosidade dos raios da planta, a fim de criar curvas leves que não dificultassem a função dos ambientes. Outra característica é a setorização dos espaços, bem delimitados através de “anéis” e o posicionamento dos acessos do edifício. Em planta (Figura 3), desde o perímetro externo para o interno, o primeiro anel é a circulação externa de cada andar (uma circulação mais social, utilizada como varanda e área de descanso), o segundo anel seria a disposição das salas para uso dos funcionários, também de uso social. O terceiro anel seria a parte da circulação de serviço e social e é nessa porção do edifício em que se encontram as baterias sanitárias, depósitos e as circulações verticais (escadas e o local predefinido para elevadores), por fim o último anel seria o átrio interno com uma abertura zenital e um jardim interno no piso térreo. Figura 3: Planta baixa do pavimento térreo do edifício CEPISA. Fonte: Acervo da Maloca Estrutura e Engenharia, 2013. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 132 Ching, (2008, p.228) conceitua circulação como “movimento através do espaço”, para o autor, a circulação de um edifício pode ser concebida como a “linha perceptiva que conecta os espaços de um edifício ou qualquer série de espaços internos e externos”. Sabendo que para Antônio Luiz, o ponto de partida de um projeto é a definição das circulações, são elas que delimitam o real espaço a ser utilizado pelo conjunto arquitetônico e é a partir delas que se podem ter diferentes soluções projetuais do espaço edificado. Existe então uma concepção de projeto adotada pelo arquiteto: a circulação como determinante da forma do edifício (Figura 4). Figura 4: Circulação vertical interna do edifício CEPISA. Fonte: Arquivo da autora, 2013. Outro aspecto determinante foi a intenção do arquiteto de apresentá-lo como um gerador de energia: a sobreposição de anéis em quatro pavimentos com um átrio ao centro. A estrutura é resolvida em concreto armado, característica nas obras modernas, onde os pilares são dispostos de forma radial em três “anéis estruturais”. Nesse caso, a planta apresenta-se livre, com o uso de fechamentos em alvenaria nas baterias sanitária e parte das circulações, enquanto as salas eram divididas em painéis, o que trazia certa flexibilidade e liberdade do espaço. Em corte, tem-se um detalhe na laje e no forro dos pavimentos que favorecem a ventilação natural, usando o átrio central como exaustor de calor. Essa preocupação do arquiteto deve-se ao fato de no período de construção do edifício ainda ser raro o uso de aparelhos de ar condicionado na cidade e como o clima de Teresina apresenta altas temperaturas durante todo o ano, existe uma atenção dada ao alcance do conforto térmico no interior dos edifícios. Além da ventilação __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 133 favorecida, houve outro critério projetual explorado: o uso da circulação externa de cada pavimento como quebra-sol, com a colocação de uma painel em laje horizontal, a fim de barrar a alta incidência de raios solares no edifício, controlando além do conforto interno a alta luminosidade dos ambientes. Quanto à plasticidade, o edifício apresenta-se externamente fachadas em tons de ocre, bem leve, com alguns detalhes brancos e observa-se a presença dos fechamentos em vidro, isso garante sobriedade ao conjunto arquitetônico. Além disso, existem rasgos de transparência devido ao fechamento em pano de vidro utilizado para entrada de iluminação natural indireta, dando mais leveza à arquitetura do edifício (Figura 5). Figura 5: Fachada do Edifício. Fonte: Arquivo da autora, junho 2013. Existe um aspecto conceitual do edifício que remete também à formação do arquiteto Antônio Luiz. Tendo sido aluno e admirador de Sérgio Bernardes na FNA e também de suas obras Brasil afora, pode-se observar certa semelhança de concepção formal entre o edifício estudado nesse artigo e o Hotel Tambaú. Construído em João Pessoa no ano de 1966, também detinha planta em formato circular, delimitada por circulações radiais e com a criação de espaços verdes que favoreciam relações entre o externo e o interno do edifício. Em uma concepção que favorecia a observação da paisagem foi estrategicamente implantado à beira mar. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 134 Atualmente, o edifício encontra-se com algumas alterações, o piso interno das salas de trabalho foi todo alterado, antes taco, agora cerâmica. As subdivisões das salas também foi alteradas, assim como a implantação de aparelhos de ar condicionados, o que fez com que as aberturas propostas pelo arquiteto para a circulação de ventos pelo edifício fossem utilizada para a colocação de aparelhos. Houve a desativação dos espelhos d’água na entrada principal do edifício e também do jardim interno no piso térreo do átrio central. Além disso, no ano de 2000 foi colocado um muro alto nos limites no terreno dificultando a visão das relações do edifício com seu entorno. 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS Apesar de grande parte da arquitetura moderna ter sido regida por pontos limitadores funcionais e formais de caráter universal ela adquiriu, conforme se observa no edifício CEPISA, particularidades de acordo com o contexto e o lugar em que estava sendo inserida. Além disso, existe uma visão característica de quem a projeta e concebe, o arquiteto como idealizador de um projeto também influencia o resultado final de modo interpretativo pois em sua formação em base moderna tanto aspectos tecnológicos , funcionais e de conforto foram objeto de sua formação. Suas experiências vivenciadas e seu posicionamento de ampliação de recursos contemporâneos à sua época para definir um edifício administrativo em Teresina alimentaram novas soluções e proposições adequadas ao destino da edificação e a sua incorporação à paisagem e ao clima locais. Antônio Luiz, recém-chegado em Teresina na década de 1960, inserindo-se em um contexto de atraso arquitetônico em que edifícios ecléticos ainda eram construídos, assumiu um papel pioneiro ao inserir alguns dos primeiros prédios modernos na cidade. Atentando para o contexto local como o clima, a disponibilidade de certos materiais e a escassez de tecnologias conseguiu conceber tipologias exemplares modernas, seguindo critérios projetuais como a preocupação __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 135 plástica formal, a circulação de edifícios como ponto principal na resolução de plantas e estruturas que favoreçam o conforto térmico nos edifícios, aplicando-os à realidade da cidade. 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ARAÚJO. A. L. Sobre edifício CEPISA: depoimento. [ 29 de maio, 2013]. Entrevista concedida a Leticia Soares Daniel. BASTOS, Maria Alice. Brasil: Arquiteturas após 1950 / Maria Alice Junqueira Bastos, Ruth Verde Zein. – São Paulo, Perspectiva, 2010. MARTINEZ, Alfonso Corona. Ensaio Sobre o projeto; Tradução Ane Lise Spaltemberg; revisão técnica de Silvia Fisher. – Brasília: Editora: Universidade de Brasília, 2000. MELO, Alcília Afonso de Albuquerque; FEITOSA, Ana Rosa Negreiros. Documentos de Arquitetura Moderna no Piauí. Teresina: Gráfica Halley, 2010. 310 p.: il. MELO, Alcília Afonso de Albuquerque. Arquitetura em Teresina: 150 anos - da origem à contemporaneidade. Teresina: Halley, 2002. SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo.2002. SILVA, Joene Saibrosa da. A Arquitetura Modernista em Teresina (PI) e os projetos do arquiteto mineiro Antonio Luiz. In: 1º Seminário Docomomo Norte/Nordeste, 2006, Recife. Anais 1º Docomomo Norte/Nordeste. Recife: UFPE/UNICAP/CECI/MDU, 2006. WAISMAN, Marina. O interior da história: historiografia arquitetônica para uso de latinoamericanos. São Paulo: Perspectiva, 2013. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 O TODO E A PARTE – CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO DE HABITAÇÕES COLETIVAS RESUMO Este artigo discute noções de processo projetual através da exposição de um tema específico, no qual a lógica de elaboração do partido parece “invertida”, verificando-se certa contradição no confronto com definições modernas segundo as quais: o partido, sendo uma prefiguração do projeto, faz da projetação um processo que desenvolve do todo em direção à parte, o que não difere muito neste aspecto da metodologia proposta por Durand no âmbito da École des Beaux Arts: encaminhar o projeto do geral para o particular. É preciso levar em consideração que nenhum processo projetual é linear e uniforme, portanto, saltos de escala – do particular ao geral e vice versa – são comuns durante o processo. A prática profissional, no entanto, indica que no caso da habitação, o processo se inicia no pensar a célula, a unidade habitacional. Isto porque os dados sobre a unidade e as legislações municipais, compõem a totalidade de dados fornecidos à elaboração do projeto. No sentido de ilustrar a cultura específica de problemas e modelos relacionados a este tema, a argumentação prossegue em duas frentes: - A profunda implicação entre a habitação coletiva e o espaço público nos leva a uma primeira 1 menção a Herman Hertzberger através de sua conceituação de público e privado na arquitetura. - A uma discussão das políticas urbanísticas e consequentes legislações municipais. A atuação recente de arquitetos no programa municipal de urbanização de favelas tem produzido experiências e reflexões novas sobre o problema, sugerindo que a crítica aos dados oriundos de diagnósticos e à legislação representa um aspecto fundamental para a atuação neste campo. A experiência do autor deste artigo com o tema permite apresentar, a título de demonstração, três projetos habitacionais de tipologias distintas na cidade de São Paulo: - PROJETO 1, desenvolvido para o programa de Reurbanização de favelas da SEHAB, que dispõe de legislação específica e alguma flexibilidade para as abordagens de projeto. - PROJETO 2, apresentado ao concurso Habitasampa, conforme a lei de operação urbana-centro. - PROJETO 3, uma torre habitacional isolada conforme a legislação típica da cidade para áreas passíveis de verticalização. Palavras-chave: Processo projetual, Habitação coletiva, modelo urbano 1 HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 137 ABSTRACT This article is a discussion of notions in design process through the exposition of a specific theme, in which the logic of conception seems odd, showing certain contradictions with modern definitions: the parti as prefiguration of the project, makes the design process a movement from the whole towards the part, what is no different of the methodology proposed by Durand in the context of the École des Beaux Arts: conduct the project from general to particular. Assuming that no design process is linear, the design practice points, however, that in the case of Collective Housing, the process works inverted. That is to say it begins with the housing unit, the cell. That´s is because the client´s brief consists basically of data on the unit and city regulations. To illustrate the specific culture of problems and typologies related to the theme, the article proposes two fronts of argument: - The profound relation between urban space and housing blocks, that lead us to the reflections of Herman Hertzberger on public and private in architecture. - The discussion on urban politics and regulations. The recent Project of architects on city urbanization of favelas reveals that critics on briefing´s data represent a turning point for work in this area. The author´s experience with housing allows the presentation 3 different typologies of building blocks in the city of São Paulo, as to propose a discussion between them. Key words: design process, collective housing, urban models __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 138 O TODO E A PARTE – CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO DE HABITAÇÕES COLETIVAS Mario Biselli 2 Eunice Helena S. Abascal 3 A partir de uma compilação e da análise discursiva de alguns teóricos brasileiros, vemos que o partido arquitetônico se define como a idéia inicial de um projeto, sendo sua formulação uma conciliação entre a criação autoral e a racionalidade de uma lógica funcional, e também que, o partido, sendo uma prefiguração do projeto, faz da projetação um processo que vai do todo em direção à parte, o que, não difere muito neste último aspecto da metodologia proposta por Durand: encaminhar o projeto do geral para o particular. Neste artigo abordaremos o projeto de habitação coletiva, tema que se destaca por representar aparentemente o oposto em termos de processo projetual, ou seja, a parte precede o todo, o particular precede o geral, e em diversas escalas. Em toda a experiência do autor deste artigo com a habitação coletiva, seja através de clientes privados, do poder público, por concorrência ou concurso público, o tema apresenta as mesmas problemáticas: a relação entre unidade habitacional e edifício, a relação entre edifício e quadra urbana, a relação entre quadra urbana e cidade. Na escala do edifício temos, por um lado, empreendimentos habitacionais promovidos por incorporadores privados, os quais desenvolvem ideias muito precisas sobre tipo de planta (a que chamam de “produto”) que querem construir a partir de suas pesquisas no mercado imobiliário. 2 Mario Biselli é arquiteto e urbanista formado em 1985 pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, obtém título de Mestre em 2000 e é doutorando pela mesma instituição. É sócio-diretor do escritório Biselii + Katchborian. E-mail: [email protected]. 3 Eunice Helena S. Abascal é Arquiteta e urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (PPGAU UPM). E-mail: [email protected]. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 139 Por outro lado, temos os projetos de habitação promovidos pelo poder público, que estão sujeitos a legislação específica contemplando dados de área por tipo, custo por unidade e dispositivos legais relativos aos índices urbanísticos. Em ambos os casos a informação fornecida ao projetista refere-se basicamente ao projeto da unidade habitacional a partir da qual deverá desenvolver o projeto do edifício. Portanto, pensar a unidade habitacional como primeiro passo é ao mesmo tempo recomendável – não se pode pensar o conjunto arquitetônico sem uma idéia suficientemente desenvolvida da parte - e procedimental, no que se refere à relação com o cliente, que, por assim dizer, não aprovará nenhum edifício sem antes aprovar o apartamento. Numa escala maior do mesmo problema – a parte e o todo - outros aspectos fundamentais se apresentam à avaliação do arquiteto. Destaca-se nesta escala a importância que representam a quadra urbana e a tipologia do bloco habitacional na construção da cidade, conforme a escala do projeto, como definidor das partes que compõe o todo da cidade e, por conseguinte, do caráter da relação entre os espaços privados e públicos, que encontra na habitação o seu campo mais problemático e frágil. Em vista disto, projetar a quadra habitacional significa nada menos do que pensar o próprio modelo urbano. Desse modo, os projetos apresentados aqui pretendem também discutir o modelo urbano da cidade de São Paulo consubstanciado em sua legislação, em cada caso delimitando problemas imediatos de projeto conforme as condicionantes e oportunidades de cada circunstância. A discussão do modelo urbano deve ter em conta o significado de público e privado, que encontramos exemplarmente exposto por Herman Hertzberger: Os conceitos de “público” e “privado” podem ser interpretados como a tradução em termos espaciais de “coletivo” e “individual”.Num sentido mais absoluto, podemos dizer: pública é uma área acessível a todos a qualquer momento; a responsabilidade por sua manutenção é assumida coletivamente. Privada é uma área cujo acesso é determinado por um pequeno grupo ou por uma pessoa, que tem a responsabilidade de mantê-la. [...] Os conceitos de “público” e “privado” __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 140 podem ser vistos e compreendidos em termos relativos como uma série de qualidades espaciais que, diferindo gradualmente, referem-se ao acesso, à responsabilidade, à relação entre propriedade privada e a supervisão de unidades espaciais específicas. 4 Hertzberger cita diversos exemplos de como funcionam estas relações em diversas cidades, destacando o papel da rua como espaço público por excelência, e de como os espaços privados desenham mediações através de espaços semi públicos que favorecem esta relação entre individual e coletivo. A cidade de São Paulo adotou com o tempo uma legislação que privilegia a torre isolada sobre “pilotis”, que em princípio significaria a democratização do espaço no nível do térreo, mas em conseqüência do modo como foi implantada, a intenção por trás da lei resultou em seu contrário. Este fenômeno será demonstrado com o PROJETO 3, um projeto de edifício residencial no bairro do Morumbi projetado para um empreendimento privado segundo esta legislação, fundamentalmente para efeito de comparação, dado que se trata de um edifício privado e carente de relevância pública em si mesmo. O projeto 2, desenvolvido para o concurso HABITASAMPA, um importante concurso público de arquitetura. Trata-se também de uma torre, mas responde à legislação específica do centro de São Paulo (OPERAÇÃO URBANA CENTRO), o que permitiu avançar nos limites urbanísticos e no desenho de espaços públicos e semi públicos amplamente desejáveis no contexto da área central da cidade. O Projeto 1, para Habitação de Interesse social em Heliópolis, por suas características únicas de legislação e condicionantes orçamentários oriundos do Programa de Reurbanização de Favelas da Secretaria de Habitação da Prefeitura do Município de São Paulo, permitiu o retorno a um desenho tradicional de quadra, com os edifícios alinhados à rua e miolo de quadra como pátio interno de uso coletivo acessível a partir da rua, porém protegido desta. Esta oportunidade foi um 4 HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 12 e 13. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 141 importante meio de dar expressão à crítica que este autor tem proferido em diversos artigos e palestras a cerca do modelo urbano da cidade de São Paulo: A cidade de SP sofreu outro enorme golpe com a descaracterização da RUA enquanto tal, ou seja, como espaço público mais importante e simbólico. Este golpe foi desferido pelos legisladores municipais, quando consolidaram as regras para construção de edifícios na cidade a partir de 1972. Nesta ocasião, inspirados e apaixonados como estavam pela cartilha dos CIAM’s e pela Ville Radieuse de Le Corbusier, acharam que seria uma boa idéia inibir o uso misto e adotar franca e indistintamente a torre isolada sobre pilotis como modelo para a cidade, desconsiderando o fato de que, neste modelo, a manutenção do nível do solo como espaço público é nada menos do que a condição básica. Como em São Paulo a propriedade do solo permaneceu privada e nenhuma regra foi estabelecida com relação ao uso do térreo, as novas construções a partir de então começaram apresentar-se à cidade dotadas de extraordinários muros e guaritas, produzindo um efeito nefasto de descontinuidade em nossas ruas. Onde antes as construções alinhadas com o limite do lote junto à calçada da cidade tradicional ofereciam permeabilidade urbana através de galerias e conexões, agora nos deparamos com as fronteiras impenetráveis da absoluta privatização do espaço. Numa perspectiva mais ampla, a crítica de Ermínia Maricato identifica as contradições de um sofisticado e abundante aparato regulatório que normatiza a produção de espaço urbano no Brasil, através de leis rigorosas de zoneamento, detalhados códigos de edificações e exigente legislação de parcelamento do solo, convivendo, na verdade ignorando, a condição de ilegalidade em que vive boa parte da população. As recorrentes discussões técnicas detalhadas sobre posturas urbanísticas ignoram esse fosso existente entre lei e gestão e ignoram também que a aplicação da lei é instrumento de poder arbitrário. A leitura das justificativas de planos ou projetos de leis urbanísticas, no Brasil, mostra o quão pode ser ridículo o rol de boas intenções que as acompanham. 5 5 MARICATO, Ermínia. “As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias” In: ARANTES, Otília; Vainer, Carlos; MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Rio de Janeiro: Vozes, 2011, p. 148. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 142 A continuação de seu argumento enfatiza na lógica da legislação a contradição representada pelo fato de que sua implantação visa à proteção da propriedade privada e mais nada além disso: Ridículo sim, porém não inocente. Cumprem o papel do plano-discurso. Destacam alguns aspectos para ocultar outros. (...) É mais freqüente parte do plano ser cumprida ou então ele ser aplicado apenas a parte da cidade. Sua aplicação segue a lógica da cidade restrita a alguns. 6 Recentemente os arquitetos, não os legisladores, são aqueles que têm tomado iniciativas em seus próprios projetos visando à qualidade do espaço urbano. Há uma percepção recente que identifica a mudança de paradigma, o qual aponta para a qualidade dos espaços públicos que, além das ações do poder público, passa pela responsabilidade da arquitetura privada e das ações dos arquitetos como agentes desta tensão, mediando interesses privados com o desejo profundo de melhoria das cidades onde atuam. Apesar das raras oportunidades de uma ação de projeto contundente para a melhoria urbana, os arquitetos têm encontrado meios de desenhar espaços públicos interessantes. No caso da habitação social a ação dos arquitetos através do projeto tem um potencial ainda maior no que se refere ao desenho dos espaços públicos como parte da tarefa de projetar edifícios habitacionais. Hector Vigliecca insiste em que o projeto é mais importante neste caso, do que diagnósticos, diretrizes e legislações de que o tema é objeto: É paradoxal como um país como o Brasil, com tantas urgências habitacionais, possivelmente a maior aceleração na formação de territórios urbanos, tenha poucos exemplos destacados sobre esta problemática. O essencial é propor o entendimento de que a habitação de interesse social não é um problema de quantidade, nem de custo, nem de tecnologia. O objetivo final é a construção da cidade e, portanto, trata-se de um problema político e de projeto. 6 MARICATO, Ermínia. op. cit., p. 148. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 143 No Brasil se têm gastado dinheiro em excesso com diagnósticos nem sempre necessários. As diretrizes, que são os capítulos de fechamento desses trabalhos, acabam sendo irremediavelmente ineficazes como ponto de partida de um projeto transformador. O projeto não é a conseqüência de índices, nem, apenas uma observância às legislações, nem o “espelho” de uma diretriz de diagnóstico. Muitas vezes chega a ser o oposto dos resultados esperados, pois tenta dar um salto interpretativo que não parte dos dados, mas de um questionamento deles. 7 A abordagem de Hector Viglecca é particularmente significativa em vista do trabalho em reurbanização de favelas, que como veremos, representa atualmente a oportunidade para a elaboração de uma nova cultura de projeto que contemple a favela em sua condição de componente importante na constituição da cidade contemporânea8. PROJETO 1: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CONJUNTO HELIÓPOLIS GLEBA G Intervenção realizada em Heliópolis, maior favela de São Paulo, faz parte do Programa de Reurbanização de Favelas da Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretaria de Habitação.Este novo programa apresenta uma notável mudança de paradigma no trato com a cidade informal representada pelas favelas, até este ponto constando entre os principais problemas urbanos, e por consequência, como uma fonte de problemas variados para a administração municipal. Desde 2005 a prefeitura de São Paulo optou por assumir o risco de afirmar que os assentamentos informais e favelas não são uma doença degenerativa da cidade contemporânea, mas a conseqüência do excesso de velocidade dos processos de migração frente à lenta gestão de sua política urbana. Assumiu o risco de afirmar que as favelas são uma parte daquilo que constitui a realidade urbana da capital paulista. Essa abordagem simples abriu uma nova perspectiva na administração do crescimento de São Paulo, segundo a qual não se deve eliminar a cidade informal, na esperança de fazê-la desaparecer, mas trabalhar para melhorá-la. 7 VIGLIECA, Héctor. “Áreas urbanas críticas”. In Monolito n°7 (2012). Habitação Social em São Paulo, p. 92. 8 BOERI, Stefano; BARONCELLI, Lorenza. “São Paulo Calling”. In Monolito n°7 (2012). Habitação Social em São 9 Paulo, p. 45. 9 Ibid., p. 44. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 144 A Secretaria de Obras da PMSP promoveu em 2012, como a curadoria de Stefano Boeri, o “São Paulo Calling”, um conjunto de exposições e workshops itinerantes com foco nas favelas e nos projetos organizados no âmbito de sua nova política de reurbanização. Segundo o curador, o laboratório e a pesquisa para o “São Paulo Calling” começam a destacar grandes temas comuns aos assentamentos informais em todo o mundo e podem ser resumidos em pontos de um “primeiro esboço de um manifesto”, o qual procura redefinir o conceito de favela tanto para nortear a ação do poder público como para fortalecer a noção de cidadania no todo da cidade. Imagem 1. Conjunto Heliópolis Gleba G. Croquis Mario Biselli. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 145 No contexto desta nova visão de realidade, o autor colaborou com a Secretaria na elaboração deste projeto em um sítio localizado na entrada da comunidade de Heliópolis, em uma posição de conexão entre a cidade formal e a cidade informal, e neste aspecto particular se assenta a sua relevância. O sítio se localiza na confluência da Avenida Comandante Taylor com a Avenida das Juntas Provisórias, em uma área de um antigo alojamento provisório, onde serão edificados 420 unidades habitacionais de 50m2 cada, totalizando aproximadamente 31.000m2 de construção. A habitação social está pensada claramente como construção da quadra urbana, como construção da cidade, privilegiando os espaços públicos de interesse do morador, protegido da rua, e a dotando de programa comercial e de serviços o nível térreo. A relação espaço/cidade baseia-se no modelo da "quadra européia", com implantação sem recuos e com pátio interno, que estabelece caráter articulador entre o tecido formal e informal da cidade, acessado através dos pórticos, criando fluída conexão potencializada pelo desenho paisagístico. Os desníveis naturais da geografia do lugar permitiram a construção até 8 pavimentos sem o recurso a elevadores, com acessos em diversos níveis e em conformidade com a legislação de subida máxima. Por este motivo o projeto demandou a construção de um conjunto de passarelaspontes de conexão entre blocos que permitiram o aproveitamento máximo dos coeficientes de construção. São 420 apartamentos que variam entre dois tipos, com 2 dormitórios, espaço integrado de cozinha, estar e sacada. Os conjuntos contam também com unidades adaptadas aos portadores de necessidades especiais, locados no pavimento térreo, com acesso direto pela rua. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 146 PROJETO 2: HABITASAMPA ASSEMBÉIA A Sehab e a Cohab –SP, com a organização do IAB-SP, promoveram em 2003 um concurso público nacional para dois projetos de habitação de interresse social no âmbito de seu programa de Locação Social para a região central da cidade de São Paulo. A localização central dos terrenos não contemplou apenas a meta comum do IAB e da Prefeitura de revitalizar o Centro, mas foi além do atender trabalhadores, informais ou não, que trabalham no Centro e ali vivem amontoados em tugúrios e cortiços ou, no limite, moram na rua ou em albergues. Trabalhadores que, na fímbria das atividades econômicas da metrópole, buscam seu sustento e sobrevivência sem dispor de uma habitação digna e, freqüentemente, sequer de um endereço. 10 Este projeto participou do concurso para o terreno da rua Assembléia, próximo à praça João Mendes. O terreno pertence à Secretaria de Negócios Jurídicos, foi liberado para o concurso apenas parte do terreno, desde que reservado o espaço para a construção futura do prédio desta Secretaria e a manutenção do atual estacionamento e garagem. 10 Concurso HabitaSampa para projetos de habitação de interesse social na região central da cidade de São Paulo. Prefeitura de São Paulo. 2004, p. 14. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 147 Imagem 2. Habitasampa Assembléia. Croquis Mario Biselli. O edifício residencial se define por duas barras dispostas em "L", forma que responde à geometria natural do terreno e que se torna ainda mais precisa com a delimitação da área para o futuro edifício da SNJ. O conjunto arquitetônico procura uma inserção urbana típica da área central, completando empenas "cegas" existentes, oferecendo permeabilidade urbana e integrando-se aos espaços públicos no nível da rua, associando-se ou procurando composições volumétricas com os gabaritos de altura existentes na quadra. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 148 PROJETO 3: EDIFÍCIO RESIDENCIAL NO BAIRRO DO MORUMBI Imagem 3. Edifício Residencial no Morumbi. Croquis Mario Biselli. Este é um edifício residencial promovido pela iniciativa de incorporadores privados, foi realizado entre 1992 e 1997. Não foi objeto de concurso público; sua relevância se estabelece apenas no contexto deste artigo no contraponto com os outros projetos, na medida em que serve como ilustração da legislação da cidade de São Paulo para edifícios em altura numa região estabelecida na lei de zoneamento à época (1992) como Z2. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 149 Para esta zona e outras onde a verticalização é prevista, que em seu conjunto abrangem uma grande parte da cidade, a legislação fomenta claramente a torre isolada sobre pilotis, na medida em que o coeficiente de aproveitamento aumenta na proporção inversa da taxa de ocupação, e as áreas de uso comum do pavimento térreo não são consideradas computáveis. As unidades residenciais foram projetadas em dois tipos, uma em planta única e uma tipo “duplex”, de maneira que a torre conta com oito apartamentos no lado sul e dezesseis no lado norte. CONSIDERAÇÕES FINAIS Este último exemplo, PROJETO 3, deve ser visto em comparação com os outros dois exemplos, na medida em que, por força da legislação e dos aspectos de segurança exigidos por condôminos, a torre se isola da cidade por meio de muros e grades em todo o perímetro do lote. Esta é uma característica típica de grande parte dos edifícios em altura na cidade de São Paulo, que, embora promova arquiteturas de grande qualidade, prejudica a relação entre público e privado como um todo em seu espaço urbano. Os modelos urbanos a que se referenciam os outros dois projetos, contemplam o térreo da cidade como de interesse coletivo, provendo espaços de uso público e semi público, além da necessária permeabilidade urbana. Parece-nos, portanto, ser o modelo da torre isolada aquele cuja discussão se torna mais urgente, em face da progressiva privatização dos espaços e da notória falta de espaços públicos na cidade de São Paulo. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BISELLI, Mario. “A cidade contemporânea”. In Monolito n°3 (2011). Biselli+Katchborian. Projetos recentes. BOERI, Stefano; BARONCELLI, Lorenza. “São Paulo Calling”. In Monolito n°7 (2012). Habitação Social em São Paulo, p. 45. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 150 HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999. KOOLHAAS, Rem. “Whatever happened to urbanism”. In KOOLHAAS, Rem. MAU, Bruce. WERLEMANN, Hans. S,M,L,XL. New York: Monacceli, 1995. MARICATO, Ermínia. “As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias” In: ARANTES, Otília; Vainer, Carlos; MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Rio de Janeiro: Vozes, 2011. VIGLIECA, Héctor. “Áreas urbanas críticas”. In Monolito n°7 (2012). Habitação Social em São Paulo. Concurso HabitaSampa para projetos de habitação de interesse social na região central da cidade de São Paulo. Prefeitura de São Paulo. 2004. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 LETCHWORTH: PERMANÊNCIA E ATUALIDADE DOS APORTES DO GARDEN CITY MOVEMENT RESUMO A partir das propostas reunidas por Ebenezer Howard em seu livro Tomorrow: A peaceful path to real reform, de 1898, e dos debates ensejados em torno do movimento que Howard capitaneou em prol da realização de uma cidade-jardim exemplar próxima a Londres, estabeleceu-se a primeira experiência concreta de criação de um novo núcleo urbano; que conciliasse excelência na qualidade de vida, imersão da área urbanizada no verde, autonomia em termos de comércio, serviços, empregos e equipamentos, facilidade de locomoção e profusão de espaços públicos, ajardinados, de convivência e de lazer. Esta cidade, Letchworth Garden City, projetada pela sociedade entre Raymond Unwin e Barry Parker, os principais profissionais envolvidos no movimento; e concretizada, a partir da colaboração de uma associação de interessados, na primeira década do século XX, ainda mantém seu caráter original; e continua, mais de cem anos depois, sendo uma referência obrigatória para os padrões de urbanização que podem ser adotados em projetos de bairros e cidades novas. Este trabalho se propõe a avaliar, a partir de uma ótica atual, as qualidades que lhe garantiram tal sucesso e permanência, a despeito das crises que o empreendimento atravessou em alguns momentos. Palavras-chave: Cidade-Jardim; Bairro-Jardim; Ebenezer Howard; Letchworth Garden City. 152 ABSTRACT From the proposals compiled by Sir Ebenezer Howard on his book Tomorrow: A peaceful path to real reform, circa 1898, and from the following debates around the movement that Howard initiated through a role model Garden-City close to London, the first concrete experience of creating a new urban environment had taken place; an environment which would conciliate an excellent quality of living, green-immersed areas, autonomy for local commerce, services, jobs, equipments, transport facilities immersed in public green spaces, gardened, for the community co-existence and leisure. This town, Letchworth Garden City, projected by the society through Raymond Unwin and Barry Parker, the main players in this movement; and, constructed through the collaboration of an association of stakeholders during the first half the twentieth century, still keeps its original aspects; and still, one hundred years later, it is a mandatory reference for the urbanization standards that can be adopted on neighborhood and town developments. This study evaluates, from today’s point of view, the inherent qualities that have made this model to be so successful, despite the crisis this development has been through during some historical moments. Keywords: Garden-City; Garden-Neighborhood; Ebenezer Howard; Letchworth Garden City. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 153 LETCHWORTH: PERMANÊNCIA E ATUALIDADE DOS APORTES DO GARDEN CITY MOVEMENT Oswaldo Antônio Ferreira Costa 1 Candido Malta Campos2 INTRODUÇÃO O presente artigo deriva de pesquisas realizadas na Inglaterra, motivadas pela necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre projetos de urbanização planejados, com características próprias que os configuram como um Bairro-Jardim, ou em proporções maiores, como uma Cidade–Jardim, no sentido de balizar o estudo de realizações similares no Brasil, objeto de nossa dissertação de mestrado. Para entender o significado desta configuração, inicialmente deve-se reportar ao passado e para fora do Brasil, mais precisamente para o final do século 19. Naquela época, em muitas partes da Europa, era nítida a existência de grandes problemas ligados à insalubridade das condições de vida da maior parte da população urbana, principalmente devido ao fenômeno da superlotação das cidades industrializadas, agravado pela poluição gerada nas indústrias, oficinas e pelas fumaças oriundas da queima de carvão, principalmente para aquecimento das residências. O êxodo rural era crescente e as cidades existentes não possuíam infraestruturas suficientes para acomodar tanta gente com um mínimo de qualidade e dignidade. 1 Oswaldo Antônio Ferreira Costa, Eng. Civil pela UFMS (1986) e Arqt. e Urbanista (2008). Atualmente cursando mestrado na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Email: [email protected] 2 Prof. Dr. Candido Malta Campos, Arqt. e Urbanista (1987) e Doutor pela FAU / USP (1999). Atualmente é Professor Adjunto do Programa de pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Email: [email protected] __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 154 O impacto da urbanização acelerada, da congestão dos grandes centros, da insalubridade e do recurso a soluções mais ou menos improvisadas de sub-habitação mobilizou uma extensa gama de pensadores reformistas e de movimentos de reforma social e urbana. Um deles adquiriu particular destaque por sua proposta ousada e inovadora para enfrentamento dos problemas referenciados: em 1898, o inglês Ebenezer Howard, um taquígrafo e reformador social, acreditou ter encontrado a solução para os problemas do crescimento descontrolado das cidades e da migração das pessoas do campo para as mesmas, em busca de moradias dignas e bons empregos com salários compatíveis. Reuniu suas idéias em um pequeno livro Tomorrow: A peaceful path to real reform, catalisando um movimento que logo ganhou corpo, apoios importantes; e que acabou propiciando a construção de duas cidades-jardim na Inglaterra (Letchworth Garden City em 1903 e Welwyn Garden City em 1920), e inspirando muitos desenvolvimentos semelhantes em várias partes do mundo, resultando em padrões e soluções de urbanização que podem ainda ser aproveitados na criação de cidades e bairros novos; não tendo perdido sua utilidade e atualidade, mesmo mais de cem anos após sua primeira aplicação. Diante do exposto, a primeira parte deste artigo abordará aspectos fundamentais, sobre as características físicas de uma hipotética cidade-jardim, propostos na obra citada de Ebenezer Howard; e a segunda será dedicada a uma explanação e análise da primeira cidade-jardim projetada e construída segundo a aplicação de muitos dos princípios estabelecidos naquela obra. O LIVRO TOMORROW: A PEACEFUL PATH TO REAL REFORM (1898) Deve-se ressaltar que, em 1902, a nova edição do livro em referência, Tomorrow: A peaceful path to real reform, foi publicada com um título diferente - Garden cities of to-morrow. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 155 Esta edição foi uma das principais fontes de extração de informações para a realização do presente artigo. Visando proporcionar uma melhor compreensão inicial deste livro, deve-se reportar aos próprios relatos introdutórios de Ebenezer Howard (1902, p.45): Cada cidade pode ser considerada como um imã, cada pessoa como uma agulha; portanto, desta maneira, nada menos do que a descoberta de um método para construir imãs com ainda mais poder que nossas cidades atualmente possuem pode ser eficiente para redistribuir a população de uma maneira espontânea e saudável. Há, na realidade, não apenas, como é frequentemente considerado, duas alternativas - a vida na cidade e a vida no campo - mas uma terceira alternativa, na qual todas as vantagens da vida na cidade mais enérgica e agitada, com toda a beleza e alegria do campo, pode ser alcançada em combinação perfeita; e a certeza de ser possível existir tal combinação será o imã que irá produzir o efeito para o qual todos nós estamos lutando - o movimento espontâneo das pessoas de nossas cidades lotadas para o seio da nossa terra-mãe, ao mesmo tempo a fonte de vida, felicidade, riqueza e de poder. Howard (1902, pp.46-47) expôs este princípio de combinar todas as vantagens da cidade e do campo, sem as desvantagens de cada um, através de seu famoso diagrama "Three Magnets" (reproduzido na figura 1) segundo as seguintes afirmações: A cidade e o país pode, portanto, ser considerados como dois ímãs, cada um se esforçando para atrair as pessoas para si - uma rivalidade que uma nova forma de vida, aproveitando as vantagens da natureza de ambos, se faz presente. Isto pode ser ilustrado por um diagrama de "Os Três Ímãs", em que as principais vantagens da cidade e do campo são estabelecidos com os seus inconvenientes e desvantagens correspondentes, enquanto as vantagens da Cidade - Campo são vistas como sendo livres das desvantagens de cada um dos prévios componentes. Na sequência, o livro se desenvolve através de treze capítulos, porém apenas dois (Capítulo 1 - The Town-Country Magnet e o Capítulo 12 - Social Cities) serão melhor enfatizados no presente artigo, uma vez que descrevem a visão de Howard sobre as características físicas de garden-city. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 156 No Capítulo 1 - The Town-Country Magnet (O imã Cidade - Campo) o leitor é convidado a imaginar uma propriedade agrícola com uma área de 6.000 acres (aproximadamente 2.400 hectares), que foi comprada no mercado aberto. Cidade Fechando a natureza. Oportunidade social. Isolamento de multidões. Locais de diversões. Distância do trabalho. Salários elevados. Altos aluguéis e preços. Chances de emprego. Horas excessivas. Exército de desempregados. Nevoeiros e secas. Drenagem cara. Falta de ar. Céu escuro. Ruas bem iluminadas. Favelas e palácios Gim. Edifícios palacianos / suntuosos. Campo Falta de sociedade. Beleza da natureza. Mãos sem trabalho. Terra ociosa. Invasores cuidado. Wood, Prado, Floresta. Longas horas, baixos salários. Ar fresco. Rendas baixas. Falta de drenagem. Abundância de água. Falta de diversões. Luz do sol brilhante. Nenhum espírito público. Necessidade de reforma. Habitações lotadas. Aldeias desertas. Cidade - Campo Beleza da natureza. Oportunidade social. Campos e parques de fácil acesso. Rendas baixas, altos salários. Baixas taxas, muito a fazer. Preços baixos, sem suor (trabalho). Campo para a empresa, o fluxo de capital. Ar puro e água, boa drenagem. Lares luminosos e jardins, sem fumaça, sem favelas. Liberdade. Co-operação. Figura 1: Diagrama 1. Fonte: HOWARD, Ebenezer. Garden cities of to-morrow (London, 1902. Reprinted, edited with a Preface by F. J. Osborn and an Introductory Essay by Lewis Mumford. London: Faber and Faber, 1946), p. 46. O valor a ser pago nesta área seria obtido através de uma operação financeira, inclusive com a aplicação de juros, definindo a terra como garantia e a aplicação das rendas fundiárias nas infraestruturas urbanas, tais como sistemas viários, escolas, parques, etc.. O objetivo desta compra seria o de determinar o espaço físico para a criação de uma nova cidade, denominada como garden-city, visando proporcionar no tocante: - Aos empregos: regularidade com salários de maior poder aquisitivo e garantia de um ambiente mais saudável para os trabalhadores; __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 157 - Aos fabricantes e empreendedores, cooperativas, arquitetos, engenheiros, construtores e mecânicos de todos os tipos, bem como para muitos envolvidos em várias profissões: pretensão de se oferecer um meio de assegurar um novo e melhor emprego para aplicação de seus talentos / habilidades e capital; - Aos agricultores presentes na propriedade, bem como para aqueles que podem migrar para lá: abertura de um novo mercado para os seus produtos perto de suas produções; - Aos verdadeiros trabalhadores, independentemente da sua classe: elevar o padrão de saúde e conforto através da combinação saudável, natural e econômica entre a vida na cidade e no campo. Novamente através de diagramas (2 e 3), reproduzidos na figura 02, Ebenezer Howard determina respectivamente que a parte urbana da garden-city deveria abranger uma área de 1.000 acres (404 hectares), ou uma sexta parte dos 6.000 acres previamente determinados; a ser construída próxima da região central e podendo ser na forma circular, com uma distância de 1.240 jardas (1.133m) do centro para a periferia. A figura representaria uma das seis secções ou divisões da cidade, com uma descrição física mais sugestiva que prescritiva. Aspectos principais sugeridos por Howard com auxílio dos Diagramas 2 e 3: - Presença de seis "Boulevards" magníficos - cada um com 120 pés (36,58m) de largura, atravessando a cidade do centro para a circunferência, dividindo-a em seis partes iguais; - O centro seria definido por um espaço circular contendo cerca de cinco acres e meio (2,23 hectares), com a finalidade de acomodar um lindo jardim, e, em torno deste, posicionados em seus próprios terrenos amplos, estariam os maiores edifícios públicos - prefeitura, teatro / concerto principal e sala de aula, teatro, biblioteca, museu, foto-galeria e hospital; - Entre os prédios públicos, o "Palácio de Cristal" e os "Boulevards" estaria um parque público, denominado "Central Park", com 145 acres (58,68 hectares), que inclui diversos tipos de recreação e fácil acesso para todas as pessoas; __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 158 Diagrama 03 Diagrama 02 Diagrama 05 Figura 02: Apresentação dos diagramas 2, 3 e 5 de Howard. Fonte: HOWARD, Ebenezer. Garden cities of to-morrow (London, 1902. Reprinted, edited with a Preface by F. J. Osborn and an Introductory Essay by Lewis Mumford. (London: Faber and Faber, 1946), pp. 52, 53 e 143. - Execução perimetral ao longo de todo o "Central Park" (exceto onde é cortado por avenidas) de uma grande arcada de vidro chamado "Palácio de Cristal", que se abriria para o parque, com as seguintes características: __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 159 Em tempo de chuva seria um dos refúgios favoritos da população e seu revestimento brilhante sempre convidaria as pessoas que estivessem no "Central Park"; Bens manufaturados na própria cidade poderiam ser expostos e comercializados; Boa parte do mesmo seria utilizado como um jardim de inverno; Sua forma circular propiciaria a proximidade entre os moradores da cidade, cravando uma distância máxima de 600 jardas (548,64m) do morador mais distante. - Alinhamento das avenidas com árvores, de maneira similar à de como seriam arborizadas todas as vias da cidade; - As quadras acomodariam os lotes e, estes as respectivas casas, fazendo frente para as várias vias públicas, incluindo as avenidas. As edificações seriam construídas em seus próprios amplos terrenos, destacando-se a convergência de todo o sistema para o centro da cidade; - Estimativa de que a população desta pequena garden-city alcançaria cerca de 30.000 habitantes na área urbana e cerca de 2.000 habitantes nas propriedades agrícolas, e que haveria na cidade 5.500 lotes para serem edificados com um tamanho médio de 20 pés (6,10m) por 130 pés (39,62m), com o espaço mínimo alocado para o propósito de construção de 20 pés (6,10m) por 100 pés (30,48m); - Existência de uma arquitetura muito variada, a ser obtida por meio do projeto das casas e de seus respectivos agrupamentos, com a presença de alguns jardins comuns e cozinhas cooperadas; - Controle sobre as construções das casas e outras edificações pelas autoridades municipais; - Existência de cinco avenidas, sempre radiais, destacando uma de grandes proporções - "Grand Avenue", com largura de 420 pés (128m), formando um cinturão verde com três milhas (4.828m) de comprimento, que dividiria a parte da cidade que se encontra fora do "Central Park" em dois cintos, constituindo um parque adicional de 115 acres (46,54 hectares), com a característica de proporcionar uma distância máxima de 240 jardas (219,46m) do residente mais afastado; __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 160 - Nesta esplêndida avenida, seis locais segmentados, cada um com quatro acres (1,62 hectare), seriam ocupados por escolas públicas e os seus parques e jardins circundantes, enquanto os outros locais seriam reservados para acomodação de igrejas; - No anel exterior da cidade estariam acomodadas as fábricas, armazéns, laticínios, mercados, pátios de carvão, pátios de madeira, etc, e todos fariam frente para a estrada de ferro que circunda toda a cidade e que tem ramais de ligação com a linha principal da estrada de ferro que atravessa a propriedade, minimizando o transporte de mercadorias via caminhões dentro da cidade. No capítulo 12 - Social Cities (Cidades Sociais) Howard, diante da suposição de que a sua Garden City cresceu e atingiu a população estimada preliminarmente de 32.000 habitantes, faz os seguintes questionamentos sobre a maneira pela qual esta cidade deveria continuar crescendo: - Como se faria para prover as necessidades de outras pessoas que serão atraídas pelas inúmeras vantagens de se viver em uma garden-city? - Deveria esta crescer sobre a zona de terrenos agrícolas, e, assim, destruir para sempre o seu direito de ser chamada de garden-city? Ebenezer Howard (1902, p.140) prontamente nega tais hipóteses e ressalta que isto seria desastroso, uma vez que provocaria a rápida destruição da "beleza e salubridade da cidade", porém neste caso, lembra que as terras em torno da cidade (agrícolas) pertencem ao povo, uma vez que "não estão nas mãos de particulares", e reitera que a administração das mesmas "deve ser administrada, não para atender os supostos interesses de poucos, mas para os verdadeiros interesses de todo comunidade", e apresenta seu diagrama número 5, reproduzido na figura 02, enfatizando as seguintes sugestões: - Criação de uma nova cidade com as mesmas características de uma garden-city toda vez que for atingida a população máxima previamente determinada; - Criação de um sistema circular sobre o anel exterior do desenho de interligação entre as novas cidades, por meio de uma estrada de ferro intermunicipal, estipulando um percurso máximo entre __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 161 cidades mais distantes de 10 milhas (16 Km), que poderia ser realizado em 12 minutos. Ressaltando ainda que o percurso entre as novas cidades deveria ser realizado empregando bondes elétricos e veículos nas rodovias; - Criação de um sistema de ferrovias pela qual cada cidade seria colocada em comunicação direta com a Central City, estipulando que a distância de qualquer garden-city ao que o autor chama de Central City seria de apenas três e um quarto de milha (5,23 km); esta distância poderia ser coberta rapidamente em cinco minutos. 2 – LETCHWORTH, A PRIMEIRA GARDEN-CITY Segundo Miller (2002), em primeiro de setembro de 1903 foi oficialmente aberta a empresa inglesa First Garden City Ltd, com o objetivo inicial de desenvolver a primeira garden-city, utilizando, primordialmente, os princípios estabelecidos por Howard (então diretor desta empresa), em uma área previamente adquirida com cerca de 3.818 acres (1.545 hectares) de terras agrícolas distribuídas nas três aldeias adjacentes, denominadas como Letchworth, Willian e Norton (O nome Letchworth Garden City foi escolhido, pois a maior parte da cidade pertencia à aldeia de Letchworth), distantes aproximadamente de 35 milhas (56 km) de Londres. Posteriormente, segundo Purdom (1925), 730 acres (295 hectares) adicionais foram adquiridos em complemento, totalizando portanto, 4.548 acres (1.840 hectares), dos quais 3.000 acres (1.214 hectares) eram agrícolas. Antecedendo a elaboração de qualquer plano, layout ou projeto, Miller (2002) relata que algumas premissas pontuais foram previamente definidas e/ou oficialmente autorizadas; destacando-se a existência de uma liberação prévia para construção de uma estação ferroviária provisória dentro da nova garden-city e a necessária compatibilização das vias (rodovias) existentes com o novo projeto, uma vez que importantes rodovias cortavam a área adquirida. Bonfato (2008, pp.38-39), lembra e reitera que: __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 162 Ebenezer Howard jamais projetou ou recomendou um desenho urbano ideal para as suas cidades, prevendo, nos seus diagramas, que o desenho deveria ser adaptado aos diversos tipos de terreno, de modo a que cada um dos planejadores das cidades-jardins estivessem livres para utilizar-se de sua criatividade na formatação final desse desenho. A preocupação de Howard era a questão da sustentabilidade social das cidades. Pela própria natureza e pela forma extremamente minuciosa de articulação da cidade, entendia que a cidade - jardim nasceria a partir do sítio não edificado; o que pode nos conduzir a uma interpretação errônea: entender o conceito de cidade nova como originária do conceito de cidade-jardim. O contrário mostra ser mais verdadeiro. Como os princípios de Howard já estavam estabelecidos no livro de sua autoria, Tomorrow: A peaceful path to real reform, desde 1898, a cidade-jardim pretendida deveria segui-los na medida do possível (MILLER, 2002). Através de um concurso público foram escolhidos os arquitetos Barry Parker e Raymond Unwin para determinar o layout e as características da nova cidade, almejando que ali se instalaria uma população socialmente mista, cujo plano foi aprovado em 1904 e está reproduzido a seguir: Figura 03.: Plano original de Letchworth Garden City - 1904: Fonte: MILLER, Mervyn. Letchworth: The First Garden City. Chichester: Phillimore & Co, 2002 (2a ed.), p. 23. A observação da figura 03 anteriormente reproduzida, aliada principalmente às considerações constantes nas obras de Miller e Purdom já mencionadas, permite destacar a presença das seguintes características na urbanização da primeira garden-city: __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 163 - A cidade foi implantada de ambos os lados da estrada de ferro Great Northern Railway, ramal de Cambridge (via de ligação à Londres), que dividia a propriedade na diagonal de sudoeste para nordeste, segmentando-a em duas partes principais, denominadas como norte e sul (deve-se ressaltar que neste caso, a ferrovia dividiu a propriedade, em vez de cercar, como Howard tinha previsto em seu livro; - Zonas residenciais (integradas com comércios e serviços) e industriais foram cuidadosamente separadas; - As zonas industriais ocuparam o lado leste da cidade, para que os ventos predominantes levassem a fumaça para longe das habitações; - As áreas institucionais destinadas para a acomodação dos edifícios públicos, em boa parte, foram mantidas próximas da região central urbana. Purdom (1925, Part II – Letchworth, the first garden city- Chapter I. Its establishment and growth) ressaltou que: A principal característica de Letchworth é o layout aberto das estradas e casas, para que toda a cidade preserve algumas das características de um parque. Árvores são plantadas em todas as vias, juntamente com os gramados que as acompanham, exceto nas avenidas mais movimentadas e nas ruas residenciais mais estreitas. As árvores, arbustos e flores nos jardins sempre dão à cidade uma aparência rural. As árvores de rua acrescentam muito para a atratividade da cidade e, em geral elas foram bem escolhidas. Ainda segundo Purdom (1925), dos 3.818 acres (1.545 hectares) inicialmente adquiridos, 1.250 acres (505 hectares) formaram a área da cidade (urbana), e o restante foi destinado ao cinturão agrícola (posteriormente, mais 730 acres (295 hectares) foram comprados e anexados ao projeto) e, em 1919 foi criado o distrito urbano de Letchworth, separando-o do distrito rural, que determinou através de um conselho, o layout da Lei da Habitação datado do mesmo ano, reproduzido a seguir (figura 04 - parte esquerda) e deu continuidade ao acompanhamento das obras em função do manual de orientação e das normas de drenagem e construções formulados após a elaboração do primeiro plano da cidade. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 164 Em novembro de 2012 estive em Letchworth, visitando as áreas que a compõem, incluindo seus comércios, serviços, áreas institucionais (edifícios públicos, parques e jardins), a zona industrial e o cinturão verde / agrícola. Ao contrapor os elementos observados aos princípios de Howard expostos em seu livro, ficou evidenciado que muitos destes princípios foram utilizados na medida do possível, devendo-se destacar, além da presença dos aspectos já apresentados no tocante à figura 03 (anteriormente reproduzida), a incrementação dos mesmos pela análise do Layout da Lei da Habitação de 1919, associados à visita em questão, conforme segue: Figura 04 - Parte esquerda: Layout da Lei da Habitação de 1919. Fonte: PURDOM, Charles Benjamin. The Building of Satellite Towns. J. M. Dent & Sons Ltd, 1925 (1a ed.): Part II - Letchworth, the first garden city Chapter I. Its Establishment and Growth. Visto em: http://cashewnut.me.uk/WGCbooks/web-WGC-books-19251.php#top . Parte direita: visita realizada a Letchworth em novembro de 2012. - O projeto está acomodado sobre as curvas de nível, propiciando a acomodação direta sobre o terreno natural, o que facilita o escoamento das águas pluviais e a mínima agressão ao relevo natural; - Observa-se grande quantidade de árvores delineando o alinhamento das ruas e avenidas e também nos fundos de muitos terrenos / lotes; __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 165 - Há a presença de ruas em cul-de-sac com praça central/jardim público; - Nota-se a determinação da limitação da ocupação dos lotes pelas edificações; - A maioria dos lotes são residenciais unifamiliares e boa parte são destinados para implantação das edificações para os trabalhadores locais e, o recuo frontal e de fundo quase sempre são respeitados, ou melhor, sempre acomodam jardins, porém os recuos laterais são liberados e a presença de construções nos mesmos é notado com frequência (edificações geminadas); - A presença de jardins elevados posicionados junto aos terrenos / lotes de maneira anexa, forma espaços intermediários que podem ser privados, públicos, ou mesmo, semi-públicos; - Existem muitos espaços de convivência, em lugares determinados, podendo estar ocupados por um equipamento urbano, muitas vezes um playground, acomodado sobre um jardim arborizado, posicionado junto ao fundo, ou mesmo ao lado, de alguns terrenos/lotes; - O sistema viário é composto por uma hierarquização, entre vias locais, de distribuição e de interligação externa. Finalizando, Purdom (1925), destaca que em 1924 foram realizadas as peças gráficas denominadas como mapas oficiais, ilustrados na figura 05 a seguir reproduzida, mostrando respectivamente o estado de desenvolvimento de Letchworth Garden City até então, com o cinturão agrícola devidamente reformulado, observando que o plano foi amplamente respeitado, com pequenas exceções desprezíveis e destacando em escala conveniente a situação das áreas comerciais e industriais. Segundo Miller (2002), em 1946 a empresa First Garden City Ltd apresentou o plano de expansão para Letchworth com previsão de ampliação da área urbana na parte sudeste, juntamente com um cinturão industrial ligando Letchworth à cidade vizinha de Baldock. Na visita que realizei, ficou evidente que esta expansão foi executada com sucesso, com aplicação das mesmas características da Letchworth inicial, segundo os mesmos princípios formulados por Howard e desenvolvidos por Unwin e Parker. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 166 Figura 5 - Parte esquerda: O Letchworth Town-Plan, mostrando o desenvolvimento até 1924, com destaque para a presença do cinturão verde e da zona residencial. Parte direita superior: Zona comercial. Parte direita inferior: Zona industrial. Fonte: PURDOM, Charles Benjamin. The Building of Satellite Towns. J. M. Dent & Sons Ltd, 1925 (1a ed.): Part II - Letchworth, the first garden city - Chapter I. Its Establishment and Growth. Visto em: http://cashewnut.me.uk/WGCbooks/web-WGC-books-1925-1.php#top O caso de Letchworth Garden City demonstra que a consciência para a preservação das áreas de interesse ecológico e também para a minimização da agressão ao meio ambiente pode ser identificado e aprendido nessa realização mais que centenária. Independentemente de modismos, idealizações bem concebidas podem resultar na viabilização técnica e econômica de projetos e na implantação de empreendimentos urbanísticos de qualidade, assegurando que o mesmo irá proporcionar a melhoria da qualidade de vida das pessoas envolvidas direta e indiretamente naquela urbanização. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 167 A notoriedade que Letchworth mantém nas esferas acadêmica, técnica e cientifica do urbanismo, não apenas como episódio histórico, mas servindo como parâmetro para estudos e idealizações de novos projetos urbanos até os dias de hoje, denota a atualidade das questões e princípios debatidos por Ebenezer Howard e das soluções projetuais lançadas para essas questões por profissionais do gabarito de Raymond Unwin e Barry Parker. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS HOWARD, Ebenezer. Garden Cities of to-Morrow (London, 1902. Reprinted, edited with a Preface by F. J. Osborn and an Introductory Essay by Lewis Mumford. (London: Faber and Faber, [1946]). PURDOM, Charles Benjamin. The building of satellite towns. J. M. Dent & Sons Ltd, 1925 (1a ed.): Part II – “Letchworth, the first garden city” - Chapter I. “Its establishment and growth.” Visto em: http://cashewnut.me.uk/WGCbooks/web-WGC-books-1925-1.php#top Acesso contínuo no ano de 2013. BONFATO, Antônio Carlos. Ressonâncias do modelo cidade-jardim. São Paulo: E Senac, 2008. MILLER, Mervyn. Letchworth: The first garden city. Chichester: Phillimore & Co, 2002 (2a ed.). UNWIN, Raymond. Town planning in practice. London: Routledge, 1909. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 AS COMEMORAÇÕES DO IV CENTENÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO E SEUS REFLEXOS NO AMBIENTE URBANO E CULTURAL DA CIDADE. RESUMO O aniversário do IV Centenário da cidade foi a oportunidade encontrada pelos representantes do poder econômico e político locais para reafirmar a imagem de São Paulo como a principal força propulsora do Brasil rumo ao progresso. Dentro deste contexto, para o calendário de festejos foram programados eventos de grande repercussão. Dentre eles, e talvez o de maior repercussão dentro do calendário de comemorações, a II Bienal de Arte Moderna de São Paulo que teve Sérgio Milliet como seu diretor artístico. A exposição teve projeção mundial e trouxe obras de artistas expressivos no cenário mundial. A II Bienal de Artes ocupou dois pavilhões do Parque do Ibirapuera, este, ainda em construção na época. A Comissão de festejos do IV Centenário da cidade de São Paulo encomendou o projeto de um complexo de edifícios a Oscar Niemeyer. A expectativa em torno dos edifícios foi mais um dos fatores que fizeram da II Bienal, uma das mais importantes já ocorridas em São Paulo. Palavras-chave: IV Centenário, Parque do Ibirapuera, II Bienal. ABSTRACT The anniversary of the IV centenary of the city was the opportunity found by the representatives of the local economic and political power to reaffirm the image of São Paulo as the main driving force of Brazil towards progress. Amongst them, and perhaps the most publicized within the calendar of celebrations, the Second Biennial of Modern Art of São Paulo and Sergio Milliet was the artistic director. The Biennial got worldwide, brought significant works by artists on the world stage. The Second Biennial of Arts held two pavilions at Ibirapuera Park, this, still under construction at the time. The Commission of the IV centenary celebrations of the city of São Paulo request the design of a complex of buildings to Oscar Niemeyer. The expectation around the buildings was another factor that made the II Biennial, one of the most important has occurred in São Paulo. Key words: IV Centeray, Ibirapuera Park, II Biennial. 169 AS COMEMORAÇÕES DO IV CENTENÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO E SEUS REFLEXOS NO AMBIENTE URBANO E CULTURAL DA CIDADE. Patricia Cecilia Gonsales1 Carlos Guilherme Mota2 INTRODUÇÃO O aniversário do IV Centenário da cidade foi a oportunidade encontrada pelos representantes do poder econômico e político locais para reafirmar a imagem de São Paulo como a principal força propulsora do Brasil rumo ao progresso. A empreitada de colocar o Brasil entre os países desenvolvidos passava pela necessidade de mostrar ao mundo a força da indústria brasileira e o quanto o mercado brasileiro era promissor. São Paulo abrigava o maior parque industrial do país, tinha a maior população e desde os tempos do Ciclo do Café, se destacava no cenário nacional como uma potência econômica. A comissão criada especialmente para coordenar as festividades na ocasião do IV Centenário da cidade tinha a tarefa de exaltar a história da cidade, enaltecendo a figura do 1 Graduada em Turismo pelo Centro Universitário Ibero-Americano em 2002, pós-graduada em Planejamento e Marketing de Produtos e Destinos Turísticos do Centro Universitário SENAC em 2004 e atualmente é mestranda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. 2 E-mail: [email protected] Possui Graduação em História pela Universidade de São Paulo (1963), Mestrado em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de São Paulo (1967) e Doutorado em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de São Paulo (1970). Atualmente é professor titular na Universidade Presbiteriana Mackenzie e professor emérito da FFLCH USP. É Presidente do Comitê Científico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ex-Diretor (fundador) do Instituto de Estudos Avançados da USP, ex-Professor titular do IFCH da UNICAMP, um dos fundadores do Memorial da América Latina, consultor da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, assessoria do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e consultor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, membro do conselho editorial da Revista Minius (Universidade de Vigo) e da Revista Estudos Avançados (USP), Revista Eletrônica Intellectus e da Revista Eletrônica Aedificandi. Tem experiência na área de História, com ênfase em História da Cultura e das Ideologias, atuando principalmente nos seguintes temas: arquitetura, urbanismo, Direito e mentalidades. Medalha da Cidade de Paris (1998). E-mail: [email protected] __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 170 bandeirante como desbravador, dos jesuítas representando a colonização europeia e o índio, elemento essencialmente brasileiro. A identidade do paulistano deveria revelar a predestinação ao progresso. Dentro deste contexto, para o calendário de festejos foram programados eventos de grande repercussão. Dentre eles, e talvez o de maior repercussão dentro do calendário de comemorações, a II Bienal de Arte Moderna de São Paulo que teve Sérgio Milliet como seu diretor artístico. A Bienal ganhou projeção mundial, trouxe obras de artistas expressivos no cenário mundial além de inovações na exposição das obras, distribuídas em salas temáticas, organizadas de maneira didática e com monitores treinados para guiar os visitantes prestando-lhes informações sobre as obras, artistas e sobre arte. A II Bienal de Artes ocupou dois pavilhões do Parque do Ibirapuera, este, ainda em construção na época. A Comissão de festejos do IV Centenário da cidade de São Paulo encomendou o projeto de um complexo de edifícios a Oscar Niemeyer, a principal herança do IV Centenário de São Paulo à cidade precisava ter a marca da arquitetura moderna de Niemeyer. Esforços não foram poupados para que os principais edifícios fossem entregues a tempo de sediarem a II Bienal e a expectativa em torno deles foi mais um dos fatores que fizeram da II Bienal, uma das mais importantes já ocorridas em São Paulo. O artigo tem o objetivo de analisar esse momento da história da cidade de São Paulo, momento de especial euforia e também de contradições. O texto está distribuído em três partes. A primeira trata da organização da Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo que coordenou as ações programadas para esse fim. Dentre as principais atribuições, estudos históricos, a elaboração do calendário de festejos que deveria incluir atividades culturais e econômicas. Ficou também sob a responsabilidade da comissão, a viabilização e coordenação da construção do Parque do Ibirapuera e outras obras como a restauração da Casa do Bandeirante e reforma do Teatro Municipal. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 171 A segunda parte do texto descreve a repercussão dos edifícios projetados por Niemeyer no Parque do Ibirapuera como sede da II Bienal de Arte Moderna de São Paulo um dos principais eventos que integraram o calendário de comemorações do IV Centenário da cidade de São Paulo. Por fim, a última parte com algumas considerações finais relacionadas aos assuntos expostos no texto. 1. O IV CENTENÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO: A HERANÇA DA BRAVURA DOS BANDEIRANTES E A PREDESTINAÇÃO DOS PAULISTANOS PARA O PROGRESSO. “Em São Paulo também, nas tardes de outono e de inverno, a doçura do céu frio convida ao descanso na praça ou à janela do apartamento que tão pouco tenha ainda (graças a Deus) do insensato arranha-céu. Então a gente se agrada de viver.” Sérgio Milliet 3 Para que o objetivo de chamar a atenção do país e do mundo para São Paulo fosse alcançado, era necessário mostrar que a população da cidade estava comprometida com este propósito. No entanto, esta não era uma tarefa fácil. A cidade havia recebido grande quantidade de migrantes e imigrantes, os primeiros vindos principalmente do campo e os últimos, de vários países do mundo com a intenção de se estabelecerem e fazer fortuna na América, mas conservando costumes e resistentes em abandonar cultura do país natal. Diante deste cenário, era necessário unir as várias culturas que formavam a população da cidade, conseguir a adesão de todas as camadas populares à ideia de que São Paulo era uma terra predestinada ao progresso. A festa comemorativa, aliada a intensa propaganda veiculada na época, buscava divulgar São Paulo como modelo para o Brasil (LOFEGO 2004). Lofego destaca ainda as dimensões desta tarefa: 3 MILLIET, Sergio. Diário Crítico VIII. Ed. EDUSP, São Paulo, 1981, p.109. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 172 ... o IV Centenário da Cidade de São Paulo revela-se um momento ímpar de sua história, ao se constituir numa ocasião de grande mobilização social e decisivo na construção e consolidação dos ícones de sua memória. 4 A organização para os festejos do IV Centenário iniciou os trabalhos em 1948. A criação da Comissão de Festejos da Comemoração do IV Centenário da cidade de São Paulo foi oficialmente criada na condição de Autarquia em 30 de maio de 1951 por meio da Lei 4.052. A Comissão era composta por políticos, professores universitários e por homens ligados às atividades econômicas. Aconteceram algumas alterações na composição da Comissão ao longo dos anos até que as comemorações fossem concluídas. O presidente eleito para a Comissão foi Francisco Matarazzo Sobrinho, Ciccillo permaneceu na presidência da Comissão desde a sua criação até abril de 1954 quando divergências com o prefeito Jânio Quadros o fizeram pedir demissão do cargo, o sucessor eleito foi o poeta Guilherme de Almeida. Quanto à organização da Comissão, Monica Junqueira Camargo explica: A comissão foi organizada inicialmente em seis subcomissões – Serviços de Exposições Comerciais e Industriais; Congresso em geral; Comemorações populares; Engenharia; Imprensa; e Comemorações culturais –, que foram sendo renomeadas e reajustadas conforme o andamento dos trabalhos. 5 Na prática, os principais papéis desempenhados pela autarquia ao longo da sua existência foram os de elaborar o plano geral das festividades; incentivar pesquisas acadêmicas sobre a fundação de São Paulo; elaborar um plano de divulgação massivo sobre a história da cidade e sobre o calendário das festividades; fazer um levantamento dos fundos necessários para a realização dos festejos e para concretização dos projetos ligados às comemorações. Silvio Luis Lofego analisa: Tais orientações criam, portanto, dois núcleos que se constituirão nos pilares fundamentais para o sucesso dos festejos. O primeiro seria a construção da história de São Paulo, tanto nas reedições quanto em novas produções que atendessem às expectativas da Comissão. O segundo seria a propaganda 4 5 LOEFEGO, Silvio Luiz, 2004 p. 33 CAMARGO, Monica Junqueira. 2005, p.53. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 173 ancorada nessa produção histórica, que por sua vez legitimaria todo o empenho 6 dispensado para a realização dos festejos . O interesse da Comissão sobre pesquisas relacionadas à história da cidade foi tão expressivo que se notou um aquecimento no mercado editorial na cidade. A utilização de elementos históricos da formação da cidade como a figura do bandeirante, do índio e dos jesuítas foi utilizada massivamente em propagandas, não só as promovidas pela Comissão, mas indústria e comércio também se valeram da figura do bandeirante e do jesuíta para divulgar os seus produtos ou serviços. A intenção era a de formatar uma identidade paulistana, composta por uma população de tantas nacionalidades e culturas diferentes. Era necessário que os paulistanos de todas as etnias e culturas se sentissem unidos por uma vocação de progresso e prosperidade. Ao mesmo tempo em que a história de São Paulo era reeditada conforme as intenções dos poderes políticos e econômicos havia também a preocupação em projetar a cidade para o futuro. Para o ano de 1954 o objetivo era trazer para a cidade o maior número de eventos comerciais, científicos e artísticos culturais que fosse possível. Para isso, foram abertos três escritórios de representação da CIVCSP, um no Rio de Janeiro, um em Washington e outro em Paris 7 que serviriam de apoio para contatos com instituições que organizavam e outras que participavam de eventos comerciais e artístico-culturais pelo mundo. Em relação aos interesses econômicos ligados às comemorações do IV Centenário, é importante lembrar que o Brasil se projetava para um novo avanço no processo de industrialização. O objetivo era desenvolver a indústria de base (energia, siderurgia, mecânica, elétrica e eletrônica), área industrial inexpressiva no cenário nacional até então. Importante lembrar também que por essa época o sistema de abastecimento de energia dava sinais de sobrecarga. Em São Paulo, a falta de energia fazia parte do cotidiano de moradores, comerciantes e indústrias. Melhorias na infraestrutura se faziam urgentes. 6 Op cit, LOFEGO p. 44. 7 Op cit, CAMARGO 2005, p. 53. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 174 Identificando esta e outras inúmeras carências estruturais que a cidade de São Paulo demonstrava, a Equipe de Planejamento Urbano liderada por Eduardo Kneese de Mello e Ícaro de Castro Mello elaborou um relatório com propostas de melhorias urbanas. Assim, o IV Centenário da cidade ficaria marcado também por realizações importantes para o planejamento urbano. Monica Junqueira Camargo comenta as principais propostas do grupo: O relatório da Equipe de Planejamento, coordenada pelos arquitetos Eduardo Kneese de Mello e Ícaro de Castro Mello, enfatizou a oportunidade para se discutir princípios de planejamento urbano e para se propor um plano diretor, sugerindo que as questões metropolitanas fossem da 8 competência estadual e as comemorativas, da competência municipal . As propostas de melhoramentos urbanos da equipe de Kneese e de Mello não chegaram a ser implantadas. O período entre o início do planejamento dos festejos, em 1948 até o aniversário da cidade, em 1954 foi um período de instabilidades políticas no município. A troca sucessiva de prefeitos na capital exigia da comissão grande esforço para evitar cortes no orçamento e necessidade de revisões significativas em planos já elaborados. No geral, Francisco Matarazzo Sobrinho teve êxito na tarefa. No entanto, quando Jânio Quadros assumiu a prefeitura da cidade com um forte apelo popular ao corte de gastos públicos, as verbas para a realização das festividades foi reduzida e alguns projetos foram cancelados. Analisando os documentos relacionados à Comissão do IV Centenário pertencentes ao acervo do Arquivo Histórico da Cidade de São Paulo, é possível verificar que houve a intenção de realizar alguns melhoramentos urbanísticos como parte das comemorações pelo aniversário da cidade. Em 14 de março de 1952, o secretário de obras do município, Dario de Castro Bueno encaminha à presidência da comissão uma estimativa de custos para intervenções urbanas sugeridas pela CIVCCSP. Neste documento Castro Bueno trata da viabilidade da construção de ligações entre as rodovias Presidente Dutra e Anhanguera; ligação entre a Rodovia Anhanguera e 8 Op cit. CAMARGO, p.53 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 175 Anchieta; ligação entre a Rodovia Anchieta e Rodovia Pres. Dutra; além da construção da Avenida Anhangabaú, que melhoraria o acesso à região do Parque do Ibirapuera. Em outro documento de 04 de junho de 1952, o Diretor do Serviço de Obras do Município, Augusto Lindenberg posiciona o presidente da CIVCCSP sobre a viabilidade das obras propostas pela Comissão. Afirma que a construção de um anel viário periférico, ligando as três rodovias seria um projeto caro, o trecho teria aproximadamente 60 quilômetros de extensão exigindo construção de passagens de nível para evitar o cruzamento com avenidas que cortassem o anel. Além disso, não havia tempo para tal empreitada. O documento trata ainda de outra sugestão da Comissão sobre melhorias no Horto Florestal e Parque do Jaraguá, áreas do Parque da Cantareira. Neste ponto Lindenberg aponta a necessidade de melhorias nas vias de acesso, compostas pela Rua Voluntários da Pátria e Dr. Zuquim, além da construção de estacionamentos e infraestrutura para o Horto Florestal. A possibilidade de realizar melhorias para a cidade e atender algumas das muitas demandas da população poderia ser motivo de comemoração e satisfação para os paulistanos. Mesmo que isso significasse uma programação de festejos mais modesta. No entanto, a Comissão entendeu que a realização dos eventos comerciais e culturais artísticos teria maior importância para o objetivo de criar a imagem de São Paulo como o modelo de desenvolvimento econômico para o país. Assim, como parte dos festejos programados, ocorreu uma exposição industrial que contou com a presença de todos os Estados da Nação e de empresas de 27 países. Também ocorreram outros eventos como Congresso Internacional do Folclore e também a Exposição da História de São Paulo no Quadro da História do Brasil, organizada pelo historiador português Jaime Cortesão. Uma das seções da exposição foi proposta por Mário Neme. Inicialmente Mário Neme sugeriu à presidência da CVICCSP9 uma Exposição Iconográfica onde os objetos e fotos expostos seriam 9 Documento enviado por Mário Neme à presidência da CVICCSP – 18/09/1952 – Fonte: Arquivo do Município de São Paulo __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 176 doados pela população. Assim, como forma de incluir a população na organização dos festejos, estes seriam convidados a doar objetos artesanais de uso doméstico ou pessoal, fotos antigas, cartas familiares, correspondência social e todos os objetos que revelassem um estilo de vida ou um fato social ultrapassado, ou que tivesse sido abandonado do uso. Logo após a exposição, os objetos integrariam o acervo do Museu Paulista. Embora a exposição tenha sido aceita, foi incorporada à exposição organizada por Cortesão que contava a história de São Paulo desde a sua fundação até o final da primeira República. Dentre outros eventos culturais, os de destaque foram a II Bienal de Artes de São Paulo; a realização de dezessete concursos nas áreas de literatura, cinema, rádio, teatro, música, fotografia e selo comemorativo além da criação do Ballet do IV Centenário10. Monica Junqueira Camargo aponta ainda a restauração da Casa do Bandeirante, uma residência rural do século XVII localizada na área do Butantã, como mais um reforço do caráter simbólico das comemorações, enfatizando o mito construído em torno da figura do bandeirante. Durante os trabalhos de restauração, a equipe liderada por Luís Saia encontrou reminiscências da taipa de pilão, característica das construções rurais paulistas. O projeto de restauração de Luís Saia devolveu as características mais próximas do que seria a construção original. Restaurada a propriedade, contrariando o que havia sido proposto por Luiz Saia, foi reproduzido no seu interior um ambiente doméstico, totalmente descaracterizado do estilo rude de vida que os bandeirantes e da população da época nas terras da futura cidade de São Paulo. Segundo Monica Junqueira Camargo, Esse grande equívoco histórico circulou no imaginário paulistano por mais de duas décadas e só foi reparado com a criação do Departamento de Patrimônio Histórico, quando o cenário foi desfeito, o acervo recolhido, estudado e exposto pelo valor intrínseco e a casa passou a ser um espaço museológico para mostras 11 diversas . 10 Op cit, CAMARGO, p.55 11 Op cit. CAMARGO, p. 55. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 177 Sílvio Luís Lofego aponta ainda a postura da Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo em relação aos movimentos artísticos populares: Todo trabalho em relação á imagem de São Paulo parecia ser o de retratar os valores da gente paulista – que pairam em figuras como o bandeirante e o índio –, mas, ao mesmo tempo fora concursos com temáticas já definidas, não se observa nenhum projeto de valorização do artista local. O papel de mecenas da Comissão 12 parece não valer à gente que ela diz exaltar . Em outro momento, Lofego analisa: As práticas e representações culturais, dirigidas pela Comissão do IV Centenário tendiam a valorizar, na arte brasileira, somente aquilo que tivesse algum paralelo com a Europa. As manifestações mais distantes dos grandes centros, de grande apelo popular normalmente eram enquadradas como folclore, inclusive o samba, 13 conforme mostra a programação do I Festival Brasileiro de Folclore . De fato, em alguns momentos é possível notar uma confusão por parte da Comissão sobre o que seria ou não uma manifestação folclórica. O propósito de consolidar a imagem de São Paulo sugeriu que a Comissão fizesse escolhas que melhor atendessem aos seus propósitos. O próprio fato do presidente da Comissão ser um imigrante italiano que falava com um sotaque italiano evidente, foi objeto de críticas na época. Outro fato importante foi a criação de um corpo de Ballet especialmente para as comemorações do IV Centenário da cidade. Nomeado como Ballet do IV Centenário a apresentação justificou a solicitação de reforma do Teatro Municipal de São Paulo que há tempos não passava por reparos. Entretanto, as reformas atrasaram e a entrega do teatro foi feita apenas no ano de 1955, quando os festejos já haviam sido encerrados. O Ballet apresentou sua coreografia parcialmente em caráter de improviso no Estádio do Pacaembu. A apresentação completa só foi possível no Rio de Janeiro, em evento realizado no Teatro Municipal carioca. Com uma programação tão agitada e propósitos tão ambiciosos, era necessário construir um espaço de lazer e cultura que abrigasse parte dos eventos, mas também, que tivesse edifícios 12 Op cit. LOFEGO, p. 52 13 Op cit. LOFEGO, p. 60 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 178 grandes e aptos a sediar os eventos e ao mesmo tempo, fizesse jus à fama da cidade de maior centro industrial da América Latina. O local escolhido para a construção do parque que abrigaria pavilhões e centros de cultura foram os terrenos da Várzea do Ibirapuera. A ideia de construir um parque na região era antiga. Em meados de 1926 o então prefeito Pires do Rio manifestava o interesse em construir um parque nos moldes do Hyde Park londrino na cidade de São Paulo. No entanto, complicações judiciais quanto à posse de terrenos na área produziram um embaraço judicial que levou anos até que a prefeitura conseguisse reaver todos os terrenos que compõem o parque. Além disso, o solo era alagadiço, pantanoso em alguns pontos, impondo dificuldades para a construção do parque. As discussões sobre a construção do parque seguiram até que em 1936 ficou definido que a entrada do Parque do Ibirapuera deveria ser pela Avenida Brasil, sendo que em frente à entrada seria erguido o Monumento às Bandeiras. A escultura seria de formas geométricas medindo 50 metros de altura e 15 metros de largura em granito de autoria de Victor Brecheret cujo tema era a bravura dos bandeirantes. No terreno do parque já havia o viveiro de plantas criado por Manequinho Lopes14 na década de 30. Manequinho, um funcionário do alto escalão da prefeitura, iniciou o plantio de Eucaliptos para drenar o solo encharcado e com o sucesso da iniciativa, formou-se um viveiro de plantas que fornecia mudas à administração municipal e particulares residentes na região. Com a inauguração do Parque do Ibirapuera, o viveiro foi transferido para outra área da cidade e o espaço que ocupava tornou-se parte do parque. Ainda nas imediações da região onde seria construído o Parque do Ibirapuera, a Comissão do IV Centenário viabilizou a construção do Obelisco do Maosoléu da Revolução Constitucionalista de 1932 com setenta metros de altura. A pedra fundamental do monumento foi lançada em 1949, mas a conclusão ocorreu apenas em 1955 por falta de verbas. Importante 14 Manoel Lopes de Oliveira ocupava elevado cargo na prefeitura, para evitar que a área fosse tomada por favelas ou caísse na mão de posseiros teve a iniciativa de drenar as terras e utilizá-la como viveiro de plantas até que o parque fosse criado. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 179 lembrar que segundo Silvio Luiz Lofego, a construção do parque consumiu 80% do orçamento destinado às comemorações do IV Centenário da cidade15. Em 26 de dezembro de 1951 foi criada a lei nº 1475 que garantiria os recursos para a construção do parque16 e os primeiros trabalhos de sondagem do terreno para levantamentos necessários ao projeto foram realizados em 1952. Após discussões sobre a execução do projeto, a Comissão do IV Centenário solicitou a colaboração de um grupo de arquitetos e engenheiros liderados por Oscar Nyemeyer e composto pelos arquitetos Ulhôa Cavalcanti, Zenon Lotufo, Eduardo Kneese de Melo, Octávio Augusto Teixeira Mendes e Ícaro de Castro Melo. Para projetar o conjunto de edifícios do parque, a Comissão do IV Centenário convidou Oscar Niemeyer e conhecendo suas realizações no Edifício do Ministério da Educação e no Conjunto da Pampulha, os organizadores sabiam que o projeto teria características modernas e atenderia aos propósitos pretendidos de monumentalidade e modernidade. Monica Junqueira Camargo comenta sobre a fase de elaboração do projeto do parque: No primeiro anteprojeto oficialmente encaminhado, o conjunto era constituído por seis edifícios interligados por uma gigante marquise. (...) Essa estrutura básica permaneceu, mas muitas alterações ocorreram: programáticas, de custo, revisão do projeto. Entre o primeiro estudo e a obra executada, que também sofreu modificações, a marquise foi o elemento mais forte de toda a composição e 17 continua sendo o grande destaque da crítica . Rosa Artigas fala sobre o andamento do projeto: Considerando suas dimensões, o Parque, seus edifícios e jardins de Burle Marx foram construídos em tempo recorde. Dos sete prédios – entre pavilhões e centros de cultura propostos – forma edificados o Pavilhão das Indústrias, o Pavilhão dos Estados e o Pavilhão das Nações ligados por elegante marquise. Eram integrados também ao espaço do Parque o Pavilhão da Agricultura (atual DETRAN) e o 18 Ginásio de Esportes, este último projeto de Ícaro de Castro Mello . 15 Op cit. LOFEGO, Silvio Luis. p.46. 16 TORRES, Maria Celestina Teixeira Mendes. 1977, p.104. 17 Op Cit, CAMARGO, p.60 18 ARTIGAS, Rosa . Op. cit., p. 62 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 180 O projeto paisagístico propunha adequar a paisagem ao conjunto edificado, intercalando conjuntos densamente arborizados com áreas de gramado 19 . Além dos edifícios projetos por Niemeyer e o Ginásio de Esportes projetados por Ícaro de Castro Mello, foram construídos pavilhões temporários para abrigar eventos relacionados aos festejos assim como quiosques que vendiam alimentos e bebidas aos visitantes. Essas construções foram demolidas ao término das comemorações. Também foi construído no interior do parque um planetário, projeto dos arquitetos Eduardo Corona, Roberto Tibau e Antonio Carlos Pitombo. O Parque do Ibirapuera foi inaugurado em nove de agosto de 1954, como parte das comemorações do IV Centenário e teve um forte significado para a história da cidade. O conjunto de edifícios projetados por Oscar Niemeyer ficou pronto antes, em 1953, a tempo de serem utilizados para a realização da II Bienal de Artes de São Paulo, aberta em dezembro de 1953. 2. A II BIENAL DE ARTE DE SÃO PAULO MARCOU O INÍCIO DO CALENDÁRIO DE FESTEJOS DAS COMEMORAÇÕES DO IV CENTENÁRIO DA CIDADE. “O que me comove na pintura moderna é a inquietação inteligente diante do mundo, em contraste com a pacata satisfação das artes oficializadas. Ela está cheia de incongruências, de malogros e de ideias, como nós mesmos e como a vida.” Sérgio Milliet 20 A intensa propaganda em torno dos festejos do IV Centenário e toda a agitação causada em torno do aniversário de fundação da cidade provocaram expectativas na sociedade paulistana e também no cenário nacional. A inauguração da II Bienal de Artes de São Paulo no dia 12 de dezembro de 1953 marcou o início dos festejos na cidade. As expectativas em relação à abertura da exposição eram muitas, não só pelas obras expostas, pela didática adotada na organização da exposição ou pelo início do calendário de festejos do aniversário da cidade. Havia também uma 19 Op. cit. CAMARGO, p. 60 20 MILLIET, Sérgio. Pintura Quase Sempre. Ed. da Livraria Globo, Porto Alegre, 1944, p.89. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 181 grande expectativa em relação aos edifícios projetados por Niemeyer e sua equipe no Parque do Ibirapuera (ainda em construção na época). Os principais jornais do país descreviam em detalhes a exposição sem descuidar de comentários sobre os edifícios. Eram os prenúncios da importância da Bienal de Artes de São Paulo. Ao ser nomeado para a diretoria artística da exposição em 1952, Sérgio Milliet segue para a Itália onde iria representar o Brasil na Bienal de Veneza. Na ocasião, iniciou contatos com as delegações e galerias de arte de outros países. Para tal tarefa, contou com a ajuda de Yolanda Penteado que já havia auxiliado Lourival Gomes Machado na organização da I Bienal ocorrida em 1951. No trecho abaixo, retirado do catálogo geral da II Bienal, Sérgio Milliet explica: Sugerimos que cada país, ao lado de seus jovens artistas enviasse a São Paulo um conjunto significativo do movimento em que se havia relaçado particularmente ou uma amostra da obra de seu artista de maior renome internacional. (...) Cumpre ainda observar que em certames da natureza da Bienal, não se ofereceu jamais essa oportunidade de se admirar uma série de obras suscetíveis de exemplificar, quase didaticamente, a história do movimento moderno, desde o início do nosso século pelo menos. (...) O público sem maiores dificuldades encontrará no imenso mostruário da segunda Bienal exemplos perfeitos de todas as tendências estéticas. (...) Uma cousa, porém, saltará aos olhos desde logo, a predominância do espírito de liberdade. Ao lado das soluções abstratas e concretistas, as soluções figurativistas. Ao lado do expressionismo que exprime pela deformação, o cubismo que compraz na construção geométrica. Junto à tentativa de pintar o sonho e revelar o mundo do inconsciente, a ambição de descrever objetivamente o mundo da realidade. (...) Toda cultura de nossa época, caótica, contraditória, atraente e hostil a um tempo, se espelha nesse arte discutida e discutível, polêmica quase sempre, construtiva por vezes, mas viva, presente, que não podemos mais ignorar. Uma arte que solicita permanentemente de nós uma tomada de consciência, uma aceitação ou uma recusa. Que nunca 21 autoriza a assumir atitudes de confortável indiferença . Ao finalizar a montagem da exposição, dois dias antes da inauguração oficial, a II Bienal foi aberta exclusivamente à imprensa e aos dirigentes das delegações, artistas e críticos de arte. Nas inúmeras matérias de jornais de todo o país, os primeiros comentários eram sempre relacionadas 21 MILLIET, Sérgio. Introdução. In: II Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo: catálogo geral. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 182 aos pavilhões projetados por Niemeyer. O paulista Diário de Notícias, assim como o jornal carioca Jornal do Comércio iniciam a matéria ressaltando a beleza arquitetônica dos pavilhões dos Estados, onde estavam concentradas as exposições nacionais e a exposição de arquitetura, e o pavilhão das Nações, onde foi organizada a exposição das obras trazidas pelas delegações internacionais compostas por 33 países: A II Bienal está esplêndidamente instalada nos pavilhões das Nações e dos Estados, ambos de grande beleza arquitetônica, dentro das normas da arquitetura contemporânea brasileira, enquadrados dentro de suas principais diretrizes: 22 beleza plástica e funcionamento . Rodolfo Paullicchini, crítico de arte e secretário geral da Bienal de Veneza, não economizou elogios ao projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, embora tenha admitido que os pavilhões fossem “um pouco incômodos” no aspecto museográfico23: Sente-se que não nasceram para esse fim. Isso, entretanto, não impede que as obras da Bienal estejam dignamente expostas. Penso que com algumas adaptações, São Paulo terá uma sede mais funcional para suas manifestações de 24 arte. Para futuras bienais, portanto . De fato, os pavilhões não haviam sido projetados para esse fim específico. O pavilhão das Nações passou por pequenas adaptações para abrigar III Bienal e a partir da IV edição, as Bienais passaram a ser organizadas no Pavilhão das Indústrias com instalações mais apropriadas para esse fim. Os pavilhões tinham grande extensão, o das Nações, onde as delegações estrangeiras expuseram suas obras, media 150 x 42 metros divididos em três pavimentos ligados por rampas, escadas sinuosas e elevadores; o Pavilhão dos Estados, onde estavam expostas as obras nacionais, com a mesma extensão, mas com a distribuição diferente do primeiro edifício. O jornal O Estado de São Paulo, em sua coluna Artes Plásticas, afirmava a impossibilidade de elaborar 22 “Instalada a II Bienal de São Paulo” – Diário de Notícias, 11/12/1953 – Fonte: Acervo Histórico Wanda Svevo. 23 “A Bienal de Veneza na Bienal de São Paulo” – Correio da Manhã, 12/12/1953 – Acervo Wanda Svevo 24 Inbid. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 183 uma crítica consistente sobre o conteúdo da exposição dada a sua extensão. Conta o jornal que pelos cálculos realizados, o visitante precisaria percorrer mais de sete quilômetros25 para cobrir toda a extensão da exposição. Sendo assim, era necessário repetidas visitas e em cada uma delas se dedicar a uma parte da exposição. Outro destaque do evento foi uma inovação na organização da exposição das obras que mais tarde seria reproduzida em exposições no exterior, como a própria Bienal de Veneza. Sérgio Milliet e a equipe artística organizaram salas temáticas sobre os principais movimentos de arte moderna tornando a exposição mais didática para a compreensão do grande público. Além disso, estudantes de artes foram treinados para atuarem como monitores auxiliando os visitantes, especialmente os leigos, a compreender melhor as obras expostas informando-lhes noções básicas sobre arte e como cada obra estava contextualizada no momento em que foi concebida. Assim, no Pavilhão das Nações, o ponto alto da exposição foi a sala temática contendo uma retrospectiva do Cubismo, onde a representação francesa trazia 57 cubistas de seus mais expressivos autores. Começava por seus fundadores, os inigualáveis parceiros Pablo Picasso e Georges Braque e prosseguia com Juan Gris, André Lhote, Albert Gleizes, Fernand Léger, Sonia e Robert Delaunay, além de pinturas de Marcel Duchamp, escultura de Costantin Brancusi e peças de Jacques Lipchitz e Ossip Zadkine. As obras de Pablo Picasso tinham uma sala temática exclusiva, onde estava exposta uma de suas obras mais famosas, a “Guernica”. Francisco Alambert analisa a exposição da obra de Picasso na II Bienal: Oficialmente a II Bienal comemoraria os 400 anos da cidade de São Paulo. Mas o que se celebrava na ocasião era, sobretudo, a recente consolidação da democracia, o desenvolvimentismo (o Brasil estava perto de se tornar o país de maior crescimento no mundo) e o estabelecimento da arte moderna como parceria desse salto para o futuro. O evento firmava a supremacia dos intelectuais e artistas de esquerda que usavam a arte para refletir sobre a modernidade. Foi 26 nesse contexto que a “Guernica” chegou ao Parque do Ibirapuera . 25 Notas sobre a Bienal – O Estado de São Paulo, 12/12/1953 – Acervo Wanda Svevo. 26 ALAMBERT, Francisco. 2008, p. 63. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 184 Outra sala temática trazia exemplares significativos do Futurismo italiano nas 40 obras de seus futuristas Umberto Boccioni, Carlo Carrá, Giacomo Bala, Luigi Russolo, Gino Severini, além das 23 gravuras de Giorgio Morandi. A Alemanha expôs em uma sala temática dezenas de obras de Paul Klee, considerado o mestre do abstracionismo. Da Grã-Bretanha, obras de Henry Moore. Da Holanda foram trazidas obras Piet Mondrian. A Suíça trouxe obras de Ferdinand Holder; dos Estados Unidos obras de Alexander Calder. A delegação mexicana tinha uma sala dedicada à obra de Rufino Tamayo. Além destes, outros estrangeiros expuseram obras na II Bienal brasileira: o norueguês Edvard Munch; o belga James Ensor e do austríaco Oskar Kokoschka. A delegação argentina incluía em sua representação artistas do Grupo Madí. Outros países como Indonésia, Japão, Espanha, Israel, Iugoslávia, Egito, Finlândia, Portugal, Luxemburgo, Canadá, Bolívia, Cuba, Dinamarca, Nicarágua, Paraguai, Peru, República Dominicana e Chile também trouxeram obras de seus artistas. O Pavilhão dos Estados abrigou exposição de obras nacionais. Neste pavilhão, haveria somente duas salas temáticas, uma dedicada à retrospectiva de Eliseu Visconti e a outra dedicada a uma exposição da Paisagem Brasileira. As obras nacionais foram escolhidas por meio de concurso, o artista inscrevia suas obras para que fossem avaliadas por uma comissão julgadora. Ao encerrar as inscrições havia 700 candidatos inscritos. Foram selecionadas aproximadamente quatrocentas obras; mais de 2.500 obras foram eliminadas27. Tarsila do Amaral e Di Cavalcante foram os artistas brasileiros de maior renome a exporem suas obras na II Bienal. Assim, a delegação brasileira estava formada. O Jornal Diário de Notícias comenta sobre a delegação brasileira: A representação do Brasil ressente-se da ausência de Lasar Segall, Portinari, Guignard, Pancetti, Clóvis Graciano, Santa Rosa, Iberê Camargo, Lívio Abramo, Da Costa, Maria Leontina e outros artistas. Duas salas especiais fazem justiça a 27 ALAMBERT, Francisco; CANHÊTE, Poliana. 2004, p. 55. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 185 Eliseu Visconti e apresentam algumas obras desconhecidas da Paisagem 28 Brasileira antes de 1900 . O então diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo Wolfgong Pfeiffer e membro do júri da II Bienal de Artes de São Paulo faz uma análise da produção artística brasileira daquele momento: Hoje, na época do modernismo, cuja tendência na Europa é universalista, em oposição aberta à das escolas nacionais do passado, não se pensa mais em fazer uma pintura brasileira. Algumas das novas tendências abstracionistas querem mesmo ser tão avançadas como as correntes europeias saídas da Bauhaus e da arte nacionalista de vanguarda. Não há dúvida que a orientação atual contrastada com os pintores da primeira fase do modernismo, que se preocupavam em fazer antes de tudo uma arte brasileira. Queriam, de preferência, atingir o universo através do nacional, 29 segundo preconizava Mário de Andrade, teórico por excelência do modernismo . Assim, segundo Wolfgong Pfeiffer, a preocupação de artistas brasileiras em seguir as correntes artísticas europeias, sem buscar elementos nacionais que marcassem a obra, justifica o fato de que Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti, reminiscentes da Semana de 22, tenham exposto obras na delegação brasileira. A Arquitetura também teve espaço de destaque na Bienal. Foram expostos dezenas de projetos de arquitetura do mundo todo e uma mostra em homenagem ao arquiteto alemão Walter Gropius, um dos pilares do pensamento moderno e criador da memorável Bauhaus. Salvador Candia, Diretor-Secretário do Museu de Arte Moderna de São Paulo, destaca a importância a II Exposição Internacional de Arquitetura: A Segunda Bienal não poderia esquecer esse movimento – e monta a Exposição Internacional de Arquitetura que apresenta as ideias novas, com trabalhos procedentes de países de cinco continentes – e sente-se satisfeita em exibi-la junto à pintura e escultura, como manifestações do mesmo espírito de cultura no mundo moderno. 28 Op. cit, Diário de Notícias, 11/12/1953 – Acervo Wanda Sveva. 29 PFEIFFER, Wolfgong. 1954, p.8. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 186 É significativo que, dentro da exposição, a atração maior seja a obra de uma das mais nobres figuras da arte contemporânea: Walter Gropius. Sua obra, à exemplo do artista, de professor, de homem, sintetizam a renovação plástica, a integração artística e o espírito de liberdade incondicional que anima o homem hoje. Sua vida é testemunho de fé nesse homem. São Paulo orgulha-se em receber Walter 30 Gropius . Além da obra de Walter Gropius, ganhador do Prêmio Internacional de Arquitetura da II Bienal de São Paulo, expuseram seus trabalhos escolas de várias partes do mundo. Dentre elas, Escolas de países como: Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Itália, Japão, Portugal e Suíça, além da brasileira. Em seu edital, a Revista Brasil Arquitetura Contemporânea de 1954 faz uma análise da participação de arquitetos brasileiros, verificando que em face da projeção da arquitetura moderna brasileira tinha no mundo, a delegação brasileira recebeu poucos prêmios31. O edital faz ainda um apelo aos arquitetos: Assim, poderíamos relacionar algumas obras que não tendo figurado nem I e nem na II Bienal seriam, entretanto, dignas também de premiação. Por isso, a par do esforço perseverante, contínuo, que fazem os nossos arquitetos para produzir o melhor trabalho possível, cabe também – e é o que desejamos frisar – um interesse maior pela apresentação desses trabalhos em mostras como a Bienal 32 . Na ocasião da inauguração da II Bienal de Artes de São Paulo e II Exposição Internacional de Arquitetura de São Paulo, estiveram presentes personalidades políticas. Representando a Presidência da República, Antonio Balbino, Ministro da Educação, Governador do Estado de São Paulo, Lucas Nogueira Garcez, o Ministro das Relações Exteriores, Vicente Rao, além do Presidente da Comissão de Festejos do IV Centenário da Cidade de São Paulo, Francisco Matarazzo Sobrinho e outros ministros, deputados, políticos, representantes de instituições 30 31 CANDIA, SALVADOR. Arquitetura. Catálogo de Exposição da II Bienal de São Paulo 1953 – 1954. De doze categorias, os prêmios recebidos pela delegação brasileira na Exposição de Arquitetura de São Paulo foram: categoria Hospitais – Instituto de Puericultura da Universidade Brasil; a menção honrosa na categoria de Habitações Coletivas, dada ao Edifício Antonio Ceppas, prêmio jovem arquiteto brasileiro para a residência Lotta Macedo Soares. Fonte Revista Brasil, Arquitetura Contemporânea, 1954, n. 4 32 Revista Arquitetura Contemporânea, 1954, n.4 s/p. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 187 públicas e privadas além de intelectuais, jornalistas e membros das sociedades paulistana e carioca33. O julgamento das obras ficou a cargo de julgadores estrangeiros; o britânico Herbert Read, o norte-americano Johnson Sweeney, o francês Bernard Dorival, o italiano Rodolfo Palluccini, o arquiteto suíço Max Bill, o belga Emile Langui, o argentino Jorge Romero Brest, o alemão Eberhardt Hanfstaengel e Sandberg, da Holanda e Juan Ramón Masoliver. Já os julgadores brasileiros eram Mário Pedrosa, Wolfgang Pfeiffer e Sérgio Milliet34. O sucesso da exposição foi tão grande, que em 06 de fevereiro de 1954 os jornais anunciavam a prorrogação do término da exposição para o final de fevereiro. Francisco Alambert e Poliana Canhête falam sobre os resultados da II Bienal, ou a Bienal do IV Centenário: ... pela figura de Sérgio Milliet podemos entender que a II Bienal foi a consagração de certa atitude surgida no Modernismo e que materializava na figura de seu organizador. (...) De fato, o Museu emprestou quadros intelectuais fantásticos à Bienal, o que em parte explica seu sucesso, talvez tanto ou mais do que as manias e obsessões de Ciccillo ou de sua esposa. (...) Como que consagrando essa geração de modernistas históricos, que com a Bienal e os museus de arte moderna pareciam dar um passo adiante em seu projeto de esclarecimento e transformação da arte e da cultura moderna no Brasil, Milliet entende que nessa 35 Bienal “predominava o espírito de liberdade . Sérgio Milliet continuou como diretor artístico na III Bienal, ocorrida em 1955. A dificuldade em produzir o mesmo impacto da anterior logo se fez notar, com vários entraves de ordem econômica, estrutural e redução no espaço para a exposição de obras, a III Bienal de Arte não produziu o mesmo efeito da anterior mas continuou com o propósito de colocar artistas brasileiros em contato os principais movimentos artísticos mundiais e suas principais obras. A II Bienal, 33 Assim Foi a Inauguração da II Bienal de Arte Moderna . Folha da Noite, 14/12/1953 – Acervo Wanda Svevo. 34 A atribuição dos prêmios da II Bienal. O Estado de São Paulo, 11/12/1953 – Acervo Wanda Svevo. A relação dos artistas e arquitetos premiados no concurso está disponível no livro Bienal de São Paulo 50 anos. Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo, 2001, p. 84 – 85. 35 ALAMBERT, Francisco; CANHÊTE, Poliana. 2004, p. 58 – 59. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 188 também conhecida como a Bienal do IV Centenário ou a Bienal da Guernica ainda é considerada por muitos com a mais importante da série realizada. CONSIDERAÇÕES FINAIS Incluir a II Bienal de Artes Modernas no calendário de festejos do IV Centenário da Cidade de São Paulo atendia a alguns dos principais objetivos da Comissão de Festejos do IV Centenário da cidade de São Paulo formado em 1948, utilizando a ocasião do aniversário da cidade para projetar São Paulo como a força propulsora do desenvolvimento do país. A inauguração da Bienal foi um grande acontecimento. De início, causou expectativas porque ocorreria em dois dos pavilhões projetados por Niemeyer para compor o complexo de edifícios projetados para sediar alguns dos principais eventos programados para os festejos do IV Centenário. O Parque do Ibirapuera era o principal símbolo das comemorações que ocorreriam pelos 400 anos da cidade. Dentro deste contexto, II Bienal de Arte foi um evento de alcance mundial, que trouxe ao Brasil a Guernica, uma das principais obras de Pablo Picasso com um dos principais destaques. A exposição trouxe ainda inovações na organização da exposição das obras que seriam depois adotadas em exposições de arte importantes pelo mundo. Se a intenção da Comissão de Festejos do IV Centenário da Cidade de São Paulo era o de projetar São Paulo para o mundo, a II Bienal de Arte, como primeiro evento de grande porte programado, foi um bom começo. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALAMBERT, Francisco. “Guernica”, um milagre. Revista Historia da Biblioteca Nacional, mar. 2008, n. 30, p. 62 - 67. ALAMBERT, Francisco; CANHÊTE, Poliana. Bienais de São Paulo. Ed. Boitempo, São Paulo, 2004, p.34 – 93. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 189 ARTIGAS, Rosa. São Paulo de Ciccillo Matarazzo. In _____ Bienal de São Paulo 50 anos. Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo, 2001, p. 40 – 68. CAMARGO, Monica Junqueira. IV Centenário da cidade de São Paulo: um espetáculo do progresso. Revista Desígnio n. 4, set 2005, p. 51 – 61. CANDIA, SALVADOR. Arquitetura. Catálogo de Exposição da II Bienal de São Paulo 1953 – 1954. Disponível em: http://www.bienal.org.br/publicacao.php?i=1106301502574d636fa24c514e168e26c9242f8c6eae&n=name24c514&t=II Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo 1953. Acesso em 03 out. 2013. FERNANDES, Fernanda. Bienal Ano a Ano. In _____ Bienal de São Paulo 50 anos. Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo, 2001, p. 80 - 101. HORTA, Vera D’. MAM: Museu de Arte Moderna de São Paulo. Ed. DBA, São Paulo, 1994, p. 15 – 33. LOFEGO, Silvio Luis. IV Centenário da Cidade de São Paulo. Uma Cidade entre o passado e o futuro. Ed. Annablume, São Paulo, 2004. MILLIET, Sérgio. Introdução. Catálogo de Exposição da II Bienal de São Paulo 1953 – 1954. Disponível em: http://www.bienal.org.br/publicacao.php?i=1106301502574d636fa24c514e168e26c9242f8c6eae&n=name24c514&t=II Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo 1953. Acesso em 03 out. 2013. PFEIFFER, Wolfgong. Monitores na Bienal e a educação artística do público. Revista Arquitetura Contemporânea, 1954, n. 2-3 p.8 - 19. TORRES, Maria Celestina Teixeira Mendes. Ibirapuera. Coleção História dos Bairros de São Paulo. Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo, 1977. FONTES DOCUMENTAIS Revista Brasil Arquitetura Contemporânea. São Paulo, n.2-3, jan 1954 p.2 - 9. – Acervo Sala de Arte Sérgio Milliet. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 190 Revista Brasil Arquitetura Contemporânea. São Paulo, n.4, 1954 s/p. – Acervo Sala de Arte Sérgio Milliet. Assim foi a Inauguração da II Bienal de Arte Moderna . Folha da Noite, 14/12/1953 – Acervo Wanda Svevo. A atribuição dos prêmios da II Bienal. O Estado de São Paulo, 11/12/1953 – Acervo Wanda Svevo. Instalada a II Bienal de São Paulo – Diário de Notícias, 11/12/1953 – Fonte: Acervo Histórico Wanda Svevo. A Bienal de Veneza na Bienal de São Paulo – Correio da Manhã, 12/12/1953 – Acervo Wanda Svevo Notas sobre a Bienal – O Estado de São Paulo, 12/12/1953 – Acervo Wanda Svevo Documento enviado por Mário Neme à presidência da CVICCSP – 18/09/1952 – Fonte: Arquivo do Município de São Paulo. Previsão de custo enviado por Dario de Castro Bueno à CVICCSP – 14/03/1952 – Fonte: Arquivo do Município de São Paulo. Relatório enviado por Augusto Lindenberg a presidência da CVICCSP – 04/09/1952 – Fonte: Arquivo do Município de São Paulo. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 ANÁLISES DE FOTOGRAFIAS: A “CASA DE VIDRO” RESUMO A fotografia é hoje um dos principais veículos que possibilitam gerar informações. Existindo a pouco mais de cem anos, tornou-se importante meio para a documentação, a divulgação e a análise não apenas da arquitetura mas de abrangência ampla em inúmeras instâncias da realidade: tornou-se extremamente popular pela facilidade de sua produção e manejo. Além de ser um produto singular, atua no processo produtivo de outros meios de comunicação permitindo a reprodução de imagens em larga escala. O conjunto de dados contido em uma imagem fotográfica atinge o observador de maneira que não há como se esquivar de seu conteúdo; essa variedade de dados nela contida permite a olhares treinados a leitura pormenorizada de seu teor e de sua intencionalidade. Dessa maneira, em um estudo de caso como o nosso, permite que a fotografia sobre uma arquitetura possa ser observada por condicionantes do criador do objeto fotografado – o arquiteto – do interpretante que seleciona um de seus aspectos – o fotógrafo – e de um terceiro ator que também a interpreta – o observador. Este trabalho se atém a um estudo de caso que objetiva abstrair algumas informações que possam ser geradas pela análise de algumas fotografias da obra arquitetônica, bem como as intencionalidades contidas nas imagens. Robert Yin (Yin in FOQUÉ, 2010 p. 147) define o estudo de caso como uma estratégia compreensiva de características holísticas. Complementa dizendo que ele nunca explica um fenômeno ou emite julgamentos, mas equipam o pesquisador de “insights” sobre relações complexas relativas ao assunto tratado e interconexões relativas aos seus elementos. Elegemos a “Casa de Vidro” de Lina Bo Bardi como objeto desta análise por se tratar de uma obra emblemática da arquitetura moderna brasileira e que foi muito fotografada por diversos fotógrafos, profissionais ou especializados. Palavras-chave: Arquitetura, Fotografia de Arquitetura ABSTRACT Photography is today one of the main vehicles for generating information. There are just over a hundred years, it has become important for the documentation, dissemination and analysis not only of architecture but wide spanning in numerous instances of reality: has become extremely popular for ease of production and management. In addition to being a natural product, acts in the production process of other means of communication allowing the playback of images on a large scale. The data set contained in a photographic image reaches the observer so that there is no way to dodge its contents; This variety of data contained therein allows trained reading detailed looks of its content and its intentionality. In this way, in a case study 192 like ours, allows the photo on an architecture can be observed by constraints of the creator of the object photographed – the architect – the selfsame thought may be that selects one of its aspects – the photographer – and a third actor who also plays – the observer. This work focuses on a case study that aims to abstract some information that may be generated by the analysis of some photographs of architectural work, as well as the intentions contained in the images. Robert Yin (Yin in FOQUÉ, 2010 p. 147) sets the case study as a comprehensive strategy of holistic characteristics. Complements saying he never explains a phenomenon or issues judgments, but equip the researcher of "insights" on complex relationships concerning the subject treated and interconnections relating to its elements. We elect the "Glass House" of Lina Bo Bardi as object of this analysis because it is a work emblematic of the modern Brazilian architecture and that was really photographed by several photographers, professional or specialized. Key words: Architecture, Architectural Photography __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 193 ANÁLISES DE FOTOGRAFIAS: A “CASA DE VIDRO” Paulo Canguçu Fraga Burgo1 Carlos Egídio Alonso2 INTRODUÇÃO “Uma pessoa que não entende de arquitetura não é capaz de fazer uma boa foto.” (Marcel Gautherot3 - 1910-1996) (ESPADA, 2012, p.8) A FOTOGRAFIA DA ARQUITETURA “Fotografia é Arquitetura” (Gautherot in ANGOTTI-SALGUEIRO, 2007, p. 253) Está certo quem pensa o fato de que a fotografia e a arquitetura sempre andaram juntas. Nos primórdios da fotografia, para a captura da imagem era conveniente que o artefato ficasse imóvel por muito tempo. A causa dessa exigência se dava pela baixa sensibilidade dos primeiros materiais fotossensíveis, o que obrigava a uma longa inércia (de vários minutos e até de horas) do artefato disposto diante da objetiva, para que a imagem desejada impregnasse o substrato e resultasse nítida, sem borrões. Com esse caráter, para os primeiros fotógrafos as formas da arquitetura e da cidade se tornaram modelos ideais, oferecendo, além da sonhada nitidez, características estéticas (como forma, composição, luz, sombra, etc.) e de qualidades materiais (textura, cor, opacidades, transparências, etc.) as quais possibilitavam a construção de uma imagem harmoniosa com semelhança da coisa fotografada. 1 Aluno do Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie em nível de Doutorado. 2 .Professor orientador do trabalho de Doutorado pela Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 3 Marcel Gautherot antes de se dedicar à fotografia estudou quarto anos do curso de arquitetura da Escola Nacional Superior de Artes Decorativas em Paris. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 194 Com a invenção do daguerreótipo e da calotipia e o consequente advento da fotografia itinerante, as paisagens e a arquitetura de lugares distantes deixaram de ser imagens fugidias guardadas na memória, de sonhos, ou representações pictóricas, para se concretizarem em imagens muito mais evidentes e verossimilhantes da própria realidade. É a partir desta qualidade de representação e de manuseio das imagens que a fotografia se transforma numa ferramenta para o ensino da própria arquitetura enquanto elemento de demonstração de estilos arquitetônicos e de qualidades formais até então só apresentadas ao observador que se deslocasse até o espaço onde se localizava a obra. Surgiram vários métodos que permitiram a compreensão da imagem fotográfica da arquitetura, o entendimento sobre o relacionamento conceitual entre essas duas formas de expressão. Deve-se levar em conta que esta imagem, por se tornar um amplo modelo de transmissão visual do conhecimento, tem sua leitura também realizada por ferramentas de leitura não tão específicas como a Gestalt e a própria semiótica Peirciana. Segunda a análise proporcionada pela semiótica, a imagem fotográfica é um signo indicial (uma marca indicadora) na medida em que proporciona a descoberta de “pistas e eventos” da coisa visual registrada, mas não necessariamente elementos que sejam diretamente experimentáveis pelo observador. São os “indicadores” existentes na imagem os quais, identificados pelo observador, geram informações sobre a natureza do objeto (história, geografia, geologia, antropologia, técnica), a impregnam de significações e a preenchem de conteúdo (KOSSOY, 2009, p. 41). Por sua vez, a Gestalt propõe um modelo de interpretação da arte e da forma traçando uma série de quesitos visuais que as organizam e as relativizam para uma melhor compreensão do artefato. Este modo de compreensão muito se adequou à compreensão do design e da configuração arquitetônica por permitir uma desconstrução formal do objeto caracterizando em si o ordenamento do conhecimento de seu projeto. Diz Gomes Filho que “não se pode ter conhecimento do todo por meio de suas partes, pois o todo é invariavelmente maior que a soma __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 195 de suas partes” (GOMES FILHO, 1998): podemos entender aqui que duas de suas partes, quando conectadas, não resultam na “soma” de suas qualidades singulares porque geram um terceiro elemento, uma estrutura, esta sim pertencente ao “todo”. Além dessas duas ferramentas que podem ser utilizadas para a compreensão da imagem, com seus conceitos e métodos, surgem outros modos de julgamento que permitem um entendimento mais ágil quando aplicados à fotografia de arquitetura. Eric de Maré, arquiteto e editor de fotografia, em seu livro Architectural Photography (1960) propõe classificar a imagem de arquitetura em três categorias de estabelecidas: 1. o registro (ou levantamento), que fornece informação documentária e acurada – “progress shots” – realizado durante a construção de um edifício; um canteiro de obras também entra nesta categoria 2. a fotografia feita como fruto de criação de um trabalho de arte autônomo, independente das tomadas documentárias; 3. a ilustração (uma foto ilustrativa ou um registro satisfatório que resulta de uma boa seleção de pontos de vistas) impressa ou difundida (De Maré in ANGOTTI-SALGUEIRO, 2007, p.253). Ainda outra possibilidade de análise da imagem fotográfica de arquitetura é atualmente proposta por Brooker e Northey (2008). Afirmam que “A fotografia arquitetônica, pela sua natureza, dá prioridade às nossas reações sensuais, envolvendo na visão os nossos outros sentidos”, e que a busca desse olhar leva a uma argumentação e mesmo à qualidade fetichista do brilho da página pela qual somos apresentados ao significado. Classificam então as imagens de fotografia em três categorias: 1. Realismo ingênuo – é a observação do edifício sem qualquer influência do objeto arquitetônico, captando as possibilidades do edifício em si mesmo; é a imagem reduzida enquanto relato social do ambiente e de suas condições no instante da imagem; __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 196 2. Trofismo 4 - é a introdução junto ao objeto arquitetônico de uma pessoa ou autor que demonstre o poder do autor (ou ator) por tê-lo feito ou estar lá – acaba por tornar a imagem mais popular junto às imagens de turismo onde a pessoa posa junto ao objeto para determinar sua sensação possessiva do estar naquele lugar; e 3. Fetichismo – é a fotografia que transmite a emoção (desejo, prazer, temor, etc.) ao observador e, a partir dela, constrói o significado e a emoção do espaço – as imagens dos professores e do ensino da arquitetura se enquadram nesta qualificação pois permitem ao autor referendar e referenciar o conhecimento. Esses modos de análises, propostos por De Maré e de Brooker e Northey, servem para qualificar as imagens de uma forma generalizada e implicam em uma análise direta da intenção de concepção da fotografia e servem de base para a construção de repertórios que possibilitem outras análises. A nosso ver, as análises realizadas quando utilizam as ferramentas da semiótica Peirciana abrem caminho para a interpretação pessoal da imagem e permitem a discussão dos conceitos e concepções emitidos quando o leitor os cruza com as informações geradas pelo seu próprio repertório. ESTUDO DE CASO - ”CASA DE VIDRO” A descrição inicial que Lina Bo Bardi faz de sua casa, a pontua como a solução para um problema de projeto onde se cria um ambiente fisicamente abrigado das intempéries ”participando, ao mesmo tempo, daquilo que há de poético e ético, mesmo numa tempestade”(...) “procurando, portanto, situar a casa na natureza, participando dos perigos sem se preocupar com as proteções usuais; a casa, de fato, não tem parapeitos“ (Bardi, 2009, p. 80). 4 Trata-se de licença poética do autor utilizando-se termos da Fisiologia e da Nutrição de relação de poder de pessoa para com o objeto. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 197 Sua elevação frontal, orientada para sul-sudeste, permite que as luzes do sol da manhã adentrem pelo grande painel de vidro e tragam luz e calor à grande sala que se projeta sobre a paisagem. Lina afirmava que esta orientação solar permitiu a eliminação de venezianas ou de quebra-sóis sendo “esses últimos não são aconselháveis no período de chuvas, pois somente o sol evita o mofo” (Bardi, 2009, p. 81). As Imagens 1 e 2 apresentam respectivamente as plantas do pavimento térreo e do pavimento superior da “Casa de Vidro”: nelas podemos verificar sua orientação solar e a divisão dos seus ambientes. Figuras 1 e 2 – Plantas dos Pavimentos Térreo e Superior da “Casa de Vidro”. Fonte: Casasbrasileiras (2012). A intencionalidade de vitória da implantação sobre o aclive do terreno pode ser verificada no corte longitudinal da casa onde se mostram claramente os níveis dos pavimentos térreo e superior encaixados no corte efetuado no perfil do terreno (Figura 3). Figura 3 – Corte Longitudinal da “Casa de Vidro”. Fonte: Casasbrasileiras (2012). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 198 À maneira de um ”retratista” que em sua imagem busca registrar as curvas singulares da face de uma pessoa, o brilho dos seus olhos, a textura única de cada íris, similarmente ao se falar de uma arquitetura em especial, a forma externa do edifício é sua característica mais popular – é a face mais popular e exclusiva da própria obra. Falar da Casa de Vidro é lembrar automaticamente da imagem de sua vista principal que se ascende perante a elevação do terreno. Suas elevações frontal e lateral trazem à tona uma singularidade do plano transparente da vedação, sustentado por finos pilotis metálicos que brotam do chão e contaminam a esquadria que sustenta cada maciço das placas do vidro. Ainda que facilmente identificável, essa configuração revela duas imagens as quais, apesar muito parecidas, não obliteram as características de cada uma delas (Figuras 4 e 5). Figuras 4 e 5 – Vistas frontais da casa de vidro respectivamente fotografadas por Fernando Albuquerque (1951) e Chico Albuquerque(1952) Fontes (respectivamente): INSTITUTO LINA BO E PIETRO MARIA BARDI (2012) E ALMEIDA (2008). Na observação das imagens feitas em tempos diferentes pelos irmãos e sócios no estúdio de fotografia, Fernando e Francisco Albuquerque algumas condições nos vêm à mente: 1. ambas as imagens apresentam uma clareza quanto ao entendimento da forma do objeto e de seu entorno, porém a Figura 4 revela uma maior nitidez quanto a esses detalhes; 2. a integração do ambiente natural à casa contempla a intencionalidade do projeto e, portanto, o ambiente construído com suas placas de vidro voltadas para a paisagem, e as qualidades de suas formas físicas (e seus vazios – elevação por pilotis e vão do jardim de inverno) demarcam a simbiose entre espaço construído e natural; __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 199 3. poucas e sutis são os caracteres que as diferenciam: a gama de cor do segundo bloco da casa (segundo bloco na elevação à direita) na Imagem 4 se apresenta em tom mais cinza que na Figura 5 como se a alvenaria estivesse revestida apenas em reboco ; a presença de cortinas que protege o interior da ação da luz direta do sol (na Imagem 5); o posicionamento do mobiliário que é visto através das vidraças; e a inclinação das sombras que indica um período diferente nas horas em que foram obtidas as imagens (mais cedo na Figura 5 e mais tarde na Figura 4); 4. também poucos e sutis são os diferentes caracteres presentes nas duas imagens que realçam o curto intervalo de tempo entre ambas: a forma da vegetação (na paisagem como um todo e na minúcia de algumas ramagens), e as estruturas e acabamentos da edificação recém construída (ainda sem possíveis marcas naturalmente causadas pelas ações provocadas pelas chuvas, pelo sol, ou pelo envelhecimento do material); e 5. na Figura 5 nota-se que a distância entre o fotografo e o objeto é mais próxima que na imagem 4, o que propicia diferentes ângulos de perspectivas; apesar de diferentes as imagens aparentam ter sido obtidas a partir do mesmo eixo, sendo que o ângulo de visada da câmera fotográfica aparenta ter sido postada mais abaixo (Figura 5) fato que realça e reforça o efeito da perspectiva sobre a Imagem. A união destes indicadores demonstra não se tratar de uma mera alteração feita em laboratório mas de duas imagens singulares obtidas em um curto intervalo de tempo entre cada uma delas: aqui se verifica que a fotografia é um processo de seleção, uma leitura singular realizada pelo fotógrafo, porque evidencia ou minimiza aspectos do objeto fotografado. A fotografia, enquanto signo, revela apenas uma face da coisa fotografada e não sua totalidade: dessa maneira, analisar a fotografia de uma arquitetura significa a realização de uma leitura da leitura já realizada por um fotógrafo. Como nos aponta Manfredo Massironi trata-se de uma “(...) relação complexa e singular que liga quem percebe ao mundo percebido; e cujo sentido profundo __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 200 está num fenomenismo que não tende à transcendência e ao absoluto” (MASSIRONI, 1982, p. 75). Para a sequência deste estudo e aplicação dos conceitos da Gestalt foi escolhida a Imagem 4, realizada por Fernando Albuquerque, por possuir maior nitidez e consequente clareza dos itens que a compõem. Para uma primeira análise foi realizado um desenho das principais características formais da imagem, ou seja, uma depuração de elementos arquiteturais que nos configuram como os principais. No desenho da Figura 6 foram separados por cor os elementos naturais (em verde) e os elementos construídos (em preto). Figura 6 – Seleção de elementos arquiteturais, através de desenho digital, a partir da imagem da “Casa de Vidro” A partir do desenho inicial pode-se criar uma série de outras ilustrações com configurações que decompõe a imagem inicial para análises mais detalhadas. Como primeira intenção foi feita a retirada dos elementos componentes da vegetação isolando-se os elementos da arquitetura e em sequência uma simplificação das linhas gerais da residência (Figura 7). A continuidade do processo de simplificação sintetiza finalmente as linhas principais da composição arquitetônica determinadas pelos planos e volumes principais da edificação (Figura 8). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 201 Figura 7 e 8 – Simplificação das linhas do desenho e determinação das principais linhas da composição arquitetônica da “Casa de vidro” A determinação das linhas primordiais da composição arquitetônica encontra os motes utilizados pela arquiteta para a concepção do projeto: a utilização de formas para propor a recomposição de um novo equilíbrio natural na medida em que imperava, como características do terreno, o aclive da paisagem. Essa recomposição se dá pelo lançamento de um grande platô que se eleva desde o fundo do terreno. À maneira do que coloca Arnheim, trata-se de uma relação parecida ao traçado das linhas primordiais de uma composição quando são determinadas as linhas de força da uma imagem as quais comandam os demais conjuntos de linhas e que, em nosso caso, podem apontar para os “pontos de fuga” da perspectiva da edificação (ARNHEIM 1998 p.417). Figuras 9 e 10 – Determinação das linhas de força da composição e simplificação volumétrica de forças visuais na imagem da “Casa de vidro” __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 202 A Figura 9 apresenta as linhas de força da composição da “Casa de Vidro”: a linha preta indica o eixo principal, uma continuidade de alinhamento do mais frontal dos pilotis com o canto vivo da esquadria das vidraças; e o conjunto de linhas verdes e azuis indica as que tendem para os pontos de fuga. É oportuno aqui lembrar que a “matemática” da perspectiva, aquele conhecimento de regras gráficas que permitem o rebatimento cônico da terceira dimensão em um plano, data de apenas uns seiscentos anos: a máquina fotográfica, com funcionamento de caráter físico, realiza essa operação de maneira automática. Assim, a Perspectiva Cônica, enquanto dado pertencente ao repertório contemporâneo, também participa agora enquanto elemento de composição. Aproveitando as características da dinâmica da obra arquitetônica a Figura 10 demonstra a união das linhas de forças em um único plano. Esta união, determinada pelo eixo principal, caracteriza a forma de uma seta: esta indicia o sentido de direção da imagem e as tendências das forças de peso no sentido de equilíbrio (que visualmente “puxaria” o platô da residência no sentido do solo). Tais aspectos também podem ser verificados na Figura 11. Figura 11 – Determinação das linhas de força e simplificação volumétrica na imagem da “Casa de Vidro” No ensejo da discussão sobre a determinação das forças compositivas, nota-se uma tendência de prolongamento lateral da imagem onde as direções dos “pontos de fuga” permitem obter dados e relações sobre a implantação do objeto arquitetônico em sua paisagem. Essa tendência de continuidade lateral reforça o sentido de minimizar as forças verticais da imagem indiciam o equilíbrio em seu sentido horizontal. Os dois pontos de fuga, o da esquerda mais __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 203 distante do objeto que o da direita, caracterizam para o fotógrafo uma determinada visão qualitativa dos princípios compositivos da arquitetura fotografada na medida em que, na fotografia enquanto imagem grafada em um plano, a “deformação” da perspectiva da direita é menos acentuada que a da esquerda. Também é oportuno ressaltar aqui que o ponto espacial a partir do qual o objeto será fotografado é uma escolha do fotógrafo: trata-se, pois, de uma leitura singular do objeto pois a tridimensionalidade será registrada através de um meio bidimensional que, por sua vez, possui qualidades compositivas próprias: o signo plano (fotografia) trabalha com um Campo Visual delimitado por suas bordas, enquanto que o volume (arquitetura) trabalha com um Mundo Visual onde esses limites não existem. Na Figura 12, é no sentido horizontal onde os elementos de simetrias e assimetrias melhor aparecem e se desenvolvem na composição. Os conjuntos de pilotis (linhas representadas em azul ciano – primeira fileira – e verde claro – segunda fileira) e esquadrias (representadas por polígonos de cor alaranjada) presentes nas elevações frontal e nas laterais se desenvolvem do eixo principal para os cantos da casa em uma relação geométrica de decréscimo na direção dos pontos de fuga, até atingir seus limites. Figura 12 – As qualidades visuais geométricas da gradativa diminuição dos elementos de mesmo tamanho real quando registrados através de uma fotografia. No caso da elevação lateral direita do volume superior da casa, a repetição de elementos simétricos se repete e é qualificada por um jogo de cheios e vazios (representado por polígonos __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 204 de cor púrpura) que se instala na segunda bateria das esquadrias do volume frontal, no vão que separa os blocos dianteiro e traseiro e, finalmente, no volume do bloco posterior (Figura 12). Esta relação matemática de decréscimo dos tamanhos dos elementos aponta a um fator técnico de grande relevância para a pesquisa de uma fotografia de arquitetura, a objetiva utilizada no equipamento do fotógrafo possui uma distância focal que a classifica como “Normal” pois apresenta uma relação ótica de verdadeira grandeza entre os elementos, como também não apresenta distorções nos elementos lineares da imagem. Quanto ao campo focal em relação à profundidade, se trata também de um elemento de “seleção” por parte do fotógrafo e constitui um elemento fundamental presente na composição fotográfica (o que não é verificado na percepção tridimensional): a fotografia pode configurar com nitidez apenas um elemento do objeto tridimensional, deixando os demais “borrados”, ou registrar todos os elementos com nitidez. CONSIDERAÇÕES FINAIS Quanto a sua natureza peculiar de possibilidades, a fotografia permite um conjunto de análises diferenciadas daqueles meios que são tipicamente usados nas ações projetuais, mas, de maneira complementar a eles, se torna importante ferramenta para as reflexões, as análises e os questionamentos presentes nos momentos de concepção da arquitetura e no desenvolvimento de seu projeto. A conjunção de adequados métodos de pesquisa sobre a elaboração de projetos arquitetônicos, unidos às ferramentas de interpretações semióticas dos espaços tridimensionais e bidimensionais, possibilita a revelação de reais conjuntos de condicionantes perceptivos, assim como a utilização de conceitos de análise oferecidos pela Gestalt implica em melhores possibilidades de avaliação do conjunto formal da concepção do projeto arquitetônico. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 205 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALMEIDA, Joana; PINTO, Deise; AMORIM, Carolina Mara de. A. et alii. Lina Bo Bardi. Biografia. Blumenau, Tupi or Not Tupi, 2008. Disponível em: http://arquiteturabrasileirav.blogspot.com.br/2008/11/lina-bo-bardi.html. acesso em 15/04/2012. ANGOTTI-SALGUEIRO, Heliana (org); SEGALA, Ligia; LUGON, Oliver. O olho fotográfico: Marcel Gautherot e seu tempo. São Paulo, FAAP, 2007. ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo, Thomson Pioneira, 1998. ARQUITETURA MODERNA E CONTEMPORÂNEA. Lina Bo Bardi - Masp. 8 de setembro de 2010, Disponível em: <http://arqdobrasil.blogspot.com.br/2010/09/lina-bo-bardi-masp.html> acesso em: 12 de março de 2012. BARDI, Lina Bo. Lina por escrito. Textos escolhidos de Lina Bo Bardi. Organizado por Silvana Rubino e Marina Grinover. São Paulo, Cosac Naify, 2009. CARVALHO, Joaquim de. Blog do Morumbi. São Paulo, 22 de março de 2010. disponível em: <http://blogdomorumbi.com.br/?p=2871> acesso em: 15 de março de 2012. CASASBRASILEIRAS. A Casa de Vidro. Lina Bo Bardi. Disponível em: http://casasbrasileiras.wordpress.com/2010/09/23/a-casa-de-vidro-lina-bo-bardi/. Acesso em 08 de maio de 2012. DAZA, Ricardo. Buscando a Mies. Barcelona, Actar publishers, 2000. ESPADA, Heloisa. Geometria, monumentalidade e gente: a imagem de Brasília por Marcel Gautherot. Disponível em : http://lasa.international.pitt.edu/members/congresspapers/lasa2012/files/31929.pdf. acesso em 25 de maio de 2012. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 206 FRACALOSSI, Igor. O edifício não importa. Leituras do hotel de Larache de Germán del Sol. Arquitextos, São Paulo, 12.143, Vitruvius, abr 2012 http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.143/4327. GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. São Paulo, Editora Escrituras, 2003. INSTITUTO LINA BO E PIETRO MARIA BARDI. O Brasil é meu país duas vezes! São Paulo. Disponível em : <http://www.institutobardi.com.br/lina/biografia/index.html> Acesso em 12 de março de 2012. MASSIRONI, Manfredo, Ver pelo Desenho. São Paulo, Martins Fontes, 1982. PIGNATARI, Décio. Semiótica da Arte e da Arquitetura. São Paulo, Cultrix, 1981. VELOSO, Patrícia; ALBUQUERQUE, Ricardo. Chico Albuquerque – fotografias. São Paulo; Terra da Luz, 2010. VAN GAMEREN, Dick. A Casa de Vidro de Lina Bo Bardi. Arquitextos. Setembro de 2000. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.004/980> Acesso em: 17 de março de 2012. ZOO’N ZUM: Um espaço dedicado ao cotidiano e à cultura. Arquitetura e liberdade - Lina Bo Bardi. Disponível em: <http://zoonzum.blogspot.com.br/2010/05/arquitetura-e-liberdade-lina-bobardi.html> Acesso em: 18 de março de 2012. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 POTSDAMER PLATZ COMO TERRITÓRIO HÍBRIDO RESUMO Apresenta-se o processo de conformação de uma região denominada Potsdamer Platz, localizada numa área esvaziada de Berlim decorrente de severos bombardeios durante a Primeira Guerra Mundial e, na qual se construiria posteriormente, o muro de divisão entre as porções oriental e ocidental da Alemanha (19611989). No início da década de 1990 se processam uma série de concursos para apresentação de propostas de reurbanização para o local, do qual participam importantes arquitetos contemporâneos que aliados aos interesses comerciais e políticos da Alemanha reunificada, dariam origem à um microcosmo de conformação subjetiva de um culturalismo midiático voltado para o turismo, constituindo um território híbrido, que segundo definição de F. Guattari (1985) pode ser definido como reterritorialização capitalística, conjugando dentro desses espaços uma imensa possibilidade de comunicação com uma solidão muito acentuada. Palavras-chave: Complexo cultural, espaço midiático, território híbrido, reunificação alemã, arquitetura contemporânea. ABSTRACT It presents the process of forming a region called Potsdamer Platz, located in an area devoid of Berlin due to severe bombing during World War I and in which would be built later, the dividing wall between the eastern and western portions of Germany (1961-1989). In the early 1990s are processed a series of contests for proposals for redevelopment of the site, which involve important contemporary architects who allied with the commercial and political interests of the reunified Germany, would give rise to a microcosm forming opinion of culturalism media geared for tourism, being a hybrid territory, which according to the definition of F. Guattari (1985) can be defined as reterritorialization capitalistic, combining within these spaces an immense possibility of communication with a very sharp loneliness. Key words: Cultural complex, media space, hybrid territory, German reunification, contemporary architecture. 208 POTSDAMER PLATZ COMO TERRITÓRIO HÍBRIDO Paulo Eduardo Borzani Gonçalves1 Carlos Leite de Souza2 INTRODUÇÃO Observando-se o contexto mundial, no que diz respeito às políticas urbanas até as décadas finais do século XX e mais precisamente durante os anos 1980, percebe-se que elas envolviam propostas que derivavam de legislações quase idênticas para qualquer cidade. Em função do insucesso deste modelo instaurou-se o princípio de intervenções locais, pontuais, geralmente envolvendo parcerias público-privadas, como é comum no modelo neoliberal 3 (PORTAS, 1996). Trata-se de uma tentativa de reconstruir, principalmente nas áreas centrais, o desenho urbano tradicional, os locais de convivência, os espaços públicos, desagregados pela política urbana intervencionista. A intenção é a de reestruturar o contexto urbano, recuperando os lugares do passado e da memória, capazes de sustentar a percepção e a visualização da ambiência urbana. Foi recorrente, nesta política de intervenções pontuais, a criação de centros culturais. 1 Diretor da Faculdade e Coordenador da Pós Graduação - Lato Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Guarulhos - UnG. Docente da Graduação e Pós-graduação da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE. Doutorando do Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM, Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade São Judas Tadeu - USJT e graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Belas Artes - SP. Titular da SAIS Consultoria - Soluções em Arquitetura Acessível, Inclusão Social e Sustentabilidade. Universidade Guarulhos e Universidade do Oeste Paulista. [email protected] 2 Arquiteto e Urbanista com Mestrado e Doutorado (FAUUSP) e pós-doutorado pela CalPoly; Professor Adjunto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. [email protected] 3 As políticas neoliberais perseguidas ao final dos anos 1970 e no começo dos 1980 por parte dos governos nacionais dos países centrais constituem precisamente uma tentativa (crescentemente desesperada) de 'remercadorização’ de suas economias. DEÁK, Csaba (2001) "Globalização ou crise global?" Anais, ENA-Anpur. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 209 O projeto para Potsdamer Platz, ao lado da reurbanização da Alexanderplatz e da revitalização da Frieddrichstrasse constitui a parte mais relevante de um profundo processo de transformação urbana ocorrido na cidade de Berlim e previa não somente a reconstrução das áreas centrais esvaziadas, mas também a reurbanização das periferias e novos projetos de expansão do território. Uma operação que contou com mais de trezentos projetos, comandados pelo primeiro time da arquitetura mundial, movimentando cerca de duzentos milhões de dólares fornecidos pelas mais poderosas corporações globais, cujo objetivo era a conversão da capital alemã numa metrópole do terciário avançado. A praça na qual se implantou o projeto de Potsdamer Platz compreende uma ampla área que vai da Filarmônica e da Staatsbibliothek de Scharoun até a linha por onde passava o muro divisor das Alemanhas, conformando um amplo espaço vazio, o qual passaria, a partir da implementação das propostas, a constituir ponto fundamental de interesse na dinâmica urbana da cidade reunificada, por ser, justamente, um dos lugares que marcaria, não apenas no plano físico, mas de maneira significativa o plano simbólico, a religação entre leste e oeste, como descreveu Andreas Huyssen por ocasião da queda do muro de Berlim: Durante uns dois anos, o centro de Berlim, portal entre as partes leste e oeste da cidade, era um terreno baldio de dezessete acres que ia do Portão de Bradenburgo a Potsdamer e a Leipziger Platz, um largo rasgão de sujeira, mato e restos de pavimentação, sob um enorme céu que parecia maior ainda dada a ausência de um horizonte de edifícios altos, tão característicos desta cidade.(HUYSSEN, 1999, p.16) 4 4 Sobre o tema ver KOOLHAAS, Rem. Berlin: the Massacre of Ideas - An open letter to the jury of Potsdamer Platz. Carta publicada no jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, em 16/10/1991 e reproduzida em: VVAA. Politics-Poetics Documenta X - The Book. Kassel: Cantz, 1997. Catálogo da Exposição. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 210 O caso de Potsdamer Platz foi alvo de intensas discussões. Vejamos inicialmente as diferenças entre o projeto vencedor dos arquitetos Heinz Hilmer e Christoph Sattler (Figura 01) e o projeto de Oswald Mathias Ungers e Stefan Vieths que ficou com a segunda colocação (Figura 01) no concurso promovido para a escolha do Projeto de Revitalização da área. O primeiro, escolhido pelo júri, apresenta características formais da Berlim do início do século XX, restaurando o traçado original das ruas no entorno da antiga Potsdamer Platz, propondo a manutenção do gabarito de altura dos edifícios e a distribuição de comércio no nível da calçada, com escritórios nos pavimentos imediatamente superiores e apartamentos residenciais nos mais altos. O segundo colocado apresenta a visão de Berlim como cidade global. Propõe uma dúzia de arranha-céus de vidro que riscam a paisagem verticalmente em meio aos blocos tradicionais berlinenses – que tentam manter o traçado original do arruamento local, mas que propositalmente, vez ou outra, são interrompidos pela implantação diagonal e cortante das grandes torres envidraçadas. Figura 01 – Maquete da proposta vencedora do concurso para a Potsdamer Platz – H. Hilmer e C. Sattler e do segundo lugar - . O.M. Ungers e S. Vieths. Fonte: Ein Stück Grobstadt als Experiment Planungen am Potsdamer Platz in Berlin, 1994, p.73-75. O projeto vencedor de Hilmer e Sattler teoricamente ilustra o grupo culturalista, resgatando elementos históricos e padrões morfológicos tradicionais de outrora, próprios do lugar da intervenção. O projeto de Ungers e Vieths, por sua vez, pode-se encaixar no __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 211 grupo que pretendia uma imagem de cidade aparentemente nova e certamente diferente da paisagem tradicional de Berlim. Embora formalmente as propostas fossem distintas, na prática, ambas apresentavam semelhança em um aspecto importante e revelador do fazer urbanístico contemporâneo, eram propostas cujos resultados instalavam a discussão da cidade como imagem. A primeira, tradicional e teoricamente culturalista, é a edificação da imagem ilustrativa do passado em uma metrópole do século passado. A segunda, chamada de progressista, revela seu caráter simpático à espetacularização das cidades contemporâneas, construindo uma paisagem desvinculada do sítio de sua implantação. Formalmente, as propostas guardam grandes diferenças. Rem Koolhaas, arquiteto de importante produção, classificou o projeto vencedor como “massacre da imaginação arquitetônica”, pois remete a uma imagem de Berlim de 70 anos atrás. Para ele, os dois grupos realmente representavam, de um lado, uma perspectiva culturalista, de outro, uma visão progressista. O primeiro concurso para a definição do plano diretor da área, vencido pela equipe Hilmer & Sattler de Munique gerou uma série de polêmicas fomentadas principalmente pelo arquiteto Rem Koolhaas, o qual foi vetado pelo Departamento de Construções a participar do júri dos demais concursos. O ataque de Koolhaas ao resultado homologado neste concurso foi contra a política de reestruturação privilegiada na cidade, através da influente atuação de Hans Stimmann, que o arquiteto caracterizou de “ingênua e limitada”. Ao desclassificar projetos de extremo potencial urbano, como os de Hans Kollhoff e Daniel Libeskind, em favor de projetos mais “típicos e normais”, Stimmann demonstrou sua incapacidade, segundo Koolhaas, de dotar a cidade de uma arquitetura condizente o importante momento em questão. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 212 BERLIM COMO CENTRO URBANO EM TRANSFORMAÇÃO Berlim converteu-se na capital no exato momento em que política, artística e ideologicamente estava menos apta para assumir esta responsabilidade. (...) Reflete a ideia de uma cidade suburbana, antiquada, reacionária, não-realista, banal, provinciana, e acima de tudo, amadora: um terrível desperdício de um potente empreendimento único na Europa do século XX. O que deveria ser o auge está se tornado um anti-clímax.(KOOLHAAS, 1991) O processo de reestruturação urbana de Berlim foi conduzido através de dois mecanismos de concursos distintos, que por sua vez abriram espaço para polêmicas específicas. Os concursos promovidos pelos investidores privados para a instalação da sede de suas empresas e demais empreendimentos de caráter particular (hotéis, cinemas, torres de escritórios), e que estavam em alguns casos acompanhados por representantes da administração pública (como foi o caso de Potsdamer Platz) caracterizaram-se pelo extremo empenho em obter o máximo de retorno pelas áreas, compradas a preços excessivamente altos. Desta forma, ainda que tentando respeitar os planos aprovados em concursos, projetos inteiros eram refeitos em vista de um retorno financeiro imediato, não obstante o prestígio do escritório de arquitetura que estava envolvido. “Em Potsdamer Platz, os singulares espaços remanescentes da Segunda Guerra e da Guerra Fria só restaram intactos nas sugestivas imagens e narrações visuais de Wim Wenders” 5. (TAVARES, 2006) Potsdamer Platz configura um caso em que a mutação foi negada nos seus edifícios e espaços urbanos. O diagnóstico de Rem Koolhaas foi preciso a este respeito. Os mecanismos de projeto, tomados quase todos em favor da história, deram margem a uma arquitetura de 5 Asas do Desejo, premiado filme de Wim Wenders, 1987, em que se vê Berlim, especificamente Potsdamer Platz, o epicentro cosmopolita berlinense nas primeiras décadas do século XX. Dividida em duas pelo muro que separava leste e oeste da cidade, reduzida a um imenso vazio urbano deixado pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, vista nos tempos da Guerra Fria, in: “Angels and the Modern City; Wim Wenders: Wings of Desire”, disponível em: http://www.wim-wenders.com. Acesso: 23/04/2013. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 213 submissão. Uma arquitetura de resistência deveria assumir o forte potencial urbano e a energia centrífuga das mutações. A mutação, tomada como problema contemporâneo para a arquitetura, é um processo, no qual, distintas formas devem ser pensadas desde a sua ideia particular e atípica de mudança. A adoção de morfologias abertas e interativas, e o entendimento dos movimentos e das diversas forças que atuam na metrópole contemporânea são fatores que podem levar a uma arquitetura em acordo com estes processos singulares. (TAVARES, 2006) As ideias de arquitetura e do urbano sempre estiveram relacionadas à imposições de ordem e de limites, e a criação de suas formas esteve constantemente relacionada a uma identidade particular, ou a códigos de entendimento universais. Resulta bastante difícil à apreensão destes espaços sob mecanismos convencionais de projeto. Apenas sob a ideia de continuidade é que o potencial destes espaços pode ser tratado pela arquitetura das cidades atuais, como descreve Solà-Morales: Como a arquitetura pode atuar no terrain vague sem se tornar um agressivo instrumento de poder e da razão abstrata? Indiscutivelmente, através da atenção à continuidade: não a continuidade da cidade planejada e eficiente, mas a continuidade dos fluxos, das energias, dos ritmos estabelecidos pela passagem do tempo e pela perda de limites. (...) Devemos tratar a cidade residual com uma cumplicidade contraditória que não destrua os elementos que mantém sua continuidade no tempo e no espaço. (SOLÀ-MORALES, 1995, p. 119-20) Tanto o conjunto da Potsdamer Platz, como a intervenção em Friedrichstrasse podem ser entendidos como modelos de cidade ordenada, regulada, cujos espaços projetados negaram o valor evocativo dos terrain vague. (SOLÀ-MORALES, 1995) O que se reconhece em ambos é a permanência da oposição entre a reconstrução da história e a projeção do futuro deslocada para a superfície da imagem. Se a imagem se impõe como campo de articulação do discurso urbano contemporâneo por excelência, talvez através dela enxerguemos com maior nitidez outras formas de “imaginar” o urbano e a sua importância para as cidades contemporâneas nas quais a arquitetura é chamada a colaborar no sentido da construção de uma imagem. E, em Potsdamer Platz não poderia ter sido diferente, tendo que __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 214 responder às demandas de representação do Estado alemão reunificado e aos empreendedores dos projetos das corporações multinacionais. Os projetos arquitetônicos apresentavam duas variantes, a primeira seguindo os padrões morfológicos da Berlim tradicional e a segunda buscando construir a imagem da identidade high tech de Berlin. Ambas trabalhando com o objetivo de atender ao urbanismo-turístico, cujos programas definem megacomplexos de entretenimento e consumo, se utilizando do apelo ideológico do mix cultural, traduzindo o caráter episódico ou efêmero das atividades previstas para esses espaços, tais como espetáculos, exposições, consumo noite e dia, gastronomia, imagens virtuais e todo o tipo de entretenimento, dos quais a arquitetura não participa, senão como coadjuvante, propondo para extensas aglomerações urbanas, apenas projetos pontuais, com diversas tipologias distribuídas em variados programas e complexas edificações-espetáculo ocupando extensas glebas, sem, entretanto, estabelecer relação com os hábitos e mapas mentais dos habitantes dos locais de sua implantação, os quais se veem obrigados a se adaptarem às transformações derivadas de projetos de revitalização e reurbanização provenientes de estratégias de intervenção distintas, do ponto de vista conceitual, onde a cidade passa a ser configurada por um conjunto fragmentado de grandes polos de atração. Novas atividades se apropriam de espaços que se tornam exclusivos, públicos ou um mixer dos dois, contudo invariavelmente desestruturados, nos quais os habitantes tradicionais não se integram mais. Esta substituição das memórias atingiu, no decorrer do século XX, uma expressão caracterizada por duas estratégias complementares: a primeira, fundamentada na destruição radical das culturas históricas através das guerras totais; a segunda pautada na recorrente colonização ou globalização industrial, mercantil e eletrônica dessas culturas. Definidos como edge-cities, por Otília Arantes (2012), que analisa as imagens estratégicas de Barcelona e Berlim em seu novo livro, nesses espaços pode-se por vezes, morar, trabalhar e divertir-se sem a necessidade de proceder a deslocamento dos centros urbanos, estabelecendo nessas áreas, “ilhas de felicidade e fraternidade” como definem seus idealizadores, inovando na __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 215 proposta de oferecer a possibilidade de uso público, para seus open spaces, na tentativa de populariza-los, estimulando a gentreficação. Berlin passou a conter edifícios dos mais renomados arquitetos de todo o mundo contando com os altos edifícios-sede de empresas multinacionais, como a Daimler Chrysler (Figura 02), a Deutsche Bahn Turm (Figura 03), Brown Bovery, (Figura 03) e o Complexo Sony Center (Figura 02) que passaram a se destacar agressivamente na paisagem histórica. Na não menos histórica rua dos franceses, uma Galeria Lafayette (Figura 02), projetada por Jean Nouvel, tem implantada em sua área interna uma enorme redoma de vidro e aço, numa alusão ao original francês, no qual se encontra grande claraboia central como cobertura. Figura 02 – Vistas: corporações Daimler Chrysler, Complexo Sony Center e Galeria Lafayette - Berlim. Fonte: http://www.manager-magazin.de/fotostrecke/fotostrecke-27350-4.html Figura 03 – Vista dos edifícios: Sede da Deutsche Bahn e Brown Bovery Co. Fonte: http://www.cambridge2000.com/gallery/html/PA2628840e.html __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 216 Figura 04 – Vista do histórico Reichstag – Sede do Parlamento Alemão. Incendiado durante bombardeio e revitalizado posteriormente Fonte: http://www.hardmob.com.br/cotidiano-cultura-politica/482165-hardemobe-imagens-historicassurpreendentes-marcantes-11.html O histórico Reichstag inaugurado em 1894 foi severamente danificado, em 1933, por um incêndio (Figura 04), supostamente provocado por um comunista holandês chamado Marinus van der Lubbe e abrigou, a partir de sua reconstrução o centro do comando nazista, até a Segunda Guerra Mundial, quando passa a enfrentar um período de abandono e degradação, tornando-se foco, durante a implementação do projeto de reurbanização de Potsdamer Platz, de uma proposta de revitalização de autoria de Sir Norman Foster, que propôs levantar, na área central do prédio, uma cúpula em aço e vidro para recobrir o novo parlamento alemão (Figura 04). As relações sociais urbanas foram substituídas por uma seleção de imagens da arquitetura cenográfica onde os indivíduos são meros contempladores unidimensionais que, por força da propaganda da renovação urbana apenas aparentam ser uma comunidade. Com algumas raras exceções, a verdadeira troca de sociabilidade que existia nas antigas praças, nos mercados e até mesmo nas ruas passa a ser apenas uma ilusão de encontros, como interpreta Gui Débord, que atribui ao projeto urbano cenográfico uma aparência fictícia onde se destroem os limites entre o falso e o verdadeiro. (DÉBORD, 1995) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 217 A REPERCURÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO COPLEXO POTZDAMER PLATZ A imprensa alemã se manifestou durante todo o processo de construção do novo complexo econômico, turístico e cultural, no Die Zeit, por exemplo a manchete dizia: "Operação de coração aberto" referindo-se aos novos ou já operantes projetos arquitetônicos implantados e segue: “Projeto arquitetônico mais grandioso de Berlim sobe na área da Potsdamer Platz. Entre os edifícios de Scharoun (a Staatsbibliothek eo Philarmonie) e Mies van der Rohe (a Neue National Galerie), em direção a Berlim Mitte um enorme conglomerado de prédios está sendo colocado. A nova ilha de arquitetura”. (http://www.ejornais.com.br/jornal_die_zeit_al.html) Ainda seguindo a ótica de Arantes (2012), a urbanidade miniaturizada descrita remete, imediatamente, a algumas cidades artificiais americanas, cujos exemplos máximos são as Disney’s, que pareciam ser fenômenos tipicamente americanos, quando de suas inaugurações respectivas e acabaram por tornarem-se ideal de cidades no mundo globalizado pós-moderno, segundo alguns estudiosos da área. Posição compartilhada pelo crítico alemão Werner Sewing, que se utilizou do mesmo conceito para caracterizar o pequeno mundo da Potsdamer Platz, definindo-a como local de instalação da nova urbanidade, ideia defendida em seu artigo “Heart, Artificial Heart, or Theme Park?” o qual traz em suas considerações finais a seguinte afirmação: “Let’s ask Disney”6 . Também corroborando com essa linha de abordagem, vale mencionar a referência, em tom de elogio, feita a Walt Disney, por James Rouse7 , definindo-o como o primeiro “planejador urbano” a extrair e isolar o desejo de segurança entranhado no vernacular e projetá-lo numa paisagem coerente de poder “corporativo”, proposição compartilhada por Zukin (1993) ao 6 ARANTES, 2012, p. 113. In: nota de rodapé ( Em Der Potsdamer Platz, Urban Architecture for a new Berlim – Urbane Architektur das neue Berlin, Berlim, ed. Jovis, 2000, p. 47-58) 7 Em conferência proferida pelo famoso empreendedor imobiliário responsável por Faneuil Hill, Inner Harbor e South Street Sea Port, no ano de 1963 na Harvard University, referido por Sharon Zukin in: Landscapes of Power: from Detroit to Disney World, University of California Press, 1993, p. 230-32). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 218 comprovar o embasamento da formulação conceitual de diversos shoppings malls americanos, localizados em centros urbanos, na ideia de manipulação da memória e do consumo coletivos. Esses “lugares” que misturam no mesmo espaço, a possibilidade de desenvolverem-se atividades de múltiplas correntes, caracterizam novos enclaves urbanos, primeiro eram apenas shopping centers, depois seus programas foram se tornando mais complexos no sentido de oferecer entretenimento proveniente da diversidade de equipamentos culturais concomitantes, coexistindo nos mesmos lugares em turnos, por vezes, alternados, como descreveu Otília Arantes: [...] Tudo indica que a multiplicação dos parques temáticos pelo mundo todo obedeceria a esta mesma lógica. E que os novos enclaves urbanos – no começo eram apenas shopping malls, lugares resguardados de consumo -, estão se tornando cada vez mais complexos, misturando no mesmo espaço toda sorte de atividades, normais das vezes puxadas pelos equipamentos culturais, hoje liderados pelas salas multiplex de cinema [...] (ARANTES, 2012, p. 114) Mas os novos enclaves urbanos, não abarcam apenas atividades de consumo e contemplação, configuram estruturas espaciais mais complexas, verdadeiramente híbridas, nas quais se pode morar e trabalhar, como no Daimler City (Figura 05), divertir-se e conviver com o público de frequentadores, na praça coberta do Sony Center, por exemplo (Figura 05), locais onde descontração e segurança policiada convivem simultaneamente, configurando espaços 8 do imaginário da cidade ideal, que é cofigurada pelo funny capitalismo, onde todos realizam suas tarefas sorridentes, como partes integrantes de uma engrenagem, na qual o trabalho aparece disfarçado de “animação”, tornando todos os atores envolvidos no processo, personagens de um espetáculo multidimensional, característica fundamental e palavra de ordem para o sucesso das indústrias do turismo e do entretenimento que motivam o projeto das novas urbanidades contemporâneas. 8 Para Certeau, o lugar se caracterizaria por sua estabilidade enquanto o espaço pelas operações móveis através das ações dos "sujeitos". (CERTEAU, 2008) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 219 Figura 05 – Vistas:Daimler City dos arquitetos Renzo Piano, Rafael Moneo and Arata Isozaki e praça coberta do Complexo Sony Center de Helmut Jahn. Fonte: http://www.agefotostock.com/en/Stock-Images/Rights-Managed/HMS-HEM222776 Tal fato nos leva a referir, mais uma vez Arantes (2012) ao sintetizar o pensamento de Sharon Zukin a respeito da dimensão capitalista contemporânea do consumo visual: [...] o consumo visual (ou cultural), é uma dimensão do capitalismo contemporâneo altamente planejada (na qual seguramente permanecem resíduos fordistas como quer o autor da tese da McDonaldização do mundo), seguindo estratégias que induzem ao consumo “seletivo” do espaço e do tempo e geram os famigerados processos de “requalificação” urbana, entendamos, de gentrificação e consequente segregação social. (ARANTES, 2012 p. 117, apud ZUKIN, 1993, p. 259) Sob este ponto de vista, não foi aleatoriamente que se escolheu Potsdamer Platz para investigar conceitos relacionados a configuração de espaços híbridos9 , visto que está área se caracteriza como a constatação mais enfática e escancarada de um novo modelo urbano, possivelmente, como ressalta Arantes (2012), fundamentado no conceito norte americano de cidade como máquina empresarial de crescimento, a partir da implementação de grandes projetos urbanos espetacularizados, que constituem matrizes ou modelos da inserção da esfera cultural na reinvenção das cidades, colaborando para uma imagem econômica mais vendável e incentivadora 9 O híbrido mostra suas muitas facetas e sua própria personalidade. Como ele depende da natureza individual de seu processo de criação, ele pode assumir múltiplas representações, representações, mesmo aparentemente contraditórias, marco urbano, escultura, paisagem ou volume anônimo. PER, A. F.; MOZAS, J.; ARPA, J. Isso é híbrido, Uma análise de edifícios de uso misto. Madri: 2011. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 220 do turismo, princípios assimilados, reinventados e largamente empregados por F. Mitterand10 , na França, como uma máquina cultural de crescimento, por ter descoberto na “cultura” uma possibilidade de crescimento em tempos de crise e desarticulação social. A nova articulação francesa demonstrava claramente estar operando com conhecimento de causa no campo da convergência entre eficiência econômica glamourizada e cultura como investimento de ponta, determinando efetivamente, um híbrido, que viria a ser difundido pelo mundo, traduzido em “parques malls” imbuídos de nobres intenções pedagógico-científico-culturais. Berlin parece-me o modelo mais atual da cidade-espetáculo. Sua descaracterização é tão intensa que os cenários de romances e filmes conhecidos ambientados naquela cidade estão completamente transformados pelo “vazio exaltado pela estética sublime dos arranha-céus que coroam os centros financeiros das megalópoles tardo-industriais com seus ascéticos espaços digitais e suas frias fachadas de vidro espelhado”. (SUBIRATS, 2002) 11 CONSIDERAÇÕES FINAIS Foi obedecendo ao novo princípio da Mischung (mistura), que se construiu com a intenção de torna-la símbolo, uma microcidade síntese da nova Berlim unificada, entretanto sob o ponto de vista arquitetônico-funcional e social totalmente reciclada, na tentativa do que Félix Guattari (1985) definiria como reterritorialização capitalística, conjugando dentro desses espaços uma imensa possibilidade de comunicação com uma solidão muito acentuada, afetando cada indivíduo de uma 10 Líder político francês, nasceu em 1916, em Jarnac, e morreu em 1996, em Paris. Em 1981, tornou-se o primeiro socialista Presidente da República desde a fundação da Quinta República francesa em 1958. Ocupou o cargo durante catorze anos. No plano das relações externas, cultivou um bom relacionamento com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que, aliando-se à Alemanha liderada por Helmut Kohl, fazia da França um dos países com maior responsabilidade política no processo de criação da União Europeia. François Mitterrand. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2013. [Consult. 2013-06-15]. 11 SUBIRATS, Eduardo. Viagem ao final do paraíso. Arquitetura e crise civilizacional. Texto Especial Arquitextos n. 139, jul. 2002 <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp139.asp>. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 221 forma diferenciada segundo seu nível social, não pelo território 12 mas pelo espaço comunicacional, sendo repertoriado, exatamente pelo seu nível social e refletido de modo muito preciso na configuração dos tipos de espaços sociais e econômicos que o afetam. Vale esclarecer que Deleuze & Guattari indicaram que a formação subjetiva produzida por um território específico pode se desterritorializar, se abrindo às linhas de fuga, ou seja, realizando um movimento pelo qual se abandona o território e constrói-se um outro (reterritorialização). Em outras palavras, a reterritorialização, se constitui numa tentativa de recomposição de um território engajado em um processo desterritorizalizante. (ROLNIK & GUATTARI, 2005) Com o intuito de concluir essa argumentação, se propõe uma reflexão a cerca de um conceito proposto por Felix Guattari com a intenção de esclarecer a conformação dos novos espaços contemporâneos, determinados não apenas por seus limites e características físicas, mas principalmente pela subjetividade intrínseca a sua urbanidade, fator que os caracterizam segundo o filósofo, como territórios híbridos, que existem e funcionam como uma espécie de “ovo”, incluindo-se ai, os shopping centers, parques temáticos, malls e complexos culturais e midiáticos, nos quais cada porção do espaço é pré-equipada, pré-codificada e seus percursos possíveis teleguiados como circuitos a serem percorridos, buscando em síntese fabricar empreendimentos repletos de subjetividade e caracterizados por variados elementos subliminares. Como traço mais marcante dessa produção de subjetividade, está segundo o próprio Guattari, a infantilização do usuário desses complexos, intrínseca à concepção de um pseudo espaço maternal, proporcionando-lhes uma espécie de ambiente maternal separado da realidade caótica contemporânea dos centros urbanos desenvolvidos, criando uma espécie de sentimento de onipotência, a partir do qual se considera, que uma vez que se esteja dentro de uma dessas bolhas, tudo pode acontecer, como se pode verificar nas palavras do pensador: 12 Os territórios estariam ligados a uma ordem de subjetivação individual e coletiva e o espaço estando ligado mais ás relações funcionais de toda espécie. (GUATTARI, 1985) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 222 [...] o sentimento de onipotência que está ligado à dimensão da infantilização. Quando se está nesse mundo é como se estivéssemos num mundo de conto de fadas, com o cartão de crédito, tudo, de repente, se torna possível. Todas as relações são feitas de maneira a dar uma espécie de ilusão, de conto de fadas, de onipotência infantilizante. (GUATTARI, 1985, p. 118) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ARANTES, Otília B. F. Berlim e Barcelona: duas imagens estratégicas. São Paulo: Annablume, 2012. BRONSTEIN, L. A CRISE DO URBANISMO CONTEXTUALISTA, PROARQ – FAU UFRJ www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/.../1043 CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. DÉBORD, Gui. La sociedad del espectáculo. Buenos Aires, La Marca, 1995. GUATTARI, F. Espaço e poder: A criação de territórios na cidade. Espaço e Debates, n. 16, ano V, São Paulo, 1985. GUATTARI, F.; ROLNIK, S. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo, Loyola, 1993. HUYSSEN, A. Os vazios de Berlim. In: Seduzidos pela memória. São Paulo, Editora 34, 1999. JAMESON, Frederic. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo, Ática, 1996. KOOLHAAS, Rem (1991). Berlin: the massacre of ideas. in: Casabella nº 232, Roma, 1994. Revista Lotus, nº 80, ed. Eletcra. PORTAS, Nuno. Urbanismo e sociedade: construindo o futuro. In: PINHEIRO &VASCONCELLOS. Cidade e Imaginação, Rio de Janeiro: UFRJ/FAU/PROURB, 1996. SOLÀ-MORALES, Ignasi. Terrain Vague. Em: Anyplace. Cambridge: MIT Press, 1995. TAVARES, Paulo. Arquitetura e esquizofrenia ou “não encontro Potsdamer Platz”. Arquitextos, São Paulo, 06.071, Vitruvius, apr 2006 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 223 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.071/365>.ZUKIN, Sharon. Landscapes of Power: from Detroit to Disney World. California: University of California Press, 1993. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 ELOGIO À INUTILIDADE: RECONHECIMENTO E APROPRIAÇÃO DO INÚTIL NA METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA. RESUMO O texto apresentado foi produzido como proposta de pré-projeto de pesquisa de doutorado e submetido no processo seletivo do programa de pós-graduação na Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie no segundo semestre de 2013. O texto traça, em linhas gerais, a continuidade da construção conceitual iniciada na dissertação de mestrado, defendida na mesma instituição em 2008, intitulada Uma Odisséia Paulistana: Uma documentação retroativa sobre o São Vito. O debate se estabelece a partir da compreensão de possibilidades geradas assumindo o conceito de inutilidade dentro dos campos do pensamento, avaliação, proposição e apropriação do espaço urbano contemporâneo. Uma apropriação subjetiva de um corpo sensível escamoteado pelo utilitarismo hegemônico e objetivo. Por isso, tendo o processo seletivo como meta, o texto está organizado e estruturado seguindo as recomendações e instruções solicitadas no edital específico, não correspondendo, necessariamente, à estrutura pretendida na produção final da tese, sendo apenas um meio reflexivo para a questão em si: um Elogio à inutilidade. Inutilidade na arquitetura, na apropriação do espaço da cidade, do tempo da cidade, inutilidade na Cidade. Palavras-chave: Inutilidade; Metrópole; Subjetividade; Psicogeografia; Etnografia Urbana. ABSTRACT The article presented here was produced as a proposal to a doctoral research project and submitted in the selection process of the post-graduate program in the Faculty of Architecture of the University Mackenzie in the second half of 2013. The text outlines, in general terms, the continuity of conceptual construction started on the master thesis, defended at the same institution in 2008, titled Uma Odisséia Paulistana: Uma documentação retroativa sobre o São Vito. The debate is established based on the understanding of possibilities generated assuming the concept of uselessness within the fields of thought, evaluation, proposal 225 and appropriation of contemporary urban space. A subjective appropriation of a sensitive body concealed by objective and hegemonic utilitarianism. Therefore, since the selection process as a goal, the text is organized and structured according to the recommendations and instructions requested in specific call, not corresponding necessarily to the desired structure in the end production of the thesis, is only a means for reflective question itself: A compliment to Uselessness. Uselessness in architecture, in the appropriation of city space, in the time inside the. Key words: Uselessness; Metropoli; Subjectivity; Psychogeography; Urban Etnography. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 226 ELOGIO À INUTILIDADE: RECONHECIMENTO E APROPRIAÇÃO DO INÚTIL NA METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA.1 Ricardo Luis Silva 2 Maria Isabel Villac 3 Introdução Inútil. Talvez uma sentença de morte em nossa sociedade capitalista. A Inutilidade é prima da Preguiça. Pecado capital. A oposição ao trabalho. Por isso, a Preguiça é meia irmã do ócio. O trabalho, o neg-ócio, contrapõe-se ao ócio. O trabalho e o suor engrandecem o homem, minimizam sua culpa, seu pecado. O trabalho é o pagamento do pecado. O ócio é pecado, o mal amado, o desprezado, o marginalizado em nossa sociedade industrial. Se o homem trabalha, ele prospera, ele progride, ele evolui. Se ele não trabalha, é preguiçoso, é vadio, é inútil, atrapalha. A sociedade aprendeu a transmitir essa depreciação aos seus objetos, suas arquiteturas, sua cidade. Tudo a nossa volta deve servir para alguma coisa. O que não serve é descartado, deixado de lado, marginalizado. Servir. Ser útil. A sociedade do espetáculo (DEBORD, 1997) exige servidão. Funcionalidade. Mas a sociedade está esquizofrênica (DELEUZE, 2004). A mesma sociedade que prima pela utilidade, resiste em refugiar-se no desejo, na liberdade, no prazer. O estresse do trabalho é compensado, ou reduzido, em mais atividades ou utilidades. O lazer é útil, funcional. Na sociedade industrial produzimos inclusive no tempo livre (MARCUSE, 1979). 1 Pré-projeto de pesquisa apresentado como parte do processo de seleção para Doutorado no segundo semestre de 2013 no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 2 Professor/arquiteto, doutorando, Centro Universitário SENAC-SP e FAU/Mackenzie, [email protected] 3 Professora/arquiteta, doutora, FAU/Mackenzie, [email protected] __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 227 E a possibilidade do ócio? Do não fazer nada? Do perder tempo? Pois, para que percebamos o Espaço, é preciso Tempo. É preciso perder tempo para o corpo assimilar o espaço. O Espaço por si só é racional e objetivo, ele é dimensional (NORBERGSCHULZ, 1980). Um dar-se tempo é tornar o espaço subjetivo e irracional. Só assim é possível construirmos afetos e relações com o espaço. Humanizamos o Espaço com o Tempo. Mas a sociedade industrial aprisionou essa liberdade. Deixamos de lado o tempo da contemplação (KEHL, 2009) e da reflexão livre. Perder tempo hoje é anti produtivo, é anti funcional. Aprendemos a nos relacionar com o outro, com as coisas e com os espaços, reduzindo ao máximo a variante Tempo na equação da subjetividade. A fórmula ditada pela sociedade industrial é: quanto menos Tempo melhor. Assim, perdemos aos poucos nossa subjetividade (SUBJEtividade – ser sujeito), nossa relação afetiva com o Espaço. Assumimos a objetividade (OBJEtividade – ser objeto), a racionalidade e a utilidade em todas as nossas ações. Mas a pergunta retorna, e a possibilidade do inútil? O homem pode buscar a liberdade, a possibilidade, a alternativa, a sublimação na inutilidade. É na inutilidade que o homem pode encontrar seu desvio, sua rota de fuga. A inutilidade permite a transformação do homem em sujeito (MARCUSE, 1979). É o homem-criança que inutiliza um carrinho de brinquedo, desmontando-o para explorálo, amputando sua utilidade primeira. É o homem-criança que se delicia com uma garrafa plástica cheia apenas de uma pequena pedra, deixando de lado seu chocalho colorido, tecnológico, multi funcional e propagandeado. É o homem-criança que vê na nuvem um coelho alado, no sofá da sala um castelo com seu rei. É o homem-criança que entra em êxtase ao trocar com o colega a figurinha que faltava na sua coleção. É o homem-adolescente que explora o corpo, o sexo sem a menor intenção utilitária da função primeira de procriação da espécie. Onde estaríamos se a inutilidade não fizesse parte de nós? __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 228 A inutilidade, ou a retirada inicial da utilidade de uma coisa, nos abre outras perspectivas, outras possibilidades, outros olhares sobre aquela coisa, sobre o mundo, sobre nós mesmos. Tornamo-nos sujeito. A possibilidade do inútil versus a determinação do útil. A inutilidade gera possibilidades de movimento, a utilidade encerra o discurso. Por isso é preciso resgatar a inutilidade. Elogiá-la. Tirá-la da marginalidade positivista e racionalista. É preciso, pelo menos, assumirmos sua possível existência momentânea. A inutilidade está aí, no nosso cotidiano. Nas nossas relações com os objetos, com nossos espaços. Está nas nossas arquiteturas-metrópoles. Mesmo 80 anos após a publicação da Carta de Atenas, com suas proposições funcionalistas para a formação das cidades modernas, e reconhecendo, empiricamente inclusive, sua fragilidade e incapacidade de, exclusivamente, dar as respostas necessárias à vida nas cidades, ainda analisamos, projetamos, construímos e vivenciamos nossas cidades a partir da premissa do utilitarismo. A cidade ainda é vista como uma gigantesca máquina. Uma máquina onde todas as pequenas engrenagens devem ser úteis para seu funcionamento geral. Onde qualquer possibilidade de inutilidade deve ser amputada para manter a máquina em perfeito, e inatingível, funcionamento. Se não serve, não é necessário, pode ser eliminado. Infelizmente, essa lógica ultrapassa a fronteira do existente e alcança as mentes propositivas da Metrópole. Evita-se ao máximo, mesmo contra os desejos mais latentes, a possibilidade da inutilidade. Reduzida à todo instante com o rápido pensamento: Mas isso serve para quê?. Tenta-se a todo instante buscar alguma utilidade positivista às ações e propostas arquiteto-urbanas. E o outro? Porque não também a inutilidade? Pensar, em todas as instâncias da arquitetura urbana, nesses dois elementos conceituais, a utilidade e a inutilidade, não rigidamente opostas dicotomicamente, mas entrelaçadas. Então, seria possível entender a arquitetura, a metrópole, a partir da sua inutilidade? Como remover a carapuça do utilitarismo de nossas metrópoles? Como reconhecer a inutilidade dentro __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 229 das cidades? Como apropriar-se do conceito de inutilidade? Como assumi-lo em nosso pensar/vivenciar a arquitetura/metrópole? Talvez pensar e compreender, estudar e projetar a arquitetura e a cidade com a perspectiva do inútil. Assumir e assimilar o elogio à inutilidade: Das descobertas utilitárias (uma genealogia) dos Iluministas protofuncionalistas, Da antiarte dos Dadaístas, Da subjetividade inconsciente dos Surrealistas, Das Caixas-valises de Marcel Duchamp, Do Colecionador e do Estrangeiro de Walter Benjamin, Do Homem que joga de Johan Huizinga, Da reação ao funcionalismo da Fenomenologia da Percepção, Da Playtime do Meu Tio de Jacques Tati, Do preferiria NÃO de Bartleby de Herman Melville, Das Derivas e mapas psicogeográficos dos Internacional Situacionistas, Das Babilônias, velhas e novas, de Constant Nieuwenhuys, Das superestruturas pós-apocalípticas dos grupos utópicos nos anos 60, Dos sólidos modernos desmanchando no ar de Marshall Berman, Dos núcleos penetráveis Parangolés de Hélio Oiticica e colegas Neoconcretos, __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 230 Das nesgas da cidade de Gordon Matta-Clark, Da grossura lúdica e sensível de Lina Bo Bardi, Da cidade genérica, delirante, descartável e gigantesca de Rem Koolhaas, Do nomadismo urbano de limites difusos de Toyo Ito, Da Diferença Rizomática dos Pós-estruturalistas franceses, Da Cidade Errante e dos Entre-lugares de Marta Bogéa e Igor Guatelli, Dos alegóricos roteiros turísticos para Buenos Aires de Jorge Macchi, Dos ... Discursos e diálogos sobre a inutilidade. Sobre suas possibilidades e ferramentas de apropriação. Sobre uma outra lógica de compreensão e construção da Metrópole. Uma outra postura. OBJETIVO GERAL A meta que se pretende atingir com este trabalho, esta reunião de discursos e diálogos sobre a inutilidade, é explicitar, reunir e reforçar a possibilidade de apropriar-se do conceito de inutilidade na arquitetura como repertório possível para vivência e desenho do espaço urbano, como poder revolucionário além da racionalidade utilitarista dominante. Com isso, auxiliar a reflexão crítica sobre a produção e o enfrentamento da metrópole real contemporânea, intensificando os subsídios teóricos que possam levar à autonomia, desenvolvimento, ou mesmo formação do sujeito urbano contemporâneo, consciente e realmente livre com a vida na metrópole do século XXI. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 231 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Como elementos constitutivos dessa meta geral, se pretende: - Encontrar e reconhecer dentro da história crítica da sociedade e da arquitetura, tentativas de reflexão e, em alguns casos, o próprio conceito de inutilidade aplicado; - Fornecer um ferramental teórico-prático para a apropriação dos elementos disponíveis no território urbano dentro dos processos de reflexão e ação de projeto urbano-arquitetônicos (reflexão teórica construída junto com a ação projetual). Contribuindo, assim, com a leitura crítica da formação e desenvolvimento da cidade de São Paulo e intensificando o debate acadêmico e sua produção, ao estabelecer um contato com o próprio ensino de arquitetura e suas discussões conceituais; OBJETO O utilitarismo domina grande parte do território urbano global. O enfoque aqui poderia ser dado em qualquer lugar habitado pelo homem. Mas como arquiteto, o objeto onde tais elogios à inutilidade se concretizam é a Metrópole; com m maiúsculo por se tratar de uma generalidade, não uma cidade em especial, mas qualquer uma inserida no sistema capitalista de trabalho e consumo. Mas para manter uma reflexão aprofundada sobre o que se pretende, é necessário realizar uma escolha, um recorte. Retomar e ampliar o que foi pesquisado durante a dissertação de Mestrado, onde se propôs realizar uma leitura da metrópole com ferramentas conceituais alternativas, tendo como resultado uma documentação rizomática e aberta da cidade de São Paulo. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 232 Uma escolha científica, mas ao mesmo tempo, afetiva. Pois fui afetado e invadido por ela. O recorte-objeto escolhido neste momento é São Paulo XL (KOOLHAAS, 1995), a megacidade brasileira, mais especificamente o seu centro expandido. Esta pequena porção do território colossal da cidade delimitada pelo chamado “mini anel viário”, composto pelas marginais Tietê e Pinheiros, mais as avenidas Salim Farah Maluf, Afonso d'Escragnolle Taunay, Bandeirantes, Juntas Provisórias, Presidente Tancredo Neves, Luís Inácio de Anhaia Melo e o Complexo Viário Maria Maluf. Neste território extremamente rico em situações urbanas, território polifônico (CANEVACCI, 2004), que se delimita por uma razão utilitarista (a operação horário de pico – rodízio de automóveis conforme numeração da placa), serão reconhecidos espaços e situações mencionados nos diversos elogios à inutilidade. A seleção será vasta: nesgas territoriais, viasmoradias, arquiteturas abandonadas/ocupadas, sinalizações urbanas e humanas, espaços nômades, paredes/empenas/corpos habitantes cegos, marcos nômades, históricos oficias/marginais/colaterais, vazios cheios e cheios vazios, sons e cheiros urbanos, planos incompreensíveis de avenidas de circulação humana e mecânica, coletivos virtuais de apropriações reais, etc. Enfim, a inutilidade latente e a utilidade insistente neste pequeno território colossal colocadas como personagens de um emaranhado diálogo entre os conceitos teóricos e possíveis apropriações urbanas. REFERENCIAL TEÓRICO Este trabalho terá como base e acompanhamento teórico a construção de um cenário conceitual, conectando e costurando diversos textos e autores que trataram, ou ainda tratam, da formulação e/ou aplicação do conceito de inutilidade. A seguir estão colocados alguns deles: __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 233 Para as descobertas utilitárias (uma genealogia), ver Os pioneiros do desenho moderno de Nikolaus Pevsner; Para a antiarte, ver Dadá: arte e antiarte de Hans Richter; Para a subjetividade inconsciente, ver O Surrealismo organizado por Jacó Guinsburg; Para as Caixas-valises, ver Apariencia desnuda: la obra de Marcel Duchamp de Octavio Paz; Para o Colecionador e o Estrangeiro, ver Passagens de Walter Benjamin; Para o Homem que joga, ver Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura de Johan Huizinga; Para a reação ao funcionalismo, ver Genius loci : towards a phenomenology of architecture de Christian Norberg-Schulz; Para a Playtime do Meu Tio, ver The Films of Jacques Tati de Michel Chion; Para o preferiria NÃO de Bartleby, ver Crítica e Clínica de Gilles Deleuze; Para as Derivas e mapas psicogeográficos, ver Apologia da Deriva: escritos situacionistas sobre a cidade organizado por Paola Berenstein Jacques; Para as Babilônias, velhas e novas, ver Constant’s New Babylon : the hyper-architecture of desire de Mark Wigley; Para as superestruturas pós apocalípticas, ver Future City: experiment and utopia in architecture de Marie-Ange Brayer; Para os sólidos modernos desmanchando no ar, ver Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade de Marshall Berman; __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 234 Para os núcleos penetráveis Parangolés, ver A invenção de Hélio Oiticica de Celso Favaretto; Para as nesgas da cidade, ver Gordon Matta-Clark: desfazer o espaço de Gabriela Rangel; Para a grossura lúdica e sensível, ver Lina por escrito: textos escolhidos de Lina Bo Bardi organizado por Marina Grinover e Silvana Rubino; Para a cidade genérica, delirante, descartável e gigantesca, ver S, M, L, XL de Rem Koolhaas e Bruce Mau; Para o nomadismo urbano de limites difusos, ver Escritos de Toyo Ito; Para a Diferença Rizomática, ver Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia vol. 01 de Gilles Deleuze e Félix Guattari; Para a Cidade Errante e os Entre-lugares, ver Cidade Errante: arquitetura em movimento de Marta Bogéa e Arquitetura dos entre-lugares: sobre a importância do trabalho conceitual de Igor Guatelli; Para os alegóricos roteiros turísticos para Buenos Aires, ver Psychogeography de Merlin Coverley; Tal referencial teórico, agora um cenário conceitual, foi organizado a seguir em um diagrama, uma espécie de linha do tempo. Entretanto, tal diagrama não foi organizado como seu nome inicialmente sugere. A linha do tempo não é uma linha, e sim uma grelha onde as conexões e sequências estão abertas para leituras diversas, não apenas cronológicas. Aqui fica clara a percepção rizomática das construções teóricas a que se propõe. Por exemplo, é possível construir uma linha conectável com Bartleby, de Herman Melville, Gilles Deleuze, Paola Berenstein Jacques e Hélio Oiticica e uma outra linha com os Surrealistas, Johan Huizinga, os Situacionistas, Hélio Oiticica e o Rizoma. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 235 Ao final da “grelha do tempo” consta uma breve descrição de cada referencial teórico, onde se apresenta uma primeira leitura possível sobre o conceito de inutilidade. Legenda da grelha do tempo: __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 236 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 237 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 238 Número de catálogo 011 / 056 / 100 Para compreender a atual lógica utilitarista e territorializar os elogios à inutilidade, vem bem a calhar a apropriação de uma genealogia das descobertas e apologias feitas ao funcionalismo e o racionalismo desde a Iluminação, passando pelas revoluções industriais e o funcionalismo no desenho moderno. 003 / 035 / 064 / O Dadá não se estabeleceu como um movimento artístico, mas um 065 / 091 aglomerado de artistas que se propuseram a questionar, romper, estraçalhar, desmembrar e provocar o então estado da arte e da sociedade, inutilizando todos os paradigmas vigentes. 015 / 059 / 076 / “Entonces [los surrealistas parisinos] descubren en el andar un 096 componente onírico y surreal, y definen dicha experiencia como una ‘deambulación’, una especie de escritura automática en el espacio real capaz de revelar las zonas inconscientes del espacio y las partes oscuras de la ciudad.” (CARERI, 2003 pg. 22). 034 / 044 / 094 / “Una obra sin obras: [en la Caja Verde] no hay quadros sino el Gran 098 Vidrio, los ready-made, algunos gestos y un largo silencio.” (PAZ, 1995 pg. 16). 007 / 016 / 019 / “É isso que significa estar num local desconhecido, se mudar, se 033 / 038 / 060 / tornar um estranho [estrangeiro]: um jeito de fazer as coisas deixarem 075 de ser óbvias, de se tornar disponível para perceber o novo.” (PEIXOTO, 1987 pg. 82). 026 / 037 / 057 Huizinga considera o jogo, a atividade lúdica e sem objetivos, como elemento constituinte do homem urbano contemporâneo, gerando uma outra categoria classificatória além do Homo Sapiens (que sabe) e do Homo Fabers (que trabalha). 001 / 046 “Sendo totalidades qualitativas de natureza complexa, os lugares não podem ser definidos por meio de conceitos analíticos, ‘científicos’. Por uma questão de princípio, a ciência ‘abstrai’ o que é dado para chegar a um conhecimento neutro e ‘objetivo’. No entanto, isso perde de vista o mundo-da-vida cotidiana, que deveria ser a verdadeira preocupação do homem em geral e dos planejadores e arquitetos em particular.” (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2006, pg. 445). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 239 028 / 030 / 049 / “[In Playtime] Our futurist world turns quickly into a hellish labyrinth 055 / 068 / 083 where Hulot, the sweet dreamer, can, unawares, sow total disruption!” (TATI in CHION, 2006 pg. 20). Pequena sinopse de Playtime que pode ser traduzida, considerando a proposta de provocadora do roteiro, como: Em Playtime nossa cidade racional e mecanizada se transforma rapidamente em um labirinto caótico onde Hulot, o doce sonhador, pode, sem querer, semear a total desorganização. 077 / 090 / 097 / “Observou-se que a fórmula I would prefer not to não era uma 103 / 104 afirmação nem uma negação. Bartleby não recusa, mas tampouco aceita, ele avança e retrocede.” (DELEUZE, 1997 pg. 82). 023 / 069 / 072 / “La ciudad descubierta por los vagabundeos de los artistas es una 078 / 082 / 101 ciudad líquida, un líquido amniótico donde se forman de un modo espontáneo los espacios otros, un archipiélago urbano por el que navegar caminando a la deriva: una ciudad en la cual los espacios del estar son como las islas del inmenso océano formado por el espacio del andar.” (CARERI, 2003 pg. 20). 012 / 020 / 036 / Projeto conceitual realizado nos anos 60, New Babylon de Constant 045 / 048 / 085 / Nieuwenhuys, integrante da Internacional Situacionista, reflete sobre a 095 hipermodernidade e a fugacidade encontrada em crescente aceleração nas grandes cidades mundiais. O projeto baseia-se na efemeridade dos acontecimentos e na criação de situações urbanas em um território nômade e livre de nostalgias funcionalistas da cidade. 013 / 050 / 070 / Projetar o futuro = utopia. Na utopia e na experimentação dos grupos 088 / 093 / 102 arquitetônicos dos anos 60 e 70, o encarceramento da funcionalidade e a abertura para a especulação, livre e inútil. 014 / 063 / 081 “Ser moderno é viver uma vida de paradoxos e contradições. É sentirse fortalecido pelas imensas organizações burocráticas que detêm o poder de controlar e frequentemente destruir comunidades, valores, vidas; e ainda sentir-se compelido a enfrentar essas forças, a lutar para mudar.” (BERMAN, 1986 pg. 13). 022 / 027 / 041 / “O espectador torna-se assim participante e propositor: [...] ver, sentir, 051 / 053 / 089 pisar, roçar a cor; ‘organificar’ o espaço; corporificar a cor. Nas cabines e labirintos [dos Penetráveis], faculta ao participante o exercício pletórico do jogo.” (FAVARETTO, 1992 pg. 66). 010 / 042 / 054 / Em 1973, como integrante do grupo Anarchitecture, Gordon Matta 067 Clark desenvolve um projeto conceitual chamado Fake Estates (Falsas propriedades) onde compra 15 propriedades urbanas em Nova York __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 240 (14 no Queens e 1 em Staten Island) por valores entre U$ 25,00 e U$ 75,00. Estes terrenos, com dimensões e proporções muito pequenas, são sobras de um zoneamento racional e excêntrico, deixados de lado ou abandonados pela sua inutilidade imobiliária. 004 / 008 / 043 / Lina Bo Bardi constrói uma arquitetura moderna brasileira altamente 073 referenciada na cultura popular, nos artefatos ordinários e em momentos cotidianos banais, inúteis. Seus desenhos, e consequentemente, seus espaços, são lúdicos e convidam o corpo a contemplar, vivenciar, ficar um tempo. 006 / 029 / 066 / “The elevator – with its potential to establish mechanical rather than 079 architectural connections – and its family of related inventions render null and void the classical repertoire of architecture. Issues of composition, scale, proportion, detail are now moot. The ‘art’ of architecture is useless in Bigness.” (KOOLHAAS, 1995 pg. 500). 018 / 031 / 052 / “El concepto de casa para ella [muchacha nómada] está desperdigado 071 por toda la ciudad y su vida pasa mientras utiliza los fragmentos de espacio urbano [de Tokio] en forma de collage.” (ITO, 2000 pg. 62). 021 / 024 / 039 / “Ele [mapa] faz parte do rizoma. O mapa é aberto, é conectável em 058 / 061 / 062 / todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de 074 / 080 / 087 / receber modificações constantemente. 099 / 104 Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como uma ação política ou como uma meditação.” (DELEUZE e GUATTARI, 2004 pg. 22). 009 / 025 / 040 / “Espaços 047 / 086 / 092 entre formas, ou formas espaciais entre coisas utilitariamente definidas, constituem agora campos para ações imprevistas, onde nem função nem forma são abandonadas, mas enriquecidas.” (GUATELLI, 2012 pg. 113). 002 / 005 / 017 / Jorge Macchi utiliza a apropriação lúdica e aleatória do tecido urbano 032 / 084 da cidade de Buenos Aires, construindo um mapa psicogeográfico a partir de um placa de vidro quebrado colocada sobre o mapa geográfico da cidade e marcando pontos nestes percursos criados levando em consideração situações urbanas banais, como uma elegante composição de gomas de mascar amassadas no asfalto. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 241 MÉTODO O método aqui utilizado será o rizomático (DELEUZE, 2004). Desde o processo de pesquisa, as buscas referenciais, a organização bibliográfica, até a redação e estruturação do texto, o método de intensas conexões e a assimilação da multiplicidade serão elementos estruturadores da maneira de pesquisar e da organização do conhecimento construído. Para isso, estabelecer, simultaneamente, uma caixa de ferramentas e um relicário. O que se propõe aqui é condensar num mesmo volume, no espaço e no tempo, diversos discursos, independentes uns dos outros mas conceitualmente conectados, como um rizoma, que tratem da inutilidade, de sua proposição, reflexão, transformação e até mesmo de sua utilização, que tomaram corpo durante o século XX. Num primeiro momento agrupá-los e conectá-los, como numa coleção (BENJAMIN, 2007). Uma coleção de discursos sobre o Inútil. Num segundo momento, num processo contínuo de vivência e experimentação da Metrópole, resgatá-los, agrupados ou não, do relicário, do lugar do extraordinário, para apropriar-se do espaço real da Metrópole, transformá-los, ou mesmo restabelecê-los, em ferramentas de apropriação, máquinas de guerra (DELEUZE, 2004), objetos ordinários abertos à toda prova. Este processo de resgate dos discursos e posterior demarcação no território da Metrópole será continuamente construído e desconstruído pela percepção de um Estrangeiro (PEIXOTO, 1987), desterritorializado e ao mesmo tempo desterritorializante (GUATTARI, 1992). Colocar-se como um estrangeiro para, com este relicário/caixa de ferramentas em mãos, sair às ruas, andar, vivenciar o emaranhado urbano, a Metrópole. Registrá-la. Mapeá-la. Documentá-la. Reterritorializar os discursos. Dissipar momentaneamente a névoa utilitarista depositada sobre a Metrópole. Reconhecer as potências da inutilidade. Realçar a subjetividade constitutiva da arquitetura urbana. Produzir inutilidade e compor uma nova coleção, uma coleção de mapas. Não os tradicionais mapas cartesianos e métricos, mas sim mapas psicogeográficos __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 242 (JACQUES, 2003). Mapas que se propõem a total inutilidade de localização geográfica precisa e mecanizada. Mapas gerados pelo corpo, com o corpo. Percepções espaciais que vão além da métrica apresentada. E nestes mapas psicogeográficos serão marcados e registrados os diversos lugares (NORBERG-SCHULZ, 1980), e não lugares (AUGÉ, 2012), relacionados aos discursos e apropriações da inutilidade, criando uma cartografia conceitual e imagética da inutilidade na Metrópole. Uma cartografia do inútil, um elogio à inutilidade. E como um colecionador, toda esta cartografia será organizada de uma forma aberta (ECO, 2001), convidando o interlocutor a construir sua particular leitura, não estabelecendo uma sequência pré-determinada por número de páginas, eliminando a noção de começo, meio e fim, propondo apenas o meio (DELEUZE, 2004). Com isso, neste meio, os elementos colecionados poderão ser agrupados e conectados de acordo com a interlocução gerada com o leitor, criando múltiplas leituras e aprofundamentos do tema. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANTONIOU, Antonis. et al. A map of the world according to illustrators & storytellers. Berlim: Gestalten, 2013. ARANTES, Otília B. Fiori. Urbanismo em fim de linha e Outros Estudos sobre o colapso da modernização arquitetônica. São Paulo: Edusp, 2001. ARENDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. São Paulo: Companhia das letras, 1988. ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. AUGÉ, Marc. Não lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: Papirus, 2012. BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1989. BARDI, Lina Bo. Tempos de grossura: o design no impasse. São Paulo: Instituto Lina Bo & P. M. Bardi, 1994. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 243 BASAR, Shuman. World of Madelon Vriesendorp: paintings, postcards, objects, games. Londres: AA Publications, 2008. BECKETT, Samuel. Esperando Godot. São Paulo: Cosac & Naify, 2005. BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: UFMG, São Paulo: Imprensa Oficial, 2007. BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. BOGÉA, Marta Vieira. Cidade Errante: arquitetura em movimento. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009. BRAYER, Marie-Ange; ALISON, Jane. Future City: experiment and utopia in architecture. Londres: Thames and Hudson, 2007. BRETON, André. Manifiestos Del surrealismo. Buenos Aires: Editorial Argonauta, 2001. CACCIARI, Massimo. A cidade. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. CAMPOS, Cândido Malta (org.). São Paulo metrópole em trânsito: percursos urbanos e culturais. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2004. CANEVACCI, Massimo. A cidade polifônica. São Paulo: Studio Nobel, 2004. CARERI, Francesco. Walkscapes, El andar como prática estética. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. CHION, Michel. The films of Jacques Tati. Toronto: Guernica, 2006. COOK, Peter (ed.). Archigram. Nova York: Princeton A. Press, 1999 DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. DELEUZE, Gilles. A Dobra – Leipzig e o Barroco. Campinas: Papirus, 1991. DELEUZE, Gilles. Crítica e Clínica. São Paulo: Ed 34, 1997. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs vol 01. Rio de Janeiro: Ed 34, 2004. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs vol 05. Rio de Janeiro: Ed 34, 2004. ECO, Umberto. Obra Aberta. São Paulo: Perspectiva, 2001. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 244 FAVARETTO, Celso. A Invenção de Hélio Oiticica. São Paulo: EDUSP, 1992. GRINOVER, Marina; RUBINO, Silvana (org.). Lina por escrito: textos escolhidos de Lina Bo Bardi. São Paulo: Cosac & Naify, 2009. GUATTARI, Félix. As três ecologias. Campinas: Papirus, 1990. GUATTARI, Félix. Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: Ed 34, 1992. GUATELLI, Igor. Arquitetura dos Entre-lugares. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2012. GUINSBURG, Jacó (org.). O Surrealismo. São Paulo: Perspectiva, 2008. HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1992. HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspectiva, 2008. ITO, Toyo. Arquitectura de limites difusos. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. ITO, Toyo. Escritos. Valencia: COAT Murcia, 2000. JACQUES, Paola Berenstein (org.). Apologia da Deriva. Escritos Situacionistas sobre a Cidade. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. JACQUES, Paola Berenstein. Elogio aos errantes. Salvador: EDUFBA, 2012. JACOBS, Jane. Morte e Vida de Grandes Cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2001. KAFKA, Franz. Um artista da fome e A construção. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. KEHL, Maria Rita. O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: Boitempo, 2009. KOOLHAAS, Rem. Espacio Basura. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. KOOLHAAS, Rem. La ciudad Genérica. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. KOOLHAAS, Rem. Mutaciones. Barcelona: Actar, 2005. KOOLHAAS, Rem. Nova York Delirante. São Paulo: CosacNaify, 2008. KOOLHAAS, Rem. S, M, L, XL. Nova York: Monacelli Press, 1995. LEACH, Neil. La an-estética de la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 245 LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. MARCUSE, Herbert. A ideologia da Sociedade Industrial: o homem unidimensional. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. MELVILLE, Herman. Bartleby, o escrivão: uma história de Wall Street. São Paulo: Cosac & Naify, 2005. NESBITT, Kate (org.). Uma nova Agenda para a Arquitetura. São Paulo: Cosac & Naify, 2006. NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius Loci: towards a phenomenology of architecture. Nova York: Rizzoli, 1980. NOVAES, Adauto (org.). Mutações: elogio à preguiça. São Paulo: SESC SP, 2012. NOVAES, Adauto (org.). O Olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. PAZ, Octavio. Apariencia desnuda: la obra de Marcel Duchamp. Cidade do México: Ediciones ERA, 1995. PEIXOTO, Nelson Brissac. Cenários em ruínas: a realidade imaginária contemporânea. São Paulo: Brasiliense, 1987. PEIXOTO, Nelson Brissac. Intervenções Urbanas: ARTE/CIDADE. São Paulo: Editora Senac, 2002. PEIXOTO, Nelson Brissac. Paisagens Urbanas. São Paulo: Editora Senac, 2004. PEVSNER, Nikolaus. Os pioneiros do desenho moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002. RANGEL, Gabriela. Gordon Matta-Clark: desfazer o espaço. São Paulo: MAMSP, 2010. RASMUSSEN, Steen Eiler. Arquitetura vivenciada. São Paulo: Martins Fontes, 1998. RICHTER, Hans. Dadá: arte e antiarte. São Paulo: Martins Fontes, 1993. SENNETT, Richard. O Declínio do Homem Público. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. SILVA, Ricardo Luis. Uma odisseia paulistana: uma documentação retroativa sobre o São Vito. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 246 SIMMEL, Georg. A metrópole e a vida mental. In VELHO, Otávio Guilherme (org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1973. SOLÁ-MORALES, Ignasi de. Diferencias: Topografia de la Arquitectura Contemporânea. Barcelona: Gustavo Gili, 2003. SOLÁ-MORALES, Ignasi de. Territórios. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. SONTAG, Susan. Contra a interpretação. Rio de Janeiro: L&PM, 1987. SYKES, A. Krista (org.). O campo ampliado da arquitetura: antologia teórica (1993-2009). São Paulo: Cosac & Naify, 2013. TAFURI, Manfredo; CASSIARI, Massimo; DAL CO, Francesco. De la vanguardia a la metropolis: critica radical a la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 1972. VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise; IZENOUR, Steven. Aprendendo com Las Vegas. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. VENTURI, Robert. Complexidade e Contradição em Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2004. WIGLEY, Mark. Constant’s New Babylon: The Hyper-architecture of Desire. Roterdam: 010 Publishers, 1998. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 OS LUGARES E AS ARQUITETURAS PARA A ARTE CONTEMPORÂNEA NO SÉCULO XXI RESUMO A construção de museus de arte ao redor do mundo tornou-se um fenômeno sem precedentes nos últimos anos. Os novos museus deixaram de ser apenas o local de exposição das obras de arte para se transformar num “agente” cultural promotor dessas transformações. No plano urbano, a implantação de museus “espetáculo” se tornou num grande modelo de revitalização de centros degradados ao redor do mundo, pois ao mesmo tempo em que revitaliza a economia, aumenta a autoestima da população do local. Esse novo modelo de elevação capital simbólico das cidades, que envolve conceitos chaves na cultura contemporânea, como política, turismo, consumo, transformação e identidade anseiam por um olhar mais crítico e aprofundado para entender sua lógica e estruturação. Palavras chave: Arquitetura, Museus, Arte, Cultura Contemporânea, Revitalização centros urbanos ABSTRACT The construction of art museums around the world has become a phenomenon unprecedented in recent years. The new museums stopped being just the local works of art exhibition to become an "agent" cultural promoter of these transformations. In urban planning, deploying museums "spectacle" became a great model for revitalizing degraded centers around the world, because at the same time revitalizing the economy, increases self-esteem of the local population. This new model of high symbolic capital cities, involving key concepts in contemporary culture, such as politics, tourism, consumption, transformation and identity yearn for a more critical and in-depth to understand its logic and structure. Keywords: Architecture, Museums, Art, Contemporary Culture, Revitalizing urban centers 248 OS LUGARES E AS ARQUITETURAS PARA A ARTE CONTEMPORÂNEA NO SÉCULO XXI Silverio Syllas Saad 1 “A forma segue a ação” MVDRV Nos últimos 30 anos, a construção de museus de arte ao redor do mundo tornou-se um fenômeno sem precedentes. A construção desses novos museus do século XXI, como são chamados, redesenham antigos centros urbanos e áreas degradadas, exercendo um papel fundamental na construção de uma nova imagem para essas cidades. Esse novo modelo de ocupação tornou-se um grande negócio para a administração pública, pois ao mesmo tempo em que urbaniza áreas problemáticas e degradadas dos grandes centros urbanos, revitaliza a economia local, inserindo a cidade na cobiçada rota do turismo internacional. O modelo que parece perfeito a primeira vista, encontra no seu financiamento a grande questão a ser desvelada. Vemos surgirem, de forma nunca totalmente esclarecida, parcerias entre os administradores públicos e os agentes privados,(ver ARANTES, 1995) cujas consequências são inusitadas mudanças da legislação de uso e ocupação do solo, patrocinadas por grandiosas operações urbanas que acabam por fim, revitalizando somente áreas mais nobres da cidade ou aquelas com maior potencial de multiplicação do capital privado. Dentro de suas diretrizes básicas, esse modelo prevê a construção de um grande equipamento cultural, como um museu, sala de 1 Arquiteto, formado na Puc-Campinas, e Filósofo formado na Puc São Paulo, com mestrado em Estética pela PUC – SP, com doutorado em andamento no Mackenzie. Contato:[email protected] __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 249 concertos, etc como edifício âncora do projeto, o que da um verniz cultural para o projeto como um todo. Nessas condições, a linguagem do projeto de arquitetura deve ser inovadora e impactante com o objetivo de criar um novo marco para a região e ao mesmo tempo, a mais simbólica possível interagindo com a imaginação dos usuários e dos moradores locais. Investe-se pesado em alta tecnologia da construção, com materiais e técnicas de última geração, e projetos de renomados escritórios internacionais de arquitetura, desejando a construção de um novo referencial urbano. Esse novo museu tem sua arquitetura e implantação estrategicamente planejadas, tornando-se edifícios emblemáticos. Seu forte impacto visual torna-o rapidamente fenômeno de popularidade, que se complementa com uma programada exposição mediática em vários níveis, seja com exposições blockbusters de grandes pintores renascentistas ou impressionistas como Picasso, Monet, Da Vinci, etc, que atraem grandes multidões, seja com uma eficiente estratégia de assessoria de comunicação que atraem os grandes veículos de mídia em geral, em reportagens com roteiros previamente estabelecidos. Essa estratégia atrai grandes patrocinadores para as exposições que podem associar seu produto a esfera cultural do mundo dos museus. Tornam-se assim, rapidamente, um modelo cobiçado pelos gestores ao redor do mundo. A inserção da instituição do museu nessa lógica de marketing que prevê também a valorização do caráter espetacular das exposições, algo próximo do entretenimento, é defendida pelos seus gestores com o discurso da difusão ampliada e generalizada do conhecimento o que torna discutível a qualidade da formação a que se propõe a instituição museu. “Essa popularização pretendida, o esforço em reduzir o componente elitista do museu, seria compensado por meio de artifícios, entre os quais sobressai a arquitetura, de tal modo, que, a par das grandes exposições, em particular as temporárias, teríamos segundo Thomas Krens, além de __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 250 um prédio de alto impacto, uma praça de alimentação e oportunamente um lugar para fazer compras” ( FARIAS, 2009, pg. 31) A onda atinge também os antigos museus, que não querendo ficar para trás, “atualizamse” passando por grandes ampliações e remodelações, atualizando seus espaços expositivos além da inserção de novos equipamentos como bibliotecas, salas de projeção, ateliês, restaurantes, livrarias e lojas. Esse novo modelo de elevação capital simbólico das cidades, bem como da autoestima da população local, que envolve conceitos chaves na cultura contemporânea, como política, turismo, consumo, transformação e identidade se tornou uma questão chave para análise da cultura contemporânea. Por outro lado, esses novos museus tem em seu programa, a complexa tarefa de abrigar a exposição de arte contemporânea. Após o impacto produzido pelas vanguardas do início do século XX, com produções artísticas heterodoxas, o mundo da arte abriu-se a novas experiências espaço-temporais que irão marcar profundamente a arte contemporânea. Diante desse panorama, o programa do museu alterou-se completamente procurando dar conta da enorme complexidade da produção artística contemporânea, seja nos temas, nos tamanhos, na intensidade ou na nova leitura do espaço de exposições. O novo museu–especialmente o de arte- tem que responder a essa produção com novos suportes o que torna a arquitetura um elemento fundamental nesse processo. A pesquisa sobre o tema de museus é extensa. Nos últimos anos a construção de museus sobre os mais variados temas, ao redor do mundo, é uma realidade na cultura contemporânea. Museus de história (pré-história, história local, história natural, etc), Arqueologia, Tecnologia, Design, Moda, Museu-Empresa, Ciências, Literatura, Museu-Marítimo, Cultura e Direitos Humanos e até mesmo museu do “esquecimento” (nota), entre outros, tem revelado a ampliação do conceito de museu na sociedade atual. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 251 Essa ampliação é acompanhada da mudança de foco do seu antigo papel de “colecionador e conservador” dos bens da memória, para o de um novo “agente cultural”, focado no público, e atento às novas demandas da cultura contemporânea. Isso irá se revelar principalmente na busca de uma nova lógica de expografia das obras, onde o visitante agora é estimulado a interagir com a obra, seja fisicamente- podendo em muitos casos até entrar em seu interior- seja virtualmente por meio de ferramentas tecnológicas inovadoras, e sempre com o objetivo de estimular o campo sensorial do observador. Esse novo papel do museu vem se transformando desde o surgimento dos primeiros museus modernos no início do século XX. É difícil marcar o momento exato em que surgiu o desenho do museu moderno. O inicio do século XX é marcado pela aparição de inúmeras tipologias que foram consequências das profundas transformações sociais, econômicas e tecnológicas da época. A fé no progresso técnico, as grandes descobertas do mundo das máquinas, e a possibilidade de uma nova organização racional da sociedade fermentavam a ambiciosa missão de criar uma nova linguagem arquitetônica que representasse o novo modo de vida que surgia na cidade. Essa nova linguagem moderna inspirada na nascente arte das vanguardas artísticas, propunha um grau inédito de abstração com planos livres e transparentes, precisão, simplicidade, e o anonimato com desaparecimento do ornamento. Acreditando também “na importância fundamental de um novo entorno, inédito, livre de estruturas do passado ou de nostalgias do ambiente decadente das cidades existentes (...) essa linguagem pretendia ser o grau zero, virgem de significados” (WAISMANN, 2013, pg. 71) A partir dos anos 1920 vemos surgirem muitos projetos “conceituais” de museus, nunca construídos, que propõem a revisão dos preceitos construtivos da planta do museu “clássico” do século XIX, onde fileiras de salas simétricas se estruturam perpendicularmente em torno de um átrio central. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 252 Le Corbusier projeta dois museus que ficaram conhecidos por suas propostas ousadas de concepção espacial. O primeiro deles o Mundaneum foi o monumental projeto para aquele que seria o primeiro museu mundial que abrigaria toda a produção da história da humanidade. De forma piramidal e com dimensões de 180m de altura por 100m de largura, o edifício inova ao propor um novo eixo vertical de exposição onde o visitante a partir do topo da pirâmide desceria em longas rampas contornando o prédio até o grande átrio central do edifício. Nesse hall, totalmente escuro como nas pirâmides gregas, o visitante caminhando pela falta da “razão iluminista” poderia enfim encontrar “os limites intermináveis do conhecimento” num grande planetário, na praça em frente ao museu.(PERESSUT,1999,pg. 14) Em 1930 Le Corbusier projeta o segundo museu com uma nova tipologia mais flexível, onde módulos pré-moldados de 7 metros de comprimento se organizavam perpendicularmente partir de um núcleo central fixo, podendo se estender indefinitivamente, ficando conhecido como “Museu do Crescimento Ilimitado”. Seu espaço interno totalmente livre poderia se adequar a qualquer exposição. Esse modelo do bloco sem janelas e sem fachada, foi defendido por Le Corbusier como uma verdadeira “maquina de expor”: “O principio desse museu é uma ideia. Uma ideia patenteável. O museu pode ser criado ao longo do tempo por iniciativas dos doadores que sustentam sua criação: em troca eles podem dar seu nome às salas. No fim ele se tornará um modelo para um museu em qualquer lugar do mundo”. (PERESSUT, 1999, pg. 16) museecannibale.blogspot.com Le Corbusier, Mundaneum (Museu Mundial), Seção e fachadas __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 253 http://blog.sfmoma.org/2012/11/ Le Corbisier, Museu do Crescimento Ilimitado. Em 1943, Mies van der Rohe recém-chegado aos EUA vindo da Europa, publica o projeto conceitual do “Museu para Pequena Cidade” lançando suas ideias para arquitetura com seus conceitos de espaços livres e flexíveis, panos de vidro e estrutura aparente. Retomando os conceitos desenvolvidos no Pavilhão de Barcelona de 1929, Mies abusa do uso retilíneo de formas simples e planas, com o espaço composto por uma grade regular de colunas de aço aparentes e uma cobertura “solta” sobre o edifício. Seu interior era dividido por grandes painéis estrategicamente colocados, que obrigavam os visitantes a “conquistar” seus espaços criando um percurso expositivo. http://blog.archpaper.com/wordpress “Museu para Pequena Cidade” 1943 e “Pavilhão de Barcelona”, 1929 (Reconstruído em 1986) de Mies Van der Rohe __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 254 A partir da década de 1930, temos nos EUA e na Europa, os primeiros museus construídos especialmente para abrigar a nascente arte moderna. Suas novas concepções arquitetônicas darão um impulso decisivo a nova dinâmica da experiência sensorial dentro do museu. O museu de Arte Moderna de Nova York, o primeiro do gênero na América, abriu em 1939, com projeto dos arquitetos Philip Goodwin e Edward Durell. O edifício, como uma grande caixa quadrada de concreto, inaugura a lógica do “cubo branco”, com seus espaços expositivos fechados, buscando a valoração da obra exposta. O novo espaço redefine a posição do observador, sendo a obra agora exposta em espaços previamente determinados, onde são estudados os possíveis ângulos e perspectivas de visão do observador, e onde as grandes paredes brancas de fundo passam a fazer parte da composição pictórica. O artista moderno incorpora do espaço do museu em suas criações. O espaço do museu deixou de ser apenas o lugar da exposição das obras, para ser um lugar que se integra com as obras expostas. Essa nova relação da obra com o observador cria uma nova mística para a arte moderna, algo como “um pouco da santidade da igreja, da formalidade do tribunal e da mística do laboratório de experimentos”. (O’DOHERTY, 2002, pg. 27) http://www.archdaily.com Moma de Nova York, de Philip Goodwin e Edward Durell, 1930, ampliado em 1984 por Cesar Pelli e em 2004 por Yoshio Taniguchi __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 255 Inaugurado em 1959, após 16 anos de construção, o Museu Guggenheim de Nova York, com projeto de Frank Lloyd Wright, retoma a ideia de Le Corbusier de uma rampa-galeria em forma espiral, aberta ao longo de um grande átrio central, agora iluminado por uma grande claraboia. Contrastando com todo o perfil retilíneo e ortogonal da malha urbana do entorno o museu de formas orgânicas logo se tornou um referencial na cidade. A liberdade do espaço contínuo do museu permite ao visitante andar livremente pelas rampas observando o grande vão do átrio central e perceber a interação das pessoas nos vários níveis da construção. A riqueza dessa experiência acabou por atrair as pessoas que visitavam o museu apenas para conhecer sua arquitetura independente das obras expostas, inaugurando a ideia do edifício monumento que como uma obra de arte compete diretamente com os quadros expostos em seu interior. http://www.archdaily.com Museu Guggenheim de Nova York de Frank Lloyd Wright, 1959 Em 1977, a França inaugura no bairro do Beaubourg, um dos museus mais polêmicos da história do país, o Centre George Pompidou. Encravado num dos bairros mais tradicionais de Paris, seu polêmico projeto de arquitetos poucos conhecidos na época, Richard Rogers+ Renzo Piano, propunha criar um grande museu em “movimento”. Uma enorme estrutura metálica que expunha em sua fachada colorida todos os sistemas infra-estruturais da construção acaba por soterrar centenas de prédios históricos do local em que foi implantado. Sua aparência high-tech __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 256 provoca, procurando um novo tipo de relação com o entorno não mais aquele da mesma tradição tipológica existente, mas um outro radicalmente diferente que possa, em contraponto, contaminar o sitio abrindo novas perspectivas de experiências sensoriais. Seu espaço interior foi concebido como um grande plano sem interrupções adotando a planta livre de Mies Van der Rowe, onde as exposições possam associar grandes equipamentos tecnológicos as obras expostas, conforme programa básico do museu. Sua grande praça plana e aberta sobre o qual esta implantado, inaugurou um grande referencial urbano que convida a todos a olhar o museu e também a cidade onde esta inserido. Passados 30 anos de sua construção o museu foi plenamente adotado pela população jovem que o frequenta diariamente. http://www.archdaily.com Centre George Pompidou, 1977, Richard Rogers+ Renzo Piano A beira do Rio Nervion, em Bilbao na Espanha, o museu Guggenheim Bilbao responde de forma brilhante a enorme complexidade do programa colocado ao arquiteto Frank Ghery. A grande região central da cidade calcinada pelas antigas metalúrgicas que se foram e a degradada região do Porto da cidade deveriam ser revitalizadas à partir de um projeto que atraísse o capital privado e ao mesmo tempo recuperasse a auto estima da população local. De forma cativante o museu Guggenheim desponta “imerso” dentro do Rio Nervion, com suas formas orgânicas e reluzentes, promovendo a reurbanização do seu entorno na cidade. Seus 11.000 metros de construção e mais de 19 galerias compõe uma estimulante experiência espacial, que se inicia antes da entrada, através de uma grande passarela que contorna o edifício. Dentro do museu, um __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 257 grande átrio vertical convida a caminhada junto das passarelas internas que interligam as galerias possibilitando a vista do conjunto interno e do sitio urbano onde esta inserido. Reproduz a ideia de museu monumento que magnetiza e atrai pela sua forma e tornou-se rapidamente um ícone de modelo de revitalização com viés turístico, sendo reproduzida como modelo a exaustão nos meios de comunicação. Porém sempre é bom frisar, os grandiosos números do sucesso são sempre fornecidos pela própria fundação mantenedora do museu. Apesar de forma orgânica exterior, apresenta um conjunto de galerias tecnicamente bem projetadas, sendo seus espaços preparados projetados para receber grandes objetos da arte contemporânea, como as esculturas de Richard Serra. http://www.archdaily.com Museu Guggenheim de Bilbao, 1997, Frank Ghery Por fim podemos concluir que a partir do Projeto Moderno a instituição museu alterou gradativamente seu papel e seu significado junto à sociedade em geral. De antigo espaço expositor o museu moderno passa a coadjuvante das transformações artísticas da nossa época. Novas experiências espaciais foram criadas e usando sua carga de significação cultural, o museu tornou-se um referencial em projetos de requalificação urbana ao redor do mundo tendo a ideia do monumento escultural como elemento chave nesse processo. Se esse modelo foi experimentado a exaustão, a crise da realidade atual, com o fechamento ou a transformação de muitos museus em “edifícios fantasma”, mostra que somente o prédio monumental não é suficiente para construir __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 258 um sentido na cultura contemporânea. É necessário um conjunto mais complexo de fatores que envolvem um projeto curatorial de longo aliado à singularidade da cultura local e a construção de um significado entre o edifício e a população local que possa ver no museu não somente um monumento urbano, mas monumento pessoal. BIBLIOGRAFIA ARANTES, Otília. “O lugar da arquitetura depois dos modernos”. São Paulo: Edusp,1995 FARIAS, Agnaldo, “Museus antípodas, aqui e no Japão” em Arquitetura de Museus: textos e projetos. São Paulo: FAUUSP, 2009, PERESSUT, Luca Basso, “Musées Architectures 1990-2000” , Milão, Actes Sud/Motta,1999 O’DOHERTY, Brian. “No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte”. São Paulo: Martins Fontes, 2002. WAISMAN, Marina, O Interior da História, São Paulo, Perspectiva, 2013 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 SUSTENTABILIDADE, ÉTICA E ARQUITETURA: DISCUTINDO A QUALIFICAÇÃO DO HABITAT URBANO RESUMO Este artigo pretende analisar a possibilidade de utilização de espaços de transição como ambientes privilegiados de contato com um habitat urbano, qualificado por propostas projetuais de orientação sustentável. Para tanto, busca compreender de que forma, no contexto da sociedade metropolitana do século XXI, as noções de sustentabilidade aplicadas à arquitetura podem resgatar um sentido ético. Cabe ressaltar que a definição daquilo que é sustentável será abordada a partir do pressuposto das diferentes matrizes discursivas da sustentabilidade definidas por Acselrad (2001). Palavras-chave: Arquitetura, ética, sustentabilidade ABSTRACT This paper intends to analyze the possibility of using transitional spaces as privileged ambiences to contact an urban habitat, qualified for project proposals of sustainable guidance. For this purpose, seeks to understand how, in the context of metropolitan society of XXI century, the notions of sustainability applied to architecture can rescue an ethical sense. We point out that the definition of what is sustainable will be addressed from the assumption of different discursive matrices of sustainability defined by Acselrad (2001). Key words: Architecture, ethics, sustainability 260 SUSTENTABILIDADE, ÉTICA E ARQUITETURA: DISCUTINDO A QUALIFICAÇÃO DO HABITAT URBANO Andre Reis Balsini 1 Maria Isabel Villac 2 INTRODUÇÃO: Neste início de século, vivenciamos uma espiral de crescimento e mudança nos centros urbanos, em especial nos centros metropolitanos, que se encontram sob influência mais direta da globalização. Conforme argumenta Hall, as identidades culturais vêm sendo afetadas e transformadas por um “complexo de processos e forças de mudança” (HALL, 2011, p.67) em escala global. Nesta abordagem, a globalização mostra um acentuado caráter de interconexão e relativização das distâncias; uma aceleração e “compressão do espaço-tempo” (Ibid, 2011, p.69). As metrópoles globalizadas figuram como as maiores consumidoras de recursos materiais e energéticos do planeta. Em que pese no momento a percepção dos limites quanto à exploração dos recursos naturais e dos múltiplos impactos causados pelas ações antrópicas, a questão da sustentabilidade assume importância central na discussão do futuro das cidades. As diferentes representações sobre o que seja a sustentabilidade urbana têm apontado para a reprodução adaptativa das estruturas urbanas com foco alternativamente colocado no reajustamento da base técnica das cidades, nos princípios que fundam a existência cidadã das populações urbanas ou na redefinição das bases de legitimidade das políticas urbanas. [...] A representação que privilegia a leitura da cidade como matriz técnico-material propõe a recomposição das cidades a partir de modelos de eficiência eco- 1 Andre R. Balsini: arquiteto e urbanista (USU-RJ, 1999); especialista em análise e avaliação ambiental (PUC-Rio, 2005); e mestrando em arquitetura e urbanismo pela FAU-UPM. E-mail: [email protected] 2 Prof. Dra. Maria Isabel Villac: arquiteta e urbanista (FAU-UPM-1977) e Doutora em teoria e historia da arquitetura – (Universitat Politecnica de Catalunya - 2002). Professora da FAU-UPM. E-mail: [email protected] __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 261 energética ou de equilíbrio metabólico aplicados à materialidade do urbano. A redução da durabilidade da cidade à sua dimensão estritamente material tende a descaracterizar a dimensão política do espaço urbano, desconsiderando a complexidade da trama social responsável tanto pela reprodução como pela inovação na temporalidade histórica das cidades. (ACSELRAD, 2001, p. 50) Assim posto, entendemos que, dados os desdobramentos sociais envolvidos na construção de uma cidade sustentável, há que aplicar os seus princípios a partir de uma perspectiva ética, sem a qual corre-se o risco de um certo relativismo quanto ao alcance das propostas que se pretende implementar. Da mesma forma, observamos que nem sempre o que se coloca como sustentável se traduz numa qualificação ambiental que seja efetivamente percebida. No contexto das metrópoles massificadas, poluídas e inseguras, a sustentabilidade não pode se limitar a um plano abstrato – simplesmente informada ou mesmo pretensamente resumida a um greenwash superficial –, necessita ser vivenciada de modo latente e inequívoco. Atualmente, proposições orientadas à qualidade ambiental urbana configuram-se como critérios relevantes para a definição de financiamentos em infraestrutura, por parte de agências multilaterais de desenvolvimento, em que nota-se uma “preocupação crescente com a temporalidade das cidades, com as ameaças à estabilidade das estruturas urbanas ao longo do tempo, com o risco de que as cidades possam perder substancialmente sua ‘sustentabilidade’.” (Ibid, 2001, p. 21). Neste sentido, não necessariamente, as noções de sustentabilidade e de preservação ambiental se contrapõem ao progresso econômico, mas podem, sim, agregar diferenciais competitivos para as cidades que estão inseridas no cenário global. Diversas matrizes discursivas têm sustentabilidade desde que o Relatório sido associadas Brundtland a à lançou noção no de debate público internacional em 1987. Dentre elas, podem-se destacar a matriz da eficiência, que pretende combater o desperdício da base material do __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 262 desenvolvimento, estendendo a racionalidade econômica ao ‘espaço nãomercantil planetário’; da escala, que propugna um limite quantitativo ao crescimento econômico e a pressão que ele exerce sobre os ‘recursos ambientais’; da eqüidade, que articula analiticamente princípios de justiça e ecologia; da auto-suficiência, que prega a desvinculação de economias nacionais e sociedades tradicionais dos fluxos do mercado mundial como estratégia comunitária apropriada das a assegurar condições de a capacidade reprodução da de base auto-regulação material do desenvolvimento; da ética, que inscreve a apropriação social do mundo material em um debate sobre valores de bem e de mal, evidenciando as interações da base material do desenvolvimento com as condições de continuidade da vida no planeta. (Ibid, 2001, p. 27) Deste quadro, Acselrad identifica três principais matrizes discursivas para a sustentabilidade urbana, no que pretende colaborar para a superação de uma “suposta imprecisão do conceito de sustentabilidade” (Ibid, 2001, p. 28), que nada mais seria do que a consequência de uma cacofonia entre os discursos proferidos por diferentes atores. A primeira destas matrizes se reporta à representação técnico-material da cidade, incorporando as questões da racionalidade eco-energética e do equilíbrio de um metabolismo urbano. Sob este viés, geralmente situam-se os aspectos de sustentabilidade considerados pela arquitetura, direcionados conforme as noções de economia, eficiência e performance das edificações. A segunda matriz discursiva compreende a cidade como espaço da qualidade de vida, em que a sustentabilidade deveria assumir um caráter tangível. Nesta abordagem, estão em pauta as questões socioculturais; a necessidade da preservação das identidades e do patrimônio; a necessidade da evolução do conceito de cidadania em prol da sustentabilidade; e a emergência de posturas éticas comprometidas com o legado às futuras gerações, conjuntamente à disseminação de um ascetismo social, que se contrapõe a ideia de consumo e crescimento desenfreados. Por fim, a matriz que discute a legitimidade das políticas urbanas, que deveriam necessariamente refletir as __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 263 demandas de uma agenda sustentável por meio de modelos de eficiência e eqüidade. (ACSELRAD, 2001) Neste artigo, não pretendemos nos perguntar sobre o quanto uma arquitetura pode ser sustentável, mas para quem ela pode ser, identificando nossa abordagem com a matriz discursiva da qualidade de vida urbana e de uma ética sustentável. Assim, tratamos de discutir a sustentabilidade como um aspecto dado da condição socioambiental. Nesta ótica, sustentável é algo que se faz perceber favoravelmente no dia a dia, algo que gera economia, reduz a poluição ambiental e preserva a natureza para que o contato com ela seja mantido. Não se trata de uma sustentabilidade abstrata de amazônias longínquas ou de produtos da construção certificados, não menos perturbadores do meio comum, mas de uma sustentabilidade de caráter social, que esteja representada nas relações entre homem e ambiente – sendo este último entendido como inseparável de qualquer tipo de relação social que se dê, visto que é o próprio habitat do homem. A sustentabilidade do ambiente urbano deveria ser aferida pela adequação a uma condição de qualidade ambiental para o espaço público, palco de encontros e suporte ambiental das interações sociais. CRISE AMBIENTAL E ARQUITETURA Nossos sistemas atuais de planejamento criaram um mundo que cresce muito além da capacidade do ambiente de sustentar a vida no futuro. (MCDONOUGH, 2008, p.437) A crise ambiental que vivenciamos na atualidade é decorrente dos efeitos não previstos da Segunda Revolução Industrial. O crescimento exponencial da distribuição de bens e insumos, juntamente à aceleração dos processos produtivos propiciados pela máquina, gerou, em contrapartida, um igual crescimento em relação à exploração dos recursos naturais e uma igual __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 264 aceleração no que se refere à devastação e poluição ambientais. Nos anos de 1970, com a evidenciação dos sinais da crise, amplia-se a compreensão acerca da interdependência entre humanidade e natureza, baseada na percepção acerca de um mundo que havia se tornado “extremamente complexo, tanto em seu funcionamento como em nossa capacidade de perceber e compreender tais complexidades. Nesse mundo complicado, os antigos modos de dominação perderam a capacidade de controle.” (Ibid, 2008, p.437) A arquitetura, ao longo do século XX, evolui a partir da industrialização e pré-fabricação dos elementos construtivos, inicialmente sob a influência do pensamento modernista. A evolução tecnológica tornou os edifícios grandes consumidores de energia, principalmente devido à difusão dos sistemas de climatização, entre outros fatores. Estes mesmos sistemas influíram no surgimento de soluções para ambientes internos desvinculados do meio externo e ainda de edifícios fechados, que abriram mão de ventilar suas fachadas. Não havia uma percepção dos inconvenientes destas soluções ou de seu custo ambiental, conforme exemplifica Mcdonough: Usamos o vidro de modo contraditório. A expectativa de que o vidro nos pusesse em contato com o ar livre foi completamente anulada pela construção de prédios fechados. Provocamos estresse nas pessoas por que somos feitos para estar em contato com o ar livre, mas, em vez disso, ficamos confinados. O problema da qualidade do ar no interior dos edifícios está se tornando muito sério. As pessoas estão se dando conta do horror que é ficar confinado em espaços fechados, principalmente por causa da enorme quantidade de substâncias químicas usadas atualmente na fabricação das coisas. (Ibid, 2008, p.430) Uma primeira reação dos arquitetos se deu “com a primeira crise de energia, produzida pelo grande aumento do preço do petróleo, em 1973, impulsionando o que foi chamado de arquitetura solar.” (CORBELLA & YANNAS, 2009, p.19) [A arquitetura solar] se preocupou fundamentalmente em incorporar a energia solar aos edifícios para contribuir à sua calefação, poupando o consumo de energia convencional. Pouco a pouco foi renascendo uma arquitetura preocupada na sua __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 265 integração com o clima local, visando a habitação centrada sobre o conforto ambiental do ser humano e sua repercussão no planeta, a Arquitetura Bioclimática. (Ibid, 2009, p.19) Dessa forma, os arquitetos voltam-se às questões do conforto passivo, da redução da dependência de energia, e da construção vernacular de tradição regional; assuntos que haviam tido sua importância reduzida com a industrialização. Nos anos 80 veio o próximo grande choque: as mudanças climáticas. Foi quando as taxas de redução da camada de ozônio e o aumento dos gases do efeito estufa e as advertências mundiais tornaram-se aparentes. As previsões feitas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, em 1990, surgiram do aumento constante das temperaturas globais ao longo dos anos 90, a década mais quente até então registrada. (ROAF et al, 2006, p.15) Neste período, conceitos como interdependência e pegada ecológica3 começam a se tornar familiares, e não seria mais possível ignorar as consequências dos processos industriais. Está posto o cenário para difusão da arquitetura sustentável, comprometida, por princípio, com a redução dos impactos dos processos construtivos em toda a sua amplitude. Evidentemente que o papel do arquiteto na sociedade tem as suas limitações. Estamos ainda iniciando o processo de incorporar os princípios da sustentabilidade às edificações e aos processos construtivos. E para que este movimento seja de fato efetivo, cabe uma mudança da cultura relacionada à construção, abrangendo as diversas instâncias sociais. Como ressalta Sue Roaf: “deveria estar bem claro que edifícios são os poluentes mais nocivos, consumindo mais da metade de toda a energia usada nos países desenvolvidos e produzindo mais da metade de todos os gases que vêm modificando o clima.” (Ibid, 2006, p.11) 3 A expressão pegada ecológica é uma tradução do Inglês ecological footprint e refere-se, em termos de divulgação ecológica, à quantidade de terra e água que seria necessária para sustentar as gerações atuais, tendo em conta todos os recursos materiais e energéticos gastos por uma determinada população. Ver: http://www.myfootprint.org/. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 266 SOCIEDADE, CULTURA E TRANSFORMAÇÃO Será possível aplicar os princípios da sustentabilidade por partes? Podemos ser sustentáveis apenas quando vantajoso ou quando nos convém? De que forma a noção de sustentabilidade se relaciona com os valores da sociedade urbana contemporânea? Nos últimos anos, pensadores como Michel Foulcault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Stanley Fish e Richard Rorty desfraldaram a bandeira do individualismo nietzschiano; na arquitetura, Peter Eisenman e Bernard Tschumi fizeram o mesmo. A visão individualista de Nietzsche questiona vigorosamente os pressupostos aristotélicos acerca do bem-estar do homem, da cidade, da natureza da vida moral, do papel da razão, e a definição de Aristóteles sobre a autoridade. Não é no contexto da vida comunitária, mas no da sua progressiva emancipação e em seu desligamento interior de uma diversidade de papéis e compromissos comunais que o individuo alcança uma condição de bem-estar. A cidade é, em essência, um empreendimento econômico que propicia aos indivíduos os bens materiais e o anonimato necessário à realização de seus planos pessoais. A vida moral é entendida, sobretudo, em termos de regras que devem ser seguidas quando convenientes, invocadas quando necessárias à proteção da pessoa e descartadas quando entram em conflito com a busca de realização dos projetos particulares do indivíduo. (BESS, 2008, p.407). Conforme a descrição de Bess, o indivíduo contemporâneo resulta de uma construção niilista, em que não há valores que se oponham à busca do bem-estar e satisfação pessoais. Avaliamos que a sustentabilidade, entendida como princípio de caráter coletivo abrangente, para ser efetiva, deve levar a uma superação do individualismo a partir da conscientização quanto às consequências futuras da adoção de um padrão de vida (e consumo) insustentável. Não pode haver uma verdadeira sustentabilidade ao sabor das conveniências. Todavia, uma postura social egocêntrica pode assumir contornos ainda mais acentuados, segundo denuncia Lipovetsky: Pela primeira vez, estamos em presença de uma sociedade que, longe de exaltar a observância dos preceitos superiores, faz deles um uso eufêmico e lança-os ao __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 267 descrédito, deprecia o ideal da abnegação mediante o estímulo sistemático à satisfação das aspirações imediatas, à paixão pelo ego, à felicidade intimista e materialista. [...] E como a cultura do cotidiano não é mais embebida pelos imperativos hiperbólicos do dever, mas sim pelo bem-estar e pela dinâmica dos direitos subjetivos, deixamos de reconhecer a necessidade de uma dependência de qualquer coisa que seja extrínseca a nós. (LIPOVETSKY, 2005, p. xxix) Aqui, nos deparamos com o recurso ao cinismo, que descredencia qualquer ideia ou valor que se interponha ao interesse imediato, ou que seja obstáculo ao consumo. Nesta esfera, a urgência da sustentabilidade é negada por representar um dever e um compromisso para com o futuro. Quando relacionamos sustentabilidade e ética, não pretendemos situar está discussão entre o bem e o mal, numa visão ingênua. Entendemos que se trata de uma necessidade concreta; em que uma cultura que valorize a coletividade humana e reconheça a interdependência entre o homem e o ambiente natural, deve ascender, de modo a assegurar um ambiente saudável para as próximas gerações. É preciso dar ouvidos às palavras do biólogo John Todd, quando ele diz que nós temos de trabalhar com máquinas vivas e não com máquinas de morar. Devemos prestar atenção às necessidades das pessoas, necessitamos de água limpa, de materiais que não ofereçam perigo, e de durabilidade. (MCDONOUGH, 2008, p.430) De toda forma, mesmo compreendendo a complexidade envolvida numa transformação cultural suficientemente abrangente para a consolidação de uma ética sustentável, já identificamos um crescente movimento da sociedade neste sentido. Particularmente nas redes sociais, o interesse e adesão aos temas propostos pela sustentabilidade podem ser constatados e avaliados. Esta convergência ilustra o comentário de Rifkin: [...] nossa noção emergente da consciência da biosfera coincide com descobertas na biologia evolucionaria, na ciência neurocognitiva e no desenvolvimento infantil __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 268 que revelam que as pessoas são biologicamente predispostas a serem solidárias – que nossa natureza não é racional, isolada, aquisivista, agressiva e narcisista, como muitos filósofos do Iluminismo sugeriram, mas sim afetuosa, altamente social, cooperativa e interdependente. O Homo sapiens está cedendo espaço ao Homo empathicus. Segundo os historiadores sociais, a empatia é a cola social que permite que populações cada vez mais individualistas e diversas formem vínculos de familiaridade por domínios mais amplos, de modo que a sociedade possa se tornar mais coesa. Sentir empatia é tornar-se civilizado. (RIFKIN, 2012, p.255). DIRETRIZES ÉTICAS PARA A ARQUITETURA SUSTENTÁVEL O contexto que apresentamos demonstra que a crise ambiental torna necessária uma mudança de paradigmas, no que se refere à cultura relacionada ao ambiente. Para alcançar este objetivo, diversos autores têm destacado o papel da educação ambiental na formação de gerações mais conscientes quanto aos impactos de seus hábitos e atitudes. Novos modelos de ensino destinados a transformar a educação de uma forma competitiva para uma experiência de aprendizagem colaborativa e solidária estão surgindo à medida que escolas e faculdades tentam alcançar uma geração que cresceu na internet e está habituada a interagir em redes sociais abertas onde a informação é compartilhada em vez de ser guardada. O pressuposto tradicional de que ‘conhecimento é poder’ a ser usado para ganho pessoal está sendo substituído pela noção de que o conhecimento é uma expressão das responsabilidades compartilhadas para o bem-estar coletivo da humanidade e o planeta como um todo” (Ibid, 2012, p.256). Neste sentido, a conscientização ambiental por meio da educação teria por objetivo superar a lógica individualista preponderante na sociedade contemporânea, cultivando “a ideia de um eu autoconsciente, ecológico, estendido, que escolhe ativamente se reengajar na miríade de relações interdependentes que compõe a biosfera.” (Ibid, 2012, p.261). O que se pretende é que estes valores, decorrentes dos princípios da sustentabilidade, passem a integrar uma multiplicidade de agendas profissionais, de modo que um amplo espectro __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 269 de agentes sociais incorporem estes mesmos princípios em suas ações. O pressuposto de uma ética profissional é comum às distintas disciplinas. [...] a arquitetura teve, desde seus primórdios, uma função ética de ajudar a exprimir e inclusive a instituir o ethos humano – o uso da palavra ‘edificar’ ainda alude a uma relação entre o construir e a ética. A arquitetura do barroco talvez tenha sido a última a preservar essa função ética, mas os últimos dois séculos abandonaram essa preocupação. Só muito recentemente a gravidade desse abandono foi reconhecida. (HARRIES, 2008, p.426). Mas não foi, justamente, neste lapso temporal aludido por Harries, que se verificou, no ideário moderno, uma série de proposições que pretendiam beneficiar toda a sociedade? Parece contraditório, mas em nosso entendimento, o pensamento arquitetônico do século XX foi rico em propostas de alcance social e ético. [Segundo Harries,] entretanto, desde o Iluminismo temos dificuldades de levar a sério a função ética da arquitetura. Essa dificuldade é uma consequência da ênfase dada à razão e à objetividade. Afinal, não é verdade que o pensamento objetivo e não a arquitetura é que deveria atribuir ao homem seu lugar? E não é da razão que o arquiteto deveria receber suas tarefas? Conforme a razão triunfa na ciência e na tecnologia, a arte se retira da totalidade da vida e afirma sua autonomia como arte pela arte, ou se converte em mero entretenimento e decoração. Entre todas as artes, a arquitetura é a única que não pode tomar parte nesse retraimento. O mundo a obriga a pôr-se a serviço dele. (Ibid, 2008, p.426). Esta dissociação entre praxis e ethos deve-se em muito ao alinhamento da ética com valores seculares e dogmáticos de toda ordem, o que leva a uma falta de sentido e consonância com o período moderno. Contudo, períodos de crise solicitam um retorno ao ethos, desta vez orientado às necessidades da sociedade contemporânea. Isto se dá, por meio de uma construção coletiva: Éticas inteligentes e meticulosas, mais voltadas para o atendimento das necessidades concretas do homem do que para a realização de desígnios __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 270 abstratos; mais inovadoras do que meramente teóricas; mais abertas às mudanças realistas do que a concepções dogmáticas; mais atentas a responsabilização pessoal e menos ao indiciamento compulsório. (LIPOVETSKY, 2005, p. xxxiv) Em nossa análise, os princípios da sustentabilidade contêm os ingredientes para a renovação da agenda ética na arquitetura, em estreita sintonia com as demandas do novo século: [...] existem determinadas leis fundamentais inerentes ao mundo da natureza que podem ser usadas como modelos e mentores para os projetos do homem. O termo ecologia provém das raízes gregas Oîkos e Logos, ‘casa’ e ‘discurso lógico’. Assim, é conveniente, senão imperativo, que os arquitetos tratem da lógica de nossa casa na Terra. (MCDONOUGH, 2008, p.431) Durante a Eco-92, no Rio de Janeiro, o grupo William Mcdonough Architects apresentou ao público os Princípios de Hannover, propondo um posicionamento ético para orientação dos projetos de arquitetura contemporânea, em que, dentre os aspectos que destacamos, caberia: Insistir no direito da humanidade e da natureza de coexistir em condições sustentáveis [...]; reconhecer a interdependência entre os projetos humanos e o mundo natural e sua dependência deste, com as mais amplas e diversas implicações em todas as escalas. Estender a reflexão sobre os projetos humanos ao reconhecimento dos seus efeitos mais distantes [...]; eliminar o conceito de desperdício. Avaliar e otimizar o ciclo completo dos produtos e dos processos para imitar os sistemas naturais, nos quais não há desperdício [...]; ater-se aos fluxos naturais de energia. Os projetos humanos devem tirar suas forças criativas, como o mundo vivo, do influxo perpétuo da energia solar [assim como das energias eólica e geotérmica, entre outras tantas formas de energia limpa conhecidas]. Absorver essa energia de maneira segura, eficiente e utilizá-la de modo responsável [...]; unir requisitos de sustentabilidade no longo prazo com responsabilidade ética e restabelecer a relação integral entre processos naturais e atividade humana. (WILLIAN MCDONOUGH ARCHITECTS, 2008, p. 439-440) Atualmente, a difusão da arquitetura sustentável em escala global se dá, sobretudo, através dos processos de certificação promovidos por entidades de fomento, que visam atestar a __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 271 sustentabilidade dos mais diversos empreendimentos. No contexto brasileiro, podemos destacar as certificações LEED (Green Building Council Brasil), Processo AQUA (Fundação Vanzolini) e Selo Casa Azul (Caixa Econômica Federal). A importância destas certificações está em estabelecer novos parâmetros de qualidade para a construção civil, facilmente discerníveis para o público e para o mercado. Trata-se de um avanço considerável neste campo cujo desenvolvimento ainda se encontra em seu princípio. Todavia, ressaltamos que não se deve perder de vista todo o esforço ainda por ser feito em prol de uma sustentabilidade efetiva. Uma ética sustentável genuína está além das práticas de mercado de hoje, mais orientadas aos diferenciais competitivos do marketing verde e cumpridoras apenas do estritamente necessário para a obtenção das certificações. Se nós vamos sobreviver aos desafios à nossa frente no séc. XXI com um mínimo de normalidade preservada, teremos que efetuar mudanças radicais no que nós, como indivíduos, esperamos das infraestruturas de nosso nichos ecológicos, nossas casas e assentamentos e sociedades. Para isso, teremos que nos comportar de modo bastante altruísta, não somente em relação as nossas próprias famílias, amigos e vizinhos, mas também em relação à grande família de nossos amigos seres humanos. (ROAF et al, 2006, p.21) ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO E ARQUITETURA BIOFÍLICA4 Na experiência de uma verdade perceptiva, presumo que a concordância até aqui sentida se manteria para uma observação mais detalhada; confio no mundo. Perceber é envolver de um só golpe todo um futuro de experiências em um presente que a rigor nunca o garante, é crer em um mundo. É essa abertura a um mundo que torna possível a verdade perceptiva. (MERLEAU-PONTY, 2011, P.399) 4 A biofilia, segundo E.O. Wilson, seria um sentido inato aos seres humanos de se ligarem à natureza. O conceito é desenvolvido no livro The Biophilia Hypothesis. Ver nas referências: Arousing biophilia: a conversation with E.O.Wilson. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 272 Nos centros metropolitanos, a crise ambiental é vivenciada com a poluição, a supressão de áreas verdes, a expropriação e privatização do espaço público e ainda pelo planejamento orientado ao uso de veículos motorizados em detrimento dos pedestres, entre outros aspectos. Concomitante à agressividade do meio urbano, observamos uma arquitetura que se fecha, se isolando deste ambiente para fins de segurança e conforto. Nesse sentido, de que forma a arquitetura sustentável poderia sanar os problemas de um ambiente urbano deteriorado? Do nosso ponto de vista, a sustentabilidade só irá se afirmar enquanto cultura, quando efetivamente percebida e vivenciada no cotidiano em termos qualitativos, independente de certificados, selos ou quaisquer complementos informativos. Em outras palavras, a arquitetura sustentável deveria subsidiar a qualidade ambiental do espaço público. Se temos, atualmente, edifícios certificados que pouco se diferenciam de seus congêneres descompromissados com a sustentabilidade, causando os mesmos impactos de vizinhança e necessitando de um aparato publicitário para serem reconhecidos, isto nos leva a refletir sobre o quanto ainda estamos distantes de assumir uma verdadeira cultura de sustentabilidade, que se reflita num habitat urbano qualificado. Neste artigo, gostaríamos de agregar um novo conceito que começa a ser discutido, tendo em perspectiva a proposição de um ambiente urbano saudável e orientado ao conforto humano. Alguns autores já utilizam o termo arquitetura biofílica ou design biofílico, para se referir a um desenho de projeto comprometido com a saúde e bem-estar humanos, e caracterizado pela preocupação com a acessibilidade ao ambiente natural – ou com a integração de elementos da natureza ao projeto. Um artigo apresentado por pesquisadores do Environmental Structure Research Group (ESRG), por ocasião do Congresso Ibero-Americano de Habitação Social, ocorrido em Florianópolis (2006), trouxe este conceito à discussão acadêmica, argumentando que “as pessoas ficam psicologicamente doentes e hostis em ambientes onde a natureza não está presente. A biofilia é inata em nossos genes. Os espaços urbanos devem ‘misturar-se com’ e não ‘substituir’ o habitat natural” (BRAIN et al, 2006, P.23). Sobre o conceito de biofilia, Rifkin esclarece: __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 273 E. O. Wilson, o famoso biólogo de Harvard, diz que um relacionamento íntimo com a biosfera não é uma fantasia utópica, mas sim uma sensibilidade que faz parte de nossa biologia, mas que se perdeu pelas eras da história da humanidade. Wilson acredita que os seres humanos tem um impulso inato para se ligarem à natureza – 5 o que ele chama de biofilia . Por exemplo, ele cita estudos de diversas culturas que revelam uma propensão humana a preferir horizontes abertos, gramados exuberantes e campos cheios de árvores e arbustos. Wilson acredita que essa identificação primal com nossa primeira fase como espécie continua presente no nosso ser biológico como um tipo de memória genética de nossa ligação biofílica. Em estudos recentes de pacientes hospitalizados, os pesquisadores descobriram que quando podiam ver árvores pela janela, paisagens verdes abertas e arbustos, os pacientes recuperam mais rapidamente a saúde do que aqueles que não tinham tal exposição, sugerindo o valor restaurador da natureza. (RIFKIN, 2012, p.257) No âmbito de nosso interesse de pesquisa, dentre as possibilidades projetuais que potencialmente integrariam uma proposta de arquitetura biofílica, destacamos os espaços de transição, em particular, como lugares privilegiados de contato com o meio externo. Por espaço de transição, designamos aqueles ambientes que são gerados a partir de vazios ou saliências do volume edificado, se interpondo entre o interno e o externo, entre o privado e o público. Estes espaços, sendo de caráter intermediário, podem assumir características de locais semi-privados ou semi-públicos. Num contexto em que há uma carência de projetos destinados ao espaço público urbano, estes espaços são um recurso disponível para a criação de uma arquitetura de signifição social e de relevância urbana. Por suas características de conforto passivo, agregam um aspecto bioclimático à edificação, coerente com os princípios da sustentabilidade. Associados ao projeto de paisagismo e preservação dos elementos naturais na paisagem urbana, formam, em nossa concepção, um perfeito exemplo do que seria um projeto orientado à biofilia. Exactly what is a bio-philic city, what are its key features and qualities? Perhaps the simplest answer is that it is a city that puts nature first in its design, planning, and 5 Idem nota precedente. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 274 management; it recognizes the essential need for daily human contact with nature as well as the many environmental and economic values provided by nature and natural systems. (BEATLEY, 2011, P.45) 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS Haja visto a multiplicidade das matrizes discursivas da sustentabilidade propostas por Acselrad, e no contexto de uma sociedade predominantemente individualista conforme denunciam Bess e Lipovetsky, “tudo somado, a melhor coisa que se pode dizer sobre ética e arquitetura é que o interesse existe, mas não há clareza nem consenso acerca do assunto, dentro ou além das práticas da arquitetura e do projeto urbano, ou da filosofia moral” (BESS, 2008, p.404). Esta clareza e este consenso, entendemos que estão por ser construídos, e avaliamos que deverão germinar a partir da evolução do debate sobre a sustentabilidade. Mesmo a arquitetura sustentável, consideramos que ainda está longe de esgotar suas possibilidades. Do nosso ponto de vista, há um comprometimento com uma cultura (de mercado) não orientada aos princípios de sustentabilidade. O conceito básico de interdependência, até o momento, não está proposto à cidade. Consideramos que a arquitetura direcionada por estes princípios será verdadeiramente efetiva, no momento em que se traduzir em um espaço urbano qualificado e saudável, sendo este claramente identificado e percebido como tal. Mais do que nunca, cumpre rejeitar a ‘ética das certezas’ tanto quanto o amoralismo da ‘mão invisível’, em favor de uma ética dialogada, com sentido de responsabilidade, orientada no sentido da busca de uma medida justa entre eficácia e eqüidade, lucros e dividendos dos assalariados, respeito ao indivíduo e ao bemestar coletivo, presente e futuro, liberdade e solidariedade. (LIPOVETSKY, 2005, p. xxxv) 6 Tradução livre: “Exatamente o que é uma cidade biofílica, quais são as suas principais características e qualidades? Talvez a resposta mais simples é que seja uma cidade que coloca a natureza em primeiro plano, em sua concepção, planejamento e gestão, e que reconhece a necessidade essencial do contato humano diário com a natureza, bem como os muitos valores ambientais e econômicos oferecidos pela natureza e pelos sistemas naturais". __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 275 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ACSELRAD, Henri (Org.). A duração das cidades: sustentabilidade e risco nas políticas urbanas. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. AROUSING BIOPHILIA: A CONVERSATION WITH E.O.WILSON. Orion, Inverno 1991. Disponível em: <http://arts.envirolink.org/interviews_and_conversations/EOWilson.html> Acessado em: 16.11.12. BEATLEY, Timothy. Biophilic Cities: Integrating Nature into Urban Design and Planning. Washington, Island Press, 2011. Disponível em: <http://www.scribd.com/doc/97666059/BiophilicCities> Acessado em: 16.11.12. BESS, Philip. Comunitarismo e emotivismo: duas visões antagônicas sobre ética e arquitetura. (1993), in NESBITT, Kate (Org.). Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (19651995). São Paulo, Cosac Naif, 2006. BRAIN, David; DUANY, Andrés M.; MEHAFFY, Michael W.; PHILIBERT-PETIT, Ernesto; SALÍNGAROS, Nikos A.. Habitação social na América Latina: uma metodologia para utilizar processos de autoorganização. Congresso Ibero-Americano de Habitação Social, Florianópolis, 2006. Disponível em: <http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/socialhousing-portuguese.pdf> Acessado em: 16.11.12. BRASIL. Estatuto da Cidade. Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm> Acessado em: 15.10.12. CORBELLA, Oscar; YANNAS, Simos. Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos: conforto ambiental. Rio de Janeiro, Revan, 2009. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2011. HARRIES, Karsten. A fução ética da arquitetura (1975), in NESBITT, Kate (Org.). Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995). São Paulo, Cosac Naif, 2006. LIPOVETSKY, Gilles. A sociedade pós-moralista: o crepúsculo do dever e a ética indolor dos novos tempos democráticos. Tradução: Armando Braio Ara. Barueri: Manole, 2005. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 276 MCDONOUGH, William. Projeto, ecologia, ética e a produção das coisas (1993), in NESBITT, Kate (Org.). Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995). São Paulo, Cosac Naif, 2006. MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo, WMF Martins Fontes, 2011. RIFKIN, Jeremy. A Terceira revolução industrial: como o poder lateral está transformando a energia, a economia e o mundo. São Paulo, M.books, 2012. ROAF, Susan; FUENTES, Manuel; THOMAS, Stephanie. Ecohouse: a casa ambientalmente sustentável. Porto Alegre, Bookman, 2006. WILLIAM MCDONOUGH ARCHITECTS. Os princípios de Hannover (1992), in NESBITT, Kate (Org.). Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995). São Paulo, Cosac Naif, 2006. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 AS RECENTES TRANSFORMAÇÕES URBANAS NO ABC PAULISTA RESUMO O presente artigo tem como objetivo analisar as recentes transformações urbanas que estão ocorrendo no ABC Paulista ao longo dos últimos quinze anos através do estudo de três casos: a transformação na área da antiga Tecelagem Tognato em São Bernardo do Campo, o Espaço Cerâmica em São Caetano do Sul e o projeto Cidade Pirelli em Santo André. A comparação destes empreendimentos com outros exemplos internacionais mostra algumas diferenças fundamentais que explicam o porquê destas intervenções permaneceram apenas no âmbito imobiliário e não avançam para a categoria de Projetos Urbanos. Além disso, os exemplos internacionais e as conclusões a que estudiosos e especialistas sobre o assunto chegaram revelam a importância do papel dos governos na questão do Projeto Urbano. Palavras-chave: Empreendimentos Imobiliários, Projetos Urbanos, ABC Paulista ABSTRACT This article aims to analyze the recent urban transformations that are occurring in the ABC Paulista over the last fifteen years through the study of three cases: the transformation in the area of ancient Tecelagem Tognato in São Bernardo do Campo, Espaço Cerâmica in São Caetano do Sul and CidadePirelli in Santo André. The comparison of these ventures with other international examples shows some fundamental differences that explain why these interventions remained only within real estate and not advance to the category of Urban Projects. In addition, international examples and the conclusions that scholars and experts on the subject came reveal the important role of governments on the issue of Urban Design. Keywords: Real Estate Developments, Urban Projects, ABC Paulista. 278 AS RECENTES TRANSFORMAÇÕES URBANAS NO ABC PAULISTA Cássia Calastri Nobre 1 Nadia Somekh 2 Em toda a Região Metropolitana de São Paulo é possível perceber grandes transformações urbanas. São inúmeros empreendimentos imobiliários ocupando grandes terrenos disponíveis em centralidades antes estritamente industriais. Em especial, a Região do Grande ABC apresenta um número bastante elevado deste tipo de empreendimento. A maior parte deles partindo de empresas privadas do setor imobiliário e, em alguns casos, de grandes empresas que, ao reformularem sua linha de produção abriram espaços em grandes terrenos. Para analisar estas transformações, tomamos como exemplo os empreendimentos na área da Antiga Tecelagem Tognato em São Bernardo do Campo, o Espaço Cerâmica em São Caetano do Sul e o Cidade Pirelli em Santo André. 1. A ANTIGA TECELAGEM TOGNATO A Tecelagem Tognato foi fundada no início do século XX pela família de imigrantes italianos Tognato. Inicialmente a fábrica foi instalada em Santo André. Mas o crescimento da fábrica e o grande consumo de água fizeram com que a tecelagem mudasse para o bairro Baeta Neves, na Avenida Pereira Barreto, em São Bernardo do Campo, ocupando uma área de 75 mil metros quadrados de um terreno de 220 mil metros quadrados no 1 Arquiteta e Urbanista, aluna de mestrado do Curso de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. [email protected] 2 Professora Titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 279 total, mas que dispunha de poços artesianos, fundamental para as atividades da tecelagem. A mudança de toda a produção da Tognato foi concluída em 1952. (JESUS, 2009) Na década de 1970 a fábrica chegou a ter 2700 funcionários. Mas com a modernização da linha de produção, este número começou a decrescer no início da década de 1990, chegando a apenas 300 funcionários em dez anos. É neste período que a tecelagem muda-se novamente para um condomínio industrial na Rodovia Anchieta, reduzindo a sua área de produção de 75 mil metros quadrados para dezoito mil metros quadrados. O terreno de 220 mil metros quadrados na Avenida Pereira Barreto permaneceu praticamente desativado entre os anos de 2000 e 2007. A Tognato pretendia criar neste espaço um empreendimento imobiliário que seria chamado “Cidade Tognato”, um condomínio multiuso composto por torres comerciais, empresariais, residenciais e espaços de lazer. O projeto foi aprovado na prefeitura, mas não atraiu investidores do segmento imobiliário. Sem capital para colocar o projeto em prática, a Tognato entrou em declínio. As dívidas tributárias com o município por falta de pagamento de IPTU pelo terreno da Avenida Pereira Barreto acarretaram na falta de investimentos na própria produção da tecelagem, atrasando pagamentos de funcionários, o aluguel do galpão da Rodovia Anchieta e levando a empresa à falência em meados de 2006. A marca Tognato foi incorporada a outra empresa do ramo de exportação. Uma parte do terreno, cerca de quarenta e quatro mil metros quadrados, foi entregue à Prefeitura de São Bernardo do Campo como pagamento da dívida. Esta área abrigou um terminal de ônibus. Em 2007 houve um leilão desta área e as incorporadoras Cyrela e Abyara (mais tarde PDG) adquiriram todo o terreno e iniciaram as demolições dos galpões da antiga tecelagem para dar lugar a alguns condomínios, seguindo as mesmas diretrizes dos condomínios clube. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 280 O empreendimento mais significativo que se implantou no terreno da antiga tecelagem foi o Domo da PDG, que se subdividiu em outros empreendimentos: Domo Life, Domo Home, Domo Prime e Domo Business. Ainda neste terreno estão em construção outros dois empreendimentos: o Auge Home Resort da Cyrella e o Venturi Residencial também da PDG. Estes empreendimentos, assim como outros condomínios clube, atraem um público bastante específico. Os apartamentos ali comercializados possuem área privativa entre 120m² e 270m² e os preços destes apartamentos variam entre R$ 500.000,00 e R$ 1.200.000,00 reais3. As incorporadoras adotaram este modelo como uma nova estratégia de valorização do produto imobiliário, prometendo exclusividade e segurança. Nesse sentido, as pessoas pagam o preço não apenas do metro quadrado privativo, mas pagam ainda mais pela ideia da segurança dentro do condomínio, que terá à disposição todos os elementos de lazer de que precisar, sem se submeter aos perigos da violência urbana fora dos muros dos condomínios. A imagem mais emblemática desse conceito é justamente o anúncio publicitário de um dos empreendimentos que circulou em muitos jornais na época de seu lançamento. Trata-se de uma redoma de vidro sobre o terreno e a frase “uma cidade dentro da cidade”. 3 Dados fornecidos pela PDG em seu site www.pdg.com.br __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 281 Figura 1 - Divulgação do Domo Home no jornal Folha de S. Paulo de outubro de 2007. Para as incorporadoras o condomínio clube é um grande negócio, pois é possível aumentar consideravelmente as áreas comuns dos empreendimentos, reduzindo o percentual de ocupação, como observado por pesquisadores sobre este tema na região do ABC: Assim, muitos empreendimentos não atingem os coeficientes máximos permitidos na zona onde se localizam, simplesmente porque seus agentes promotores consideram que ter uma área de lazer ampla e exclusiva, com grandes áreas verdes no entorno, agrega mais valor ao metro quadrado construído, aumentando a rentabilidade do empreendimento para além do que se obteria com a ampliação de sua massa edificada. Muitas vezes o incremento dos itens de lazer nestes empreendimentos é assumido como dispositivo de compensação à redução das áreas úteis das UHs, o que resultaria em um procedimento bem menos dispendioso para o agente promotor. (SÍGOLO, 2011) Cria-se uma valorização parcialmente descolada do processo produtivo, que tem no marketing imobiliário um grande aliado, por contribuir tanto na elevação do preço do produto imobiliário quanto na velocidade das vendas. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 282 Figura 2 - Área da Antiga Tecelagem Tognato. Imagens aéreas de 1958 e 2013 respectivamente. Fonte: www.geoportal.com.br e https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=il Embora as taxas de ocupação não sejam tão altas devido às amplas dimensões dos terrenos, a concentração de pessoas aumentará consideravelmente nesta região. Ainda não é possível dimensionar os impactos, pois boa parte dos empreendimentos está em construção e muitos dos imóveis entregues permanecem desocupados. Mas pode-se observar que pouco foi feito na infraestrutura local. Apenas a Avenida Pereira Barreto foi duplicada neste trecho. Este terreno fica numa região central, muito próxima ao Paço Municipal de São Bernardo do Campo, área bastante conhecida pelos engarrafamentos nos horários de pico e grandes enchentes nos períodos de chuva. Mais uma vez observamos a falta de infraestrutura urbana e de transporte para equalizar os impactos da implantação de um empreendimento de tamanha proporção. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 283 2. O ESPAÇO CERÂMICA A Cerâmica São Caetano, que deu o nome ao bairro Cerâmica foi fundada em 1913 e ocupava uma área de 360 mil metros quadrados. Os principais produtos eram os ladrilhos, telhas e tijolos refratários. O Bairro Cerâmica, no entorno da fábrica, desenvolveu-se ao longo do século passado em função da empresa. Em 1998 a área da cerâmica foi adquirida pelas empresas Sobloco e Magnesita. A fábrica foi totalmente desativada em 2003. Ao longo dos dez últimos anos foram feitas obras viárias para melhoria no entorno. A Avenida Fernando Simonsen foi prolongada, a Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira e a Avenida Guido Aliberti foram duplicadas e foi construída uma ligação entre a Guido Aliberti e a Avenida do Estado. A prefeitura de São Caetano do Sul fez um convênio com o município de São Paulo para fazer outra ligação, pela Via Anchieta. Figura 3 - Imagens aéreas da Cerâmica São Caetano em 1958 e a mesma área em 2013. Fontes: www.geoportal.com.br e https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=il. Esta área é frequentemente afetada por enchentes. Algumas medidas foram tomadas: construção de uma galeria, de 2,00m x 3,00m, e de um piscinão que comporta 235 mil m³ de água, através de convênio com o Governo do Estado. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 284 Estas obras de infraestrutura foram executadas pela Prefeitura de São Caetano, pelo Governo do Estado de São Paulo, pela AES Eletropaulo, Departamento de Águas e Esgotos do Estado (DAEE). Com relação à implantação, o projeto prevê uma maior parte para o uso comercial, cerca de 70% da área útil e 30% da área é destinada ao uso residencial. A área comercial está voltada principalmente para a Avenida Guido Aliberti e a área residencial está voltada para a Avenida Fernando Simonsen e R. Engenheiro Armando Arruda Pereira. Boa parte dos edifícios residenciais está em construção ou já foram lançados. São apartamentos de alto padrão, entre 135 e 180m², com preços que variam entre R$ 934.000,00 e R$ 1.500.000,00, segundo as imobiliárias locais. Os edifícios apresentam inúmeros itens de lazer e serviços. Os empreendimentos comerciais também estão sendo lançados aos poucos. O Park Shopping foi o primeiro empreendimento entregue e está em funcionamento desde novembro de 2011. O último lançamento é o empreendimento SAO da Gafisa que conta com hotéis, salas comerciais e várias lojas. O projeto do Espaço Cerâmica recebeu muitas críticas por parte de associações de moradores vizinhos ao empreendimento. Os jornais locais noticiaram por várias vezes interrupções das obras devido à falta do Estudo de Impactos Ambientais. A preocupação da vizinhança com a implantação do projeto deve-se às recorrentes enchentes no local. A Sobloco elevou a cota do seu terreno quando fez a infraestrutura enterrada. Do ponto de vista urbanístico, a implantação do Espaço Cerâmica remete alguns questionamentos. Como já apresentado, os condomínios residenciais são de alto padrão, muito diferente do padrão das casas do entorno. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 285 A implantação de condomínios multiuso vem sendo utilizado como resposta pelo mercado imobiliário à ocupação dos vazios urbanos, os baldios da sociedade industrial. De certa forma estes condomínios são bem aceitos porque trazem a promessa de retomar o crescimento da região do ABC Paulista, gerar empregos, elevar o padrão das habitações e criar um “marketing imobiliário” que ajuda a atrair mais investimentos para as cidades. Trata-se de um caso a ser observado depois de sua implantação total. Como será vivenciado? Quais hábitos serão criados a partir desta experiência? O entorno se modificará para acompanhar o padrão estabelecido pelo empreendimento? A cidade permanecerá segregada pelos muros que cercam o Espaço? Este será um modelo a ser adotado em outras cidades? Estas são algumas questões que ainda não tem resposta. Mas este caso deverá ser observado por muitos anos e servirá de parâmetro para outras intervenções urbanas. 3. O PROJETO CIDADE PIRELLI Dos casos apresentados neste artigo, o Cidade Pirelli é o único que contou com uma lei de Operação Urbana, dando ao empreendimento um caráter de projeto urbano. A Pirelli em Santo André, a exemplo do que ocorria com várias indústrias da região apresentava grande parte de seu terreno esvaziado por mudanças na sua linha de produção, pela criação de outras unidades em municípios no interior do Estado de São Paulo ou em outras regiões do país. A empresa do grupo Pirelli em Milão responsável pela implantação do La Bicocca, a Milano Centrale (mais tarde Pirelli &C. Real Estate) montou um escritório em Santo André para coordenar o projeto que tinha como base os princípios adotados no projeto La Bicocca em Milão, sede da empresa italiana4. 4 Em Milão, a Pirelli criou o La Bicocca, um grande projeto urbano que buscava trazer para a área industrial da empresa, usos diversificados, como universidade, sedes de grandes empresas e residências. Resultado de um concurso, o La Bicocca foi projetado por Vittorio Gregotti e revitalizou toda a área industrial obsoleta ao norte da cidade. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 286 O projeto Cidade Pirelli foi projetado por Edo Rocha e trazia uma proposta de vários edifícios e trazia um caráter multiuso que ia de encontro com as diretrizes do Projeto do Eixo Tamanduatehy5 para diversificar o uso da área industrial. Após acordos e reuniões entre a empresa e a prefeitura do município, em 1998 foi criada pelo então prefeito de Santo André, Celso Daniel, a Lei 7747 que: “INSTITUI A OPERAÇÃO URBANA PIRELLI, DESAFETA ÁREA E TRANSFERE PARA CATEGORIA DE BEM PÚBLICO DOMINIAL, AUTORIZA A PERMUTA DE ÁREAS PÚBLICAS, ALTERA PARÂMETROS URBANÍSTICOS NAS ÁREAS QUE ESPECIFICA, CRIA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Nesta lei constava uma série de intervenções a serem executadas por empreendedores privados em parceria com a Prefeitura Municipal de Santo André, com o objetivo de promover transformações urbanísticas estruturais através da melhoria do sistema viário, da requalificação urbana da área de que trata esta Lei, da valorização ambiental da região, e da implantação de equipamentos para prover a cidade de infraestrutura necessária ao seu desenvolvimento econômico. A lei estabelecia que algumas ações que deveriam ser executadas com a participação dos proprietários, incorporadores, compromissários compradores ou possuidores de imóveis localizados na área objeto desta Operação, visando à melhoria e valorização ambiental do local, mediante a execução das seguintes ações: • Reurbanização de parte da Avenida Giovanni Battista Pirelli com implantação de praça urbanizada; 5 • Execução de viaduto sobre a via férrea; • Alterações do sistema viário; O Projeto do Eixo Tamanduatehy abrangia toda área ao longo da Avenida dos Estados em Santo André e deu origem a um importante modelo de Operação Urbana criado em 1997, o qual empregava uma série de incentivos e benfeitorias, inclusive políticas e de parcerias público-privadas para o desenvolvimento da área e a retomada do crescimento do município. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 287 • Construção de unidade escolar. Quase todas estas ações foram executadas, inclusive as permutas que alteravam as áreas de propriedade da Pirelli. Estas obras foram realizadas no período entre a implantação da Lei em 1998 a 2001. Os incentivos ou benefícios previstos na lei eram: “(...) mudança de zoneamento e alteração dos índices urbanísticos e fiscais, como isenção de IPTU. Assim, além de área industrial, a área abrangida pela Operação Urbana poderia abrigar, mediante outorga onerosa, os seguintes usos: residencial, comércio diário e ocasional, prestação de serviços e estacionamento comercial. Outro benefício proporcionado pela lei seria a alteração dos índices urbanísticos, com normas especiais e mais vantajosas no que diz respeito à altura das construções e índice de construção em relação ao total. Por fim, a lei criou o Fundo de Desenvolvimento Urbano/ FDU e estabeleceu que os recursos depositados na forma de outorga onerosa seriam creditados no mesmo, em conta vinculada à Operação Urbana Pirelli. Chama atenção a composição do Conselho Diretor que faria a gestão deste fundo: três membros ligados à administração municipal: um representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, um membro da Secretaria de Serviços Municipais e um do Núcleo de Planejamento Estratégico. Nenhum representante da sociedade civil, de movimentos sociais, ou dos moradores envolvidos na operação. Os recursos deveriam ser aplicados no pagamento de desapropriações, relacionadas à implantação as obras, bem como em projetos e obras referentes a programas de requalificação urbana desenvolvidos em outras áreas da cidade. Já a lei 7748, também se refere à (OUP), mas trata da isenção de IPTU aos proprietários de imóveis, situados no perímetro da OUP que, para realização da operação: doassem imóvel; executassem obras e serviços e/ou fizessem doações em dinheiro ao Fundo de Desenvolvimento Urbano. A lei apresenta a fórmula para cálculo de isenção e os prazos para contagem de isenção. Segundo os proponentes, ao final da operação viabilizar-se-ia a “Cidade Pirelli”. (SILACC, 2010). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 288 O Projeto Cidade Pirelli também era coordenado pela Pirelli &C. Real Estate que criou uma filial brasileira em 1997 para coordenar o empreendimento no Brasil. Diferente do projeto La Bicocca, não houve concurso para o projeto brasileiro. O master plan desenvolvido para a fábrica de Santo André foi elaborado pelo escritório Edo Rocha. O projeto buscava integrar-se a outros empreendimentos vizinhos, também inseridos no Projeto Eixo Tamanduatehy, como o Global Shopping e os hipermercados Carrefour e Wal Mart. Para tal, uma série de melhorias urbanas e interligações entre vias estavam prevista, principalmente a interligação com a Avenida dos Estados. Figura 4 - Localização dos empreendimentos. Fonte: Google Maps, 2013. Elaborado pela autora Internamente, o Plano Diretor propunha múltiplos usos independentes, criando uma nova centralidade com inovação tecnológica e segurança numa área de aproximadamente 250 mil m². __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 289 Figura 5 - Implantação do Projeto Cidade Pirelli. Fonte: Escritório Edo Rocha. Material de Divulgação de 2000. O projeto estava dividido em três fases e compreendiam: • Centro de negócios voltado para pequenas e médias salas comerciais, além de grandes lajes corporativas; • Centro Comercial, com cinemas, lojas, alimentação e conveniência com funcionamento 24 horas por dia, garantindo um fluxo de pessoas constante; • Hotel e Centro de Convenções com cerca de 200 quartos, salas de reunião e convenção, auditório e amplo estacionamento; • Edifício Garagem para dar suporte a todas as atividades do empreendimento; • Espaço Multiuso para trazer à região grandes espetáculos e shows; • Edifícios Lowtech e Hightech que objetivavam atender às empresas que precisavam unir sua área administrativa à produção e estocagem. Assim como o La Bicocca, o escritório responsável pelo projeto atuava no projeto urbanístico e dos edifícios. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 290 Havia uma grande preocupação com as circulações e com a implantação dos espaços livres com a criação de praças. Dos edifícios existentes previa-se manter apenas o edifício da Pirelli Cabos, hoje o edifício da Prysmian, projetado por Rino Levi e uma antiga gráfica que seria restaurada e transformada em praça. Em 2010 a empresa Brookfiled São Paulo Empreendimentos Imobiliários S/A, divisão da Brookfield Incorporações no estado de São Paulo, comprou parte do terreno destinado à Cidade Pirelli. Esta área abrigava o antigo setor têxtil da Pirelli e já estava desativada. As demolições dos galpões ocorreram em 2000, quando as obras de duplicação da Rua Giovanni Battista Pirelli estavam em andamento. Esta área, depois da demolição dos galpões, foi comercializada em 2001. A UniABC, universidade local com sede na Avenida Industrial em Santo André pretendia implantar parte do seu campus nesta região. Os jornais da época noticiaram que a operação custou cerca de sete milhões de reais por uma área de aproximadamente 40 mil m². Mais tarde a Pirelli recomprou a área e, finalmente a revendeu para a Brookfield. O projeto desenvolvido para esta área é bastante parecido com os outros projetos que estão em andamento no Grande ABC, principalmente com o projeto do Espaço Cerâmica. O projeto recebeu o nome de Brookfield Century Plaza, está inserido numa área de pouco mais de 26 mil m² e compreende: • Shopping Center de 360 lojas; • Torre de Escritórios com 30 andares e 506 salas; • Torre de Hotel do grupo Accor (Ibis e Novo Hotel) com 24 andares e 355 apartamentos, além de salas de convenção, restaurantes e outros usos; A área residencial do empreendimento recebeu o nome de Brookfield Century Plaza Living para apartamentos menores de dois ou três dormitórios e plantas de 57m², 60m² ou 80m². O __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 291 residencial com apartamentos maiores de três e quatro dormitórios com plantas entre 80m² e 107m² recebeu o nome de Brookfield Century Plaza Residence. Embora o conceito dos dois projetos seja muito parecido com a implantação de diversos usos para a região, a fim de proporcionar um fluxo continuo de pessoas que possam habitar e utilizar este espaço de variadas formas, o projeto do Arq. Edo Rocha se insere na paisagem com mais cuidado em relação ao entorno, com edifícios mais baixos, com no máximo onze andares. Também a preocupação em criar espaços para setores industriais organizarem sua produção modernizada e permanecerem na região mostra uma atenção maior à problemática do Grande ABC que continua sendo a região mais industrializada do país. 4. O PAPEL DO PODER PÚBLICO NAS TRANSFORMAÇÕES Estes três empreendimentos imobiliários partiram da iniciativa privada. Os casos da Tecelagem Tognato e o Espaço Cerâmica ocupam áreas antes industriais e que foram adquiridas por empresas do setor imobiliário para tornarem-se empreendimentos. O caso da Pirelli apresenta uma dinâmica um pouco diferente, pois começou dentro da própria fábrica e contou com o apoio da empresa imobiliária do grupo, seguindo a experiência da matriz italiana, o que gerou uma lei de Operação Urbana. Mas que, por fim acabou resultando na aquisição de parte do terreno disponível também por outra empresa do ramo imobiliário. Nas três municipalidades o poder público manteve-se no papel de legislador, garantindo o cumprimento das diretrizes físicas de ocupação dos terrenos e participou em pequena escala das intervenções viárias e das poucas intervenções de infraestrutura. No caso da Pirelli, a prefeitura de Santo André teve uma participação mais ativa devido à Operação Urbana, mas acabou por executar uma importante contrapartida que deveria ter sido cumprida pela Pirelli de acordo com a lei da Operação Urbana. Trata-se do viaduto Cassaquera, importante ligação entre as duas __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 292 margens do Rio Tamanduatehy e da Avenida dos Estados, cuja obra custou cerca de trinta milhões de reais6. Intervenções desse tipo onde a participação dos governos locais é tímida e restrita resultam em empreendimentos isolados, fechados com muros e grades. São ilhas no meio da cidade onde antes ficavam terrenos vazios que prometem, através de um marketing eficiente, comodismos e segurança. Mas apenas para quem pode pagar. O entorno continua esquecido, perdido numa paisagem de contrastes. Nestes casos citados ainda é cedo para chegar a alguma conclusão, mas que mudanças ocorrerão no entorno a partir da implantação destes empreendimentos? Continuarão segregados, numa paisagem desconexa? Ou as populações aos poucos mudarão devido a uma possível valorização dos terrenos? Para os especialistas o papel do Estado nas intervenções vai além das aprovações e emissão de alvarás. Os projetos em grande escala são obras públicas pela natureza de sua importância e seu impacto, embora isso não signifique que sejam de propriedade total do Estado. Não obstante, a complexidade das redes de participantes envolvidos direta e indiretamente, a variedade de interesses e inúmeras contradições inerentes aos grandes projetos fazem necessário que o setor público assuma a liderança da gestão. A escala territorial destas operações depende essencialmente do respaldo dos governos municipais. (LUNGO, 2005). Nuno Portas faz uma importante análise sobre a ocupação destes terrenos vazios: Esta dinâmica de transformação dos vazios em oportunidades tem, ou melhor, pode ter, potencialidades positivas (de renovação funcional ou ambiental), mas também pode ter efeitos perversos se essas potencialidades não forem orientadas pelas autoridades como elementos estratégicos para a reestruturação do território urbano ou metropolitano. Quer os proprietários privados quer o patrimônio público procuram antes de tudo o “salto” do valor fundiário que, em geral, só certas atividades ou tipos de edificação podem pagar ("shoppings" sim, parques urbanos 6 Valor noticiado nos jornais locais como o ABCD Maior na reportagem “Viaduto Cassaquera abre para desafogar o trânsito”. Reportagem de Vanessa Celicani em 18/06/2008 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 293 ou instalações universitárias não...) e, portanto, talvez só os grandes vazios consigam fazer a perequação das rendas diferenciais no âmbito de uma única operação e ao mesmo tempo dotar a área, onde se encontra o vazio, de equipamentos alguns coletivos significativos ou áreas públicas mais generosas. (PORTAS, 2000). Infelizmente nos casos das transformações do ABC o que se observa é muito mais a ocupação dos espaços com as atividades ditas rentáveis. Tanto o Espaço Cerâmica quanto o Brookfield Century Plaza foram desenhados a partir de shoppings e o complexo Domo também se instalou ao lado de um shopping que já existia no terreno vizinho. Comparando os casos do ABC Paulista com o projeto La Bicocca da Pirelli em Milão, alguns fatores foram fundamentais para que o projeto italiano fosse bem sucedido. Porém, o mais importante destes fatores é a questão da gestão. O projeto La Bicocca teve início nos anos de 1980 e até 2004 ainda estava sendo implantado. Ou seja, o planejamento em longo prazo é essencial para que as transformações sejam consolidadas, monitoradas e eventualmente corrigidas. Neste caso do La Bicocca a parceria entre o município de Milão e a empresa Pirelli se estabeleceu através de uma agência, como é comum acontecer em empreendimentos desse tipo na Europa. A Agenzia Sviluppo Nord Milano (ASNM) teve o papel de articular os municípios envolvidos nas transformações industriais na região, incluindo Sesto San Giovanni que teve 70% de sua área industrial esvaziada. Foi criada uma Zona Especial Bicocca para atender às exigências normativas. A coordenação do empreendimento ficou a cargo da Pirelli, através da sua empresa Milano Centrale Sp.A, que mais tarde recebeu o nome de Pirelli &C. Real Estate. Esta empresa tornou-se uma das mais importantes incorporadoras da Europa devido ao sucesso do projeto La Bicocca, segundo a empresa. Seu papel como coordenadora era decidir sobre os programas e atividades a serem incorporadas, mas sempre remetendo à ASNM. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 294 A ASNM foi incorporada à Agência de Desenvolvimento Milano Metropolit em 2005. Desde 1996 ela desempenhava o papel de responsável pela reindustrialização e reconversão econômica e social no norte de Milão após o fechamento de importantes fábricas na região. A Agência de Desenvolvimento Milano Metropolit tem a função de dar continuidade a esse papel desenvolvido pela ASNM garantindo a articulação regional. É uma sociedade formada por capital privado e principalmente público. Tem como objetivo a promoção e o desenvolvimento sustentável da área metropolitana de Milão através de ações de desenvolvimento territorial (ações de marketing territorial e de comunicação); suporte a setores econômicos estratégicos (traçar planos para apoiar negócios em diferentes setores importantes para a área e ações de reindustrialização, micro e pequenas empresas); projetos de desenvolvimento urbano para dar suporte às agências locais com seus planos de reconversão de instalações industriais abandonadas a fim de garantir os objetivos e a qualidade das intervenções (MILANO METROPOLI, 2011). Neste sentido, as intervenções urbanas necessitam ser pensadas como parte de uma cidade e, no caso do ABC Paulista, como parte da metrópole. É fundamental, portanto, que as articulações e infraestruturas permitam que as intervenções sejam mais do que empreendimentos imobiliários. As infraestruturas que deverão ser construídas ou reformadas para estender adequadamente os serviços urbanos básicos às áreas de urbanização precária, assim como aquelas que serão constituídas para promover a articulação de diversos núcleos do território metropolitano contemporâneo, deverão ser projetadas para, mais do que viabilizar um serviço específico, modular espacialmente a urbanização, através da construção de estruturas perenes e legíveis. Deverão ser projetadas visando construir e configurar lugares adequados à vida urbana e imagens singulares e referenciais na paisagem, contribuindo, assim, para o surgimento de identidades urbanas nas diversas escalas e, consequentemente, para a formação de uma relação afetiva dos habitantes com as suas cidades. (BRAGA, 2006). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 295 Alguns destes empreendimentos como o Cidade Pirelli e o Espaço Cerâmica trazem o discurso de criar uma nova centralidade, um novo polo, ou ainda um polo tecnológico. Mas a questão da mobilidade e da integração desta nova centralidade com a cidade como um todo fica em segundo plano. A ideia de fazer cidade traz hoje uma questão chave que os grandes projetos urbanos devem resolver: a dialética entre centralidade e mobilidade. Ou como otimizar os ativos da cidade metropolitana mediante projetos reestruturadores (de reconversão) que possibilitam a reprodução ampliada da cidade como capital fixo, capital humano e capital simbólico. Estes projetos físicos são a materialização de processos e iniciativas de caráter econômico, social, cultural, político e de imagem. O projeto físico é um compromisso entre autoridades políticas, dirigentes empresariais profissionais, agentes culturais e representantes sociais. (BORJA, 1997). Os empreendimentos adotados como casos neste artigo deixam clara a ausência de uma articulação entre seu terreno e a cidade onde se insere. Isso os impedem de serem considerados Projetos Urbanos, não passando de empreendimentos imobiliários. Porém, ainda não é possível concluir uma análise mais ampla sobre estes empreendimentos que é justamente no que se refere aos impactos que estes empreendimentos têm para a cidade. Onde antes existiam terrenos desocupados que contribuíam para uma paisagem típica de baldio industrial, hoje existem grandes aglomerados que ainda estão em fase de implantação. Que impactos estes empreendimentos trarão às suas cidades se não há articulação entre os terrenos e o entorno? Só o ganho de capital fixo será suficiente para suprir as necessidades causadas por esses impactos? Através das caraterísticas em comum que estes empreendimentos trazem, fica claro que as vantagens estão muito mais com as empresas do setor imobiliário do que com a cidade como um todo. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 296 LISTA DE FIGURAS: Figura 1 - Divulgação do Domo Home no jornal Folha de S. Paulo de outubro de 2007. ... 281 Figura 2 - Área da Antiga Tecelagem Tognato. Imagens aéreas de 1958 e 2013 respectivamente. Fonte: www.geoportal.com.br e https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=il.......... 282 Figura 3 - Imagens aéreas da Cerâmica São Caetano em 1958 e a mesma área em 2013. Fontes: www.geoportal.com.br e https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=il..................... 283 Figura 4 - Localização dos empreendimentos. Fonte: Google Maps, 2013. Elaborado pela autora .......................................................................................................................................... 288 Figura 5 - Implantação do Projeto Cidade Pirelli. Fonte: Escritório Edo Rocha. Material de Divulgação de 2000. .......................................................................................................... 289 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRAGA, Milton Liebentritt de Almeida. Infraestrutura e Projeto Urbano, Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Curso de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, 2006 BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel. Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información. Madrid. Grupo Santillana de Ediciones, 1997. JESUS, Leandra Brito. A Tecelagem Tognato e as Transformações do Espaço Industrial em São Bernardo do Campo. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós Graduação em Geografia. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência s Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009. LUNGO, Mario. Grandes proyectos urbanos: Desafío para las ciudades latino-americanas (Land Lines Article). Espanha, out 2002. Lincon Institute of Land Policy. Disponível em: __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 297 http://www.lincolninst.edu/pubs/946_Grandes-proyectos-urbanos--Desaf%C3%ADo-para-lasciudades-latinoamericanas. LUNGO, Mario. Globalización, grandes proyectos y privatización de la gestión urbana. Mundo Urbano. Universidad Nacional de Quilmes. Quilmes, 2005. Disponível em: http://www.mundourbano.unq.edu.ar/index.php/ano-2005/47-numero-25/177-2-globalizaciongrandes-proyectos-y-privatizacion-de-la-gestion-urbana. LA BICCOCCA ABITATA, Quaderni della Biccocca (2000). MONGIN, O. A Condição Urbana: a cidade na era da Globalização. São Paulo: Estação Liberdade, 2009 PORTAS, Nuno. Do vazio ao cheio, In Caderno de Urbanismo n° 2, Vazios e o planejamento das cidades, [s.l.]: SMU, 2000. Disponível em http://www.rio.rj.gov.br/smu. Acesso em 01/10/2013. SÍGOLO, Leticia Moreira. As Dinâmicas recentes do mercado formal de moradia no ABCD. XIV Encontro Nacional da ANPUR. Rio de Janeiro, 2011. SILACC 2010 – Simpósio Ibero Americano Cidade e Cultura: Novas Territorialidades. Título: Projetos urbanos: alianças e conflitos na reprodução da metrópole. Sessão Temática: STO2 Tensões, relações e liminaridades na cidade contemporânea. SOMEKH, Nadia. Transformações urbanas contemporâneas. In Com Ciência Revista Eletrônica de Jornalismo Científico. Brasília, 2010. Disponível em: http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=56&id=710. Acesso em 01/10/2013. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 INTERVENÇÕES URBANAS: MAIS PROCESSO, MENOS “DESIGN” RESUMO: As últimas três décadas produziram mais mudanças, em mais culturas, do que qualquer outro período na história. O crescimento acelerado e a globalização redesenharam os mapas e estabeleceram novos parâmetros, fazendo surgir novas condições espaciais, que requerem novas definições. Hoje, se torna difícil representar as relações em teia de uma região, pois faltam instrumentos de observação, percepção, leitura e representação da megacidade. Conforme demonstram alguns autores, há também uma carência de terminologia, o que implica na necessidade de criação de um novo vocabulário e repertório de conceitos e entendimentos. Atualmente, outras são as questões colocadas pela realidade social e espacial nas complexas megacidades do século 21, o que demanda a investigação de novas metodologias de intervenção. Mais processo, menos “design” trata da abordagem de uma geração de arquitetos, que passou a apontar novas diretrizes metodológicas projetuias baseadas na análise e na interpretação dos dados, ao invés da fixação na elaboração objetual. - Palavras chave: megacidade; metodologias, diagramas urbanos. ABSTRACT: The past three decades have produced more changes, in more cultures, than any other time in history. The rapid growth and globalization redesigned maps and set new parameters, giving rise to new spatial conditions, which require new definitions. Today, it is difficult to represent the web of relationship in a region, since instruments of observation, perception, reading and representation of the megacity are missing. As demonstrated by some authors, there is a lack of terminology, what implies the need to create a new vocabulary and repertoire of concepts and understandings. st Currently, issues raised by the social and spatial reality of the complex megacities of the 21 century are different, which requires research of new methods of investigation. More process, less design addresses the approach of a generation of architects that have pointed to new methodological guidelines, based on the analysis and interpretation of data, instead of the elaboration of the object. - Key words: megacity; methodologies; urban diagrams. 299 INTERVENÇÕES URBANAS: MAIS PROCESSO, MENOS “DESIGN” Daniela Getlinger 1 Carlos Leite de Souza 2 INTRUDUÇÃO Como apreender as grandes áreas urbanas se as novas formas de espacialidade se estendem indefinidamente, sem pontos de referência? Como colocado por LEITE (2012), a imensidão da escala das cidades não permite mais aos seus moradores percebê-la com um mínimo de clareza. Seus limites físicos não compreendem mais todas as dinâmicas políticas, sociais, econômicas e culturais que resultam na conformação urbana. Consequentemente, perde-se a noção de escala e a capacidade de leitura do território. Já não há mais a possibilidade de se formar um mapa mental da cidade contemporânea nos moldes daqueles conceituados por Kevin Lynch. Figura 01: Diagrama dos limites de bairros conforme desenho de um morador de Brookline. Diagramas como esse servem para analisar a área de acordo com a percepção dos moradores. (Fonte: LYNCH, 1991). 1 Arquiteta e Urbanista; Mestre pela FAU Mackenzie; M.Arch. pela UCLA. Professora da FAU Mackenzie. e-mail: [email protected] 2 Arquiteto e Urbanista; Mestre e Doutor pela FAU.USP. Pós-doutor pela CalPoly. Professor Adjunto na FAU.Mackenzie. e-mail: [email protected] __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 300 A configuração atual dos territórios nas metrópoles impede o mapeamento mental das paisagens urbanas e a capacidade de evocar na imaginação uma localização correta em relação ao resto do tecido urbano. (LYNCH, 1996). Em vez da rígida implantação da cidade tradicional – dotada de um centro e entorno, o espaço metropolitano das megacidades contemporâneas se apresenta como uma coleção amorfa de partes justapostas, sem vínculos entre si. Uma colcha de retalhos, heterogênea, em variação contínua; um espaço sem contorno nem limites, sem início, nem fim, onde estamos sempre no meio. Onde o espaço era considerado permanente, parece agora ser transitório, em processo de tornar-se. A mancha urbana da megacidade contemporânea é plástica, informe, maleável (PEIXOTO, 2002), em processo contínuo de transformação. 1. MAIS PROCESSO, MENOS “DESIGN” Hoje, faltam instrumentos de observação e representação destas transformações territoriais, que permitam a interpretação dessas inusitadas configurações urbanas, onde a mudança e a transformação adquirem um novo significado e uma nova importância. Segundo KOOLHAAS (2001, 2007), não apenas a representação da nova realidade das metrópoles contemporâneas se torna difícil. O fato da condição urbana estar se transformando numa velocidade sem precedentes, tem levado à necessidade da criação de um novo vocabulário que possa nomear e interpretar suas mutações. Um repertório de conceitos e entendimentos que possam lidar com as novas configurações de cidades à medida que estas emergem. Para o autor, ideias e conceitos da arquitetura, anteriormente a linguagem oficial do espaço, já não parecem capazes de descrever a proliferação das novas condições. O urbanismo, atualmente, carece de uma terminologia adequada para descrever os fenômenos mais pertinentes e cruciais dentro do seu campo. (KOOLHAAS, 2003). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 301 As dimensões a serem trabalhadas excluem, por definição, toda a estratégia que implica unicamente em uma abordagem local; qualquer intervenção, se tomada isoladamente, tenderia a se perder na extrema complexidade dessa trama urbana. Nas intervenções, disseminadas numa área sem qualquer continuidade e articulação, o próprio recorte urbano proposto indica uma tomada de posição. As relações que as intervenções possam estabelecer - com o construído, com o ambiente imediato urbano e com a região -, precisam necessariamente estar inseridas em processos urbanísticos de caráter metropolitano e global. Assim, situações urbanas pontuais, os aspectos particulares, precisam ser entendidas como elementos em uma configuração mais vasta e complexa, para que possa emergir um modo de traçar novos territórios, onde apareçam múltiplas reconfigurações. Uma estratégia baseada não no espaço e continuidade histórica, na homogeneidade social e arquitetônica, mas na indeterminação e na dinâmica. Torna-se necessário considerar a instabilidade de configurações urbanas em um processo contínuo de rearticulação e desenvolver novos modos de produzir conhecimento a partir de situações de instabilidade e nova escala territorial. Conclui-se que atualmente, as metrópoles ou as cidades globais têm características tão diferentes que a contribuição da arquitetura nesses aglomerados descentrados (porém altamente interconectados), deve se dar de forma completamente nova, seja em relação aos parâmetros da arquitetura clássica , seja quanto aos princípios e métodos defendidos pela arquitetura moderna em relação a uma nova arquitetura e uma nova cidade. Segundo PORTO FILHO (2006), uma nova geração de arquitetos, principalmente holandeses, capitaneada por Koolhaas, explicitando as novas forças culturais e socioeconômicas que forjavam o espaço econômico da metrópole globalizada, passou a apontar novas diretrizes metodológicas projetuais. A metodologia segundo a qual o arquiteto estabelece primeiramente um conceito para a partir daí procurar um resultado capaz de estabelecer uma relação entre “forma” e “conteúdo” __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 302 considerada alienada justamente porque não foi capaz de compreender nem de enfrentar as novas “forças móveis” que caracterizam o cenário urbano atual -, é substituída por uma abordagem baseada na análise e na interpretação dos dados de um amplo contexto informacional, em vez de fixarem-se na elaboração do objetual. Em muitos dos estudos e dos projetos do OMA e AMO nas últimas décadas, as estratégias projetuais se baseiam na análise dos programas para elaborar os conceitos que dão origem aos projetos e, numa operação inversa, pode-se observar também que a partir de uma renovação dos termos, os conceitos são redefinidos e os programas reformulados. Como coloca Cortés (apud KOOLHAAS, 2007), conceitos são traduzidos em logotipos ou símbolos gráficos, os quais, em conjunto com termos recém forjados, transmitem de forma sintética a lógica que fundamenta o projeto. MONEO (2004) observa que Koolhaas sempre esteve interessado na análise de produção, ou seja, muito mais do que dedicar-se ao projeto do objeto arquitetônico, concentra-se na descoberta da estrutura latente do processo de projeto e na maneira de manipular esta estrutura. Em seu trabalho, além de produzir soluções práticas para problemas de projeto, reformula os conceitos do problema arquitetônico. Esse tipo de abordagem – que valoriza os processos de análise de cada situação urbana apesar de por vezes mostrar-se difuso e fragmentário, acabou convertendo-se em um promissor conjunto de alternativas para apreender e interpretar o espaço urbano das metrópoles contemporâneas, onde se observam novas forças econômicas e tecnológicas, além de tensões sociais. Escritórios como o MVRDV, Maxwan, UNStudio e NL Arquitects, trabalham com este tipo de abordagem metodológica, através da vasta exploração de diagramas e da experimentação tipológica. Mas talvez ninguém tenha expressado tão diretamente uma concepção pragmática e anti-objetual da arquitetura do que o UN Studio de Ben Van Berkel e Caroline Bos e o Neutelings Riedijk Architects. (PORTO FILHO, 2006). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 303 2. DIAGRAMAS URBANOS Para BERKEL e BOS (1999), o projeto consiste num “processo”, num “trabalho” em movimento, e não numa atividade que parte de objetivos absolutamente claros para se chegar a uma solução definitiva. O processo de projeto incorpora os atores circunstanciais, que são considerados verdadeiros agente “criadores” do projeto. Este método, não adota uma construção conceitual a priori nem os dados do sítio ou do programa do cliente como princípio para a elaboração arquitetural (aspectos em contínua revisão no próprio processo projetual). Segundo os autores, o diagrama é um “mapa” genérico, dinâmico e imprevisível, entendido como uma ferramenta abstrata para compreender e condensar informações que não são passíveis de tradução discursiva nem mesmo quantitativa. Eles acreditam que a essência da técnica diagramática é a introdução no trabalho de qualidades que não são ditas; qualidades desconectadas de um ideal ou de uma ideologia. Randômicas, intuitivas, subjetivas, não relacionadas a uma lógica linear. (BERKEL e BOS, 1999). O diagrama é, portanto, um instrumento de projeto que não consiste numa representação estática de uma ideia, mas numa imagem abstrata anterior ao discurso que visa, sobretudo, sintetizar certos dados que extrapolam qualquer definição formal: são os fluxos, eventos, alterações e “funções” potenciais que não tinham sido ainda previstos no início do processo. Através do uso de diagramas, o escritório procura retardar a conclusão de uma tipologia formal, que só aparece a partir da “intersecção” de múltiplos diagramas. (BERKEL e BOS, 1999) Figura 02: Diagrama da Möbius House, UN Studio. Diagramas contêm informações de muitos níveis. São um conjunto de situações, técnicas, táticas e funcionamentos. (Fonte:http://www.unstudio.com/media/essays/3761-diagrams). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 304 A prática projetual com base em modelos diagramáticos não é, de modo algum, exclusividade do UN Studio. Ao contrário, a arquitetura holandesa têm se caracterizado pelo uso dessa estratégia, junto à própria ênfase nos problemas de método. PORTO FILHO (2006) observa que, para parte significativa dos escritórios de arquitetura holandeses contemporâneos, “a validade arquitetônica não é dada pelo conteúdo simbólico nem pela qualidade estética propriamente dita, mas, acima de tudo, pela “engenhosidade” de um arranjo que aceita sem reservas as demandas de cada situação e é capaz de reproduzir no edifício a própria complexidade urbana”. (PORTO FILHO, 2006, p. 8) De forte apelo iconográfico, o trabalho de Neutelings Riedjik está também associado, do ponto de vista metodológico, à ampla utilização de técnicas diagramáticas no processo de desenvolvimento do projeto. A forma do edifício é resultado da análise e interpretação de todas as condicionantes, formalizadas em volumetrias abstratas. O método projetual de Neutelings claro discípulo de Koolhaas -, afirma PORTO FILHO (2006), consiste em: 1. Processar, dimensionar e combinar através de diagramas geométricos o programa e os dados do projeto; 2. Manipular unidades diagramáticas com vistas a produzir uma escultura abstrata por meio de possíveis vazios, recortes, variações de escala, etc. 3. Após a definição da geometria, a forma é envelopada com uma “roupa”, de cor e textura, de acordo com as características do projeto, que confere ao edifício a imagem convidativa. (NEUTELINGS,1999). Também o grupo Arte/Cidade, para apreender os diversos modos de estruturação urbana da área, recorre a procedimentos e técnicas – sobretudo diagramas e mapas compostos – que permitam assimilar as múltiplas configurações espaciais possíveis resultantes da inserção de São Paulo entre as cidades globais. Consideram que o diagrama é uma nova dimensão informal. É um dispositivo mínimo para explicar um conceito, mas também para gerar conceitos – ou seja, é também um instrumento do processo de design. São formulações visuais e verbais que interpretam os aspectos envolvidos no projeto. Consistem na representação gráfica da __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 305 informação (data), sem atentar à escala – trata os objetos pelas relações que exercem entre si, pela composição de forças. Diagramas convertem informação em fenômeno, conceituando através do uso de imagens, modelos e signos. De acordo com PEIXOTO (2002), as conexões entre os lugares não se fazem mais segundo um contínuo espacial. As relações entre os diferentes pontos no espaço descontínuo e ilimitado das metrópoles se fazem por articulações entre o próximo e o distante, interfaces entre o que não é contíguo, ignorando as medidas de distância próprias do espaço contínuo. Em vez da rígida implantação da cidade tradicional, o espaço metropolitano é uma coleção de partes justapostas, sem ligação entre si. O território é antes de tudo a distância crítica entre duas situações: as relações de força, de atração e repulsão, que se estabelecem entre elas. Como apreender o campo de forças que configura as diversas situações na área? Como indicar os processos fluídos que conformam esses territórios não delimitados por limites ou fronteiras? Qual o efeito que as intervenções propostas podem vir a ter nestes espaços intersticiais e informes? Segundo o grupo Arte Cidade, a resposta consiste em sistemas dinâmicos. A visualização dos dados é o ponto de partida para a definição do conceito - a representação gráfica torna a informação (data) material para modelos analíticos. Os mecanismos empregados para tanto são: seleção, redução e simplificação. Conclui-se que questões colocadas hoje pela realidade social e espacial nas complexas megacidades do século 21, tais como quantidade, densidade, velocidade, e novas condições de urbanidade, demandam a investigação de novas metodologias de intervenção. Hoje, faltam instrumentos de observação e representação da metrópole e chega-se ao entendimento, que novas condições espaciais requerem novas definições, novas terminologias e novos conceitos. Atualmente já não é possível pensar em modelos únicos – ineficientes na resposta às demandas de um mundo cada vez mais interconectado e eclético-, mas sim em estratégias mais dinâmicas, em urbanismos e programas diversos. Sistemas espaciais complexos __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 306 demandam estratégias com possibilidade de mudança; arquitetura heterogênea, pluralista, em constante processo de transformação e formas fluídas, transformáveis. Em alguns trabalhos, conceitos são traduzidos em logotipos ou símbolos gráficos, os quais, em conjunto com termos recém forjados, transmitem a lógica que fundamenta o projeto. Novas diretrizes projetuais desenvolvidas por uma geração de arquitetos, baseada na análise e na interpretação de dados – valorização dos processos de análise de cada situação urbana – acabou se convertendo em um conjunto de alternativas para apreender e interpretar o espaço urbano das metrópoles contemporâneas. O diagrama- entendido como ferramenta abstrata anterior ao discurso e que visa sintetizar certos dados que extrapolam qualquer definição formal -, também utilizado por um grupo de arquitetos como instrumento do processo do design, foi outro mecanismo projetual estudado. Conclui-se que, na visão de alguns arquitetos, o diagrama é uma nova dimensão informal; um dispositivo mínimo para explicar um conceito, mas também para gerar conceito. 4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BERKEL, Ben van; BOS, Caroline. UN STUDIO. Move. Amsterdam: UN Studio Goose Press, 1999. KOOLHAAS,R.;BOERI,S.;KWINTERS.;TAZI,N.;FABRICIUS,D.OBRIST,H;Mutations.Barcelona: Actar, 2001. KOOLHAAS. The New World 30 Spaces for the 21st Century. Wired 11.06, Jun 2003. www.wired.com. Acessado em 10.08.2012. KOOLHAAS, El Croquis 134/135. OMA / Rem Kolhaas (1996 –2007). Madrid, 2007. LEITE, Carlos. Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes. Porto Alegre: Bookman /Grupo A editorial, 2012. LYNCH, Kevin. City Sense & City Design: Writings & Projects of Kevin Lynch. Cambridge: MIT Press, 1991. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 307 MONEO, Rafael. Theoretical Anxiety and Design Strategies in the Work of Eight Contemporary Architects. Barcelona: Actar, 2004 NEUTELINGS, W. (1992-1999) El Croquis 94. Madrid, 1999. PEIXOTO, Nelson, Brissac. (Org) Transurbanas. Pontifica Universidade Católica de São Paulo: São Paulo, 2002. Disponível em: http://www.pucsp.br/artecidade/novo/pesquisa/transurbanas/transurbanas01.htm> Acessado em 20 out.2012. PORTO FILHO, Gentil Alfredo Magalhães Duque. O diagrama e a matemática da arquitetura. Unicamp, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.fec.unicamp.br/~parc/vol1/n1/parc01porto.pdf. Acessado em 01.09.2012. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 MEGACIDADES CONTEMPORÂNEAS RESUMO: O maior crescimento populacional mundial atual ocorre nas megacidades dos países em desenvolvimento, onde formas extremas de modernização convivem com condições urbanas informais de grande escala; onde coexistem grande concentração de pobreza e problemas socioambientais, com altos níveis de microdinâmicas sociais e econômicas, práticas criativas e senso de urbanidade. Considerando-se que atualmente, aproximadamente 1/3 da população mundial vive em condições precárias e que a população urbana pobre é a que mais cresce no mundo, é a partir do entendimento do território informal como parte integrante da cidade, que deveriam ser investigadas estratégias contemporâneas de intervenção na megacidade. Palavras Chave: megacidade; território informal, metodologias projetuais. ABSTRACT: Nowadays, the biggest population growth occurs in megacities of the developing countries, where extreme forms of modernization coexist with large scale informal urban conditions. In the informal territories of these megacities, large concentration of poverty, social problems, along with social and economic dynamics, creative initiatives and sense of urbanity is observed. Considering that currently 1/3 of the world population lives in poor conditions (in slums and distant outskirts), and that the urban poor is the fastest growing population group in the world, it is based on the understanding of the informal territory as part of the city, that new strategies of intervention in the megacity shall be investigated. Key words: megacity, informal territory, design methodologies. 309 MEGACIDADES CONTEMPORÂNEAS Daniela Getlinger 1 Carlos Leite de Souza 2 INTRODUÇÃO SOLÀ-MORALES (2002) coloca que pensar as cidades e a arquitetura é pensar no que há, mas também propor novas maneiras de enfrentar o que está aparecendo. “Quando analisamos o existente, estamos tentando entender quais são os mecanismos através dos quais se está produzindo a arquitetura e a cidade contemporânea”. (SOLÀ-MORALES, 2002, p. 32). Globalmente todo o futuro crescimento da população mundial se dará nas cidades, quase que exclusivamente na Ásia, África e América Latina. Já nas próximas duas décadas, cidades de países em desenvolvimento concentrarão 80% da população mundial. É exatamente devido à escala, ritmo e urgência dessa nova realidade urbana, que precisamos voltar nossa atenção para pensar as cidades e não apenas construí-las. (BURDETT, 2011). 1 Arquiteta e Urbanista; Mestre pela FAU Mackenzie; M.Arch. pela UCLA. Professora da FAU.Mackenzie. e-mail: [email protected]. 2 Arquiteto e Urbanista; Mestre e Doutor pela FAU.USP. Pós-doutor pela CalPoly. Professor Adjunto na FAU.Mackenzie. e-mail: [email protected] __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 310 01. A EMERGÊNCIA DAS MEGACIDADES CONTEMPORÂNEAS “Num planeta com grande quantidade de espaço […] nós escolhemos as cidades”. (GLAESER, 2011, p.1) Desde 2007 o mundo presencia uma realidade nova, historicamente radical. A população mundial atingiu 3.3 bilhões de pessoas e pela primeira vez na história há mais gente morando nas cidades do que no campo. Há 100 anos, apenas 10% da população era urbana. Atualmente, 53% da população mundial vive em cidades e até 2050, seremos mais do que 75%, sendo que dois terços estará vivendo em países em desenvolvimento. Ocupando 3% do território mundial, cidades com mais de 10 milhões de habitantes já concentram 10% da população do planeta. (LEITE, 2012; BURDETT e SUDJIC, 2011). Desde a Grécia Antiga a população urbana tem se beneficiado da proximidade entre pessoas, negócios, empresas, centros de ensino. Cidadãos alcançam seus objetivos e reivindicações muito mais do que pessoas isoladas, observa GLAESER (2011), porque cidades possibilitam a colaboração e a produção conjunta de conhecimento, que é a mais importante criação da humanidade. É nos centros urbanos, nos encontros nas praças e ruas lotadas das cidades, nos corredores das empresas, nas salas de aula e nos centros acadêmicos onde temos a oportunidade de discutir ideias, trabalhar juntos, trocar rapidamente informações; aprender com outras pessoas, compartilhar e somar conhecimento. Nas grandes cidades torna-se mais fácil observar, escutar e aprender, pois a densidade humana cria um fluxo constante de novas informações a partir da observação do sucesso e do fracasso de outros. As cidades ampliam as capacidades humanas porque o maior talento da nossa espécie é a habilidade de aprendermos __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 311 uns com os outros, e isso se dá ainda mais profundamente quando estamos face a face. (FLORIDA, 2008). Consequentemente, os centros urbanos têm sido ao longo da história o local do crescimento econômico e do desenvolvimento. As oportunidades oferecidas pelas cidades têm sido responsáveis pelo fluxo migratório de pessoas do campo para as áreas urbanas, num movimento contínuo e crescente. Contrariando todas as apostas do final do sec. 20, as cidades não morreram, nem entraram em declínio. Pelo contrário: as pessoas nunca buscaram tanto se aglomerar. Como colocado por GLAESER (2011): As cidades triunfaram. Nos países mais ricos do Ocidente, as cidades sobreviveram ao fim da turbulenta era industrial e estão mais saudáveis, ricas e atraentes do que nunca. Nos países mais pobres, as cidades estão se expandindo enormemente, porque a densidade urbana é o caminho mais claro da pobreza à prosperidade. (GLAESER, 2011, p.1). LEITE (2012) observa que este processo migratório, que vem transformando as áreas urbanas, fez emergir as megacidades do século 21: cidades com mais de 10 milhões de habitantes, que já concentram 10% da população mundial e que têm profundo impacto na vida dos cidadãos e no balanço ecológico do planeta. Figuras 01 e 02 - Crescimento da população nas grandes metrópoles (em 1975 e 2025).Fonte: LEITE, 2012. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 312 Áreas urbanas concentram 80% da produção econômica mundial, consomem entre 60 e 80% da energia global e são responsáveis pela emissão de 75% do CO2. É justamente por esta razão que as cidades e seu planejamento urbano são questões fundamentais da atualidade. (BURDETT; SUDJIC,2011). Hoje, o maior artefato já criado pelo homem nos coloca questões urgentes! De acordo com os autores, não é a primeira vez que cidades atraem a atenção mundial. Reformistas sociais na Europa e na América do Norte no final do século 19 e início do século 20 estavam preocupados com questões similares. Como consequência da Revolução Industrial, as cidades foram inundadas por migrantes em busca de trabalho e oportunidades, mas num ritmo consideravelmente mais lento e em menor escala do que a atual urbanização global. Londres cresceu de 1 milhão de habitantes para tornar-se a primeira megacidade de 10 milhões de habitantes. “Foram necessários, no entanto, mais de 100 anos para que isto acontecesse” (BURDETT; SUDJIC, 2011, p. 8). Em 1800, apenas 3% da população mundial vivia em cidades. Em 1950, 83 cidades tinham mais de um milhão de habitantes, sendo que somente Nova Iorque e Londres tinham pouco mais do que 8 milhões de habitantes. Em 2007, eram 468 as metrópoles deste porte no mundo. Hoje existem, no total, 22 megalópoles. (KOOLHAAS, 2001). Grandes cidades, portanto, não são um fenômeno novo; a diferença hoje não é a presença de uma, ou algumas cidades líderes de seu tempo, mas a rápida emergência de um enorme número de concentrações humanas por todo o mundo. Lagos, na Nigéria, Délhi, na Índia e Daca, em Bangladesh, estão atualmente crescendo à exorbitante taxa de 300 mil pessoas por ano. A população de Mumbai quadriplicou em 30 anos e deve ultrapassar a população de Tóquio e da Cidade do México, tornando-se a maior cidade do mundo nas próximas décadas, com mais de 35 milhões de habitantes. (KOOLHAAS, 2001). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 313 Figura 03: Projeção de crescimento das megacidades (2015). Fonte: Urban Age School of Economics,2000. Atualmente, velocidade e magnitude são completamente diferentes. Hoje, no lugar de cidades programadas, temos cidades cuja dinâmica de crescimento é inédita e onde formas mais extremas de modernização convivem com condições urbanas informais, transitórias, clandestinas. Segundo BURDETT; SUDJIC (2011), as cidades nos países em desenvolvimento prosseguem crescendo em função das altas taxas de natalidade e por atraírem migrantes à medida que áreas rurais vão sendo transformadas em regiões urbanizadas. Cinco milhões de pessoas por dia mudam-se para cidades nesses países em função da oferta de trabalho nos centros urbanos. A população pobre que migra para as cidades em busca de algo melhor não enriquece rapidamente, porém os recém-chegados são geralmente mais pobres do que os que migraram há mais tempo. Ou seja, as cidades não empobrecem as pessoas, elas atraem a população __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 314 economicamente desfavorecida, que deixa a pobreza rural pela possibilidade de melhora do padrão de vida nos grandes centros urbanos. Embora a vida possa nos parecer quase impossível em algumas favelas do mundo, para aqueles que ali residem, mesmo que as condições possam ser insalubres, o fato de estarem num centro urbano lhes oferece vantagens que não existiam no lugar de origem. Lagos, na Nigéria, é muitas vezes descrito como um lugar de privação extrema, mas a situação no restante do país é ainda pior: 75% dos habitantes de Lagos têm acesso à água tratada, uma proporção que embora baixa, é muito maior do que em qualquer outro lugar da Nigéria, onde a norma é menos do que 30%. Até mesmo as piores cidades do mundo – Kinshasa, Calcutá, Lagos – oferecem benefícios para seus residentes, como acesso à tratamento de saúde, educação, transporte e acima de tudo, oferta de emprego, muito mais dos que nas área rurais dos respectivos países. Como colocado por GLAESER (2011), a densidade urbana fornece o caminho mais direto da pobreza para a prosperidade. Globalmente, todo o crescimento futuro da população ocorrerá nas grandes cidades localizadas nos países em desenvolvimento, quase que exclusivamente na Ásia, África e América Latina, onde se observa altos índices de urbanização, acompanhados de níveis elevados de pobreza e falta de qualidade urbana. Já nas próximas duas décadas, cidades de países em desenvolvimento - onde é grande a concentração de pobreza e graves os problemas socioambientais - concentrarão 80% da população mundial. As cidades-regiões mais extensas do mundo estão se formando rapidamente no sul da Ásia e costa da China, e dentro de algumas décadas, deverão concentrar cerca de metade da população urbana mundial. Nos próximos dez anos, 50 milhões de pessoas se mudarão para alguma cidade no oeste do continente africano. (KOOLHAAS, 2001). Davis (2006) observa que como resultado desse fluxo estarrecedor, em 2005, 166 cidades chinesas tinham população de __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 315 mais de 1 milhão de habitantes. Das 33 megacidades estimadas para o ano 2015, 27 estarão localizadas nos países menos desenvolvidos, incluindo 19 na Ásia. Entre 1993 e 2002 a população urbana pobre cresceu 50 milhões, enquanto que na área rural, caiu 150 milhões. Estimativas da ONU indicam que dois em cada três habitantes do planeta estejam hoje vivendo em habitações precárias – favelas, cortiços, loteamentos clandestinos, muitos localizados em áreas de risco e em periferias distantes dos centros urbanos. Até 2020 as projeções da ONU apontam para um cenário de 100 milhões de pessoas morando em favelas nos grandes centros urbanos. (BURDETT, SUDJIC 2011; KOOLHAAS 2001; LEITE, 2012, DAVIS, 2006). Em Planeta Favela, DAVIS (2006) discorre sobre a realidade dos cenários de pobreza onde vive grande parte dos habitantes das megacidades do século 21. Observa que desde 1970, o crescimento das favelas em todo o hemisfério sul ultrapassou a urbanização propriamente dita, e conclui que se a imagem da metrópole no século 20 era a dos arranha-céus e das oportunidades de emprego, a imagem das megacidades contemporâneas é de periferias empobrecidas e áreas favelizadas. Considerando-se que população urbana pobre - moradora dos territórios informais - é a que mais cresce no mundo, a uma taxa de 25% ao ano, a intervenção na escala da megacidade se dará cada vez mais nos territórios informais das grandes cidades dos países em desenvolvimento que, embora negligenciados há anos pelos governantes, alastram-se nas cidades contemporâneas. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 316 2.0 MEGACIDADES COMPLEXAS. TERRITÓRIOS DINÂMICOS. Embora estratégias de projeto urbano tenham sido pesquisadas e aplicadas desde a década de 1960, através de pesquisadores pioneiros tal como LYNCH (1991), que dedicaram grande parte de sua obra a analisar quais seriam as qualidades de um bom ambiente urbano e propor o que deveriam ser os objetivos de um projeto de cidade com parâmetros de percepção do usuário, dada à complexidade das megacidades contemporâneas, existe a demanda urgente na construção de novos referenciais teóricos-projetuais de como intervir nestes territórios em constante mutação. Christian Werthmann, no artigo O Desafio (WERTHMANN, 2009), observa que o urbanismo informal é o modo de desenvolvimento dominante nas cidades de maior crescimento do mundo. Atualmente, mais de 30% da população urbana mundial vive em favelas e as projeções indicam que a metade do nosso crescimento urbano futuro será informal, elevando os atuais um bilhão de moradores de favela para dois bilhões até 2030. Com o mundo em uma grande recessão, o urbanismo informal provavelmente irá se expandir ainda mais rápido do que o previsto. Consequentemente, intervenções no território informal serão um grande desafio a ser enfrentado. Como colocado por FRANÇA (2010) é a partir do entendimento do território informal como um fenômeno urbano que se configura no território, sendo, portanto parte integrante da cidade, que novas estratégias de intervenção na escala da megacidade devem ser investigadas. Segundo a autora, é necessário o reconhecimento da cidade informal, com seus códigos, sua lógica e suas características de crescimento particulares, que não correspondem ao modelo idealizado pela disciplina urbanística tradicional. De acordo com WERTHMANN (2009), a próxima geração de arquitetos deverá ser treinada no sentido de volta-se à questão do modo de vida nos assentamentos precários e de como a arquitetura poderia melhorá-la. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 317 Não seria este o verdadeiro território da inovação do urbanismo na cidade contemporânea? Um novo urbanismo capaz de lidar com as novas condições de urbanidade: os territórios informais das megacidades? Quais alternativas estão sendo desenvolvidas para analisar as cidades informais atuais? Como encorajar a participação dos arquitetos no desenvolvimento das favelas? Como construir pontes entre diversos grupos e diversos interesses? Que arquiteturas - conceitos e projetos – têm investigado a questão de “como” intervir nas megacidades? Que projetos de intervenção na escala da megacidade têm considerado a cidade existente, sem negá-la? Particularmente nos territórios em ebulição, como poderiam ser projetados espaços significativos para uma determinada realidade, mas que pudessem acomodar mudanças contínuas, espontâneas? Conclui-se que hoje outras são as questões colocadas pela realidade social e espacial das megacidades. Os desafios são imensos e faltam instrumentos de observação, leitura e representação da realidade socioespacial da megacidade contemporânea, onde convivem formas extremas de modernização e novas condições urbanas. Os métodos tradicionais mostram-se pouco eficientes nos territórios em processo de transformação contínua - como os territórios informais -, o que leva à necessidade de criação de um novo repertório de conceitos e entendimentos, novas abordagens e estratégias projetuais mais dinâmicas e flexíveis. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS A CIDADE INFORMAL NO SÉCULO XXI. Catálogo da Exposição realizada no Museu da Casa Brasileira. Coordenação – FRANÇA, E; BARDA, M. Brasil,2010. BURDETT, R; SUDJIC, D. Living in the Endless City: The Urban Age Project by the London School of Economics and Deutsche Bank's Alfred Herrhausen Society. Nova York: Phaidon Press Ltd, 2011. DAVIS, Mike. Planeta Favela. Boitempo Editorial, 2006. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 318 FLORIDA, Richard. Who´s Your City? How the Creative Economy is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life. New York: Basic Books, 2008. GLAESER, Edward. Triumph of the City: How Our Greatest Inventions Makes us Richer, Smarter, Greener, Healthier and Happier. New York: The Penguin Press, 2011. KOOLHAAS, R.; BOERI, S.; KWINTER S.; TAZI, N.; FABRICIUS, D. OBRIST,H; Mutations. Barcelona: Actar, 2001. LEITE, Carlos. Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes. Porto Alegre: Bookman/Grupo A editorial, 2012. LYNCH, Kevin. City Sense & City Design: Writings & Projects of Kevin Lynch. Cambridge: MIT Press, 1991. SOLÀ-MORALES, I. Territórios. Barcelona: Gustavo Gilli, 2002. WERTHMANN, C; Operações táticas na cidade informal: o caso do Cantinho do Céu. São Paulo. Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB, 2009. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO E OS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: O CASO DA ZONA NORTE (2005 – 2012): INSTRUMENTO DE INTERVENÇÃO NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS? RESUMO Este artigo é resultado de um estudo sobre a Política Habitacional aplicada no Município de São Paulo no período de 2005 a 2012 através de seu principal instrumento, o Plano Municipal de Habitação, tendo como objetivo a análise dos preceitos metodológicos inovadores no planejamento em São Paulo, de estabelecimento dos Perímetros de Ação Integrada presente no plano, que se baseia na Sub-bacia como unidade de planejamento e gestão, bem como dos critérios utilizados para a priorização desses perímetros. Realizando-se assim, um registro de um processo que pode tecnicamente auxiliar na tomada de decisão do poder público na indicação da sua demanda prioritária. A análise situa-se no campo de estudos em políticas públicas e do urbanismo contemporâneo, e é feita sob a luz dos pressupostos ambientais. A metodologia aplicada tomou como base de análise a proposta do Plano Municipal de Habitação para a Zona Norte do município de São Paulo, utilizando-se como estudo de caso 02 Perímetros de Ação Integrada, considerados prioritários no planejamento e indicados para o Concurso de Projetos Renova SP (2011). Verificou-se nesses 02 perímetros (Cabuçu de Baixo 05 e Cabuçu de Cima 08), a existência dos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Habitação tanto na definição dos Perímetros de Ação Integrada, quanto dos critérios adotados na seleção dos mesmos para a indicação para projeto enquanto prioridade. Essa verificação se deu através da construção de mapas que cruzaram as diversas informações, tendo como resultado a construção de tabelas sínteses, que comprovam a existência dos critérios previstos no Plano. Palavras Chave: Plano, planejamento, ação, integração. ABSTRATCT This article is the result of a study on housing policy applied in São Paulo in the period from 2005 to 2012 through its main instrument, the “Plano Municipal de Habitação” (Municipal Authority Housing Plan), aiming to analyze the methodological precepts used in an all new approach to São Paulo’s urban planning, the establishment of the “Perímetros de Ação Integrada” (Perimeters of Integrated Actions) in this plan , which is based on Sub -basin as a unit for planning and management , as well as the criteria used for prioritizing 320 these perimeters . A record of a process was made that can technically assist in decision making by public authorities in an indication of their priority demand. The analysis was done observing the contemporary public policies and urban planning for the city, and the environmental assumptions. The methodology was based on the analysis of the proposed “Plano Municipal de Habitação” for the North Zone of São Paulo, using as case study two “Perímetros de Ação Integrada”, those two were top priorities in the city’s urban planning and were indicated for the Renova SP Architecture Competition in 2011. In these two perimeters (Cabuçu de Baixo 5 e Cabuçu de Cima 8), there was a clear intention to use the criteria set out in the “Plano Municipal de Habitação”, to defy the “Perímetros de Ação Integrada”, pointing those as priorities. This study was made building maps that crossed a variety of information, resulting in the construction of tables syntheses, attesting the existence of the criteria set out in the Plan. Key Words: Plan, planning, action, integration. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 321 PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO E OS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: O CASO DA ZONA NORTE (2005 – 2012): INSTRUMENTO DE INTERVENÇÃO NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS? Elaine C. Costa Angélica T Benatti Alvim INTRODUÇÃO “Ao longo da última década, o setor habitacional do município de São Paulo foi crescentemente se estruturando e avançou em vários aspectos, como por exemplo, na produção de um cadastro de todas as favelas e loteamentos irregulares, disponível online www.habisp.inf.br (Habisp), na contratação de projetos específicos para a realização de cada intervenção nos assentamentos precários e para a construção de conjuntos habitacionais, e, especialmente, na elaboração de um Plano Municipal de Habitação, que trata do tema no longo prazo, a partir de uma leitura da situação atual, contendo metas, recursos etc....”(ROLNIK, 2013). Pode-se dizer que é recente a retomada dos estudos e das práticas de planejamento das ações em assentamentos precários no Brasil, principalmente em regiões complexas como nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Surgiram com mais força a partir da criação do Ministério das Cidades, da criação do SNHIS (lei 11.124/2005), da elaboração do Plano Nacional de Habitação, dos Planos Estaduais de Habitação, e dos Planos Municipais de Habitação, onde a partir de um planejamento macro, são construídas visões mais abrangentes do território e criadas estratégias de ação integrada. Nesse contexto foi construída pela Secretaria de Habitação do município de São Paulo, a proposta do Plano Municipal de Habitação, que tinha por meta além do equacionamento do déficit habitacional no tempo, promover a ação integrada nos __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 322 assentamentos precários e a articulação dessa ação com os demais entes do poder público. Para gerar a intervenção em um determinado assentamento precário no âmbito de um programa habitacional, a execução da ação não deve ser descolada de uma estratégia mais geral de integração do conjunto dos assentamentos. Para incentivar a integração de um assentamento, o município precisa estabelecer parâmetros urbanísticos específicos, que garantam a melhora física do assentamento e a integração com outros programas públicos. A tomada de decisão deve partir do conhecimento da dimensão do problema na cidade, do conjunto de necessidades e das alternativas de intervenção (DENALDI, 2012). Como forma de garantir o trabalho integrado, a estratégia do plano habitacional de São Paulo foi a criação dos chamados Perímetros de Ação Integrada, tendo como base de articulação a sub-bacia hidrográfica. O planejamento dos assentamentos em São Paulo apresentou um grande déficit habitacional, cujo prazo para resolução dos mesmos foi estabelecido em 16 anos. Num universo tão grande de necessidades foi preciso o estabelecimento de critérios para a definição das prioridades, das emergências do atendimento habitacional. No Plano Municipal de Habitação, os aspectos relacionados à priorização dessas ações envolvem questões de várias ordens, como o risco geotécnico, a precariedade do assentamento e as vulnerabilidades de saúde e social. A prática no trabalho em São Paulo observa outros aspectos além desses apontados no Plano Habitacional, que são bastante relevantes na indicação das áreas prioritárias. O objetivo desse artigo é avaliar, através de um caso concreto, como se deu a programação no PMH das demandas habitacionais mais emergências, salientando os critérios não explícitos no plano, mas que interferem diretamente na priorização do atendimento. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 323 Para isso, a analise do Plano de ação local da Região Norte através dos seus 02 Perímetros de Ação Integrada (Cabuçu de Baixo 05 e Cabuçu de Cima 08), nos dá o entendimento do percurso realizado até aqui, a fim de se evitar os erros cometidos no passado pela falta de planejamento, e analisar a proposta integrada do Plano Municipal de Habitação de São Paulo, a partir da utilização da sub-bacia hidrográfica e dos critérios de priorização dos assentamentos precários aplicados no plano. O PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO (PMH) Os Planos de habitação, Nacional e Estadual definem as diretrizes e o financiamento das políticas habitacionais dos municípios, considerando as suas diferentes especificidades. Cabem aos municípios, apresentar suas necessidades e traçar suas estratégias para equacionar suas problemáticas habitacionais em conjunto aos demais entes públicos. (PNH – 2009). O Plano Municipal de Habitação de São Paulo, alinhado ao que pede e propõe os Planos Nacional e Estadual, apresentou sua proposta de planejamento habitacional, para o horizonte temporal de 04 quadriênios, que compreende o período de 2009 a 2024. Considerando as questões apresentadas nos planos de maior hierarquia, que indicam a região metropolitana de São Paulo como área prioritária, dada a complexidade e amplitude dos seus problemas, ganhou força à estratégia de planejamento para a resolução dos problemas habitacionais na cidade. O Plano Municipal de Habitação, como forma de atender a necessidade habitacional, apresenta como um dos critérios de sua metodologia a ação integrada no território, a partir da criação de Perímetros de Ação Integrada formados com base na sub-bacia hidrográfica, para com isso, buscar a integração com o poder público em todas as esferas de governo, especialmente nas questões mais amplas. Os Perímetros envolvem o conjunto das ações e os diferentes programas habitacionais implementados pela Sehab (Secretaria de Habitação), e sua relação com outros programas de outros setores da prefeitura, como os Parques da Secretaria do Verde e Meio Ambiente e os __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 324 programas da Sabesp, para despoluição dos córregos e tratamento final no esgoto, drenagem urbana entre outros. É importante relacionar que a construção do PMH em São Paulo aconteceu no mesmo momento em que estavam em desenvolvimento os Planos de Saneamento Básico e de Recursos Hídricos nas três esferas, o que reforça ainda mais o papel das Bacias-Hidrográficas, como oportunidade de alinhamento das ações, tanto no conhecimento dos problemas, quanto na formulação de programas e formas de aplicação dos recursos financeiros, técnicos e humanos. Observa-se que não está previsto no desenho dos PAIs do PMH, o desenho urbanístico associado ao desenho gerado pela sub-bacia e pela micro bacia, que também tem grande importância como referencia territorial para a elaboração de diagnósticos e projetos urbanísticos que contemplem a totalidade dos agentes sociais envolvidos com as intervenções, conforme a experiência no trabalho com os PAIs indicados para o Concurso Renova SP. O PMH assume a divisão em regiões adotada pela Secretaria de Habitação do município, sendo proposto o planejamento para as 06 regiões da cidade de acordo com suas especificidades seguindo as diretrizes gerais do PMH. As 06 regiões são: Norte, Sul, Leste, Sudeste, Centro e mais ao Sul, a Região mais expressiva de Mananciais. O estudo da Região Norte como exemplo e registro do trabalho, se dá em função do conhecimento técnico adquirido e das fontes de informação da região, e também, devido à justificativa de que a Zona Norte foi a Região que mais indicou PAIs para o Concurso de projetos Renova SP (08 dos 23 para todas as regiões), onde foram selecionados 07 dos 17 contratados. A PROPOSTA DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO PARA A REGIÃO NORTE DA CIDADE. A Região Norte da cidade de São Paulo compreende o território das 07 Subprefeituras que estão ao Norte do Rio Tietê, dentro do Município de São Paulo. As 07 Subprefeituras são: Perus/ Anhanguera, Pirituba/ Jaraguá/ Parque São Domingos, Freguesia do Ó/ Brasilândia, Casa Verde/ __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 325 Cachoeirinha/ Santana/ Tucuruvi, Jaçanã/ Tremembé e Vila Maria/ Vila Guilherme/ Vila Medeiros, onde vivem atualmente 2.214.654 milhões de habitantes em 679.559 mil domicílios (PMH: a experiência de São Paulo/ 2012). Desse total, os dados de cadastro da Sehab apontam que 21% vivem em assentamentos precários, 145.965 mil domicílios, e desses domicílios, cerca de 15% (mais de 20 mil moradias), têm previsão de realocação. (PMH: a experiência de São Paulo/ 2012). Em seu território foram traçados 48 PAI’s e mais 153 áreas isoladas (assentamento que está sozinho no território e que não tem relação com nenhum outro assentamento, e por esse motivo não faz parte de um PAI), distribuídos em 11 sub-bacias hidrográficas situadas nessa região (PMH: a experiência de São Paulo/ 2012), conforme mapa abaixo: Mapa 1 – Sub-bacias Hidrográficas, Perímetros de Ação Integrada e Assentamentos Irregulares Fonte: Sehab/ Habi Norte 2013 – Elaborado pela autora __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 326 No mapa é possível observar os vários PAIs dentro das sub-bacias, na maioria localizados nas áreas mais periféricas da Região, é possível observar também as áreas isoladas, que predominantemente estão localizadas em áreas mais consolidadas e possuem menor escala. Pode-se visualizar que alguns PAIs pertencem a mais de uma sub-bacia, o que reforça a importância da situação fundiária do assentamento em relação as bacias e micro bacias hidrográficas. Existem sub-bacias que extrapolam o limite do município de São Paulo, o que reforça a necessidade do diálogo com os municípios vizinhos no tratamento das questões macros, como é o caso da divisa como o município de Guarulhos. O custo previsto na elaboração do PMH para o total das intervenções necessárias para resolver todas as necessidades habitacionais da Região Norte perfaz o valor de R$ 3,76 bilhões, e as metas previstas de execução nos quatro quadriênios são de atendimento de 145.965 famílias e a necessidade de 22.454 realocações (PMH: a experiência de São Paulo/ 2012). Esses números não consideram a provisão de novas unidades para atendimento ao déficit e ao crescimento demográfico projetado no PMH, que deve ficar a cargo da COHAB, da CDHU e do Governo Federal. A Região Norte apresenta dentre as suas Sub-bacias hidrográficas que possuem assentamentos precários, 03 prioritárias, conforme mapa abaixo (destacadas em vermelho),a partir da análise do número de moradias em assentamentos precários. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 327 Mapa 2 – Plano Municipal de Habitação - Sub-bacias Hidrográficas, Perímetros de Ação Integrada e Assentamentos Irregulares – Bacias Prioritárias. Fonte: Sehab/ Habi Norte 2013 – Elaborado pela autora Essas 03 sub-bacias são Cabuçu de Baixo, Cabuçu de Cima e Ribeirão dos Perus, respectivamente em ordem de prioridade, juntas elas possuem 89.241 famílias em assentamentos precários, cerca de 61% dos 145.965 mil famílias em assentamentos de toda a Região Norte. Na questão do risco, essas 03 sub-bacias juntas representam 6.606 mil domicílios em risco R3 e R4 (Alto e Muito Alto), dos 7.748 mil domicílios de toda a Zona Norte (PMH SP 2012). As quantificações apresentadas no Mapa - 2 mostram as 03 Sub-bacias prioritárias, porém, é necessário estabelecer entre os PAIs contidos em cada Sub-bacia prioritária o mais emergencial, com base nos critérios de priorização presentes no plano habitacional, o risco de escorregamento e solapamento de margem existente de acordo com o seu grau emergencial (Risco Alto e Muito Alto), grau de precariedade dos assentamentos contidos nos PAIs e vulnerabilidade social e de saúde considerada nas regiões onde estão implantados os PAIs. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 328 Tabela 1 – Número de Domicílios em Risco Alto e Muito Alto (R3 e R4), nos Perímetros de Ação Integrada da Região Norte. Fonte: Sehab/ Habi Norte 2013 – Elaborado pela autora A tabela - 1 aponta o número de domicílios em risco em cada PAI da Região Norte, destacando 10 PAIs prioritários (com número de domicílios superior a 250 domicílios em risco Alto e Muito Alto R3 e R4). Os 02 PAIs objeto de estudo estão entre os Perímetros prioritários (ambos destacados na cor bege), contudo, ambos representam o PAI com maior e menor número de domicílios em risco R3 e R4, porém ambos foram indicados como prioritários para intervenção, o que aponta para a utilização de outros critérios, além dos previstos no PMH. Os PAIs contemplados pelo concurso Renova São Paulo da Região Norte são: Cabuçu de Baixo 04, Cabuçu de Baixo 05, Cabuçu de Baixo 12, Cabuçu de Cima 07, Cabuçu de Cima 08, Cabuçu de Cima 10 e Jardim Japão 01. Dentre os selecionados, o único que não apresenta situação de risco é o PAI Jardim Japão 01, este em especial foi selecionado exatamente por __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 329 possuir uma questão diferenciada dos demais PAIs, não apresenta situação de risco, mas apresenta uma grande problemática quanto a possibilidade de grande parte de seus assentamentos estarem em área com suspeita de contaminação, implantada sobre o aterro do antigo leito do rio Tietê. Por possuir um grave problema social, representado por dois conjuntos habitacionais construídos pela municipalidade (antigo Cingapura) e pelo critério de se abranger o atendimento distribuído na Regional Norte, considerando que os assentamentos do Pai Jardim Japão 01 tiveram uma grande remoção de domicílios por parte do poder público, onde as áreas encontram-se ociosas esperando por uma intervenção, correndo o risco de uma nova ocupação. O PAI Ribeirão dos Perus 06, não teve ganhador , o que justifica um PAI com um alto número de moradias em risco e não ter sido contemplada pelo concurso Renova São Paulo. CONCURSO DE PROJETOS RENOVA SP A Secretaria Municipal de habitação de São Paulo abriu em 2011 uma concorrência para buscar melhores propostas de urbanização para os assentamentos contidos nos Perímetros de Ação Integrada priorizados pelo Plano Municipal de Habitação. O concurso preconizou como diretrizes norteadoras dos projetos, o conhecimento das necessidades das carências habitacionais, bem como da especificidade de cada assentamento precário objeto do concurso. (BARDA, 2011). O Concurso também previu uma proposta urbanística para os PAIs, o exercício de projeto de unidades habitacionais em diferentes tipos de terrenos e o respeito às preexistências habitacionais. Foram selecionados e indicados pela Secretaria de Habitação para projeto no Concurso Renova SP 22 PAIs dos 248 que compõem o PMH de São Paulo. O resultado do Concurso apontou um vencedor do Concurso para 17 dos 22 PAIs indicados. O vencedor foi automaticamente contratado pela Sehab para elaborar os projetos para o Perímetro de Ação Integrada que venceu. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 330 A Região Norte teve o maior número de PAIs selecionados para projetos pelo Concurso, 07 dos 17PAI’s. Os 02 Perímetros de Ação Integrada selecionados para o Estudo de Caso, para que seja realizada a análise dos preceitos metodológicos de estabelecimento dos Perímetros de Ação Integrada presente no PMH e dos critérios para a priorização desses perímetros, são 02 PAIs da Região Norte, Cabuçu de Baixo 05 e Cabuçu de Cima 08. ESTUDOS DE CASO Estudo de Caso 1: Perímetro de Ação Integrada (PAI) Cabuçu de Baixo 05 (CdB 05). Localizado no distrito da Brasilândia, pertencente à Subprefeitura de Freguesia do Ó/ Brasilândia, Região Norte da cidade de São Paulo. O PAI Cabuçu de Baixo 05 (CdB 5), está contido na sub-bacia hidrográfica do Rio Cabuçu de Baixo, ao pé da Serra da Cantareira. Dada sua localização, em área montanhosa e nas proximidades do córrego Bananal, configura-se em uma das áreas mais frágeis e problemáticas da Região Norte. O PAI CdB 5 é constituído por 19 assentamentos precários (favelas e loteamentos irregulares), com aproximadamente 27.800 mil habitantes, residindo em 6.951 mil domicílios, sendo que destes, conforme previsto no Plano Municipal, há a previsão para realocação de aproximadamente 2.450 famílias. Esse grande número de realocações, são necessárias devido ao alto grau de risco de escorregamento e solapamento de margem em que se encontram muitas das moradias do perímetro, e ao grande numero de famílias em áreas de proteção ambiental (ZEPAM, APP dos córregos e nascentes), e a futura implantação do Rodoanel trecho Norte. Segundo os critérios de priorização do PMH (incidência de alto grau de risco, falta de infraestrutura e vulnerabilidade social), esse PAI foi considerado prioritário para intervenção __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 331 imediata. A Secretaria de Habitação através do Concurso Renova São Paulo, contratou projetos para o perímetro. Estudo de Caso 2: Perímetro de Ação Integrada (PAI), Cabuçu de Cima 08 (CdC 08). Localizado no distrito do Tremembé, pertencente à Subprefeitura de Jaçanã/ Tremembé, Região Norte da cidade de São Paulo. O Perímetro de Ação Integrada Cabuçu de Cima 08 está contido na sub-bacia hidrográfica do Rio Cabuçu de Cima, próximo à divisa com o município de Guarulhos. O PAI CdC 08 é constituído por 15 assentamentos precários (favelas núcleos habitacionais e loteamentos irregulares), com aproximadamente 28.550 mil habitantes, residindo em 7.136 mil domicílios, sendo que destes, conforme previsto no Plano Municipal, há a previsão para realocação de aproximadamente 760 famílias. Alguns desses assentamentos já receberam intervenção da municipalidade, como a implantação de obras de infraestrutura básica. Por se tratar de um perímetro bastante consolidado, e por não estar em área de preservação ambiental, o seu número de realocações é menor se considerado ao PAI CdB 05. Porém, os domicílios a serem realocados se encontram em área de altíssimo grau de risco, dada a sua topografia acentuada, alvo de ações do Ministério Público contra o município e de grande preocupação para a prefeitura. Segundo os critérios de priorização do PMH (incidência de alto grau de risco, falta de infraestrutura e vulnerabilidade social), esse PAI também foi considerado prioritário para intervenção imediata. Mesmo estando entre os 10 PAIs com maior número de domicílios em risco R3 e R4, o Perímetro de Ação Integrada CdC 08 possui o menor número de domicílios nessas condições, sendo assim, o que o faz prioritário dentre os demais dentro da lista dos 10 prioritários que possuem maior número de domicílios em risco, são outros critérios além dos indicados no PMH, são os critérios qualitativos, como por exemplo a incidência de deslizamentos nos períodos mais __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 332 chuvosos, cujas denuncias foram feitas no Ministério público, que por sua vez obriga a ação imediata do município. A Secretaria de Habitação através do Concurso Renova São Paulo, contratou projetos para esse perímetro. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DOS PERÍMETROS DE AÇÃO INTEGRADA E DE PRIORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, PRESENTE NA PROPOSTA DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO. As relações entre as áreas de atuação e os planos, politicas, programas, projetos e ações articuladas em seu interior, implicam múltiplas interferências e inúmeras interfaces. Seus efeitos podem assumir características potencializadas em direção à obtenção de resultados globais positivos ou assumir um caráter de externalidades ou interferências negativas, umas em relação às outras, dificultando ou mesmo impedindo a consecução de objetivos almejados. (Alvim 2010). A proposta de ação integrada prevista no Plano Municipal de Habitação, que tem como base as premissas da atual Política Nacional de Habitação, visa o planejamento e o alinhamento das ações do governo em todas as instâncias para a equação do déficit habitacional. Essas articulações devem acontecer em várias frentes e não só na habitação, por isso também a necessidade de que esse planejamento contemple a construção da cidade como um todo em todas as suas questões sistêmicas e interdisciplinares. A proposta da criação dos PAIs, apoiada na Sub-bacia como unidade de planejamento foi uma importante estratégia de interlocução entre os vários atores, e mostra no projeto integrado um campo privilegiado de discussão. Este artigo apresentou todos os critérios evidentes no PMH e os que não foram explicitados, para a formação dos PAIs e dos critérios de priorização da seleção da demanda habitacional, foi realizada uma análise mais profunda de alguns dos critérios presentes no Plano. Esses critérios foram analisados com base na questão ambiental, reforçando o uso inovador da Sub-bacia como cenário para essa discussão. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 333 A seguir estão listados em sequencia na tabela 2 respectivamente: os critérios para definição dos PAIs, com destaque para a utilização da Sub-bacia. Os critérios de priorização da intervenção pela Sehab, com importância também para a questão ambiental da ocupação das áreas de risco, situadas em terrenos impróprios para Habitação que na maioria das vezes são áreas ambientais protegidas, e onde encontram-se as áreas que concentram o maior número de assentamentos com precariedade. Por fim, alguns critérios mais específicos, de presença importante na construção do PMH e outros não tão explícitos no Plano, mas de grande importância e que permeiam o trabalho, e nesse caso o destaque é para o critério de priorização de atendimento dos assentamentos que estão nos programas de despoluição dos córrego da Sabesp (Córrego Limpo e Coletor Tronco), cuja importância para além da questão ambiental, pois envolve também a questão do recurso que é passado da Sabesp para o município de São Paulo. Tabela 2 – Critérios para Definição dos Perímetros de Ação Integrada da Região Norte. Fonte: Sehab/ Habi Norte 2013 – Elaborado pela autora Tabela 2 – Critérios para definição dos Perímetros de Ação integrada. Pode-se observar nos critérios para definição dos PAIs, 05 critérios utilizados e cruzados. Observa-se que além do critério principal da utilização das sub-bacias hidrográficas existem outras questões que são muito relevantes para a definição dos Perímetros e que garantam a __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 334 eficácia da ação integrada no território. São eles: a relação física entre os assentamentos, a questão fundiária, os prazos e os custos para a realização das intervenções e a questão urbanística. Nota-se que ambos os Estudos de Caso estão em Sub-bacias prioritárias de intervenção, conforme informado também no Mapa 2, e atendem aos outros critérios também utilizados no PMH, mas não com tanta ênfase como o critério da sub-bacia prioritária. Tabela 3 – Critérios de Priorização dos Perímetros de Ação Integrada. Fonte: Sehab/ Habi Norte 2013 – Elaborado pela autora Tabela 3 – Critérios de priorização dos Perímetros de Ação integrada. Na seleção dos critérios adotados para a priorização dos Perímetros de Ação Integrada, foram utilizados como parâmetro para essa discussão os 02 Estudos de Caso da Região Norte no Município, os PAIs Cabuçu de Baixo 05 e Cabuçu de Cima 08. Esses 02 perímetros além de selecionados dada a sua indicação para projeto no Concurso de Projetos Renova SP, foram escolhidos também para a análise dada as sua principal distinção entre eles, o grau de consolidação dos 02 PAIs. O PAI Cabuçu de Baixo 05 está muito próximo a Serra da Cantareira e é bem menos consolidado do que o PAI Cabuçu de Cima 08. A tabela 2 mostra os 03 principais critérios de priorização dos PAIs, foram selecionadas as questões do risco existente e da precariedade. Foi possível fazer uma analise quantitativa da __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 335 questão do risco, com base nas informações do PMH SP, através dos dados fornecidos pela Secretaria das Subprefeituras/ IPT 2010 A analise dos dados apontam para relevância da questão do risco Alto (R3) e Muito Alto (R4), nas Sub-bacias onde estão situados os 02 PAIs, essa informação pode ser reforçada pelos dados abaixo, que mostram que na Região Norte existem cerca de 7.748 domicílios em risco Alto ou Muito Alto, onde desses, existem 10 PAIs com significativa presença de risco na Região, dos 48 PAIs existentes. Tomou-se como parâmetro os PAIs que possuem mais de 250 domicílios em situação de Risco R3 e R4, o que pode ser verificado nos 02 Estudos de Caso. Total de domicílios em Risco na Região Norte nos 48 PAIs existentes + as Áreas Isoladas em R3 e R4 7.748 domicílios. Os 10 PAIs com número significativo de domicílios em área de risco (Acima de 250 domicílios), em R3 e R4 5.971 domicílios. Restando nos demais PAIs (38 PAIs) 1.777 domicílios. Nas áreas isoladas em R3 e R4 694 domicílios. Tabela 4 – Critérios considerados na Implantação do PMH e outras Fonte: Sehab/ Habi Norte 2013 – Elaborado pela autora __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 336 Tabela 4 – Critérios considerados na implantação do PMH e outras interferências. Esses critérios representam as questões que não estão expressas no PMH, mas que influenciam diretamente na seleção da demanda prioritária. São 08 critérios que são cruzados aos critérios estabelecidos diretamente no PMH, esses critérios levam em consideração as seguintes questões: Os assentamentos que já tiveram uma intervenção da municipalidade e precisam dar continuidade a intervenção para não se perder os recursos empenhados. As obras públicas previstas ou em andamento nas 03 esferas de governo, para se otimizar os recursos e os esforços do poder público. Distribuição equiparada das intervenções e dos recursos nas 05 Regiões administrativas. PAIs que possuem assentamentos com ação do Ministério Público, essas ações podem levar a priorização imediata de um determinado assentamento. Atendimento das metas de Governo, dado o comprometimento do poder público. Áreas que fazem parte do Programa de despoluição dos rios e córregos da Sabesp, a analise dessa questão tem muita relevância, considerando-se a parceria entre o governo do Estado e a Sabesp, em repasse de recursos financeiros para o município para a priorização dos atendimentos que tem interface com as necessárias obras de tratamento do esgoto que é lançado nos córregos. . A IMPORTÂNCIA DA ADOÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO. Os recursos hídricos tem sido alvo das atenções mundiais nos últimos anos, sendo o foco de diversas discussões sobre a sua utilização e sobre qual seria a gestão mais adequada desses recursos tão escassos. Esse sistema, mesmo sendo ele tão importante à vida, vem sofrendo devido à urbanização acelerada (em muitos países por questões sociais), um processo acelerado de deterioração. A deterioração de nossos recursos está intimamente ligada aos impactos ambientais da ação do homem, principalmente, da ocupação do solo indevidamente, do uso __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 337 indiscriminado da água e sua contaminação, do desmatamento das matas ciliares, e da impermeabilização do solo. Foi nesse contexto que se desenvolveram a maioria dos principais centros urbanos no Brasil e no mundo. Em São Paulo isso não foi diferente, por questões óbvias de demanda e produção de resíduos, as cidades foram crescendo e se instalando cada vez mais próximas dos seus rios e córregos, exercendo uma forte pressão sobre esses sistemas, carregando desde a sua origem, um enorme passivo ambiental, indo de contraponto a bacia hidrográfica e sua unidade básica natural (SILVA, 2006). Na cidade de São Paulo, essa pressão é resultado do grande déficit habitacional acumulado até hoje, que historicamente, vem aumentando devido à falta de um planejamento que considerasse à demanda futura por novas moradias, necessárias para atender às novas famílias de baixa renda que se formariam. Somado a tudo isso, como resultados de reivindicações históricas, vivemos um momento em que são elaboradas políticas públicas e programas voltados para o planejamento integrado dos diversos setores (público e privado), onde deverão ser articulados os diversos interesses, esforços, recursos técnicos e financeiros, bem como as agendas. A criação do Ministério das Cidades, a elaboração dos Planos Nacional, Estaduais e Municipais de Habitação e dos Planos de Saneamento e de Recursos Hídricos. SÃO PAULO (Município). Diante desse quadro, mostra-se a preocupação com o meio ambiente e a importância das bacias hidrográficas, com sua função importante como referencia para a formulação de políticas públicas, na tomada de decisões, planejamento e gestão do território. Com isso, a preocupação em conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental nas últimas décadas fizeram crescer a demanda por projetos, planos e estratégias que integrem os diferentes agentes físicos, econômicos e sociais que atuam no meio, em vista da intensa modificação e degradação ambiental gerada pelo homem no atual momento. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 338 CONCLUSÃO: Da análise de constituição dos PAIs e a utilização da Sub-bacia na gestão do território. A utilização da água será sempre competitiva, e a forma de dar sustentabilidade e garantir o equilíbrio a essa competição é a utilização das Bacias Hidrográficas através do exercício do poder local dado aos municípios. Porem, levando sempre em consideração, que este recorte geográfico por si só não seja o ideal para todos os agentes que participam do processo. A vantagem da utilização da bacia permite o alinhamento nas esferas mais importantes, que são a relação com a água e o meio ambiente, e da tomada de um caminho a ser seguido conjuntamente no território, que contemple a maioria das necessidades. (MONICA PORTO, 2008). Não será uma tarefa fácil à articulação dessas políticas, nem a formulação e a operação de programas que englobem todos os objetivos, mas, podemos ter a tranquilidade de que essas dificuldades podem e devem ser enfrentadas, pois existem mecanismos e instrumentos para isso. O espaço de gestão da bacia é eficaz durante os períodos iniciais do processo, entretanto, à medida que se tornam mais complexos, a eficácia vai depender muito da prática do planejamento integrado. Da análise dos critérios de priorização da intervenção nos assentamentos precários. Como foi possível observar nas analises realizadas do ponto de vista da definição dos Perímetros de Ação Integrada, para se garantir a efetiva ação com base nos pressupostos ambientais, deve-se garantir também os aspectos urbanísticos, ainda que no momento de projeto. Podemos observar que os custos e os prazos também são outros fatores preponderantes nessa definição, não é interessante que uma intervenção iniciada não tenha a sua conclusão a curto prazo, as consequências podem ser desastrosas ao meio físico e principalmente ao meio ambiente. Para os critérios que definem as prioridades de intervenção, o estudo mostrou que a aplicação na prática dos itens básicos do PMH por si só não revelam as áreas mais emergentes, um estudo não muito detalhado pode apresentar as prioridades apenas do ponto de vista __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 339 quantitativo. Para se chegar a uma priorização mais condizente com a realidade, deve-se além de utilizar os critérios básicos aplicar outros itens que de certa forma exprimem as questões da analise qualitativa, como por exemplo, a existência de Ação do Ministério Público para determinado assentamento, que impõe a intervenção imediata ao assentamento, com base nas ocorrências e denuncias realizadas. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALVIM, A. T. B. e CASTRO, L. G. R. Avaliação de Políticas Urbanas – Contexto e Perspectivas. Editora Mackenzie, São Paulo – 2010. BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Habitação. Plano Nacional de Habitação. Brasília, dez. 2009. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Publiicacao_Pl anHab_Capa.pdf> Acesso em 18 set. 2012. BARDA, M. e FRANÇA E. Renova: Concurso de Projetos de Arquitetura e Urbanismo. Prefeitura de São Paulo, 2011. Denaldi R. Plano de Ação Integrada em Assentamentos Precários. Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Habitação – Módulo 2 – 2012. FRANÇA, E. e COSTA, K. P. Política Municipal de Habitação: Uma Construção Coletiva. Volume 1, 1º edição, 2012. MONICA F. A. Porto, Rubem La Laina Porto. Gestão de Bacias Hidrográficas, São Paulo, v. 22, n. 63, 2008. Disponível em <http://dx.org/10.1590/s0103-40142008000200004> Acesso em maio de 2013. ROLNIK R. – Disponível em http://raquelrolnik.wordpress.com/tag/plano-municipal-de-habitacao/ Acesso em maio de 2013. SÃO PAULO (Município). Secretaria de Habitação. Plano Municipal de Habitação. São Paulo, out. 2011. Disponível em: __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 340 <http://www.habisp.inf.br/theke/documentos/pmh/pmh_versao_outubro_2011_pdf/PMH_outubro_2 011.pdf> Acesso maio de 2013. SILVA, B. A. W.; AZEVEDO, M. M.; MATOS, J. S. Gestão Ambiental de Bacias Hidrográficas Urbanas. Revista Vera Cidade. Ano 3. Nº 5. 2006. BIBLIOGRAFIA ACIOLY, C. e DAVISON, F. Densidade Urbana. Rio de Janeiro: Editora Maud, 1998. ALVIM, A. T. B. Da desordem à ordem: é possível? Novas perspectivas ao planejamento urbano no Brasil Contemporâneo. In: Gazzaneo L. M.; ALBANO, A. A. (org.). Ordem Desordem Ordenamento: Urbanismo e Paisagismo. 1ª edição. V. 2. Rio de Janeiro: UFRJ/FAU/PROARQ 2009. ALVIM, A T. B.; VITALE, S. P. S. M.; Direito à moradia "sem risco": desafios das políticas e projetos urbanos em assentamentos precários em São Paulo; in: II Enanparq - II Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Natal set 2012. ALVIM, A. T. B. e CASTRO, L. G. R. Territórios de Urbanismo Pesquisa, Plano, Projeto. Caderno de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (Mackenzie), V. 2008.2, p. 134-150, 2009. AZIZ, A. S. Geomorfologia do Sítio Urbano de São Paulo. Edição FAC-SIMILAR – 50 anos. BRITO, F. O. deslocamento da população brasileira para as metrópoles. In Estudos Avançados. Dossiê Migração. Revista Estudos Avançados, São Paulo, Vol. 20, nº 57, mai-ago 2006. CAMPOS, C. M. Os rumos da cidade: Urbanização e Modernização em São Paulo. São Paulo: SENAC, 2002. FRANÇA, E. Favelas em São Paulo (1980-2008). Das propostas de desfavelamento aos projetos de urbanização. A experiência do Programa Guarapiranga. Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009. GORSKI M. C. B. Rios e Cidade: ruptura e reconciliação. São Paulo: Senac, 2010. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 341 JACOBS, J. Morte e vida das Grandes Cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000. MAGALHÃES, S. F. A Cidade na Incerteza: Ruptura e Contiguidade em Urbanismo. Rio de Janeiro: Viana & Mosley; Prourb, 2007. MARICATO, E. Metrópole periférica, desigualdade social e meio ambiente. In: VIANA, G. E outros (org.). O desafio da sustentabilidade. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001. MARICATO, E. As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias. Planejamento urbano no Brasil. In: Arantes, O.;VAINER, C. B; MARICATO, E. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, p. 121-192, 2000. MASCARÓ, J. L. Desenho urbano e custos de urbanização. 2ª ed – D. C. Luzzatto. Ed., 1989. MINISTÉRIO DAS CIDADES. Cidades para todos. Brasília: Ministério das Cidades, 2004a. __________. Planejamento territorial e urbano e política fundiária. Brasília: Ministério das Cidades, 2004b (Cadernos Mcidades: Programas Urbanos, vol. 3).__________. Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Brasília: Ministério das Cidades, 2004c (Cadernos MCidades: vol. 1). MORALES, M. S. Las Formas Del crecimiento urbano. Barcelona, UPC, 1997. NEDER, R. T. Crise Socioambiental: Estado & Sociedade Civil no Brasil (1982-1998) 1º edição: fevereiro de 2002, Editora Annablume, São Paulo. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO–SEHAB / HABI. Urbanismo de Favelas. A experiência de São Paulo. Coordenação editorial: França, E.; SANTOS, M. D. São Paulo: Boldarini Arquitetura e Urbanismo, 2008. ____________________________________________A cidade Informal do século XXI. Catálogo da Exposição. São Paulo: 1ª edição, 2010. ROLNIK, R. A Cidade e a Lei. São Paulo, Studio Nobel, 1997.___________IPEA, A construção de uma política fundiária e de planejamento urbano para o país – avanços e desafios, 2006 desafios2.ipea.gov.br. SANTOS, M. Ensaios sobre a urbanização Latino Americana. São Paulo: HUCITEC, 1982. SANTOS, M. Espaço e Método. São Paulo, Nobel, 1992. _______________________A Urbanização Brasileira, 3ª edição. São Paulo: HUCITEC, Estudos Urbanos, nº 5, 1996. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 342 SOUZA, A. G. Habitar Contemporâneo: novas questões no Brasil dos anos 90. Universidade federal da Bahia, Salvador-1997. SOMEKH, N; CAMPOS NETO, Candido Malta: A cidade que não pode parar: planos urbanísticos de São Paulo no século XX. São Paulo, Mack pesquisa, 2002. TASCHNER, S. P. Degradação Ambiental em favelas em São Paulo. In: COSTA e TORRES. População e Meio Ambiente: Debates e Desafios. São Paulo: Editora SENAC, 1999. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 PAISAGEM URBANA: LEITURAS POSSÌVEIS RESUMO O presente artigo tem como objetivo promover uma reflexão sobre a possibilidade de leitura da paisagem urbana, por meio da análise de alguns dos critérios utilizados nos métodos de interpretação visual de Lynch, Cullen e Lamas. A apropriação da cidade é também a assimilação visual e tudo quanto as respectivas associações possam inferir àquele que a habita, aquele que a observa. Nesta perspectiva, pretende-se refletir sobre os principais conceitos que estão na base dos teóricos acima referenciados, e que resignificam a percepção da forma urbana, distinguindo a imagem da cidade, quer seja a partir de elementos geométricos, compositivos ou critérios de legibilidade. Palavras-chave: Percepção Visual, Paisagem Urbana, Cidade, Forma, Composição. ABSTRACT This article aims to promote a discussion about the possibility of reading the urban landscape through the analysis of some of the criteria used in the methods of visual interpretation Lynch, Cullen and Lamas. The appropriation of the city is also the visual assimilation and all the associations we can infer . In this perspective, is important to reflect on the key concepts that underlie the theoretical referenced above, and reframe the perception of urban form, distinguishing the city's image, either from geometrical elements, compositional or legibility criteria. Key words: Visual Perception, Townscape, City, Shape and Composition 344 PAISAGEM URBANA: LEITURAS POSSÌVEIS Elisabete Castanheira1 INTRODUÇÃO A percepção visual é uma competência que pode ser adquirida e aperfeiçoada e em cuja composição há misturas contínuas, trocas, associações e abstrações. A apreensão do significado visual, mais do que um componente estético configurase como uma necessidade de ordenamento e orientação. A complexidade que habita a metrópole e a profusão de informações nela contidas, demandam uma compreensão apurada. Mais do que apenas visual, esta compreensão necessita de todos os sentidos: há o som, a fumaça, o outdoor. Só esta percepção abrangente é capaz de referenciar a cidade. 1 Mestranda, Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, [email protected]. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 345 PAISAGEM URBANA A qualidade de observador do morador de qualquer cidade se confunde com a sua condição de parte integrante desse espetáculo, que é a própria cidade: Não somos meros observadores desse espetáculo, mas parte dele; compartilhamos o mesmo palco com os outros participantes (Lynch, 2011 p. 2). Para o mesmo autor, a cidade é composta por elementos fixos e elementos móveis, as pessoas. A percepção que cada indivíduo tem da cidade não é, na maioria das vezes abrangente, mas, antes parcial, fragmentária, misturada com considerações de outra natureza. Quase todos os sentidos estão em operação, e a imagem é uma combinação de todos eles. (Lynch, 2011 p. 2). Lamas (2000) refere que é por intermédio da “figura”, ou através da mensagem figurativa, que a arquitetura e a arte urbana se revelam. Segundo Aumont (2004), a imagem sempre exerceu um papel narrativo, descritivo e persuasivo na sociedade, mas, o uso dessas imagens não se dá de maneira natural; sua produção é pensada, escolhas são realizadas, códigos são estabelecidos com seus símbolos, signos e sinais, o que significa dizer que existe uma linguagem visual que deve ser aprendida para que ocorra a comunicação e que é influenciada pelo nosso mundo interno, fruto da nossa percepção do que é o mundo físico. Mas a linguagem visual, ou seja, a “linguagem que tem a imagem como suporte”, ainda segundo Aumont (2004) não é só um sistema de signos que serve de meio de comunicação entre indivíduos e pode ser percebido pelos sentidos; é também um meio de aprender conceitos, de ampliar e de produzir conhecimento do mundo físico e cultural, e um instrumento de formação de consciência. A nossa relação com a imagem vem de há muito tempo. Do início de tudo. Desde os apontamentos gráficos das cavernas de Lascaux até a possibilidade de, através da câmera do nosso celular, captarmos - e imortalizarmos de forma fugaz - uma cena do quotidiano que seja __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 346 digna de registro, há uma incomensurável trajetória, na tentativa de descrever o que seja esta relação ou o seu processo. A gênese da comunicação humana está centrada na imagem e até o advento da escrita, foi por meio dela, que se operou a transmissão de mensagens, cujo conteúdo, serve hoje, como referência do contexto histórico de então. Segundo Dondis (2007), toda a imagem possui três níveis distintos de mensagem, que a inteligência visual decodifica como: representacional - ou material, o simbólico – significante - e o abstrato – a composição pura, e que são regidas pela postura e pelo significado pretendido, criados por filtro pessoal, cultural. Segundo Dondis (2007), “a força maior da linguagem visual está em seu caráter imediato, em sua evidência espontânea”, pois, “a visão é veloz, de grande alcance, simultaneamente analítica e sintética”. Kepes (1969) já havia reforçado anteriormente a ideia de que “a linguagem visual é capaz de difundir o conhecimento com mais eficácia que qualquer outro veículo de comunicação” e que “a sua atuação é universal e internacional - ignora limites de idioma, de vocabulário ou gramática e pode ser percebida tanto pelo analfabeto como pelo homem culto.” (KEPPES, 1969 p. 23) A DISTINÇÃO ENTRE OLHAR & VER Dondis (2007) refere que, “a visão está ligada à sobrevivência como sua mais importante função. Mas vemos o que precisamos ver em outro sentido, ou seja através da influência da disposição mental, das preferências e do estado de espírito em que eventualmente nos encontramos. Seja para compor, seja para ver, a informação contida nos dados visuais deve emergir da rede de interpretações subjetivas e, ou ser por ela filtrada.” (DONDIS, 2007 p. 134) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 347 Embora ver seja uma qualidade da condição humana – em sua maioria, o seu alfabetismo não é competência de todos, e adquiri-lo, pode ser um processo complexo na medida em que envolve o letramento visual do emissor da mensagem e do receptor, em níveis de compreensão diferentes: do quotidiano, do significado e da construção formal. Keppes (1969) reforça a idéia, quando menciona que “perceber uma imagem implica a participação do espectador no processo de organização” e que “a experiência de uma imagem é assim, um ato criador de integração.” Durante o processo de alfabetização visual a que todos são submetidos, são adquridas competências que permitem decodificar os componentes de um universo particular e restrito inicialmente - “mundo conhecido”, mas que é parte integrante do mundo real. Tanto na alfabetização verbal quanto na escrita, a componente imagética é recurso imprescindível na aquisição de repertório – memorização visual – que permitirá ao aprendiz por meio da interpretação dos códigos de comunicação, ler e interpretar o respectivo conteúdo. Olhar, dentro de condições fisiológicas ideais, é uma atividade inata – uma resposta à luz e cotidiana, que envolve transformações ópticas, químicas e nervosas (AUMONT, 2000, pgs. 1821). Ver por outro lado, é um processo posterior, que envolve a conexão entre o estímulo recebido, a informação armazenada e a motivação, pois, como refere Dondis (2007), “o ato de ver é um processo de discernimento e julgamento.” Ver se distingue de olhar, na medida em que se atribuem significados – são estabelecidas relações - ao conteúdo que se olha. ALFABETISMO VISUAL Para que haja o efetivo letramento visual, ou seja, a interpretação da imagem, é fundamental que haja a compreensão do conteúdo e da forma à luz do contexto de sua produção, pois como refere Dondis (2007), “a forma é afetada pelo conteúdo e o conteúdo é afetado pela forma. A mensagem é emitida pelo criador e modificada pelo observador.” A compreensão do __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 348 conteúdo e da forma, por seu turno, implica uma desconstrução da imagem onde os elementos visuais e as técnicas de manipulação sejam estudadas e entendidas sob determinados objetivos. E por fim, na interpretação da mensagem visual, deve haver a percepção - e integração - dos diferentes níveis da mensagem visual, enfatizados por Kepes (1969): “para funcionar em toda a sua profundidade o homem deve restabelecer a unidade de suas experiências de modo a que possa registrar as dimensões sensorial, emocional e intelectual do presente em um todo indivisível.” (KEPPES, 1969 p. 23) Como refere Dondis (2007), “a visão é natural: criar e compreender mensagens visuais é natural até certo ponto, mas a eficácia, em ambos os níveis, só pode ser alcançada através do estudo”. Esta faculdade inata pode e deve ser desenvolvida com o objetivo de que se adquiram competências avançadas na elaboração plástica da forma, por meio de técnicas de manipulação dos elementos básicos que a constituem. De maneira resumida, pode-se dizer que é possível adquirir o alfabetismo visual da forma que segue: Onde: Devemos buscar o alfabetismo visual em muitos lugares e de muitasmaneiras, nos métodos de treinamento de artistas, na formação técnica de artesãos, na teoria psicológica, na natureza e no funcionamento fisiológico do próprio organismo humano. (DONDIS, 2007 p. 18) Como: “A sintaxe visual existe. Há linhas gerais para a criação de composições. Há elementos básicos que podem ser aprendidos e compreendidos por todos os estudiosos e interessados do meio de comunicação visual, sejam eles artistas ou não, e que podem ser usados, em conjunto com técnicas manipulativas, para a criação de mensagens visuais claras.” (DONDIS 2007, p. 18) Porque: Para que possa haver o entendimento da mensagem visual, que se dá em 3 níveis: - representacional (o motivo) - simbólico (significante) - abstrato (elaboração/composição/forma) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 349 Ainda que não tão lógico quanto o sistema verbal, o sistema visual, apesar de sua complexidade, tem maior alcance e velocidade na recepção da mensagem. Para concluir, Dondis (2007) define o alfabetismo visual como: algo além do simples enxergar, como algo além da simples criação de mensagens visuais. O alfabetismo visual implica compreensão, e meios de ver e compartilhar o significado até um determinado nível de universalidade e que a preocupação última do alfabetismo visual é a forma inteira: o efeito cumulativo da combinação de elementos selecionados, a manipulação das unidades básicas através de técnicas e sua relação formal e compositiva com o significado pretendido.” (DONDIS, 2007 p. 13) O que é: De acordo com a teoria de Howard Gardner (1995), aquilo a que denominamos talento ou habilidade, nada mais é, do que uma das múltiplas inteligências do ser humano. Ainda segundo Gardner (1995), a inteligência visual é somente uma das sete inteligências que possuímos e envolve, segundo Dondis (2007), o desenvolvimento das competências “vinculadas a perceber, compreender, contemplar, observar, descobrir, reconhecer, visualizar, examinar, ler, olhar”, ou ainda, em termos objetivos, a distinção entre olhar e ver. Aqueles que apresentam inteligência visual desenvolvida, via de regra possuem boa coordenação motora e orientação espacial; percepção visual apurada da experiência cromática e tátil; a memória visual e a retenção de detalhes é mais aprofundada; a capacidade de tridimensionalizar imagens percebidas de forma bidimensional e ainda, a expressão de uma linguagem própria ao retrabalhar experiências visuais vividas, são características deste tipo de inteligência. De percepção e compreensão trata a inteligência visual, não se tratando em hipótese alguma de intuição subjetiva ou capacidade aleatória, como refere (Dondis, 2007). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 350 COMPOSIÇÃO VISUAL A estrutura visual é a essência da expressão plástica que contém a forma - técnica + resultado da observação - e o seu conteúdo, o significado. Arnheim (1980) refere que a eficiência da mensagem visual não depende apenas “do funcionamento da percepção, mas também da qualidade das unidades visuais individuais e das estratégias de sua unificação em um todo final e completo”. Para o efeito é necessário que as partes da composição, ou seja, os elementos visuais básicos - ponto, linha etc. - que a compõem sejam manipulados por meio de técnicas visuais contraste, harmonia etc. - com o objetivo de encontrar a solução visual que permita a interação dos três níveis. Segundo Dondis (2007), seja qual for a substância visual básica, a composição é de importância fundamental em termos informacionais; é o meio interpretativo de controlar a reinterpretação de uma mensagem visual por parte de quem a recebe pois a mensagem e o significado, não se encontram na substância física, mas sim na composição: a forma expressa o conteúdo. (DONDIS, 2007 p. 78) É nesta etapa do processo criativo, que o emissor exerce a sua capacidade de elaborar e expressar a mensagem visual. É aqui também, que as ”decisões compositivas determinam o objetivo e o significado da manifestação visual e tem fortes implicações com relação ao que é percebido pelo espectador”, como refere Dondis (2007). Segundo Kepes (1969): a experiência de uma imagem plástica constitui uma forma desenvolvida através de um processo de organização. A imagem plástica tem todas as características de um organismo vivo. Contém forças de interação que atuam em seus respectivos campos e estão condicionadas por eles. (KEPPES, 1969 p.11) Ainda segundo este autor, “se trata de um sistema que alcança sua unidade dinâmica mediante diversos níveis de integração; mediante o equilíbrio, o ritmo e a harmonia.” As forças de __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 351 interação presentes no fato visual, mencionadas por Kepes (1969), apresentam duas categorias: forças físicas externas ou “agentes-luz que bombardeiam o olho e produzem alteração da retina” e forças internas, ou em outras palavras, “a tendência dinâmica do indivíduo em restabelecer o equilíbrio depois de cada perturbação procedente do exterior, mantendo assim seu sistema em uma relativa estabilidade.” Segundo Gomes Filho (2000), “os psicólogos da Gestalt precisaram certas constantes nessas forças internas, quanto à maneira como se ordenam, ou se estruturam as formas psicologicamente percebidas.” “Essas constantes das forças de organização são os que os gestaltistas chamam de padrões, fatores, princípios básicos ou leis de organização da forma perceptual. São essas forças ou esses princípios que explicam por que vemos as coisas de uma determinada maneira e não de outra.” A LEITURA DA PAISAGEM URBANA Na visão de Lynch (2011) a cidade é um grande paradoxo: se por um lado é estática sob o peso das construções, por outro é dinâmica, na medida em que o surgimento de detalhes é incessante. É um objeto a ser percebido e quiça, desfrutado. O método de leitura da paisagem urbana proposto por Lynch (2011) está assente primordialmente na questão da Legibilidade, embora não seja o único atributo utilizado pelo autor, pretende: indicar a facilidade com que suas partes podem ser reconhecidas reconhecidas e organizadas num modelo coerente. Assim como esta página impressa, desde que legível, pode ser visualmente percebida como um modelo correlato de símbolos identificáveis, uma cidade legível seria aquela, cujos bairros, marcos ou vias fossem facilmente reconhecíveis e agrupados num modelo geral. (LYNCH, 2011 p. 3) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 352 A investigação do processo de percepção humana distingue os acontecimentos ocorridos na visão e no cérebro e encontra aporte na teoria da Gestalt que aborda a estrutura do fato visual e como se processa o input visual - aquilo que recebemos em termos de informação - e o output visual - tudo o que processamos. Segundo Gomes Filho (2000), “todo o processo consciente, toda forma psicologicamente percebida esta estreitamente relacionada às forças integradoras do processo fisiológico cerebral. A hipótese da Gestalt, para explicar a origem dessas forças integradoras, é atribuir ao sistema nervoso central um dinamismo autorregulador que, à procura de sua própria estabilidade, tende a organizar as formas em todos coerentes unificados.” Esta necessidade fisiológica de busca da harmonia em todo o fato visual, o princípio conhecido como pregnância da forma é a base da Teoria da Gestalt e contém vários outros princípios - princípio da boa continuidade, semelhança, proximidade, fechamento e etc. Como refere Gomes Filho (2000), “segundo esse princípio, as forças de organização da forma tendem a se dirigir tanto quanto o permitem as condições dadas no sentido da clareza, da unidade, do equilíbrio, da boa Gestalt.” Lynch (2011) elenca uma série de outras qualidades que a cidade apresenta: Estruturar e identificar o ambiente é uma capacidade vital entre todos os animais que se locomovem. Muitos tipos de indicadores são usados: as sensações visuais de cor, de forma, movimento ou polarização da luz, além de outros sentidos como o olfato, a audição o tato, a cinestesia, o sentido da gravidade e, talvez, dos campos elétricos ou magnéticos. (LYNCH, 2011 p. 4) Para Cullen (2004), o conjunto formado pelas edificações de uma cidade exerce sobre os seus habitantes um impacto completamente diferente daquele exercido por uma construção isolada. O sistema de leitura da cidade deste autor, assenta em 3 aspectos: a Ótica, o Local e o Conteúdo. O primeiro aspecto, o Ótico, ao qual Cullen (2004) se refere, trabalha com percurso, enquadramento e elementos descobertos, e é denominado pelo autor de Visão Serial. Poder ser assim explicado: na medida em que há o deslocamento, o enquadramento visualizado se altera. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 353 Figura 1, 2 e 3 – Representação Gráfica da Visão Serial – Arte: Autora Segundo Cullen (2044), os elementos descobertos seriam uma “sucessão de surpresas ou revelações súbitas”, com as quais o observador se depara, a medida em que o deslocamento acontece e o enquadramento da paisagem vai sendo alterado. Novos elementos vão configurando este enquadramento. Entra aqui os conceito de imagem existente e imagem emergente. O segundo aspecto que compõem o sistema de leitura da paisagem urbana de Cullen (2004) é o Local e as reações que podem daí advir. Este conceito estabelece relações de posicionamento: fora e dentro, aqui e ali, entre outros. Mas, mais do que isso, há um pensar sobre a sensação vivenciada, por exemplo, em um espaço aberto e fechado. Como o próprio autor refere: __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 354 Este segundo ponto diz respeito às nossas reações perante a nossa posição no espaço. É fácil de exemplificar: quando entramos numa sala pensamos “Estou cá fora”, depois “Estou a entrar ali para dentro” e finalmente, “Estou aqui dentro”. Este tipo de percepção integra-se numa ordem de experiências ligadas às sensações provocadas por espaços abertos e espaços fechados que nas suas manifestações mórbidas são a agorafobia e a claustrofobia. (CULLEN, 2004 p. 11) Ainda inserido neste aspecto, Cullen (2004) faz referência ao fato que: Uma vez que o nosso corpo tem o hábito de se relacionar continuamente com o meio-ambiente, o sentido de localização não pode ser ignorado e entra, forçosamente em linha de conta na planificação do ambiente. (CULLEN, 2004 p. 13) Lynch (2011) em seu sistema de leitura da paisagem urbana também trabalha com a questão da localização. O conceito base, a Legibilidade, contempla 3 aspectos: a Identidade, a Estrutura e o Significado. Sobre estes dois últimos, o autor refere que: Estruturar e identificar o ambiente é uma capacidade vital entre todos os animais que se locomovem. Muitos tipos de indicadores são usados: as sensações visuais de cor, a forma, movimento ou polarização da luz, além de outros sentidos como olfato, a audição, o tato, a cinestesia, o sentido da gravidade e, talvez, dos campos elétricos ou magnéticos. Essas técnicas de orientação, desde o voo polar de uma andorinha-do-mar até o caminho percorrido por um molusco sobre a microtopografia de uma rocha, são descritas e tem a sua importância enfatizada numa vasta literatura. Os psicólogos também tem estudado essa capacidade no homem, ainda que apenas do modo vago ou em condições limitadas de laboratório. Apesar de alguns problemas ainda por decifrar, hoje parece improvável que exista qualquer “instinto” místico associado à descoberta de caminhos. Pelo contrário, há um uso e uma organização consistentes de indicadores sensoriais inequívocos a partir do ambiente externo. Essa organização é fundamental para a eficiência e para a própria sobrevivência da vida em livre movimento. (LYNCH, 2011 p. 4) A esta capacidade adquirida, de orientação no espaço urbano, Lynch (2011) atribui o nome de Imagibilidade. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 355 Lamas (2000) também referencia a relevância do Sistema de Orientação para o conhecimento da cidade, embora a seu ver, seja uma questão “esquecida” por tratadistas e geógrafos urbanos. Acrescenta ainda: Respeita, em primeiro lugar, ao equilíbrio vertical e também a noções de acima/abaixo, esquerda/direita, horizontal/vertical, alto/baixo, longe/perto, etc., que permitem ao homem orientar-se na cidade. Será como um “sexto sentido”, e numa cidade dependerá fundamentalmente dos sistemas de referência: marcos ou monumentos, zonas ou bairros, traçados, nós. (LAMAS, 2000 p. 58) O aspecto da localização, ao qual Cullem (2004), Lynch (2011) e Lamas se referem, está relacionado com o conceito das Múltiplas Inteligências de Gardner (1995) e com a questão do equilíbrio, tratada por Dondis (2007). Para Gardner (1995), o autor da teoria das inteligências múltiplas, o ser humano não possui uma única inteligência, mas sim, um conjunto de “sete inteligências cujas características são determinantes na atuação em um campo de atividade específico”. Posteriormente, foi acrescentada a oitava inteligência. São elas: a inteligência lógico-matemática, a naturalista, a verbal-linguística, a interpessoal, a intrapessoal, a musical e a visual-espacial, que trata da coordenação motora e da percepção do corpo no espaço. Dondis (2007) por sua vez, trata da questão do equilíbrio no homem, em sua faceta física e psicológica e de que maneira está relacionado com o espaço físico, fazendo referência ao fato de que: O equilíbrio é tão fundamental na natureza quanto no homem. É o estado oposto ao colapso, a referência visual mais forte e firme do homem, em sua base consciente e inconsciente para fazer avaliações visuais. (DONDIS, 2007 p. 32) Para esta autora, a relação primária do homem com o meio ambiente é o “constructo horizontal-vertical”: Na expressão ou interpretação visual, o processo de estabilização impõem a todas as coisas vistas e planejadas um “eixo” vertical, com um referente horizontal secundário, os quais determinam, em conjunto, os fatores estruturais que medem __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 356 o equilíbrio. Esse eixo visual também é chamado de eixo sentido, que melhor expressa a presença invisível mas preponderante do eixo no ato de ver. Trata-se de uma constante inconsciente. (DONDIS, 2007 p. 33) O terceiro aspecto do sistema de leitura da paisagem urbana de Cullen (2004) é o Conteúdo, que contempla aspectos constitutivos, como por exemplo: a “cor, textura, escala, o seu estilo, a sua natureza, a sua personalidade e tudo o que a individualiza. Lamas (2000) trabalha a leitura da paisagem urbana a partir do conceito de Arquitetura da Cidade, que contempla a sua conexão com o desenho: linha, espaços, volumes, geometrias, planos e cores: a tridimensionalização da forma, a partir dos elementos básicos que a constituem. Dentro deste conceito-base estão contemplados os seguintes aspectos: Quantitativos, Funcionais, Qualitativos e Figurativos. Segundo este autor: Aspectos Quantitativos: Todos os aspectos da realidade urbana que podem ser quantificáveis e que se referem a uma organização quantitativa: densidades, superfícies, fluxos, coeficientes volumétricos, dimensões perfis, etc. Todos esses dados quantificáveis são utilizados para controlar aspectos físicos da cidade. Aspectos Funcionais: Relacionam-se com as atividades humanas (habitar, instruir, tratar, comerciar, trabalhar, etc) e também com o uso de uma área, espaço ou edifício (residencial, escolar, comercial, sanitário, industrial, etc), ou seja, ao tipo de uso do solo. Uso a que é destinado e uso que dele se faz. Aspectos Qualitativos: Referem-se ao tratamento dos espaços, ao “conforto” e à “comodidade” do utilizador. Nos edifícios, poderão ser a insonorização, o isolamento térmico, a correta insolação, etc., - e, no meio urbano poderão ser características como o estado dos pavimentos, a adaptação ao clima (insolação, abrigo dos ventos e das chuvas), a acessibilidade, etc. Os aspectos qualitativos podem também ser quantificáveis através de parâmetros (os decibéis que medem a intensidade de conforto sonoro, o lux, como medida de conforto da iluminação, etc.) . (LAMAS, 2000 p. 44) De forma resumida é possível dizer que os aspectos Quantitativos são todos aqueles atributos passíveis de serem mensurados. Os aspectos Funcionais reportam à questões práticas enquanto atividades desenvolvidas: equipamentos de lazer, cultural, entre outros. Os Qualitativos contemplam atributos de conforto: acústicos, térmicos, entre outros. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 357 Os aspectos Figurativos, Lamas (2000) relaciona “essencialmente com a comunicação estética” e acrescenta: Entendo por “aspectos Figurativos” os aspectos da forma que são comunicáveis através dos sentidos. E “figura”, ao poder de comunicação estética da forma, ou seja, ao modo como se organizam as diferentes partes que constituem a forma, com objetivos de comunicação. (LAMAS, 2000 p. 56) Este núcleo do sistema de leitura de Lamas (2000), prende-se à visão pessoal que se tem sobre determinado local ou objeto, podendo ser determinados por associações estabelecidas por diversas motivações. Lamas (2000) recorre a Aristóteles para pontuar que tudo passa pelos sentidos e refere: O homem urbano está sujeito a sons, cheiros, calor, luz, estímulos visuais, climáticos, e outros, que atuam sobre os seus sistemas perceptivos, através dos quais passam para mensagens organizadas e tratadas pelo cérebro, produzindo o conhecimento do meio urbano. Não é objetivo aqui desenvolver a teoria da informação, nem discutir as ações entre o transmissor (meio urbano) e o receptor (o homem), através das mensagens. Basta registrar a importância dos sentidos e da cultura na leitura da cidade. Resumindo, direi que os valores estéticos só são comunicáveis através dos sentidos e que, apesar de as características da forma não se resumitem aos aspectos sensoriais (portanto perceptíveis), estes são determinantes na sua compreensão. Um breve enunciado dos sistemas sensoriais permitirá clarificá-los. (LAMAS, 2000 p. 58) Próximo ao aspecto Figurativo de Lamas (2000) está aquilo que Cullen (2004) denomina como fator indispensável à percepção da paisagem, dentro do seu conceito de Legibilidade: o Contraste. Para este autor, é esta propriedade que atribui qualidade a percepção da paisagem. Sem este, a paisagem é um conjunto amorfo. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 358 CONSIDERAÇÕES A percepção pode ser desenvolvida. O processo que culmina com a conquista desta capacidade trata de questões visuais, obviamente, mas trata também de um exercício contínuo na construção do olhar. É um diálogo constante. No caso específico da leitura da paisagem urbana, a cidade é causa ao mesmo tempo em que é consequência – é causa quando passa a ser objeto de informação visual percebido, e consequência, pois, do interesse surge a descoberta daquilo que ate então estava invisível. Esta interação altera a todos os intervenientes do processo: emissores e receptores. A consolidação da identidade, da territorialidade e tantos outros significados resultam da pluralidade de leituras possíveis da paisagem urbana. A presente reflexão propõe uma leitura transversal sobre três dos principais teóricos da matéria Leitura da Paisagem Urbana – Lynch, Cullen e Lamas -, aproximando os seus referenciais e articulando pontos de convergência. A esta articulação estrutural são associados conceitos de teóricos que tratam da Percepção: Kepes, Dondis, Arnhein e Gomes. O objetivo centra-se na possibilidade de apreender o que pode resultar do cruzamento de informações, contidas neste grid. A presente leitura teve como escopo os conceitos principais, para que em uma eventual continuidade, seja possível obter alguns dos desdobramentos disponíveis. A leitura do espaço urbano como fonte de informação e conexões culturais, expõem, relata e discute, pois como refere Canevacci (2000), a “cidade em geral e a comunicação urbana em particular comparam-se a um coro que canta com uma multiplicidade de vozes autônomas que se cruzam, relacionam-se, sobrepõem-se umas às outras, isolam-se ou se contrastam; também designa uma determinada escolha metodológica de dar voz a muitas vozes, experimentando assim um enfoque polifônico com o qual se pode representar o mesmo objeto – justamente a comunicação urbana. A polifonia está no objeto e no método.” __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 359 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AUMONT, J. A Imagem. São Paulo: Editora Papirus, 2004. ARNHEIM, R. Arte e Percepção Visual. São Paulo: EDUSP, 1980. CANEVACCI, M. A Cidade Polifônica, São Paulo: Estúdio Nobel, 2000. _____________ Antropologia da Comunicação Visual. São Paulo: DP & A, 2001. CULLEN, G. Paisagem Urbana. Lisboa: Editora Edições 70, 2004. DONDIS, A. D. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2007. FILHO, J. G. Gestalt do Objeto. São Paulo: Editora Escrituras, 2000. FRANCO, M. A. R. Desenho Ambiental – Uma introdução à Arquitetura da Paisagem com o Paradigma Ecológico. São Paulo: Editora Annablume/FAPESP, 1997. KEPES, G. El Lenguaje de la Visión. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1969. LAMAS, J. M. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian – Fundação para Ciência e Tecnologia, 2000. LYNCH, K. A Imagem da Cidade. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 VILA FERROVIÁRIA DE PARANAPIACABA – POLÍTICAS URBANAS E DESENVOLVIMENTO RESUMO A Vila Ferroviária de Paranapiacaba juntamente com seu entorno registram o descompasso e a ruptura entre o novo e o antigo. Exemplo de momento histórico da modernidade, hoje transforma seus espaços na tentativa de sobreviver, através da transformação de seus espaços, pela mudança de uso e implementação do turismo. Desta forma, este artigo visa discutir a implantação dos planos e políticas urbanas providos pela Prefeitura Municipal de Santo André para revitalização, conservação e desenvolvimento socioeconomico da Vila de Paranapiacaba. Palavras-chave: Vila de Paranapiacaba, planos urbanísticos, políticas urbanas. ABSTRACT The Paranapiacaba's Railway Village along with your surroundings records the imbalance between old and new. Example of historical moment of modernity, transforms their spaces in an attempt to survive, by land use change and implementation of tourism. Thus, this paper discusses the implementation of urban plans and policies provided by the Municipality of Santo André for revitalization, conservation and socioeconomic development of Paranapiacaba's Village. Key words: Paranapiacaba's Village, Urban plan, urban policy. 361 VILA FERROVIÁRIA DE PARANAPIACABA – POLÍTICAS URBANAS E DESENVOLVIMENTO Fernanda Figueiredo D’Agostini1 Eunice Helena Sguizzardi Abascal 2 A VILA A implantação da primeira ferrovia no Brasil ocorreu por meio de uma lei geral, em 1935, assinada pelo senador Diogo Antônio Feijó, então regente do país, que autorizava a concessão de privilégios às empresas interessadas em construir estradas de ferro, estabelecendo a isenção de impostos na importação de máquinas, direito de desapropriação dos lotes necessários, permissão de uso de madeira e minério encontrados na área, além de privilégio de quarenta anos de exploração do trecho e concessão da linha por oitenta anos. (CYRINO, 2010) Na província de São Paulo somente em 1855, com o decreto imperial que autorizava tanto o governo imperial quanto o provincial a conceder privilégios que se fizessem necessários para a construção de linhas férreas que pudessem vencer as barreiras da Serra do Mar, ligando a cidade de Santos à Vila de Rio Claro, com garantia de juros imperial de cinco por cento e a provincial de dois por cento. Finalmente em 1856 a concessão para a transposição da Serra do Mar, ligando o Porto de Santos as regiões agrícolas no interior de São Paulo e dada ao Visconde de Mauá e ao Marquês de Monte Alegre. A malha ferroviária paulista teve sua implantação caracterizada pela falta de planejamento e entrosamento, além da ausência de uniformidade de critérios técnicos, como por exemplo, os traçados que nem sempre levaram em conta as condições geográficas dos sítios, obedecendo, na 1 Arquiteta e urbanista, mestranda pelo Programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e-mail: [email protected]. 2 Arquiteta e urbanista, coordenadora e professora do Programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e-mail: [email protected] __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 362 maioria das vezes, os interesses políticos e das companhias que obtivessem a concessão, que incluía terrenos e operação. Desta forma, pequenos ramais de bitolas estreitas (distâncias entre os trilhos), estradas batizadas de “catacafé” por Odilon Nogueira de Matos, multiplicavam-se de acordo com os interesses dos produtores, muitas vezes tendo como destino principal as suas fazendas. (MAZZOCO; SANTOS, 2005) No estado de São Paulo destacou-se a ferrovia que faz a ligação do interior do estado com o litoral, hoje conhecida como Santos-Jundiaí, inaugurada em 1867, possui 139 km, utilizando-se de 13 túneis e 17 pontes para vencer os 796 metros de altitude que separam o Porto de Santos do Planalto Paulista. A transposição da Serra do Mar trouxe grande avanço econômico e tecnológico ao Brasil, mas principalmente ao estado de São Paulo. Para empreender a construção, Barão de Mauá, obteve em Londres o capital necessário com garantia de 7% de juros sobre o capital que fosse gasto na construção da estrada, até o máximo de dois milhões de libras somados ainda ao valor levantado para cobrir os juros durante a construção – sendo que 5% seriam pagos pelo Governo Imperial e 2% pela Província de São Paulo, além de noventa anos de privilégio de concessão. Foi, ainda, outorgado à companhia o privilégio de zona na extensão de cinco léguas para cada lado da estrada, além da isenção dos direitos de importação para os materiais, dos direitos de desapropriação dos terrenos necessários para a construção, da exploração de minas encontradas na zona de privilégio e, por fim, obtenção de terras devolutas nos termos mas favoráveis permitidos por lei. (MAZZOCO; SANTOS, 2005) Na sua construção foram empregados mais de cinco mil funcionários, desta forma, para atender tal demanda foi implantada no último ponto de planalto e de menor inclinação a Vila de Paranapiacaba que é uma amostra da tecnologia inglesa trazida para o Brasil, que possibilitou a implantação de um sistema de linha férrea que iria constituir um importante canal de entrada e saída de produtos, ligando o interior ao porto de Santos. A Vila de Paranapiacaba destaca-se pela ocupação bastante diferente do legado da __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 363 colonização portuguesa que não se preocupava em organizar as cidades e, sobretudo legislar, a vila planejada marca a presença inglesa através da implantação padronizada das casas de madeira em conjuntos geminados com recuos que possibilitam jardins, ainda incomuns no início do século. A hierarquia social da SPR era definida por várias características das construções: tamanho do lote e da casa, tipo da edificação, definiam as categorias dos funcionários. Estas construções eram destinadas, principalmente, aos funcionários de mais alto escalão que vinham da Europa e, por este motivo, buscavam reproduzir os hábitos tradicionais de seus países de origem, diferenciando-se das cidades brasileiras que ainda eram calcadas nos padrões coloniais e dependentes da mão de obra escrava. Desta forma, é possível afirmar que a organização da vila auxiliava na manutenção da ordem e disciplina dos brasileiros, distanciandoos dos velhos hábitos rurais e incutindo-lhes novas referências culturais da nova era industrial. (FINGER, 2009) Os novos padrões de higiene, saúde e economia, dentre outros, modificaram o cotidiano das famílias que passaram a viver nas vilas, propiciando as novas gerações serem educadas nas escolas implantadas pelas empresas para controlar a formação dos jovens para que crescessem aptos ao trabalho, sendo inclusive direcionados a isso. Localizada no extremo sul do Município de Santo André, no ponto mais alto da Serra do Mar, a Vila de Paranapiacaba conserva um significativo acervo tecnológico ligado à ferrovia e testemunhos de um modelo arquitetônico e urbanístico bastante avançado para a época de sua implantação. Construída na segunda metade do século XIX, a vila ferroviária nasceu e se desenvolveu a partir de 1860 com a implantação da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, a primeira ferrovia paulista, construída pela companhia inglesa SPR - São Paulo Railway, para escoar a produção cafeeira do Estado de São Paulo ao mercado internacional. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 364 A TRAJETÓRIA A Vila de Paranapiacaba manteve-se por todo século XX com o caráter de vila ferroviária diferenciando-se dos demais núcleos que se desenvolveram junto às estações ferroviárias da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, devido a sua população ter apresentado rápida expansão urbana no início do século, sendo, em 1907 a vila da Estação Alto da Serra, elevada a Sede do Distrito de Paz de Paranapiacaba, segundo distrito do então município de São Bernardo, com aproximadamente dois mil habitantes, porém não houve aumento populacional significativo desde então. Após passar por noventa anos sob a concessão da empresa inglesa SPR – São Paulo Railway, a Vila de Paranapiacaba atravessa por décadas de transições e adequações administrativas que acarretaram em um processo contínuo de degradação do patrimônio e decrescimento socioeconomico da vila resultando no escoamento populacional. Esse processo desencadeou-se em 1946 com a incorporação da ferrovia e todo seu acervo ao Governo Federal que, em 1957, transfere a administração para a Rede Ferroviária Federal S/A sendo administrada de maneira centralizada junto com as demais ferrovias do país, em sua maioria deficitárias ocasionando o início do processo de degradação, este agrava-se pela política governamental incentivadora do transporte rodoviário e da indústria automobilística. No entanto, a maior evasão populacional dá-se na década de 1970, após a substituição do sistema funicular pelo sistema de cremalheira – aderência no trecho de serra, que por possuir uma operacionalidade muito mais simples, dispensa um grande número de operários, alguns relatos indicam que nesta época muitos imóveis da vila foram invadidos por pessoas de baixa renda que buscavam ali uma forma de moradia gratuita. Outro fator que atraiu muitas pessoas de classe baixa para a vila é a questão do não pagamento do fornecimento de água, ressaltando que até hoje, muitos moradores ainda não pagam pelo fornecimento de água em suas residências. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 365 Em 30 de setembro de 1987 a Vila Ferroviária de Paranapiacaba é tombada pelo CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo - como bem cultural de interesse histórico, arquitetônico-urbanístico, ambiental e tecnológico através da Resolução da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo nº 37 incluindo: Vila Velha, Vila Martim Smith, Parte Alta, Conjunto Ferroviário (edifícios e equipamentos férreos existentes) e área natural do entorno (importante parcela da Serra do Mar e seus ecossistemas). Foram apresentados vários projetos e planos de revitalização, porém a situação se manteve quase inalterada após seu reconhecimento. Nos anos 90, com a falta de recursos e a política de privatização da Rede Ferroviária Federal que levaram a sua liquidação, que culminou, novamente, na ocupação irregular dos imóveis tombados em um processo de invasão dos imóveis desocupados agravando o processo de degradação do patrimônio, neste momento a Vila de Paranapiacaba é comprada pela Prefeitura Municipal de Santo André. Posteriormente a sua compra, a Vila de Paranapiacaba, é tombada pelo órgão de defesa nacional – IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 2002 e no ano seguinte o município reconhece o patrimônio com o tombamento pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André – COMDEPHAAPASA. Entre 2003 e 2007 foi considerada pela World Monuments Fund3 um dos cem patrimônios mais importantes do mundo em risco. Em 2008 Paranapiacaba tornou-se o primeiro patrimônio cultural paulista e também o primeiro patrimônio industrial ferroviário brasileiro a compor a lista indicativa do IPHAN ao título de Patrimônio da Humanidade da UNESCO, porém a sua candidatura foi retirada, em 2010, pela então Administração Municipal, devido a falta de investimentos para a recuperação da Vila. 3 WMF – World Monuments Fund é uma fundação independente com sede em Nova York que atua em todo o mundo, preservando patrimônios históricos e culturais através de parcerias com governos e iniciativas privadas. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 366 O atual Sistema Paranapiacaba, constituído pelos equipamentos ferroviários, funiculares, vila operária e entorno ainda sofre séria e contínua descaracterização, em razão do abandono ocorrido. A vila apresenta um panorama de falta de investimentos, além de uma grande deficiência de equipamentos urbanos para atendimento da demanda turística. Após sua compra pela Prefeitura Municipal de Santo André, em 2002, foi implantado o Programa de Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável de Paranapiacaba, intensificando-se o processo de recuperação desse patrimônio, compreendido e gerido, desde então, como paisagem cultural. O patrimônio compreendido como “paisagem cultural” sistematiza a abordagem à preservação de porções do território, sítios, cidades ou paisagens, considerando a multidisciplinariedade do patrimônio e pressupondo a integração de vários aspectos antes enfocados isoladamente em conceitos como patrimônio cultural, natural, imaterial, patrimônio ambiental urbano. Costura conceitos de memória e história aos conceitos da geografia, antropologia e urbanismo e pressupõe a ação integrada do planejamento urbano e gestão territorial com as políticas culturais, ambientais, econômicas e sociais. O conceito de paisagem cultural utilizado pelo Comitê do Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1992 e sistematizado pela Recomendação R(95) do Conselho da Europa em 1995, amplia significativamente o conceito de patrimônio na medida em que reúne, articula e integra conceitos e objetos de diversos campos disciplinares e por isso torna bastante complexa a gestão do patrimônio, requerendo a revisão, adaptação e a reformulação das políticas de preservação vigentes, como desenvolvido em Paranapiacaba nesse período. Com isso, foram executadas várias ações pontuais de preservação e restauro em toda a Vila, como é o caso da Casa Fox que pertenceu aos dois mais importantes engenheiros da época. Estes edifícios fazem parte do conjunto de casas selecionadas em lei como imóveis representativos de cada tipologia arquitetônica e designados como “Exemplares de Tipologias Residenciais”. O objetivo foi destacar o valor documental e cognitivo do projeto ou construção __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 367 original, sem que fossem modificados, permitindo assim que nos demais imóveis de uso residencial e comercial fossem realizadas intervenções sem a descaracterização conforme normas do tombamento. Estes edifícios, também, foram destinados à visitação pública e, por isso, passaram a abrigar os espaços expositivos que compõe o roteiro do “Circuito Museológico”. Baseado na concepção de “Museu a Céu Aberto”, a história da Vila é exposta na casa de tipologia C, conhecida como “Castelinho”. O patrimônio natural é exposto no Centro de Visitantes do Parque, um exemplar de Casa de Engenheiro. O patrimônio humano está na Casa da Memória, um exemplar da casa Tipo A (para famílias pequenas de operários). O patrimônio arquitetônicourbanístico está no CDARQ – Centro de Documentação de Arquitetura e Urbanismo, em um conjunto de casas Tipo E (para operários menos graduados). Após um longo período de degradação devido aos avanços das locomotivas e linhas férreas, assim como, da construção das rodovias – outro meio de transpor a serra – causou um grande impacto socioeconômico que levou seus moradores a buscarem outras fontes de renda e automaticamente mudarem para os centros urbanos maiores, provocando o esvaziamento da população ferroviária residente na Vila de Paranapiacaba o que proporcionou um agravamento da degradação do patrimônio arquitetônico e da conservação da área natural. Neste cenário a Vila é reconhecida como patrimônio histórico e cultural, sendo tombada nas três instâncias: municipal, estadual e federal, mas sofre com a invasão de vários imóveis e da área natural no entorno da Vila, descaracterizando ainda mais o patrimônio em questão. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 368 OS PLANOS Inicia-se em 1999, com a solicitação da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal de Santo André ao Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME), pertencente ao Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) a elaboração do “Plano de Desenvolvimento Sustentável da Vila de Paranapiacaba” que visou à caracterização da vila e a definição do potencial físico e natural. “A prefeitura buscava a elaboração de cenários alternativos, visando estabelecer um programa de ações que levasse ao desenvolvimento social e econômico da vila e de sua comunidade de moradores, respeitando sua singularidade. Utilizando o conceito de “desenvolvimento sustentável”, a prefeitura buscava indicar uma recuperação física e econômica para a vila a ser encarada de forma ampla, isto é, articulando a gestão do poder público na condução do processo, com a participação da iniciativa privada, para o alcance das diretrizes estabelecidas pela prefeitura de Santo André.” (LUME, 1999) Foi a partir deste ano, 1999, que a Prefeitura Municipal de Santo André intensificou sua preocupação com o patrimônio e passa a adotar gestões para adquirir a parte da Vila de Paranapiacaba de propriedade da Rede Ferroviária Federal SA, sua aquisição acontece somente em 2002 com a compra por dois milhões e meio de reais. Ao assumir, a Prefeitura Municipal de Santo André, implanta uma série de políticas e projetos públicos para reestabelecimento de um poder central articulador e a formação heterogênea da população, com o objetivo de buscar a preservação da qualidade dos mananciais e do patrimônio histórico, artístico e cultural da Vila de Paranapiacaba. Neste processo, em 2001, foi criada a Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense, que viabilizou a implantação de uma gestão municipal descentralizada com o intuito de articular as políticas de desenvolvimento urbano, econômico e social, focando a preservação do patrimônio, além de promover a participação comunitária. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 369 Para tanto, dentro desta política de desenvolvimento estratégico do município de Santo André, foi apresentado o Plano Patrimônio de Paranapiacaba, como documento prévio necessário para a inclusão da vila no cenário turístico nacional. “O Plano Patrimônio de Paranapiacaba formula a estratégia de futuro, a partir da análise dos recursos existentes e propõe estratégica a curto, médio e longo prazo e as ações, considerando a importância do Patrimônio Ferroviário, Arquitetônico, Ambiental, Cultural e Social representados na Vila de Paranapiacaba.” (PMSA, 2001 apud MORETTO, 2005) O Plano Patrimônio nasceu da necessidade de mudança de alguns paradigmas e que as ações deveriam ter como referência o desenvolvimento local, a sustentabilidade e a participação comunitária. Com isso, adotou-se como conceito de desenvolvimento: “a promoção da melhoria qualitativa das condições de vida da população de um local específico, associada à idéia de transformação das estruturas produtivas para torná-las mais eficientes e, dessa forma, mais apropriadas à geração de riqueza” (Barbieri, 2000 apud MORETTO, 2005). Já para desenvolvimento sustentável foi adotada a definição dada pela Comissão Brundtland: “desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades”. (PMSA, 2001) Em 2001 o Plano Patrimônio foi estruturado em três etapas: implantação, qualificação e formalização dos empreendimentos e empreendedores. Porém, somente em 2003, o plano é sistematizado e elaborado um diagnóstico dos atrativos turísticos e dos produtos potenciais, foi criada a logomarca turística de Paranapiacaba e diversos programas de incentivo à fixação dos moradores e à inserção da população local ao programa de turismo, tais como, o programa Portas Abertas, Fog & Fogão, Bed and Breakfast e o Atelier-Residência. Ainda em 2003, foi criado o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba que tornou-se o principal produto ecoturístico, oferecendo vários atrativos, entre eles trilhas e __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 370 arborismo. Em continuidade ao Plano Patrimônio no intervalo de 2005 a 2008 foi desenvolvida a segunda etapa com a criação do Programa de Qualificação dos Serviços Turísticos e a Certificação 5º Patamar, oferecendo aos empreendedores e moradores um conjunto de cursos abordando os temas de educação ambiental, educação patrimonial e educação para o turismo e empreendedorismo. Com a preocupação de preservar o patrimônio, em dezembro de 2007 a Prefeitura Municipal de Santo André, aprovou a Lei Municipal 9.018 denominada ZEIPP – Zona Especial de Interesse do Patrimônio de Paranapiacaba que articula diretrizes de preservação do patrimônio cultural com o desenvolvimento urbano, econômico e social. A ZEIPP setorizou a Vila de Paranapiacaba em quatro núcleos de planejamento urbano: Parte Alta, Parte Baixa, Ferrovia e Rabique e estabelece um zoneamento criando áreas de prioridade residencial e áreas em que a atividade comercial e turística são prioritárias, com o intuito de diminuir os conflitos de vizinhança, também fixou o estoque habitacional dos imóveis públicos da Parte Baixa em cinquenta por cento. Além disso, foram criados novos parâmetros de urbanísticos para ocupação dos lotes, taxa de permeabilidade, níveis de incomodidade por emissão sonora e diretrizes de incentivo para a preservação das edificações. Esta lei preocupou-se, ainda, em determinar a elaboração e implantação de planos e projetos específicos, tais como: o Plano de Desenvolvimento Turístico Sustentável, Plano de Melhoria do Saneamento Ambiental, Projeto de Energia Elétrica e Iluminação Pública e Programa de Prevenção e Combate a Incêndio. A ZEIPP estabeleceu, ainda, que o Plano de Melhoria do Saneamento Ambiental deve contar com no mínimo coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana, abastecimento de água e coleta, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 371 Em atendimento a ZEIPP, em 2007, o Plano Patrimônio foi revisado com base em suas diretrizes, gerando o Plano de Desenvolvimento Turístico Sustentável – PDTUR, que reavalia os atrativos e segmentos turísticos a serem priorizados na Vila de Paranapiacaba, assim como propõe um plano de infraestrutura turística articulado às diretrizes urbanas de preservação estabelecidas na lei, um plano de comunicação e um plano operacional. (FIGUEIREDO, 2011) Neste momento, a participação dos moradores junto às decisões da administração municipal tornou-se fundamental na gestão adotada, para tanto foram criados órgãos de representação como o Conselho de Representantes, Câmaras Técnicas e comissões, além do Conselho do Orçamento Participativo. As políticas de desenvolvimento social e econômico focou ações de qualificação profissional para os moradores da Vila, o desenvolvimento de pequenos empreendimentos e a organização da comunidade em associações, cooperativas ou grupos informais. Enquanto a gestão de patrimônio organizou e regulamentou o uso e ocupação dos imóveis, que foi possível com a aprovação da ZEIPP. Com a aprovação da lei da ZEIPP foi possível iniciar a implementação da terceira e última etapa do plano de turismo que compreendia a formalização e regularização dos empreendimentos turísticos, objetivando à adequação destes às normas legais vigentes como, por exemplo, dos empreendimentos às normas legais existentes, como, por exemplo, a adequação às exigências da vigilância sanitária, ao código de obras municipal e à legislação exigida para o funcionamento de empreendimentos comerciais e prestação de serviços, além da formalização do trabalhador. (FIGUEIREDO, 2011) O último passo foi a adequação da infraestrutura existente considerando as necessidades atuais e as limitações devido ao tombo para a não descaracterização do conjunto. Em 2013, o Governo Federal promoveu o Programa de Aceleração do Crescimento __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 372 Cidades Históricas (PAC) que teve como finalidade atender cidades com sítios ou conjuntos urbanos tombados em nível federal, que tenham elaborado Plano de Ação junto ao IPHAN em atendimento à Chamada Pública nº12 (DOU, 25/05/09). Desta forma, os critérios de seleção para atendimento foram: “a) As cidades declaradas Patrimônio da Humanidade, integrantes da Lista do Patrimônio Mundial, organizada pela Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; b) As cidades detentoras dos maiores conjuntos urbanos em situação de risco ao patrimônio cultural edificado; e c) As cidades detentoras de conjuntos urbanos que constituam marcos no processo de ocupação do território nacional.” (IPHAN, 2013) A Vila de Paranapiacaba em atendimento as exigências acima descritas apresentou seu Plano de Ação através da Secretaria de Gestão de Recursos Naturais de Paranapiacaba e Parque Andreense. Este foi estruturado em quatro eixos estratégicos de ação para restauro e preservação: • Restauro dos imóveis representativos do modo de vida inglês e do patrimônio ferroviário: galpão ferroviário, garagem das locomotivas, oficina de manutenção, almoxarifado da antiga São Paulo Railway, sede a Associação Recreativa Lyra da Serra (cinema), campo de futebol, reconstrução do imóvel incendiado na região do Hospital Velho e a reforma da fachada prédio da atual biblioteca, instalada em uma casa de engenheiro reconstruída após incêndio; • Requalificação dos espaços públicos, com a recuperação e adaptação das estruturas de drenagem e esgoto, baseado no projeto original de 1906, do engenheiro inglês William Sheldon, calçamento da Rua Schnoor com faixa de acessibilidade, conforme estudo já realizado e aprovado pelos órgãos de defesa do patrimônio, entre outras; • Restauro do conjunto edificado da Vila Martin Smith, casas de madeira e alvenaria em __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 373 situação de risco; • Elaboração de dossiê para solicitação do registro de Paranapiacaba como patrimônio da humanidade junto à UNESCO – retomada da candidatura. Da proposta inicial da Prefeitura Municipal de Santo André, foi aprovado pela Governo Federal e disponibilizado uma receita para restauração dos itens: restauro dos imóveis representativos e restauro do conjunto edificado da Vila Martin Smith, desta forma a PMSA fica responsável em apresentar aos órgãos de preservação municipal, estadual e federal projetos executivos de restauro dos objetos em questão para aprovação e posterior execução. Até a data deste artigo não foram finalizados os projetos para aprovação. CONSIDERAÇÕES FINAIS Paranapiacaba é exemplar das dinâmicas e manifestações dialéticas da história como comentadas anteriormente. A Vila Ferroviária de Paranapiacaba juntamente com seu entorno registram o descompasso e a ruptura entre o novo e o antigo, exemplo de momento histórico da modernidade, hoje transforma seus espaços na tentativa de sobrevivência, como por exemplo, as pequenas casas dos operários que funcionam como restaurantes para atender a demanda turística, caminho este escolhido pela atual administração pra proporcionar desenvolvimento socioeconômico a Vila. Esta mesma Vila, ao longo de sua história mostrou, nas suas três faces de seu território, seja pela democracia sociocultural do convívio de grupos de pessoas tão distintos, como por exemplo, em termos de origem social, situação financeira, cultura ou mesmo língua usufruindo dos mesmos espaços públicos e equipamentos urbanos; seja pela convivência pacífica dos __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 374 imigrantes e brasileiros católicos e ingleses em mesmo território. Ou ainda pelo aspecto formal da rigidez da urbanização inglesa contrária a "liberdade" da ocupação espontânea portuguesa. O ambiente urbano da vila é demarcado, ainda, pela permeabilidade visual e a estética da higienização – provinda da necessidade de manutenção constante devido a localização isolada das aglomerações urbanas. Seu traçado foi projetado a partir da priorização das habitações devidamente hierarquizadas e articuladas ao centro de trabalho por um sistema de circulação bem definido. Suprindo as necessidades dos moradores, complementou-se esta estrutura com os equipamentos urbanos institucionais e de lazer ao centro ou ao lado do território oposto a área de trabalho. A Vila de Paranapiacaba passou seus primeiros noventa anos como uma vila operária sob a administração dos ingleses através da SPR, após a saída dos ingleses passou por um longo período de transições administrativas até ser adquirida pela Prefeitura do Município de Santo André, que através da implantação de políticas públicas de gestão do território cria uma nova vocação econômica para a região: turismo histórico e ecológico e, por consequência, sua cadeia de prestação de serviços. Neste cenário a Administração Municipal, através de uma proposta de revitalização da Vila de Paranapiacaba, atraiu investimentos de empresas privadas para o patrocínio do restauro e melhorias necessárias para o cumprimento da redestinação econômica focada ao turismo, entre as empresas é relevante o patrocínio da Petrobrás que viabilizou o restauro do Clube União Lyra Serrano e a sinalização e instalação do circuito de arborismo no Parque Municipal Nascentes de Paranapiacaba e o da WMF – World Monument Found que proporcionou o restauro dos imóveis Casa do Engenheiro (conhecido como Castelinho) e a Casa Fox. Com isso a prefeitura atraiu, também diversos empreendedores que instalaram seus negócios na Vila o que contribuiu para a recuperação dos imóveis. (MORETTO, 2005) Desta maneira, a preocupação maior está em conjugar a política de preservação ao __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 375 processo dinâmico de desenvolvimento das cidades, o que implica necessariamente em não impedir a mudança, mas em direcioná-la e, portanto, trabalhar na perspectiva do desenvolvimento e preservação sustentáveis. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CYRINO, Fábio. Café, ferro e argila: a história da implantação da The San Paulo (Brazilian) Railway Company Ltd através da análise de sua arquitetura. São Paulo: Landmark, 2004 FINGER, Anna Eliza. Vilas Ferroviárias no Brasil. Os casos de Paranapiacaba em São Paulo e da Vila Belga no Rio Grande Grande do Sul. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade de Brasília, Brasília, 2009 MAZZOCO, Maria Inês Dias; SANTOS, Cecília Rodrigues Dos. De Santos a Jundiaí: nos trilhos do café com a São Paulo Railway. São Paulo: Magma Editora Cultural, 2005 MEYER, Regina M. P. (coord.). Plano de Desenvolvimento Sustentável da Vila de Paranapiacaba. São Paulo: LUME USP, 1999. MORETTO Neto, Marco. Protagonismo comunitário em Paranapiacaba: o impacto das ações governamentais no desenvolvimento socioeconômico e comunitário de Paranapiacaba, no período de 2001 a 2004. Dissertação (Mestrado em Administração). IMES, São Caetano do Sul, 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, Memorial da ZEIPP - Zona Especial de Interesse do Patrimônio de Paranapiacaba. Santo André. Prefeitura de Santo André, 2005 ______, Plano de Desenvolvimento Turístico Sustentável de Paranapiacaba. Santo André. Prefeitura de Santo André, 2008 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 TERRITÓRIOS HÍBRIDOS REFLEXÕES SOBRE O CONTEMPORÂNEO RESUMO O presente artigo tem por objetivo entender a cidade e os seus espaços de intersecção entre o público e privado no contemporâneo. Partido do entendimento da fluidez da era contemporânea e ausência de bordas disciplinares rígidas, a análise crítica toma de empréstimo o registro da cidade contemporânea através artes plásticas, com intuito de ampliar a percepção, receber estímulos de reflexão e contaminar a disciplina da Arquitetura e Urbanismo com percepções provindas de outras áreas. O artigo vai analisar duas produções da arte contemporânea recentes: o vídeo da música ‘Queremos paz’ do grupo de Tango eletrônico Gotan Project e os projetos fotográficos de Michael Wolf. Palavras-chave: Cidade contemporânea, Território Híbrido, Arte Contemporânea, Gotan Project, Michael Wolf, ABSTRACT This paper aims to understand the city and its spaces of intersection between public and private in contemporary.From the understanding of the fluidity of the contemporary era, and the absence of rigid disciplinary borders. The critical analysis borrows the record of the contemporary city through arts, aiming to broaden the perception, receive stimuli for reflection and contaminate Architecture and Urbanism area with insights coming from other areas. The paper will examine two recent productions of contemporary art: the music video ‘Queremos paz’ of the Gotan Project group and photographic projects of Michael Wolf. Key words: Contemporary City, Hybrid Territory, Contemporary art, Gotan Project, Michael Wolf, 377 TERRITÓRIOS HÍBRIDOS REFLEXÕES SOBRE O CONTEMPORÂNEO Janaína Stédile1 INTRODUÇÃO Tradicionalmente na disciplina de Arquitetura entendemos o público e privado, em oposição e como duas zonas bem demarcadas. Quando se olha as construções e os assentamentos humanos vernaculares, bem como os espaços projetados bem sucedidos se percebe que estes conceitos não são rigidamente demarcados e que dependem das suas interelações com o entorno e de usos temporais. Vamos nomear estes espaços como territórios híbridos. O território híbrido prescinde da análise dos objetos em essências, mas das relações entre eles, é neste momento de diálogo que o hibrido acontece. Quando se estabelece que o evento esteja no diálogo, o objeto único flexibiliza seu espaço mono para o acontecimento da(s) relação(s) produzindo adequação e coexistência. Portanto o híbrido é algo e ao mesmo tempo e /ou potencialmente outro algo. O estudo desses espaços ambíguos podem nos ajudar a responder a questão central: Como a arquitetura, uma disciplina sólida e auto- referenciada vai responder as questões contemporâneas fluídas e liquidas? Em geral, os levantamentos arquitetônicos tradicionais dos territórios se concentram em produzir mapas que registram números. Por exemplo, podemos produzir um mapa que graficamente nos diz o tipo de construção em terminado território (quantas 1 Arquiteta, Universidade Presbiteriana Mackenzie, R. da Consolação, 930 - Consolação São Paulo - SP, 01302-907 (11) 2114-8000. [email protected] __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 378 casas, quantos edifícios comerciais, industriais, etc.). Porém, no geral, estes levantamentos se esquecem de agregar o valor qualitativo de uso. No sentindo de registrar o uso diário e cotidiano dos espaços e a percepção da população com relação a eles. Partindo do princípio que vamos nos debruçar em espaços de flexibilidade e ambigüidade, o registro da arte contemporânea no ambiente urbano, nos dá possibilidade de um mapeamento qualitativo sem bordas. O intuito destes tipos de registro não é mesurar algo, mas mostrar uma possibilidade de percepção. Segundo Koolhaas “O papel do Arquiteto na modernidade é produzir metáforas capazes de ordenar e interpretar a realidade metropolitana convertendo-a em conhecimento social.” (Koolhaas, 2010 p.36) No passo anterior de produzir metáforas, vamos nos utilizar delas para o entendimento da realidade urbana contemporânea. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 379 GOTAN PROJECT E O TANGO ELETRÔNICO Gotan Project é um projeto artístico de três músicos: Philippe Cohen Solal (francês), Eduardo Makaroff (argentino) e Christoph H. Müller (suíço); que se propõe a fazer tango eletrônico. O vídeo a ser analisado é abertura do documentário do concerto intitulado La Revancha del tango, executado em Buenos Ayres. Tanto os discos do projeto quanto os vídeos são produzidos pelo selo independente ¡Ya Basta!. O vídeo começa com imagens difusas que se mantem alguns segundos em tela. Não percebe-se ainda do que se trata. Ao poucos começamos ouvir sirenes, buzinas, na sequencia se ouve em primeiro plano: apitos e tambores ritmados: sinais de uma manifestação política de rua tipicamente latino-americana. Logo ouvimos uma mulher clamando em espanhol portenho: “Não fure a fila companheira, por favor!” Somam-se aos sinais uma gaita de tango. E tão logo, um discurso que dá o nome à canção: Queremos paz. Fig 1. (Stédile, J. a partir de fonte: https://www.youtube.com/watch?v=1ODkkp49EgU) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 380 O discurso é contaminado pelo desenvolvimento da música. Escutam-se apenas fragmentos do discurso: uma hora colocado em destaque, outra hora mesclado com a música e muitas vezes sobrepujado por ela até desaparecer. Sua presença, mesmo quando ausente nos dá o tempo. As imagens ficam mais fluídas, se percorre uma grande via expressa, que nos leva a cidade, campo e cenário dos acontecimentos. Vê-se o caminho percorrido através das lentes que são as janelas do automóvel e na velocidade que pertence ao mesmo. A janela filtra, interfere, mostra pingos da chuva (figura 1-A) e mareiam a visão (figura 1_B). Não podemos dizer com certeza em que ponto do percurso se está. A lente do automóvel mescla informações e as transforma bem como a velocidade nos enviam informações rápidas e vagas. Entramos na cidade, uma placa nos diz Buenos Ayres (Figura 1-C). A cidade aparece recortada pela luz (figura 1-D e 1-E). Não importa mais o traçado que induz a perspectiva Hausmaniana, os pontos focais da cidade são o quê iluminamos. Agora agregamos o espaço em que o tempo se desdobra. “Uma característica da vida moderna e de seu moderno entorno se impõe, no entanto, talvez como a “diferença que faz a diferença”; como atributo é a relação cambiante entre espaço e tempo.” (Bauman, 2001, p.15) AMÉRICA DO SUL, ARGENTINA, BUENOS AYRES. DÉCADA 00. As imagens da cidade se mesclam com as da cultura do tango, o vintage em preto e branco o romântico e particular, a cultura local. Em uma terceira fase do desenvolvimento somamse a essas imagens numa escala maior os músicos tocando. Mais um passo e entende-se que são quatro sobreposições de imagens: o vídeo é o registro do concerto, agora se vê o público em um primeiro plano assistindo os músicos que tocam em tempo real, projetados no telão que exibe a sobreposição de imagens da cidade. (figura 1-F). As falas e os discursos dos Argentinos sempre estão lá ao fundo: ausentes e presentes. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 381 MICHAEL WOLF_ LIFE IN CITIES. Michael Wolf é um fotógrafo alemão, criado nos estados unidos e Canadá, voltou à Alemanha para estudar fotografia com Otto Steinert e passou grande parte da sua carreira na Ásia, em especial em Hong Kong. Um dos seus principais trabalhos é tem uma série de temas fotográficos reunidos em um projeto maior chamado Life in cities (vida na cidade). Escolhemos para análise os seguintes temas fotográficos: Architecture of density (Arquiteura da densidade), 100x100, Tokyo compression (Compreensão toquiana), The box men of Shinjuku station ( Os homens caixa da estação Shinjuku), Transparent city (Cidade da transparência) e Lost laundry (Roupas lavadas perdidas). O trabalho de Wolf nos traz esse registro da realidade, quase como fotojornalismo. Seus registros de determinadas condições metropolitanas são numerosos, não atoa. São registros não de eventos, mas de situações repetitivas, que se consolidam como práticas urbanas. No seu site ele organiza as fotos por temáticas e de maneira individual, mas também forma painéis colocando as fotos lado a lado, como pode ser visto nas figuras 2 à 4 . Demonstrando claramente a regularidade e constância das situações. A maior parte das suas fotografias demonstra o ser humano se relacionando com o espaço. Porém não é o espaço e o tempo construído por ou para essas pessoas, são os dois elementos conjugados impostos a elas. “(...) Ordenamento do espaço segundo as exigências do modo de produção (capitalista), ou seja, da reprodução das relações de produção.” (Lefebvre, 2008 p. 21). Ou seja, o modo de produção determina o espaço e o tempo urbano, impondo condições e situações às pessoas prescindindo de flexibilidade e adequação. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 382 ARCHITECTURE OF DENSITY (ARQUITETURA DA DENSIDADE) O grande tema dessa série de fotografias são as habitações populares chinesas. Enormes e altos edifícios, repetitivos e pobres na solução construtiva e urbana. O autor dirige o olhar e expõe a sensação do local ao recortar a imagem de maneira em que não se vê nem o térreo nem o topo do edifício, dando uma sensação sufocante do que seria viver nestes lugares. Ao mesmo, deslocando as edificações de qualquer referência ao local, clima, ou cultura. Não se sabe novamente, como no início do vídeo do Gotan Project onde se está, apenas considera-se o ambiente urbano, como nota-se na figura 2. A Arquitetura da densidade é quase uma caricatura dos ambientes urbanos no século XXI, se não fosse verdadeiro, real e uma produção que se desenvolve em progressão geométrica. Tão comum, como viver nas cidades. Fig. 2 Fonte: http://photomichaelwolf.com/ acessado em 17.06.2013 100 X100 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 383 As imagens que nos deparamos em Architecture of density nos levam a imaginar como vivem as pessoas que habitam esses edifícios? Quase que imediatamente nossa curiosidade nos leva a percorrer a segunda série de imagens: 100X100. 100X100 é o registro de minúsculas unidades habitacionais em Hong Kong e como as pessoas se apropriam desse espaço. Os apartamentos, além muito pequenos, não têm nenhuma variação de desenho, ou elemento arquitetônico que agregue valor. É de fato o mínimo do mínimo. A flexibilidade está dada apenas pelo quadrado em branco sem divisórias que possibilita os moradores a ocupar de maneira mais personalizada estes espaços tão estéreis. Na maneira em que a população organiza seus parcos mobiliários em espaço tão módico, demonstra uma grande criatividade organizativa, flexível e poli funcional, como podemos ver na figura 3. A potencialidade de criar um espaço multifuncional na escala da habitação é castrada pela precariedade da mesma. Fig. 3. Fonte: http://photomichaelwolf.com/ acessado em 17.06.2013 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 384 TOKYO COMPRESSION (COMPRESSÃO TÓQUIANA) Tokyo Compression é uma série realizada no metro de Tóquio. A fama da cidade e do país de espaços mínimos por conta de sua situação territorial reduzida, nos leva quase ao pensamento equivocado de que supostamente deveria ser assim. Entretanto este conjunto de imagens poderia ser feito no metro de São Paulo, ou quaisquer outras grandes metrópoles. O que está posto aqui é uma condição perversa que envolve novamente a relação entre tempo e espaço. “O tempo adquire história uma vez que a velocidade do movimento através do espaço (diferente do espaço eminentemente inflexível, que não pode ser esticado e que não encolhe) se torna uma questão de engenho, da imaginação e da capacidade humana.” (Bauman,2001,p.16) A cidade contemporânea tem como grande mote a questão dos transportes, ou seja, do deslocamento já que a cidade é organizada através do pensamento produtivo fordista, da linha de produção. A cidade é setorizada por zoneamentos em função da atividade, e este contexto pressupõe, por tanto, o deslocamento no território para desenvolver atividades diferentes. Nas figura 4 observamos não só as pessoas espremidas num espaço exíguo, mas dormindo, cansadas e completamente anestesiadas. Não é só uma questão de transporte público de qualidade. É a imposição dos deslocamentos, quase como instrumento ideológico de alienação. Alienação com relação à vida cotidiana, o espaço e o próprio tempo. “A produção do espaço tende hoje a dominar a prática, sem alcançar tal propósito, dada as relações de produção. Elas correspondem às forças produtivas. Ela supõe o emprego de forças produtivas e das técnicas existentes (...) portadores inevitavelmente de ideologias e de representações, sobretudo de representações espaciais.“ (Lefebvre, 2008 p. 139) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 385 Fig. 4. Fonte: http://photomichaelwolf.com/ acessado em 17.06.2013 O deslocamento nas grandes cidades é o tempo perdidos entre dois territórios. Se houvesse flexibilidade no tempo de produção, teríamos a possibilidade de ganho de qualidade de vida espacial, de maneira que os deslocamentos aconteceriam como uma escolha e não como uma imposição. Mas que isso o locais poderiam ser ocupados não em função do tempo (cidade-dormitório, o tempo de dormir, centros empresariais/o tempo do trabalho), mas em função de uma escolha de “habitar” ou experimentar determinar local. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 386 “ O que nos leva ao ‘fim da história’, da ‘pós-modernidade’, da ‘segunda modernidade’ e da sobremodernidade, ou a articular a intuição de uma mudança radical no arranjo do convívio humano e nas condições sociais sob as quais a política- vida é hoje levada, é o fato de que o longo esforço para acelerar a velocidade do movimento chegou a seu ‘limite natural’. O poder pode se mover com a velocidade do sinal eletrônico- e assim o tempo requerido para o movimento de seus ingredientes essências reduziu à instantaneidade. Em termos práticos, o poder se tornou verdadeiramente extraterritorial, não mais limitado, nem mesmo desacelerado, pela resistência do espaço. (...)”.(Bauman,2001 p.18) THE BOX MEN OF SHINJUKU STATION (OS HOMENS CAIXAS DA ESTAÇÃO SHINJUKU) Essa é uma série de fotografia que registra a população de rua de Tóquio que dorme dentro da estação em caixas de papelão, como demonstra a figura 5-A. Talvez essa seja a série mais jornalística, Wolf não recorta as imagens, não enquadra na mesma posição. São registros simples de uma situação urbana vulgar: as pessoas sem moradia dormindo no espaço público. Se pensarmos que a criatividade humana poderia resolver esta questão também de maneira muito simples e com pouco recurso, se atravessássemos o mar da solução estática e imóvel (a casa própria), e pudessem propor habitações (abrigos) de caráter temporário que pudesse incorporar a situação provavelmente transitória dessas pessoas. “Alivia muito a tarefa de o arquiteto pensar nesse pequeno grupo de edifícios como, antes de mais nada, uma acomodação permanente de atividades provisórias. Não precisamos mais andar em busca de um rígida coincidência entre forma e programa (...)” (Koolhaas, 1995,p102) Poderíamos dar um passo adiante na mesma direção da reflexão de Koolhaas desconectando soluções fixas e estáveis para problemas urbanos. Não atoa que elas simbolicamente se abrigam na estação, espaço de trânsito. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 387 Fig. 5. (Stédile, J. a partir de fonte: http://photomichaelwolf.com) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 388 TRANSPARENT CITY (CIDADE TRANSPARENTE) Wolf se desloca e aterrissa em Chicago para registrar outra situação da cidade contemporânea a vida na caixa de vidro de ambiente controlado. O título diz mais a respeito de como ele produziu a série, menos do que ela em si significa. A cidade não é realmente transparente, é espelhada. Porém, existe o lapso, entradas, vãos em que se pode ver um pouco da vida alheia, como demonstra na linha b da figura 5. Vendo as fotos identificamos os apartamentos e escritórios como ilhas isoladas com controle ambiental. Se as janelas são espelhadas de fora os prédios se refletem, por dentro o ar e a luz são artificiais, porque a construção não permite a interação com que é natural. É o solo criado e ausência do direito ao térreo, a luz natural, as intempéries. Não é só mais a questão do direito à cidade e o usufruto de suas beneficies, é o direito ao natural. Estes espaços fotografados são células, como as habitações chinesas, mas desta vez mono funcionais em edificações isoladas multifuncionais, repetitivas e desconectadas do território. Aqui os edifícios, são como monumentos do sucesso moto-contínuo do capitalismo. Não são angustiantes como as habitações chinesas, apesar de suas dimensões serem bem parecidas. São belos, passíveis de apreciação, permite o reflexo de outros monumentos e a interação com a luz. É a cidade narcísica que se admira dos seus feitos, mas que outra vez coloca o ser humano apenas como um dado, uma engrenagem. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 389 LOST LAUNDRY (ROUPAS LAVADAS PERDIDAS) Essa temática me pareceu a mais curiosa de todas. As demais ilustram temáticas bem conhecidas daqueles que discutem a arquitetura e urbanismo: os problemas da Habitação popular (falta de qualidade em Architecture of density e déficit no caso de os The box men of Shijuru Station); o deslocamento transporte (Tokio compression), ou a ausência do comunitário e do ambiente natural (Transparente City). Essa série chamada atenção para uma camada não-observada da cidade: o quase térreo. O território das marquises e fiações. Os não-lugares urbanos desprendidos do térreo. Não são lugares de abandonos, são lugares que passaram a existir com o desenvolvimento das cidades, mas que ninguém os percebem, não-lugares de nascença, são nati-mortos. (fig. 5 linha c) A atenção levada a estes locais foi dada por uma simples consequência da vida urbana. Como as pessoas não têm mais direito ao solo e ao ambiente natural, uma das atividades doméstica fortemente ligada a estes dois elementos é a secagem da roupa lavada que passa ser feito por máquinas ou em pequenos varais na janela. Só que a janela dos famosos varais italianos está muito perto do solo, em Hong Kong não. As roupas caem, mas não conseguem atingir o solo para mais tarde serem recuperadas, elas ficam aprisionadas neste não-lugar. Como as demais séries, este não é o registro de um evento. São milhares de fotos de roupas perdidas, sem dono, irrecuperáveis. Formando um cenário bizarro e chamando a atenção para um espaço órfão. Talvez chegue um dia em que elas sejam tantas que demandem que chamem a atenção de outrem que não o fotográfo ou formem algo mais inusitado ainda uma cobertura urbana de roupas, como o Balão de roupas do Barão de Münchhausen que escapa de maneira fantástica do inimigo. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 390 CONSIDERAÇÕES FINAIS O território híbrido é ausência ou fraqueza de bordas. Podendo ser estas disciplinares, físicas ou de olhares. Portanto ele pressupõe flexibilidade, adequação e coexistência. Em geral, o território híbrido na metrópole é produto de lapsos e falhas do sistema, que possibilita a atuação e interação das pessoas com o ambiente construído desregrado ou sem controle rígido. Nas cidades menores ou meio rurais, ele aparece espontaneamente, como lacuna. É um espaço que permite o preenchimento e o esvaziamento eventual. É uma coisa em um determinado tempo e potencialmente outra que pode ser dar conjuntamente ou em outro momento. Permitem a coexistência de duas ou mais funções e principalmente favorecem ou incentivam a coexistência entre pessoas. Logo, entende-se que as futuras boas intervenções urbanas deveriam agregar o valor dúbio, flexível e coexistente. Assim, estaríamos mais próximos de proposições mais humanas, a quem em princípio as cidades e os elementos construídos devem servir. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 391 REFERÊNCIAS Bauman, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. Choi,Esther; Trotter, Marrikka (ed).Architecture at the edge of everything else. Massachusetts: Work Books e MIT Press, 2010. Harvey, David. Rebel Cities. From the right to the city to the Urban Revolution. London: Verso, 2012. Hertzberger, Herman. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999. Lefebvre, Henri. Espaço e Política. Belo Horizonte: UFMG, 2008. Koolhaas, Kem; Mau,Bruce. S, M, L, Xl-Oma. Amsterdam: 010 Publishers, 1995. Koolhaas, Kem. Nova York Delirante. São Paulo: Cosac Naif, 2010. Noesbitt, Kate. Uma nova agenda para a Arquitetura. Antologia teórica (1965-1995). São Paulo: Cosac Naify, 2008. Žižek, Slavoj. O ano em que sonhamos perigosamente. São Paulo: Boitempo, 2012. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 ATUAÇÃO DO SEGMENTO HABITACIONAL DO SETOR IMOBILIÁRIO NA MACROMETRÓPOLE PAULISTA RESUMO Sem a pretensão de esgotar o assunto, nosso objetivo foi de promover uma breve reflexão sobre a Cidade Dispersa por meio da atuação do Segmento Habitacional do Setor Imobiliário. Preliminarmente, partimos do principio de que a cidade deve ser vista como um produto do mercado para podermos entender a valoração do solo urbano e da sua ocupação. Por seu dinamismo econômico, pelo vigor da sua expansão urbana, ao mesmo tempo em que é um território virtual do planejamento estadual, escolhemos a Macrometrópole Paulista para ser o nosso referencial. Este trabalho busca desvendar os critérios e consequências da utilização de velhos instrumentos de parcelamento do solo, sedimentados em uma cultura especulativa gerada, tanto por investimentos públicos, quanto pelo capital imobiliário. Estas duas velhas forças são as responsáveis pelas cidades em que vivemos atualmente e que reproduzem continuamente um modelo que não favorece a qualidade de vida de seus habitantes. Por fim, através das informações obtidas junto ao Graprohab, órgão do governo do Estado que concentra o licenciamento de todos os empreendimentos habitacionais, públicos e privados, foi possível demonstrar a tendência de verticalização nas cidades mais dinâmicas e prósperas como fator determinante para a segregação sócio espacial do solo urbano. Palavras-Chave: Macrometrópole; Cidade Dispersa; Habitação; Mercado. ABSTRACT Without pretending to exhaust the subject our goal was to promote a brief reflection on the Scattered City trough the actions of the residential real state actors. We started from the principle that the city should be seen as a product of the market: so that we can understand the valuation of urban areas and the logic of land occupation. The Paulista Macrometropole was chosen largely because it’s dynamism and very large urban area. It is also a strong political target for urban regulations and incentives. This paper seeks to unravel criteria and consequences of use of old instruments of land division, associated to a speculative culture created by public and private investments. These two ancient forces are responsible for the cities in 393 which we live and reproduce continuously a model that does not help the quality of life of its inhabitants. Finally, using the information obtained from GRAPROHAB, the government agency that oversees licensing for all housing developments, public and private it was possible to demonstrate the trend of vertical integration in the most dynamic and prosperous cities as factor for the socio-spatial segregation in urban areas. Keywords: Megalopolis; Scattered City; Housing; Market __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 394 ATUAÇÃO DO SEGMENTO HABITACIONAL DO SETOR IMOBILIÁRIO NA MACROMETRÓPOLE PAULISTA Lacir Ferreira Baldusco1 José Geraldo Simões Júnior 2 SUMÁRIO 1 - INTRODUÇÃO 2 – METRÓPOLE 3 – DA METRÓPOLE À MACROMETRÓPOLE 4 – SÃO PAULO E A DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 5 - A MACROMETRÓPOLE PAULISTA 6 - O SEGMENTO HABITACIONAL NA MACROMETRÓPOLE 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 1 Arquiteto, Mestre, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rua da Consolação, 930 - Consolação, São Paulo - SP, 01302-907 – E-Mail: [email protected] Telefone: (11) 2114-8792 / Fax: (11) 2114-8435 2 , Arquiteto e Urbanista, Profº. Doutor, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rua da Consolação, 930 - Consolação, São Paulo - SP, 01302-907 – E-Mail: [email protected] Telefone: (11) 2114-8792 / Fax: (11) 2114-8435 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 395 1 - INTRODUÇÃO Sem a pretensão de esgotar o assunto, este artigo tem por objetivo explicitar os métodos e os instrumentos utilizados pelo Segmento Habitacional do Setor Imobiliário na ocupação das área urbanas e periurbanas, na Macrometrópole Paulista. Os dados aqui apresentados traçam o panorama da dispersão urbana na Macrometrópole, por ocasião do processo de verticalização dos municípios centrais, mais especificamente, nas zonas urbanas consolidadas, e pelo espraiamento nas franjas dos seus territórios por meio dos empreendimentos imobiliários horizontais, ou seja, através da implantação de loteamentos e conjuntos habitacionais. Esse processo se configura devido a essa dispersão urbana estar sedimentada em outra base territorial, a metropolitana, e pelo fato de promover o esgarçamento do tecido urbano, acentuando as desigualdades por meio da ilusão de que os novos empreendimentos representam um novo conceito de morar e viver. O conceito pelo qual se produz e se difunde as ideias que visam ocultar os reais processos de produção do espaço urbano desigual, vende a imagem do novo, do ineditismo na forma de morar e viver, quando, de fato, expressa as velhas formas de apropriação do solo urbano. Para tanto, buscamos, como fonte de informações, o Graprohab3 - Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo, colegiado criado em 1991, composto por membros de diversos órgãos do Governo do Estado com o objetivo de centralizar e agilizar os processos de licenciamento dos empreendimentos habitacionais, públicos e privados, no Estado de São Paulo. Sua atuação foi regulamentada através do decreto nº. 52.053, de 13 de agosto de 2007. Dentre outros aspectos, o decreto estabeleceu prazos para manifestação dos órgãos na análise dos projetos, bem como prazos para os interessados atenderem às exigências 3 Graprohab - Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 396 feitas pelo colegiado e definiu quais empreendimentos deverão ser analisados por seus membros. Concentra, em seus arquivos, todas as informações referentes aos empreendimentos habitacionais, públicos e privados do Estado de São Paulo, licenciados desde sua criação. As informações coletadas junto ao Graprohab foram classificadas em duas categorias: condomínios e loteamentos. 1) Condomínios são edificações ou conjuntos de edificações de um ou mais pavimentos (horizontal ou vertical), construídos sob a forma de unidades isoladas ou não, constituindo-se, empreendimentos privados, cada com unidade, sistema por propriedade viário próprio e autônoma. áreas São comuns pertencentes apenas aos proprietários dos imóveis, mantidos pela cobrança das taxas condominiais, sem interferência do poder público. 2) Loteamento é a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação e logradouros públicos. No âmbito territorial, fizemos duas abordagens: No Estado de São Paulo, de forma abrangente e ampla, de maneira quantitativa, com tabelas comparativas e comentários. Na Macrometrópole, de forma mais detalhada, com dados quantitativos e qualitativos, apresentados em tabelas e mapas por município, por região metropolitana e por aglomerados urbanos e regionais, que configuram este segmento territorial. As informações obtidas possibilitaram conhecer o comportamento dos agentes incorporadores, público e privado, na área de condomínios, conjuntos habitacionais e loteamentos do Estado de São Paulo, em especial da Macrometrópole Paulista. Essas informações espacializadas em mapas específicos possibilitaram detectar as tendências da expansão urbana nas diversas regiões que compõem o território da __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 397 Macrometrópole, ou seja, dos 173 municípios articulados que, juntos, concentram 27% do PIB nacional. Portanto, as informações disponibilizadas são estratégicas para entender o processo de expansão urbana na Macrometrópole, bem como a sua tendência e seus desdobramentos. Os dados levantados junto ao Graprohab e consolidados em tabelas e mapas cobrem o período de janeiro de 2007 a dezembro 2012. As informações fornecidas pelo Graprohab cobrem todos os municípios do Estado. Chegam a detalhes como o tipo de empreendimento; o número de unidades ou lotes; áreas do terreno e área construída, quando for o caso; data do licenciamento; identificação do proprietário; localização e região administrativa. Por outro lado, a falta de instrumentos para saber se os empreendimentos licenciados foram ou não implantados de fato, nos faz trabalhar com as tendências do segmento habitacional do mercado imobiliário no recorte territorial, objeto deste trabalho. Para melhor entender o processo, foi necessário buscar, no Graprohab, conceitos e informações complementares sobre a formação e o desenvolvimento urbano e econômico da Macrometrópole Paulista. Essas informações demonstram os reais motivos da expansão do segmento habitacional rumo aos municípios que compõem este território e traçam um panorama das condicionantes físicas, legais e econômicas que levaram esta parcela do Estado de São Paulo a ser um dos principais, se não o principal, eixo de desenvolvimento do Brasil e da América do Sul. Para tanto, abordaremos, de maneira preliminar, o tema da Macrometrópole Paulista em seus mais diversos aspectos e, de maneira mais detalhada e específica, a expansão e o modus operandi do Segmento Habitacional do Mercado Imobiliário. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 398 2 - METRÓPOLE Entende-se por metrópole os novos tipos e arranjos de cidades formadas a partir do desenvolvimento urbano industrial, especialmente a partir da década de 50, que encontrou, nos processos de aglomeração urbana, as condições historicamente necessárias para o crescimento econômico capitalista do período pós 2º Guerra Mundial. Caracterizadas como polos de aglomeração populacional e de atividades econômicas, as metrópoles compõem um conjunto de cidades, cujos limites nem sempre são claramente visíveis e cujos territórios são fragmentados, não necessariamente contíguos, que têm formas variadas e irregulares que, tanto podem ser mono, como policêntricas, chegando a abrigar, de centenas a milhões de habitantes. Via de regra, esse processo intensivo de conurbação, ou seja, a unificação da malha urbana de duas ou mais cidades, é característico das metrópoles e ocorre nos processos de expansão urbana para fora dos limites da cidade, espraiando-se e absorvendo aglomerados rurais e outras cidades. Esse grupo de municípios que formam uma Região Metropolitana mantém uma relação altamente complexa entre si, com autoridades das três esferas de governo. Supera a tradicional concepção de que a evolução urbana compreende um único município e reforça a ideia de que uma mancha urbana contínua pode corresponder a diversos municípios. O desenvolvimento desses novos arranjos de cidade abre um grande leque de problemas, tais como o caos e a precariedade dos serviços urbanos, a poluição, a ocupação de áreas inadequadas, a falta de áreas livres e verdes com reflexo na qualidade de vida da população, além das deseconomias regionais com os impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes. Entre os problemas que se expressam nas metrópoles, pode-se apontar como sendo um dos mais graves a inaptidão das estruturas políticas e administrativas para fazer frente ao equacionamento do porte e da complexidade das questões que o poder público deve enfrentar nessa nova realidade. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 399 Esse modelo incha as cidades, combinando o adensamento vertical das áreas centrais com a extensão ilimitada da periferia. Paradigma do modelo emergente da primeira metade do século XX, é resultante da visão expansionista e rodoviarista que continua a se reproduzir como modelo de evolução urbana nas cidades brasileiras4. Na visão de Nestor Goulart5, esta situação se caracteriza, basicamente, pelas condições de alta mobilidade oferecidas à população, que propiciam permanente dispersão e evolução da urbanização, das pessoas e das atividades exercidas. Grande parte das pessoas desenvolve suas vidas em dois ou três municípios, de tal forma que o município central torna-se a referência financeira, de serviços, de comércio especializado, ou seja, o centro das decisões. Diariamente, de lá saem e para lá chegam os que trabalham, os que estudam, os que tratam de negócios. Essas dinâmicas, processos e modelos, sustentam e expressam velhas formas do uso e ocupação do solo urbano, que não se restringem mais aos espaços municipais, embora tenha sido neles que primeiramente ocorreram, com níveis de complexidade mais acentuados. Para Nestor Goulart, o esgarçamento do tecido urbano tem que ser entendido por meio de duas escalas distintas e interligadas. A primeira, no âmbito metropolitano que, de maneira crescente, vem acontecendo entre regiões, aglomerados e metrópoles. A segunda, na escala intramunicipal, nos bairros, vilas, distritos, onde se definem as relações entre o público e o privado. Essas relações se materializam na cidade através de um modelo sedimentado na cultura especulativa do mercado imobiliário, apoiado na homogeneização da legislação de uso e ocupação do solo e pela discricionariedade dos investimentos públicos. Em outras palavras, é através do binômio investimento público/capital imobiliário que se estabelece a hierarquização socioeconômica do espaço urbano construído. 4 CAMPOS Neto, Candido Malta. Os Rumos da Cidade: Urbanismo e Modernização em São Paulo, Senac, 2002, São Paulo, Introdução. 5 REIS, Nestor Goulart, Notas Sobre Urbanização Dispersa e Novas Formas de Tecido Urbano, Via das Artes, 2006 São Paulo, Pag. 12. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 400 Segundo Flavio Villaça: A terra urbana parece ter essa maravilhosa propriedade de, permanentemente, conferir rendimentos a seu dono, mesmo quando nenhuma atividade produtiva · seja exercida sobre ela (VILLAÇA, 2012, P.32) . Na mesma linha de raciocínio, Flavio Villaça parte do pressuposto de que o valor do solo urbano é um valor produzido e não um valor oriundo de atributos naturais. Ele se configura por dois tipos de atividades, o de uso e consumo próprio para viver e morar, e o de troca ou produção, para atividades econômicas, destinado à utilização comercial, industrial e de negócios6. O valor do solo urbano é produzido por meio de sua localização. E a sua localização é que determina a qualidade, o status e o privilégio de ter ou estar num determinado local. O seu valor é determinado em função das condicionantes externas oferecidas pelos elementos da cidade, como infraestrutura, acessibilidade, meios de transportes, segurança, entre outros. Portanto, a distribuição desigual dessas condicionantes urbanas que determinam o valor do solo, estabelece a hierarquização socioeconômica do espaço e sua segregação, não se limitando apenas às áreas destinadas ao segmento habitacional, mas a todos os outros que no seu conjunto compõem as cidades. Por outro lado, a necessidade contínua de oferta de áreas de menor valor para atender as demandas da população excluída das áreas centrais de maior valor, expande horizontalmente a periferia, espraia a cidade, afasta a maior parte da população dos postos de trabalho. Daí decorre a grande disputa social em torno da produção do espaço urbano. Este modelo clássico de apropriação do solo urbano, fartamente reproduzido nas grandes cidades brasileiras, estabelece um crescimento descontínuo no território e se manifesta de maneira dispersa nas cidades. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, por sua vez, atribuiu aos Estados a competência de instituir as Regiões Metropolitanas através de lei complementar para integrar a 6 Lojkine. Jean, O Estado Capitalista e a Questão Urbana, Editor Martins Fontes, 981, São Paulo. p163 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 401 organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, não trazendo a definição de Região Metropolitana e das funções públicas de interesse comum. A Constituição do Estado de São Paulo, de 1989, em seu Artigo 153, § 1º, considera Região Metropolitana o agrupamento de municípios limítrofes que assuma destacada expressão nacional, em razão de elevada densidade demográfica, significativa conurbação e de funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade, especialização e integração socioeconômica, exigindo planejamento integrado e ação conjunta permanente dos entes públicos nela atuantes. Seguindo a orientação desta Constituição, a Lei Estadual Complementar nº 760, de 01.08.94, estabelece as diretrizes para a organização regional do Estado de São Paulo, e estabelece, em seu artigo 7º, inciso II, os campos funcionais que poderão ser considerados de interesse comum das entidades regionais, incluindo as regiões metropolitanas, conforme segue: I - planejamento e uso de solo; II - transporte e sistema viário regional; III - habitação; IV - saneamento básico; V - meio ambiente; VI - desenvolvimento econômico; e VII - atendimento social. Em não havendo critérios técnicos, ambientais e/ou de caráter político-institucional para a definição dos perímetros da metrópole, pode-se dizer que a delimitação da região metropolitana possui uma grande dose de arbitrariedade, não se constituindo em uma organização políticoadministrativa autônoma, como são os municípios, os Estados, o Distrito Federal e a União, podendo envolver áreas com atividades rurais e urbanas, e expressando os interesses econômicos e sociais de seus moradores. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 402 Tanto na Constituição Federal como na Estadual, a questão metropolitana foi tratada sem a devida importância. De fato, o que temos é um território virtual, planejamento sem instrumentos para ações macro de ordenamento desses territórios. 3 – DA METRÓPOLE À MACROMETRÓPOLE São Paulo é a metrópole que demonstra mais claramente o alto grau de diversidade, especialização e integração socioeconômica, exigindo um planejamento integrado e ação conjunta dos entes públicos nela atuantes. O seu dinamismo econômico e seus vínculos regionais são reafirmados através dos fluxos econômicos, de pessoas e de serviços, estendidos sobre um território cada vez mais amplo que, ao mesmo tempo é relativizado, uma vez que crescem os vínculos com mercados cada vez mais distantes. Na prática, foram as crises internacionais que alavancaram o desenvolvimento industrial no Brasil. Nesse sentido, podemos citar a Primeira Guerra Mundial: a crise de 29, que se prolonga no sentido de dificultar o processo exportador de produtos agrícolas, e importador de produtos industriais; e, ainda, o período da Segunda Guerra Mundial que, sucessivamente, estimula a incipiente substituição de importações de produtos, cuja escassez e o custo de transporte, face ao seu valor por peso, tornava antieconômica sua importação. Portanto, São Paulo tem como matriz o resultado histórico de sua localização geográfica aliada à sua condição topográfica no planalto paulista e ao seu desenvolvimento econômico, sustentado, inicialmente, pela produção cafeeira e, posteriormente, a partir de 1929, pela expansão da indústria nacional. Até a década de 70, São Paulo crescia a taxas acima da média nacional, concentrando parte expressiva do PIB brasileiro. Por outro lado, esse crescimento traz consigo toda uma faixa envoltória num raio de até 200 quilômetros da capital, hoje conhecida como Macrometrópole Paulista, classificação urbana de caráter intermediário entre Metrópole e Megalópole, que se forma quando uma Metrópole se une a outra, ou a outras grandes cidades, através da conurbação, criando um imenso conglomerado de manchas urbanas. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 403 Esse processo de intensa urbanização e industrialização, que marcou o período de 1930 a 19807 com fortes intervenções estatais na vida econômica e política, foi estancado a partir da década de 80, época absorvida pelo fim do desenvolvimento e pela mudança do perfil das metrópoles, com o agravamento das desigualdades sociais provocadas em decorrência do surgimento de um novo arranjo internacional. Juntamente com outras nações pobres, o Brasil passa a exportar capital para os países ricos, em função das altas taxas de juros internacionais incidentes na dívida externa. Isso, somado ao acentuado desenvolvimento tecnológico, consolidou a queda dos empregos industriais, em contraponto ao aumento dos empregos gerados pelo setor de serviços. A produção, no Brasil, passa de um modelo, caracteristicamente, mecânico para um, predominantemente, tecnológico. As transformações no perfil do emprego ocorrem, observando-se uma forte queda dos empregos na indústria, em favor de uma ascensão significativa do setor terciário. Estabelece um novo modelo econômico "pós-industrial", que Manuel Castells chega a denominar de "sociedade informacional", em contraste à sociedade industrial do período fordista. Castells descreve o pósindustrialismo como uma economia de serviços, com três características principais: 1) A produtividade e o crescimento nascem da criação do saber, estendida a todas as áreas da atividade econômica pelo tratamento da informação; 2) A atividade econômica se desloca da produção de bens para a produção de serviços. A morte do emprego agrícola é seguida do declínio irreversível dos empregos industriais, em favor dos serviços que acabarão assegurando a maior parte dos empregos; 3) A nova economia aumenta a importância das profissões de forte conteúdo de informação e de saber. As profissões de gestão, liberais e tecnológicas se multiplicam mais rapidamente que as outras, constituindo o núcleo da nova estrutura social. O fator locacional perde importância nesse novo modelo produtivo. 7 MEYER, Regina Maria Prosperi & GROSTEIN, Marta Dora, São Paulo Metrópole, São Paulo: Edusp. 2004. p. 48. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 404 Nesse ponto, não há diferenças significativas com a teoria da reestruturação industrial apresentada por David Harvey8, já que ambas designam alguns rearranjos do capitalismo mundial a partir da década de 80 e da revolução da informática. Por outro lado, o desenvolvimento da tecnologia da informação ou, segundo Castells9, o “capitalismo informacional”, que possibilitou a globalização da economia, criando redes de comunicação entre cidades, as chamadas cidades globais, modificaram a relação do homem com seu meio físico; as fábricas, as indústrias, os escritórios estão sendo substituídos por sistemas flexíveis ligados à informação. Em razão desse processo, as metrópoles contemporâneas, gradativamente, estão retomando às funções que eram atribuídas às cidades até o século XIX, ou seja, o lócus das decisões políticas, financeiras, administrativas, dos serviços e do comércio. Essas transformações impostas pela mudança do perfil do capital produtivo significam que as grandes cidades estão passando por um processo de transformação. As fábricas não encontram mais, nas grandes cidades, seu campo privilegiado de produção, em razão das dificuldades de locomoção, dos congestionamentos e da violência. As relações de distância não são mais medidas fisicamente, o fator preponderante é o tempo. Em outras palavras, a questão espacial e a localização não são mais fundamentais. O que importa é o acesso à tecnologia com mão de obra intelectual e o novo conceito de distância é medido pela rapidez e não mais pelo fator físico. Essa nova fase do capitalismo tem a hegemonia do capital financeiro, desterritorializado sobre o capital produtivo, como afirma Octávio Ianni10. 4 – SÃO PAULO E A DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA São Paulo é o nosso maior exemplo. Com mais de 20 milhões de habitantes, tem sido o epicentro de profundas transformações. A partir dos anos 80, passa por um processo de espraiamento da indústria de transformação rumo a cidades do interior. O processo de 8 9 HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992, pp. 207-218. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede, op.cit., p. 56. 10 IANNI, Octávio. A sociedade global. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2005, pp. 89-106. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 405 concentração industrial dá lugar a um processo de dispersão da atividade para fora da região original. Procuram municípios na faixa envoltória da região metropolitana de São Paulo, de fácil acesso, com boa infraestrutura, mão de obra mais barata, melhor qualidade de vida, apoio dos governos locais, ou seja, menos impostos, cessão de áreas bem localizadas. Em outras palavras, o objetivo é estar próximo à região metropolitana, gozar de suas vantagens com custos menores e sem os seus transtornos. MAPA 1 – Desconcentração da Economia Paulista - 2010 Fonte: IBGE - Produto Interno Bruto dos Municípios 2002 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 406 MAPA 2 - Hierarquia dos Centros Urbanos e Eixos Indutores no Estado de São Paulo Fonte: IPEA – Elaboração Graprohab 2009 A partir do início da operação conjunta dos trechos Oeste e Sul do Rodoanel, observamos que os empreendedores privados têm se dirigido, preferencialmente, para glebas situadas junto às rodovias troncais, localizadas próximo o suficiente dos trevos de interligação ao Rodoanel. Entretanto, essa movimentação do setor tem se organizado segundo a lógica do mercado, uma vez que o setor público não dispõe de iniciativas específicas que conduzam o mercado de glebas disponíveis para estes. 5 - A MACROMETRÓPOLE PAULISTA: O processo de desconcentração industrial ocorrido em São Paulo e o seu espraiamento por um raio de até 200 quilômetros da metrópole mexem com a economia urbana, desconfiguram a lógica da cidade industrial da forma que conhecemos e forjam a Macrometrópole Paulista. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 407 Segundo dados levantados por Meyer & Grostein11, a diminuição de 14% na participação das fábricas da cidade de São Paulo no montante das indústrias da região metropolitana e de todo o Estado de São Paulo, passando de 36%, em 1980, para 22%, em 1990, não pode ser entendida como: (...) uma transição de uma metrópole industrial para uma megacidade de serviços, já que a cidade de São Paulo ainda concentra um terço do valor agregado da produção industrial paulista. Por outro lado, a perda real de participação da capital na atividade industrial tem-se dado em favor de outros municípios da região metropolitana e também do interior, numa distância não maior do que 200 km de São Paulo. É justamente nesse raio que se concentra o mais avançado polo produtivo de pesquisa e tecnologia do país, distribuído pelos núcleos metropolitanos de Campinas e São José dos Campos, que abriga centros universitários e tecnológicos de formação de mão-de-obra qualificada, refinaria de petróleo e amplos setores de produção industrial. (MEYER, 2004, p.48) Na mesma linha de raciocínio Carlos Américo Pacheco afirma que: a formação da Macrometrópole é resultado de políticas adotadas a partir da década de 1980 que levou a uma desconcentração industrial da Cidade de São Paulo e sua consequente condensação em cidades próximas a metrópole.(PACHECO, 1998, p. 21) 11 MEYER, Regina Maria Prosperi & GROSTEIN, Marta Dora, São Paulo Metrópole, São Paulo: Edusp. 2004. p. 48. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 408 MAPA 3 - Macrometrópole Paulista – Atribuições Fonte: Emplasa, 2012 Aparentemente contraditória, essa desconcentração industrial reforça o caráter catalisador da Região Metropolitana de São Paulo. Não deixa de ser uma região industrial, cuja base industrial torna-se moderna, associada à prestação de serviços e à tecnologia de ponta. Consolida sua posição de ser o principal centro financeiro do país, concentra a sede dos grandes bancos, dos principais grupos empresarias nacionais e estrangeiros, conglomerados financeiros, como a Bolsa de Valores e Futuros de São Paulo que é a quinta do mundo e a segunda das Américas. Em 2007, o setor terciário representava 56,4% do PIB estadual. Juntamente com seu entorno, constitui-se na única Macrometrópole brasileira e a única do Hemisfério Sul. Essa parcela do território paulista é a concentração mais visível e regionalizada de parte expressiva da riqueza e da pobreza do Estado de São Paulo e do Brasil. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 409 Seu dinamismo econômico coloca esse recorte do território como o mais rico do país e um dos mais ricos do mundo. Concentra 82%12 do PIB estadual e 27%13 do nacional. Com 897,414 bilhões de reais, seu PIB é equivalente ao PIB da Suíça, a 18ª economia mundial. A Macrometrópole paulista é composta pelas regiões metropolitanas de São Paulo, da Baixada Santista, de Campinas, do Vale do Paraíba e do Litoral Norte; mais as aglomerações urbanas de Jundiaí, Piracicaba e Sorocaba e as microrregiões de São Roque e Bragança, somando 30,5 milhões de habitantes. Ou seja, de cada 10 brasileiros, 1,6 mora na Macrometrópole paulista. Abriga 74%15 da população do Estado e 16%16 do total da população brasileira em apenas 0,59%17 do território nacional. Sua população cresce a taxas superiores às do Estado de São Paulo. Em média, o Brasil cresce 1,17% ao ano, o Estado de São Paulo cresce 1,10% e a Macrometrópole paulista cresce 1,17% ao ano. Municípios como Campinas cresce 1,83%, Jundiaí 1,90% e Sorocaba 1,71% ao ano. Por outro lado, a cidade de São Paulo cresce menos de 1% ao ano. De fato, este crescimento está sedimentado pela migração da população acompanhando a expansão do emprego na região, que por sua vez, é acompanhado pelos investimentos do mercado imobiliário. Em 2011, 64%18 do investimento do mercado imobiliário para fins habitacionais, no Estado, foram direcionados para esta região. De 2007 a 2011, 57% dos investimentos do mercado imobiliário de todo o Estado de São Paulo foram para os municípios que constituem a Macrometrópole. Foram produzidos, pelo mercado imobiliário, 891.839 unidades, habitação ou lotes. Destes, 439.871 foram na forma de condomínios e 451.968 em loteamentos. 12 Disponível em <www.emplasa.sp.gov.br> Acesso em 10/2012. 13 14 15 16 17 18 Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. Graprohab. Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 410 Das 891.839 unidades ou lotes produzidos entre 2007 e 2011 no Estado de São Paulo, 498.688 estão na Macrometrópole e, desses, 320.268 são na forma de condomínios. Como veremos adiante, a maioria foi implantada na região metropolitana de São Paulo. Preliminarmente, os números apresentados demonstram a hegemonia do capital imobiliário na forma de condomínios, modelo fartamente difundido, sobretudo nas áreas urbanas consolidadas, em muitos casos, em lotes que, anteriormente, serviam para habitações unifamiliares e que, hoje, são utilizados como edifícios multifamiliares. Onde havia apenas uma família, hoje são centenas morando sob condições urbanas inadequadas para um adensamento desse porte. Os dados do Graprohab nos mostram a falta de investimento em habitação de interesse social. Do total produzido, apenas 5,9% são conjuntos habitacionais, ou seja, foram produzidas apenas 51.643 unidades no Estado. Dessas, apenas 13.566, ou 1.5% do total produzido no Estado, estão na Macrometrópole. Segundo dados do CDHU19, dos 13.546.131 domicílios do Estado, 9,06 milhões estão na Macrometrópole. Destes, 887 mil são moradias inadequadas, o que representa 9,7% do total de moradias da região, e 76% do total das moradias inadequadas do Estado de São Paulo. A produção das habitações de interesse social, até então sob responsabilidade integral do poder público, nos mostra as limitações dos investimentos, mas também nos revela as limitações dos instrumentos para implementação de uma política habitacional mais agressiva. 6 - O SEGMENTO HABITACIONAL NA MACROMETRÓPOLE Segundo dados do Graprohab, no período de 2007 a 2011, no Estado de São Paulo, foram aprovados 1.453 condomínios. Destes, 1.145 estão inseridos no território da Macrometrópole, ou seja, 79% de todos os empreendimentos na forma de condomínios licenciados no Estado estão sediados na Macrometrópole. 19 CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 411 Dos 173 municípios que compõem a Macrometrópole, 130 foram beneficiados com um ou mais empreendimentos. Por outro lado, constatamos que, nos 472 municípios restantes fora da Macrometrópole, foram licenciados 308 empreendimentos, apenas 21% do total de condomínios licenciados no Estado. Do total de empreendimentos licenciados, 272 encontram-se em municípios menores que 100 mil habitantes, que representam 67% dos municípios da Macrometrópole. Destes, 69% são condomínios horizontais, o que reforça o caráter dormitório dessas cidades. Do total dos empreendimentos licenciados na Macrometrópole, 56% são condomínios verticais. Se excluirmos a cidade de São Paulo, notamos uma ligeira predominância de empreendimentos horizontais, ou seja, 52% destes empreendimentos são loteamentos e/ou conjuntos habitacionais. Entretanto, desde 2009, o número de condomínios verticais licenciados na Macrometrópole supera o número de empreendimentos horizontais. Excluindo a capital, percebemos que os empreendimentos verticais superam os horizontais só a partir de 2010 (gráfico 1). Entendemos que a tendência mais vigorosa do processo de verticalização a partir de 2010, nas maiores cidades da Macrometrópole, se configura por meio de dois fatores: a economia e a legislação que, na sua essência, são complementares, como vemos: Primeiro, em razão do aquecimento da economia brasileira, com taxas de crescimento médio em torno de 4%, com fontes de financiamento específico para o setor, com os índices de desemprego em queda e o aumento do poder aquisitivo da população. Em segundo lugar, pela atuação do poder público no atendimento à obrigação legal de elaborar ou atualizar a legislação do uso e ocupação do solo, por meio dos Planos Diretores Municipais. Essas condicionantes sustentaram os investimentos do setor imobiliário do segmento habitacional rumo às regiões que prosperaram e prosperam em razão da geração de novos empregos. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 412 GRÁFICO 1 - Evolução Anual do Número de Empreendimentos Licenciados (São Paulo - excluído) - Fonte: GRAPROHAB – 2012 GRÁFICO 2 - Evolução Anual do Número de Empreendimentos Licenciados nos Municípios da Macrometrópole com menos de 100 mil hab. - Fonte: GRAPROHAB - 2012 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 413 Em se tratando de municípios de menos de 100 mil habitantes, vemos uma predominância de empreendimentos horizontais (gráfico 2). Neste recorte, os empreendimentos verticais representam apenas 14% do total de empreendimentos licenciados. Ao abrirmos as informações por regiões que compõem a Macrometrópole, demonstramos que a Região Metropolitana de São Paulo possui uma brutal concentração do número de empreendimentos condominiais licenciados. São 644 condomínios que correspondem a 37% do número total de empreendimentos. Por número de unidades, a concentração é ainda maior. São 143.572 unidades, de um total de 239.103. Ou seja, representa 60% de toda a produção de unidades habitacionais na Macrometrópole. Por outro lado, quando falamos em loteamentos, a situação se inverte. De um total de 552 loteamentos produzidos na Macrometrópole, 69 estão na Região Metropolitana de São Paulo, ou seja 12,5%. Por número de unidades, a situação também se inverte. São apenas 27.832 unidades produzidas na Região Metropolitana de São Paulo, de um total de 167.990 da Macrometrópole, o que representa 16% da produção total. Face ao exposto, pode-se afirmar que os dados apresentados demonstram, em primeira instância, a falta de áreas extensivas na Região Metropolitana de São Paulo, em especial na capital, para a implantação de novos loteamentos. Primeiro, em razão das restrições ambientais, que criam obstáculos para o uso habitacional em 54% do seu território. Por fim, pelo valor do solo urbano que, sedimentado na cultura especulativa e na legislação, permite ao empreendedor utilizar índices urbanísticos mais generosos, aumentando a rentabilidade dos seus investimentos por meio da produção de número maior de unidades habitacionais por área. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 414 GRÁFICO 3 - Tendência da Verticalização na Macrometrópole Fonte – GRAPROHAB. 2012 Também analisamos o processo de verticalização através do agrupamento das informações referentes às Regiões Metropolitanas dos aglomerados urbanos e regionais que compõem a Macrometrópole. Ao excluirmos a Região Metropolitana de São Paulo, notamos um certo equilíbrio no número de condomínios e loteamentos licenciados, porém, com tendência de aumento do número de empreendimentos verticais, no caso dos condomínios. Essa tendência se acentua por ocasião dos investimentos do mercado imobiliário nas três regiões metropolitanas: Campinas, Baixada Santista e a do Vale do Paraíba. São áreas de predominância dos empreendimentos verticais. São regiões que se destacam por seu dinamismo econômico. Por outro lado, nos municípios satélites de menor dinamismo econômico, a predominância dos empreendimentos licenciados continua a ser horizontal. A despeito das tendências e da desconcentração econômica da capital, São Paulo continua a ter um peso desproporcional em relação ao restante da Macrometrópole. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 415 Os dados apresentados também nos direcionam ao entendimento de que os municípios satélites das outras regiões metropolitanas e aglomerados urbanos estão se transformando em cidades dormitório, assim como ocorreu nas últimas décadas na região metropolitana de São Paulo. TABELA 1 - Fonte: Graprohab - 2012 Obs.: Dispensa de Análise. Os empreendimentos não enquadrados nos critérios de análise, portanto dispensados de análise de aprovação pelos membros do colegiado, nos termos do artigo 5º do Decreto Estadual nº 52.053/07, que regulamenta o funcionamento do GRAPROHAB, são apreciados pelo Grupo Técnico da Secretaria Executiva do próprio órgão. Os dados apresentados nos levam a duas questões muito importantes: A) Primeiro, a expansão do modelo de condomínios fechados, regulamentados pela Lei Federal nº 4.591 de 1964, que tem se tornado o principal instrumento de expansão do segmento __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 416 habitacional do setor imobiliário nos municípios com maior dinamismo econômico. Basicamente, este modelo segue a lógica do aproveitamento máximo das áreas disponíveis, sobretudo os condomínios verticais nas zonas urbanas consolidadas, portanto, nas áreas mais valorizadas da cidade. São empreendimentos direcionados à classe média, expõem a face visível do processo de fragmentação urbana que secciona a cidade e interrompe seu traçado viário. Acompanham a criação dos novos empregos, gerados pela desconcentração industrial em marcha na Macrometrópole. Municípios como Jundiaí, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e Piracicaba, tornaram-se reprodutores do padrão urbano que conhecemos na cidade de São Paulo. Os condomínios horizontais, em menor número, seguem a lógica dos subúrbios americanos. Nas franjas das cidades de baixa densidade, edificações residenciais isoladas, dependentes do automóvel, buscam criar novas centralidades. Cercados com muros, seccionam a cidade, interrompem o sistema viário, segundo Tereza Caldeira: a vida cotidiana na cidade de muros reforça exatamente os valores opostos: incivilidade, intolerância e discriminação, é a negação da cidade’. (CALDEIRA, 2002, p. 211 a 342) Importante salientar que estamos diante de um processo de mudança dos moldes tradicionais de parcelamento de solo. A figura do loteamento como conhecemos através da lei do parcelamento do solo urbano, Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, segundo a qual o loteamento é a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação de vias existentes, para o modelo de condomínio que, conforme estabelece a legislação, são edificações ou conjunto de edificações, de um ou mais pavimentos (horizontal ou vertical), construídos sob a forma de unidades isoladas __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 417 entre si, destinadas a fins residenciais, e constituindo-se, cada unidade, por propriedade autônoma. A diferença fundamental entre um e o outro é que, na figura do loteamento, o parcelamento do solo é extensivo, o que obriga o empreendedor a implantar e doar ao município toda infraestrutura urbana, bem como o seu sistema viário e áreas instrucionais para a construção de equipamentos públicos. O condomínio se caracteriza por ser um parcelamento de solo feito através da área edificada. Tanto o condomínio horizontal, como o vertical, não têm a obrigatoriedade da cessão de área pública ao município, seus índices de aproveitamento são melhores, conseguem construir mais unidades habitacionais por área de terreno do que os loteamentos, por consequência possibilitam maior lucratividade ao empreendedor. Essa diferença, aliada ao custo da terra, ou mesmo a sua falta nas grandes cidades, explica o abandono da figura do loteamento e a migração para o modelo condominial. Evidente que esta dinâmica se apoia na legislação permissiva e obsoleta, onde o planejamento é entendido a partir do lote e de índices de aproveitamento. B) A segunda questão a ser tratada diz respeito ao tradicional modelo de parcelamento do solo, o loteamento, instrumento fartamente utilizado na expansão das cidades. O loteamento da forma que conhecemos, continua sendo o principal instrumento de parcelamento do solo urbano nos municípios menores, com áreas disponíveis e pouco valorizadas, sobretudo nas cidades do interior, fora dos limites da Macrometrópole. Esses loteamentos, na sua grande maioria, são destinados às camadas mais pobres da população. Por outro lado, a passividade da legislação municipal e o oportunismo do mercado criaram a figura do loteamento fechado. Sem amparo legal na legislação federal e estadual, são empreendimentos destinados às classes econômicas mais abastadas. Distorceu o instrumento criado e regulamentado para que a __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 418 expansão urbana ocorresse sem interrupções, obedecendo as diretrizes do crescimento e do desenvolvimento das cidades. Assim como os condomínios horizontais, seccionam a cidade, interrompem o sistema viário e vedam o livre acesso ao seu interior. São intervenções que, no caso dos chamados loteamentos fechados, ocorrem em áreas públicas, ou seja, vedam o acesso às praças, às áreas institucionais, ao sistema de lazer e ao viário que, no processo de licenciamento, foi doado ao poder público municipal. Essas áreas destinadas à construção de equipamentos públicos ou a integrar o sistema viário existente, de certa forma perdem a sua finalidade, são privatizadas parcialmente na medida em que sua utilização fica restrita aos moradores do referido loteamento. Por outro lado, continua a ser o poder público que atua na prestação dos serviços de manutenção do empreendimento, tais como a coleta do lixo, a limpeza e a iluminação pública, o tapa buraco, o recapeamento, enfim, o poder público é quem paga a conta. A utilização distorcida do loteamento fechado, onde o patrimônio público é utilizado com fins privados, tornou-se objeto de desejo da classe média por meio da atuação do mercado imobiliário que vende uma nova forma de viver e morar, independentemente da sua localização. Passa a imagem da tranquilidade dos loteamentos fechados como se fossem condomínios. 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: As alterações manifestas na Macrometrópole não representam ruptura na organização sócio espacial do seu território, ao contrario, consolidam tendências expressas desde os primórdios da sua formação, sobressaindo-se o contínuo processo de esgarçamento do tecido urbano por meio da hierarquização do território estabelecido através do binômio investimento público/capital imobiliário. Para Cristian Topalov: __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 419 (...) é um organismo espacial do sistema produtivo e da circulação de consumo. Em outras palavras, são os objetos físicos de incorporação do solo por agentes imobiliários. (Topalov, 1988,pp5-30) Complexo, esse território de 49.927,83 km2 concentra o maior sistema urbano brasileiro. Articulados em rede, com relações econômicas e sociais muito definidas, interligados pelos principais eixos rodoviários do Estado, continuam se expandindo. Há seis anos, era composta por 104 municípios. Em 2010, passou a ter 153. Hoje, são 17320 municípios. Sua infraestrutura, dentre outras atividades, é composta por três aeroportos: Cumbica, Congonhas e Viracopos; dois dos principais portos brasileiros, Santos e São Sebastião; duas principais universidades brasileiras, USP e Unicamp; das 10 melhores estradas nacionais, as 10 estão na Macrometrópole. Por sua vez, não temos tradição nem instrumentos de gestão metropolitana, muito menos para uma gestão supra metropolitana. De fato, a Macrometrópole, a priori, nos parece ser uma ficção, fonte de levantamento de dados e realidade que impressiona pelo seu gigantismo, mas sem consequência prática na condução de uma política de desenvolvimento urbano e não urbano de caráter regional. A dinâmica reproduzida na escala da Macrometrópole, envolvendo mais de uma região metropolitana com aglomerados urbanos e regionais envolvidos, estabelece uma nova relação entre área urbana e rural. As áreas rurais ficam encravadas entre grandes extensões de áreas urbanas, passando a ter uma relação periférica com estas áreas e se enquadrando no conceito de áreas periurbanas, ou seja, áreas que se localizam para além dos subúrbios de uma cidade. Corresponde a um espaço onde as atividades rurais e urbanas se misturam, passam a ter funções urbanas, estando fora das zonas urbanas. 20 Disponível em <www.emplasa.sp.gov.br> Acesso em 10/2012. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 420 De maneira figurada, o professor Nestor Goulart apresenta a hierarquização do solo urbano sob forma de círculos concêntricos, com os mais ricos no centro e os mais pobres na periferia. De maneira simplificada, a Macrometrópole é a junção de vários círculos concêntricos, com áreas rurais entremeadas entre eles. Para Villaça21, essa imagem traduz o esgarçamento do tecido urbano e o processo de segregação espacial. Portanto, se não bastassem as ilhas de riqueza localizadas na melhor parcela da cidade, com alto valor agregado destinadas às camadas da população de maior poder aquisitivo, o espraiamento da periferia ultrapassa os limites territoriais do município, invade o território vizinho, sujeitando o trabalhador a longos deslocamentos na cidade ou mesmo entre municípios. Esse modelo de expansão urbana e da disfunção sócio espacial entre trabalho e moradia se apoia em dois instrumentos de parcelamento do solo, o loteamento e o condomínio. O loteamento, instrumento de expansão horizontal, destinado a segmentos da sociedade com menor poder aquisitivo, implantado em larga escala nas franjas da cidade e dos munícipios menores configurando-os a um perfil de dormitório. como os limites municipais não constituem barreiras para a reprodução do chamado padrão periférico de urbanização, é justamente este padrão que gera, na maior parte das vezes, uma indesejável complementaridade intermunicipal, com a criação dos municípios-dormitórios.(MEYER, 2004, p.48) Os condomínios destinados à classe média, localizados nas áreas urbanas consolidadas, apóiam-se em dois pilares. O primeiro, na escassez de áreas na porção consolidada das cidades e o segundo, na necessidade de otimização das áreas mais valorizadas, ou seja, para produzir o maior número de unidades habitacionais possíveis naquele imóvel. Os dados do Graprohab demonstram que os municípios centrais, com maior dinamismo econômico, são os municípios em processo de adensamento por meio da expansão dos 21 VILLAÇA, Flavio, Reflexão Sobre as cidades Brasileiras, Studio Nobel Ltda., 2009, São Paulo. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 421 condomínios verticais. Forma mais visível da segregação moderna distinguindo-se das tradicionais formas de segregação, por classe e por bairro. Impulsionado pelo desenvolvimento econômico, o segmento continua a produzir o modelo que levou a cidade de São Paulo ao caos que conhecemos. Em outras palavras, continuamos a reproduzir manifestações espaciais de uma sociedade desigual, economicamente segregada e fisicamente fragmentada e dispersa, agora, no âmbito macro das metrópoles. São velhos modelos para novas cidades. MAPA 4 Espacialização da Predominância de Empreendimentos Verticais e Horizontais e o Sistema Viário Estrutural da Macrometrópole - Fonte: Graprohab __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 422 ILUSTRAÇÕES MAPAS 1 - Desconcentração da Economia Paulista - 2010 2 - Hierarquia dos Centros Urbanos e Eixos Indutores – 2009 3 - Macrometrópole Paulista – 2012 4 - Espacialização da Predominância de Empreendimentos Verticais e Horizontais e o Sistema Viário Estrutural da Macrometrópole TABELA 1 - Protocolo e Dispensa de Análise Graprohab 2007-2011 GRÁFICOS 1 - Evolução Anual do Número de Empreendimentos Licenciados na Macrometrópole 2012 2 - Evolução Anual do Número de Empreendimentos Licenciados nos Municípios da Macrometrópole com menos de 100 mil hab. 3 - Tendência da Verticalização por Região da Macrometrópole __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 423 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABADAL. Alexandre. Desenvolvimento e espaço. São Paulo, Editora Papagaio, 2009, pp.38. CALDEIRA, Tereza. Cidade de Muros, Edusp / 34, 2002 – São Paulo. CAMPOS Filho, Cândido Malta. Cidades Brasileiras: seu controle ou o caos, Nobel, 1989, São Paulo. CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede, Paz e Terra, 1999, São Paulo. HARVEY, David. A Condição Pós-Moderna, Loyola, 1992, São Paulo. IANNI, Otávio. A Sociedade Global, São Paulo, Paz e Terra, 1994, São Paulo. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico, 1950, 1960 1970, 1980, 1991 e 2000. LANGENBUCH, Juergen Richard, A Estruturação da Grande São Paulo: estudo de geografia urbana. IBGE, 1971, Rio de Janeiro. MEYER, Regina Maria Prosperi. e SILVA, M.C. da, (Coord.) São Paulo Metrópole Terciária, entre a Modernização Pós Industrial e a Herança Social e Territorial da Industrialização SP: CEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, dez. 1998. PACHECO. Carlos Américo. Fragmentação da Nação. Campinas, Instituto de Economia da Unicamp, 1998. REIS, Nestor Goulart, Notas Sobre Urbanização Dispersa e Novas Formas de Tecido Urbano, Via das Artes, 2006 São Paulo. TOPALOV, Christian. Fazer a história da Pesquisa, Urbana: a Experiência Francesa desde 1965, in Espaço & Debate, Ano Vlll, Vol. 1 n023, 1988, São Paulo. VILLAÇA, Flavio, Espaço Intra-Urbano no Brasil, Studio Nobel Ltda., 2001 São Paulo. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 PARA UMA APROXIMAÇÃO DE ESTUDOS COMPARATIVOS: AS CIDADES DE BRIGGS, ROMERO E MORSE RESUMO O presente ensaio apresenta algumas questões referentes a estudos comparativos. Enquanto essa é uma técnica amplamente utilizada em estudos sociológicos, no campo da história ela ainda não é tão explorada. Tendo essa questão em mente, este ensaio apresenta três livros com estudos em que bases comparativas são utilizadas: Victorian Cities, de Asa Briggs; América Latina: as cidades e as ideias, de José Luis Romero; e O espelho de Próspero, de Richard M. Morse. Assim, pretende-se identificar algumas premissas que possam nortear os estudos comparativos sobre história urbana. Palavras-chave: Estudos comparativos; história urbana; Richard M. Morse; Asa Briggs; José Luis Romero ABSTRACT This essay presents some issues concerning comparative studies. While this is a method widely used in sociological studies, in the field of history it is not yet as exploited. Bearing this question in mind, this essay presents three books with researches on which comparative basis are used: Victorian Cities, by Asa Briggs; América Latina: as cidades e as ideias, by José Luis Romero; and O espelho de Próspero, by Richard M. Morse. Therefore, it is intended to identify some characteristics that may guide comparative studies on urban history. Key words Comparative studies; urban history; Richard M. Morse; Asa Briggs; José Luis Romero 425 PARA UMA APROXIMAÇÃO DE ESTUDOS COMPARATIVOS: AS CIDADES DE BRIGGS, ROMERO E MORSE Mariana de Souza Rolim1 Carlos Guilherme Mota2 Bases comparativas estão presentes no cotidiano de todos. Em expressões populares, comentários rotineiros ou em complexas análises políticas, elementos de comparação são utilizados de forma intuitiva indiscriminadamente. Nas ciências sociais, em especial na Sociologia, a comparação como instrumento metodológico é amplamente difundida e utilizada. Nomes como os sociólogos Durkheim, Comte e Weber apresentam alternativas estruturadas de abordagem comparativa. A sociologia utiliza a comparação como instrumento de explicação e generalização, considerando “a impossibilidade de aplicar o método experimental às ciências sociais, reproduzindo, em nível de laboratório, os fenômenos estudados.” (SCHNEIDER, 1998, p. 1) A análise comparativa é uma ferramenta bem consolidada na sociologia. Também em estudos históricos, essa é uma abordagem considerada válida. O historiador francês Marc Bloch considera a comparação em dois momentos: um analógico, em que são observadas as similaridades entre os objetos de estudo, e um contrastivo, onde se observa as diferenças entre eles. Já para a historiadora Natalie Zemon Davis é possível considerar três tipos de estudos comparativos. Um, quando se considera grupos diferentes em uma mesma sociedade, por exemplo, judeus e cristãos em Nova York. Outro, comparar sociedades separadas espacialmente, mas não temporalmente, com um estudo sobre o Japão e a França no século XVIII. Por fim, pode- 1 Arquiteta e urbanista, Mestre em Arquitetura e Urbanismo, doutoranda no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie; [email protected] 2 Historiador, Professor Emérito da FFLCH-USP e Professor de História da Cultura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie; [email protected] __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 426 se considerar sociedades totalmente diversas que se encontram, como a relação entre jesuítas franceses com ameríndios no século XVII em Quebec (PALLARES-BURKE, 2000). Não obstante a validade desse processo, os próprios historiadores o utilizam pouco. Na opinião do historiador inglês Peter Burke, isso ocorre muito mais pelas dificuldades de se obter dados - visto que a comparação exige pesquisa vasta para ser efetivamente válida - do que pela falta de eficiência da técnica (PALLARES-BURKE, 2000). E quando se pensa em estudar as cidades? Até que ponto é possível considerar essa ferramenta quando se fala em realidades que parecem tão distantes como o extremo leste da cidade de São Paulo e a City londrina? Tendo essa questão em mente, este ensaio apresenta três experiências de estudos em que bases comparativas são utilizadas: o estudo sobre as cidades vitorianas de Asa Briggs, sobre as ideias nas cidades latino-americanas de José Luis Romero e a oposição Anglo-América e Ibero-América de Richard M. Morse. Ressalta-se que o objetivo aqui não é o de apresentar uma resenha dos livros selecionados, mas sim lançar um olhar sobre eles extraindo o componente comparativo de cada um. AS CIDADES VITORIANAS O livro Victorian Cities, de Asa Briggs, foi publicado originalmente em 1963. É o livro do meio de uma trilogia que justifica a fama de Briggs como o maior especialista vivo no estudo sobre a Inglaterra vitoriana. Às cidades, juntam-se as pessoas e as coisas – em Victorian People (1954) e Victorian Things (1988) –, buscando uma visão o mais ampla possível da sociedade vitoriana. Asa Briggs nasceu em 1921, no norte da Inglaterra (Yorkshire) e estudou História na Universidade de Cambridge. Tanto o local de nascimento quanto o ambiente acadêmico em que se formou deixaram Briggs fascinado pela Revolução Industrial, que teve grande impacto justamente no desenvolvimento no norte do país. Com essa inquietação em mente, Briggs passa a trabalhar com história social, em oposição à história econômica então mais corrente entre seus __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 427 contemporâneos. Os estudos em história urbana e cultura material de Briggs foram pioneiros, e continuam como referências importantes, não só para os interessados no período vitoriano. Com Victorian Cities (sem tradução para o português) Briggs desenvolveu “uma notável abordagem comparativa, algo inusitado para a época. Sua discussão sobre Melbourne, na Austrália vitoriana, em contraste com a artesanal Birmingham e a moderna Manchester – típica cidade da Revolução Industrial – não foi até hoje superada” (PALLARES-BURKE, 2000, p. 58). A atuação do professor também é referência no campo da história dos modernos meios de comunicação, interesse que surgiu muito por conta de sua visão da imprensa como uma importante fonte de pesquisa histórica. Por fim, não é possível deixar de mencionar sua atuação política, onde continua atuando no campo da educação e cujo reconhecimento é confirmado com o título de Lorde, em 1976. Lord Briggs propôs grandes inovações no campo educacional, em especial introduzindo uma abordagem interdisciplinar nos estudos de humanidades. Essa abordagem, que combina história com antropologia e economia, por exemplo, é bastante enfatizada em seu Victorian Cities. A introdução do livro é particularmente importante aqui, pois apresenta sua posição quanto a algumas das ferramentas disponíveis para trabalhar com história urbana, bem como critérios para análises comparativas. Essas questões serão retomadas adiante. Por ora, é necessário ressaltar que o livro não pretende se ocupar de toda a era vitoriana, mas olha para um período específico, que Briggs descreve como a época que fica entre a chegada do trem e a chegada do automóvel – aproximadamente entre 1840 e 1890. O livro continua com o capítulo “City and society: Victorian attitudes”. Briggs ressalta a visão da época sobre as cidades - lembrando que o período vitoriano é conhecido como uma época de florescimento e surgimento de inúmeras delas. Aqui é exposto o dualismo vigente então: parte dessa sociedade via com preocupação o crescimento e adensamento dessas cidades, que colocariam em risco valores de cunho religioso e político. Outra parcela da população encarava esse crescimento como uma promessa de uma vida urbana baseada em conceitos de liberdade. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 428 A partir deste ponto, Briggs passa a analisar seis cidades representativas do período vitoriano, seja por sua importância na história nacional, seja por apresentar aspectos bem específicos da vida urbana vitoriana. Pelo próprio subtítulo dos capítulos, Briggs já apresenta a forma de abordagem de cada uma dessas cidades. Ele começa com Manchester (“symbol of a new age”). Seguindo para Leeds (“a study in civic pride”); Birmingham (“the making of a civic gospel”); Middlesbrough (“the growth of a new community”); viaja até a Austrália, com Melbourne (“a Victorian community overseas”); e volta à Europa com Londres (“the world city”). Não cabe aqui apresentar em detalhes as análise de cada um dos casos, mas alguns pontos devem ser registrados. No caso de Manchester em 1840, ela aparece como a “shock city”, ou o centro do problema, como seriam Chicago em 1890 e Los Angeles em 1930. Ela é o exemplo de como os problemas urbanos que surgiram com a Revolução Industrial foram tratados no período. Nas palavras de Briggs (1990, p. 96), “Manchester forced to the surface problems of class, of the relationships between rich and poor”. Em Leeds, é abordada em detalhes a construção da nova sede da prefeitura, como uma metáfora para mostrar a forma como os vitorianos se relacionavam com as cidades, e como se inseriam inclusive fisicamente. Middlesbrough surge como o exemplo da cidade moderna vitoriana. Aqui, Briggs mostra como elas eram estruturadas tal como as novas cidades do Império Britânico, muitas das quais tinham características genuinamente vitorianas. Assim, abre caminho para comparações com a América (que são pontuadas em vários momentos no livro) e com a Austrália, representada com Melbourne e com a ideia da personalidade da cidade – uma abordagem bastante inovadora à época. Por fim, Londres, reaparece no cenário nacional mais próximo dos anos 1900, com uma questão que se aplica a diversas metrópoles: até que ponto as grandes cidades apresentam uma cultura genuinamente própria ou elas não passariam de uma série de partes distintas? Depois dessa viagem, Briggs encerra com um epílogo, sobre cidades antigas e novas. E aborda a questão das cidades americanas, reconhecendo que elas são um importante contraponto às cidades inglesas do século XIX. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 429 Agora, retomando algumas questões apresentadas na introdução. Inicialmente, Briggs reforça a necessidade de um estudo interdisciplinar na abordagem sobre cidades. “Just because cities, like people, are of various ages and are alike in some respects and different in others, their proper understanding requires a partnership” (BRIGGS, 1990, p. 49). Alerta também para a necessidade de revalidação dos estudos já realizados – muitas vezes como uma forma de glorificação de uma passado mais desejado do que real – e dos dados registrados à época, como os encontrados em artigos de jornais. Quanto à justificativa para um estudo comparativo, Briggs afirma que trabalhou com a intenção de lançar luz a alguns temas que são de interesse para vários tipos de especialistas, que abordam a cidade por diferentes ângulos. E cita Birmingham como exemplo: o interesse por essa cidade estava no que era único nela. E isso só poderia ser identificado a partir da sua comparação com as outras. Seu livro é essencialmente sobre história inglesa, mas há referências cruzadas relevantes para a Europa e, acima de tudo, para a América. “As history itself becomes more comparative, we will find it easier to range more freely over both space and time, asking more searching questions and seeking more comprehensive answers”. (Ibidem, p. 55) As seis cidades emergem diferentes no trato: ora com uma abordagem cronológica, ora com foco em um evento singular. No entanto, é possível identificar uma unidade básica, como se as cidades fossem vistas do alto, buscando uma visão não da verdadeira cidade, mas um olhar organizado e estruturador sobre elas. E é isso que Briggs busca como elemento de comparação: os pontos de organização da sociedade vitoriana em diferentes aspectos. E a identificação de quais são esses pontos é uma das etapas cruciais da pesquisa. AS CIDADES LATINO-AMERICANAS Enquanto Briggs utiliza como fio condutor uma época, um período político, José Luis Romero, ao lançar seu olhar mais ao sul, se vale de uma unidade que é incerta para os próprios locais: a ideia de um espírito latino-americano. O livro América Latina: as cidades e as ideias teve __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 430 sua primeira publicação em 1976, em espanhol, e traz uma interpretação das cidades latinoamericanas desde o período colonial, considerando as influências europeias, passa pelo momento em que a América começaria a andar por si, até a época em que a pesquisa foi realizada. Em Buenos Aires, Argentina, 1909, nasce o historiador José Luis Romero, filho de imigrantes espanhóis. No início da carreira, volta-se aos estudos de história antiga e medieval. No entanto, é na Europa, em viagem de 1935, que entra em contato com o tema da cultura ocidental, que seria seu objeto de estudo até o fim da vida – Romero faleceu em 1977. A visão de história de Romero era bastante peculiar: ele dava grande importância à coleta de dados minuciosa, com trabalhos exaustivos em arquivos. Ao mesmo tempo, entendia que toda a sua vivência – social, familiar, acadêmica – colaborava para uma análise histórica melhor. Com esta perspectiva em mente, Romero foi uma pessoa bastante sociável, conversando sobre quaisquer assuntos, com quaisquer pessoas. Os mais diversos estilos literários eram seus companheiros. E viajava muito. Sempre catalogando as cidades por onde passava. Foi um militante ativo na política argentina, com uma atuação importante na Universidade de Buenos Aires. De sua vasta produção, podemos citar Breve historia de la Argentina e El pensamiento político latinoamericano. Romero terminou a primeira versão de América Latina em 1974, tendo sido publicado dois anos mais tarde, na Argentina, e logo em seguida, no mesmo ano, uma segunda edição no México. Naquele momento, o livro não teve grande repercussão, talvez pela ausência de um formalismo rigorosamente acadêmico, talvez pela ditadura argentina que se instalava. Em que pese o clima opressivo, meu pai aguardou com grande expectativa ambas as publicações: achava que, no duro ciclo que se iniciava, sua palavra e sua presença podiam ajudar a salvar alguma coisa do muito que começava a ser destruído. (ROMERO, 2004, p. 25) O fato é que, aos poucos, o livro foi se tornando conhecido através de professores que recomendavam sua leitura em sala de aula – como Richard M. Morse, Jorge Enrique Hardoy, Leopoldo Zea, entre outros –, e assim conseguiu traduções na Itália, Estados Unidos e, por fim, no Brasil. Hoje, é uma referência primordial para a história da América Latina. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 431 A edição brasileira de América Latina conta com dois textos de apresentação que acrescentam muito à sua leitura. O texto “Cidades como ideias”, do professor Afonso Carlos Marques do Santos, reúne diversas análises sobre o trabalho de Romero. Uma delas é a do historiador francês Jacques Le Goff, com texto que apresenta a edição argentina, de 2003, do livro Crisis y orden en el mundo feudoburgués, de Romero. Nessa Presentación, Le Goff situa o trabalho de Romero como um pioneiro da história das representações e do imaginário, e pioneiro também no uso do termo “espírito”, anunciando o de “mentalidade”. O segundo, é o prefácio de autoria de Luis Alberto Romero, historiador e filho de José Luis, responsável pela recente compilação de toda a obra do pai. Aqui é apresentada a trajetória de José Luis, culminando com o livro América Latina. Luis Alberto diz que Em cada um dos capítulos percorrem-se sistematicamente as áreas principais da vida histórica: a organização econômica, a sociedade, o governo e a política, as formas de vida, as mentalidades e as ideologias. Em cada caso, entretanto, a ordem é diferente, segundo o jogo das relações e as prioridades, pois o que o preocupava não era a taxonomia mas, sim, a articulação em um conjunto cujo desenho total nunca se perde de vista. (Ibidem, p. 39) Quanto ao livro em si, o texto é bastante fluido, sem notas de rodapé, mas com breves notas ao final de alguns capítulos que trazem o contexto devido às diferentes realidades latinoamericanas. Em sua estrutura, a obra apresenta uma periodização considerando as ideias que percorreram a formação e consolidação das cidades latino-americanas. Romero começa com a América Latina na expansão europeia. Partindo depois para: o ciclo das fundações; as cidades fidalgas das Índias; as cidades criollas; as cidades patrícias; as cidades burguesas; e termina com as cidades massificadas. Parte da complexidade do livro é contextualizar, em cada um dos ciclos definidos, diferentes cidades latino-americanas, trazendo ao mesmo tempo a ideia de unidade e de suas especificidades. Romero fala de cidades como Santiago do Chile, Lima, Rio de Janeiro, Buenos Aires, São Paulo, Bogotá, Cidade do México, Cuzco, Quito, Santo Domingo, Havana, Valparaíso, Recife, Acapulco, Cartagena... Esta é uma diferença importante em relação ao estudo sobre as cidades vitorianas: como o período estudado __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 432 por Romero tem dimensão temporal muito mais ampla que a de Briggs, não seria válido utilizar algumas cidades pontuais, visto que a dinâmica histórica vai alterando a importância de cada uma delas. Assim, em cada uma das fases que Romero apresenta, uma ou outra cidade ganha maior destaque. No longo período abordado, é possível ver uma trajetória que surge de uma origem comum, na Europa, e que vai se moldando a diferentes realidades em terras americanas. Romero mostra que essa origem não foi tão uniforme assim, elencando as diferenças entre os processos de colonização espanhol e português, e relacionando-os com o binômio campo/cidade. Essa dicotomia estaria na base das mudanças das ideias e dos estilos de vida das sociedades estudadas. Nas palavras de Romero: Uma indagação minuciosa acerca da formação das sociedades urbanas e de suas mudanças, e das culturas urbanas – diversas dentro de cada período em cada cidade e diversas dentro dela, segundo os grupos sociais em épocas de intensa transformação –, levou aos resultados que expõe este livro. No fundo, quer pontuar como funciona o desenvolvimento heterônomo das cidades com seu desenvolvimento autônomo, entendendo que nesse jogo não se elaboram apenas as culturas e subculturas urbanas, como também as relações entre o mundo rural e o mundo urbano. É neste último que as ideologias adquirem mais vigor e enfrentam mais claramente o seu desafio – um jogo dialético – com as estruturas reais. (Ibidem, p. 51) Retomando as questões de comparação na introdução, é apresentada a dificuldade de um estudo que chega a parecer caótico, tamanha as diversidades que surgem a partir do momento em que o processo histórico latino-americano se inicia. Se está claro que as cidades desempenham um papel que pode oferecer a chave para desatar este nó, a questão que se coloca é quais constantes devem ser analisadas para se chegar a uma análise possível. Romero apresenta, então, a ideia de ideologias específicas, em oposição a uma ideologia genérica da colonização. Ou seja, enquanto as cidades foram formadas com uma função específica, após algumas gerações, cada sociedade urbana assume sua peculiaridade, para além das funções básicas de uma cidade. E são essas peculiaridades que devem ser procuradas. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 433 AS CIDADES AMERICANAS? Briggs e Romero procuraram uma perspectiva de buscar similaridades entre as cidades estudadas nas suas peculiaridades, de tal forma que é possível usar as expressões cidades vitorianas e cidades latino-americanas tendo um mínimo de unidade por trás delas. Agora, é possível fazer o mesmo quando se fala em cidades americanas? O livro O Espelho de Próspero: cultura e ideias nas Américas traz a discussão sobre as realidades anglo-americana e iberoamericana, na busca de criar um diálogo a partir de suas diferenças. Richard McGee Morse nasceu em Nova Jersey, Estados Unidos da América, em 1922. Aos 25 anos desembarca em São Paulo, com quem teria uma relação intensa. No período em que esteve na cidade, teve um contato bastante próximo com os intelectuais brasileiros, como Antônio Candido, Florestan Fernandes, Sergio Buarque de Holanda e Luis Saia. Dessa convivência, e de seu encantamento com a pauliceia, nasceu a publicação Formação Histórica de São Paulo, de 1970, que apresentava uma periodização para a cidade que continua como uma importante referência. A partir da publicação de Formação, Morse passa a dar aulas nas Universidades de Princeton, Columbia, Yale e Stanford, atuando também como professor visitante no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP) no final da década de 1980. Entre diversos artigos sobre questões latino-americanas, Morse publica, em 1990, A volta de McLuhanaíma: cinco estudos solenes e uma brincadeira séria, com alguns de seus ensaios sobre questões do continente americano, passeando pelos Estados Unidos, Caribe, América espanhola e São Paulo. Richard M. Morse faleceu em 2001, aos 79 anos, no Haiti. O espelho de Próspero teve sua primeira publicação em 1982, em espanhol. A versão brasileira, de 1988, contou com apresentação do sociólogo e crítico literário Antônio Candido, o que mostra a projeção que Morse teve no cenário intelectual brasileiro. Candido aponta que Morse avança das cidades para um uma reflexão em torno de civilizações. Sob essa perspectiva, os __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 434 fatos perdem relevância e o destaque vai para os pensadores (historiadores, poetas, romancistas, filósofos, etc.). Morse estruturou seu livro em três partes – Pré-história; História; e À sombra do porvir – com a intenção de “aguçar a consciência de grandes premissas culturais” (MORSE, 1988, p. 15). Para abordar a pré-história americana, Morse se concentra entre os séculos XII e XVII, onde retoma algumas questões já levantadas por Romero, relativas à colonização da América. No entanto, Morse insere junto aos portugueses e espanhóis, os ingleses. Avançando, o capítulo sobre a História é fortemente marcado por uma oposição entre o Norte e o Sul e se inicia no contexto da Ilustração. Apresentando as culturas políticas em ambos os lados, Morse aborda questões de liberalismo e democracia, como continuidades ou contrapontos às ideias colonizadoras originais. No caso da Anglo-América, cuja colonização não cumpria nenhuma missão civilizadora, sua sociedade foi fundada a partir de três ideias: “a ideia de vocação, a ideia de pacto e a ideia da Igreja e do Estado como esferas separadas” (Ibidem, p.71). Já a IberoAmérica se via em um mundo diferente, em que Espanha e Portugal vão deixando de ter um papel propositivo. Ademais, os processos de independência acentuariam a inadequação entre as tradições políticas e a organização social. O “porvir” traz algumas considerações acerca do que foi apresentado, em uma perspectiva comparativa entre as duas Américas. Assim, Morse afirma que A diferença básica é que sob a ética ibero-católica, mesmo em versões modernizadas, as pessoas percebem os sistemas de poder como exteriores a elas e manipuláveis mediante votos e promessas particulares, ainda que sem garantias de êxitos. [...] Os anglo-americanos nem mesmo falam do ‘Estado’, mas apenas do ‘governo’ ou da ‘administração’, como se fosse algo ‘deles’ – do povo, pelo povo e para o povo, segundo o ideal hoje irônico de Lincoln. (Ibidem, p. 147) O espelho de Próspero teve grande repercussão em seu lançamento nas terras mais ao sul. Primeiro foi publicado em espanhol, depois em português, mas não chegou a ser publicado em sua terra natal, já apontando a natureza da crítica que consta da obra. No Brasil, a troca de artigos entre Morse (1989) e Simon Schwartzman (1988 e 1989) mostram posições bastante __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 435 diversas e enérgicas quanto a seu conteúdo. Aliás, e sem entrar no mérito da questão, este é um debate que vale a pena ser lido, mesmo que somente pelo exemplo de uma boa argumentação. Schwartzman, seu crítico mais aguerrido, reconhece que Morse se olhou no espelho da América Ibérica, mas nele “a América Latina está desfocada porque ela se contempla no espelho da próspera América inglesa e, na busca inútil da imitação do outro, perde sua própria essência” (SCHWARTZMAN, 1988, p. 1). Ou seja, para ele, o olhar estrangeiro de Morse pode provocar distorções graves de interpretação. Outra crítica, mais suave, foi feita por Florestan Fernandes, que reconhece o caráter inovador da pesquisa que Morse desenvolve, porém entende que ele deixa passar a oportunidade de fazer uma história efetivamente crítica. Assim como o olhar estrangeiro que Schartzman questiona, Fernandes entende que Morse teve dificuldade em “sair de sua pele” (FERNANDES, 1995, p. 117), quando negligencia a influência de um sentido imperialista dos Estados Unidos sobre as colônias espanholas e portuguesas. Em países como o Brasil, Havia uma larga faixa de situações e processos históricos determinados “a partir de dentro”. Entretanto, em seus aspectos mais incisivos, do período colonial até hoje, o mais importante era determinado “a partir de fora”, mediante influências que não podiam ser reduzidas, desviadas dos seus cursos ou anuladas. (Ibidem, p. 118) Nesse cenário, é possível falar em cidades americanas, sem um adjetivo em frente? No prefácio ao livro, Morse (1998, p. 13) estabelece as bases para sua comparação: “embora as Américas do Norte e do Sul se alimentem de fontes da civilização ocidental que são familiares a ambas, seus legados específicos correspondem a um anverso e um reverso”. Ou seja, o propósito de seu estudo foi justamente abordar essas diferenças, para estabelecer um diálogo entre dois lados antagônicos. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 436 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES Em uma perspectiva de estudos comparativos, alguns pontos devem ser lembrados, sem, no entanto, o propósito de impor amarras conceituais. Primeiro, os três autores apresentam uma visão histórica que se preocupa menos com o que efetivamente foi, e mais com o que é. Nas palavras de Briggs (1990, p. 11), “there is far more about the new than the old”. Essa visão é particularmente interessante aos estudos comparativos, visto que se lançam bases que permitem entender não apenas uma determinada situação, mas um processo histórico. Enquanto Briggs determina exatamente quais cidades estudar, Romero menciona ora uma, ora outra, de acordo com o tema que está sendo abordado. Esses dois estudos podem ser classificados efetivamente como história urbana – apesar de terem um alcance que vai muito além. Já Morse estrutura seu livro com a comparação entre pensadores, e não de cidades propriamente ditas. Ele as menciona, mas não se fixa nelas: seu maior interesse são as ideias que circulam pelas Américas, que ocasionalmente são apreendidas através das cidades. Outra diferença de abordagem é que, enquanto Briggs se ocupa de um período bastante específico, Romero e Morse buscam a visão da longa duração, com uma perspectiva de civilizações. E é justamente essa diferença que estabelece a diferenciação na escolha do objeto a ser estudado. Com Romero e Morse surge também uma diferença entre os conceitos “latino-americano” e “ibero-americano”. Com o uso da Ibero-América, Morse pretende quebrar uma visão que tem origem com Napoleão, e que implicaria em uma suposta unidade latina, abarcando não só Espanha e Portugal, mas também França e Itália. Ainda, quando se fala em Ibero-América a questão geográfica se altera. Ora, Los Angeles e San Francisco não devem ser consideradas cidades ibero-americanas? Dessa forma, um conceito até então geográfico adquire uma perspectiva civilizatória. Ainda nesse tema: Romero traça com bastante clareza as diferenças entre as colonizações portuguesas e espanholas, considerando inclusive o período em que Portugal esteve unificado à Espanha, e as considera como abordagens colonizadoras diversas. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 437 Não se poderia então falar em uma América espanhola, uma América portuguesa e uma AngloAmérica? Voltando às similaridades, surge a questão da diversidade de fontes históricas. Os três historiadores não trabalham somente com as fontes oficiais – Briggs, aliás, registra isso de forma bastante enfática, em uma clara oposição ao que era feito na Inglaterra então. Na busca pela personalidade, espírito ou temperamento da cidade, Briggs, Romero e Morse se valem da imprensa, da literatura e de outras especialidades dentro do vasto campo das ciências humanas que tem como objeto o urbano. Então, uma alternativa a se considerar para um início de estudos comparativos: a definição não das coisas a serem comparadas, mas das características que formam o sistema a ser analisado. E assim definir se as melhores bases para se obter uma análise sólida será pela via do antagonismo ou da similaridade. Outra, em especial quando se fala de sociedades mais diversas, como foi o caso de Romero e Morse, buscar e valorizar as análises feitas por pesquisadores locais. Vale ressaltar que o olhar estrangeiro é extremamente válido – e o estudo do holandês Huizinga sobre os Estados Unidos3 é um dos bons exemplos disso – porém, o risco de se obter análises superficiais é muito grande. E a superficialidade e uma visão unilateral são os principais riscos quando se trabalha em comparação. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ACHA, José Omar. José Luis Romero (1909-1977): bibliografía comentada para una historia intelectual. Revista Iberoamericana de Bibliografía, Washington, n. 2, p. 409-436, 1998. BOMENY, Helena (org.). Um americano intranquilo. Rio de Janeiro: FGV-CPDOC, 1992. BRIGGS, Asa. Victorian cities. London: Penguin Books, 1990. 3 HUIZINGA, Johan. El concepto de la Historia y otros ensayos. Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1946. Espiritu Norteamericano, p. 407-431. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 438 FERNANDES, Florestan. A contestação necessária: retratos intelectuais de inconformistas e revolucionários. São Paulo: Ática, 1995. MORSE, Richard M. O espelho de Próspero: cultura e ideias nas Américas. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. ______________. A miopia de Schwartzman. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 24, p. 166-178, Jul. 1989. MOTA, Carlos Guilherme. Da cidade ibero-americana: temas, problemas, historiografia. PósRevista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, São Paulo, n. 18, p. 134-158, 2005. PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. As muitas faces da história: nove entrevistas. São Paulo: Unesp, 2000. RIMMER, Gordon. Review of Victorian Cities. Social and Economic Studies, Kingston, v. 13, n. 3, p. 405-408, Set. 1964. ROMERO, José Luis. América Latina: as cidades e as ideias. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004. SCHNEIDER, Sergio; SCHIMITT, Cláudia Job. O uso do método comparativo nas Ciências Sociais. Cadernos de Sociologia, Porto Alegre, v. 9, p. 49-87, 1998. SCHWARTZMAN, Simon. O espelho de Morse. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 22, p. 185-192, Out. 1988. ______________. O gato de Cortázar. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 25, p. 191-203, Out. 1989. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 HIGH LINE O PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO RESUMO O High Line foi o segundo destino turístico da cidade de Nova Iorque em 2012 atraindo 4,4 milhões de 1 visitantes . Criado a partir da uma antiga linha férrea desativada, o parque é um exemplo de duas dinâmicas que estão moldando a identidade das cidades contemporâneas. De um lado a dinâmica da transformação econômica, em que as atividades industriais dão lugar à economia baseada em serviços, abrindo caminho para a ressignificação de antigas unidades fabris. De outro lado, a atuação da sociedade civil aglutinada em torno da construção do ambiente urbano, que vai além das preocupações com segurança ou valorização de uma área. Num momento em que, no Brasil, se discute a participação popular em ações de transformações e uso das cidades, esse artigo pretende levantar considerações sobre quais foram os fatores determinantes para que se levasse adiante o projeto de criação de um espaço público que celebra a diversidade, e como isso se insere no contexto contemporâneo de transformações urbanas. Palavras-chave: High Line; Espaço Público; Participação da Sociedade; Plano Diretor; Parques ABSTRACT The High Line was the second most visited touristic site in New York in 2012 and attracted more than 4.4 million visitors[1]. Created from an old, unused railroad track, the park is an example of two dynamics that have been shaping the identity of contemporary cities. On the one hand the dynamics of economic transformation, in which industrial activities give place to the service-based economy, allowing old manufacturing units to be resignified. On the other, the expression of the civil society gathered around the building of the urban environment that goes beyond concerns on the safety or appreciation of a given area. In a moment in which, in Brazil, the involvement of the population in acts of transformation and use of the cities is discussed, this article intends to raise questions about what were the decisive factors that enabled the project that created a public space that celebrates diversity to be carried on and how it fits in the contemporary context of urban transformation. Key words: High Line; Public Space; Social Involvement; Master Plan, Parks 1 Friends of the High Line: http://www.thehighline.org/blog/2012/12/27/2012-at-the-high-line-in-photos 440 HIGH LINE O PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO Mauro Calliari2 Roberta Laredo3 Valter Caldana4 Nadia Somekh5 1. HISTÓRICO A área oeste da ilha de Manhattan concentrava, no início do século XIX, um grande número de plantas fabris e armazéns atacadistas. Para servir a essas operações, em 1847, foi iniciada a operação de trens, no nível da rua. Devido ao aumento de acidentes nos trilhos do trem, em 1927, a cidade autoriza o ente administrativo da ferrovia a construir uma linha elevada para escoar as mercadorias. A construção desta linha e do pátio dos trens (terminal St. John’s Park), com capacidade para 190 vagões, durou entre 1931 e 1933. Em 1934, foi inaugurada, e veio a ser chamada nos anos posteriores de High Line. 2 Administrador de Empresas pela FGV-SP; Mestrando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, SP. e-mail: [email protected]. 3 Engenheira Civil pela PUCCAMP. Mestranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, SP. e-mail: [email protected]. 4 Professor Doutor pela FAU-USP, Professor Visitante do UIP, Paris e Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. e-mail: [email protected]. 5 Professora Doutora pela FAU-USP, presidente do CONPRESP, Diretora do Patrimônio Histórico da SMC PMSP, Professora convidada na Universidade de Cergy Pontoise e Professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. e-mail: [email protected]. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 441 Feita em aço, a estrutura suspensa (a uma altura aproximada de 9 metros), corta a ilha no sentido norte-sul e depois muda de direção para o oeste até o Rio Hudson, num trecho original de quase três milhas, que depois veio a ser cortado para pouco mais de uma milha e meia (aproximadamente 2,4 quilômetros). Traçado atual Trecho Demolido Figura 1.1: Mapa de Manhattan. Fonte: Google Earth. Acesso em 05/10/2013. Modificado pelo autor Até o início da década de 1960, a linha funcionou em larga escala, desde Spring Street até a até o terminal St. John’s, na rua 34. A partir daí, seu uso começou a declinar, em função da maior simplicidade da operação com caminhões de carga, até a última viagem, em 1980. Com a linha abandonada e a desativação de vários depósitos, em 1991, cinco secções do sul foram demolidas para construção de complexo de apartamentos. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 442 Em 1999, a empresa CSX Transportation assume a linha e encomenda um estudo de viabilidade à RPA6. O estudo, apresentado numa audiência pública, excluía a possibilidade de utilização da linha para o transporte de cargas pesadas, mas deixava em aberto a utilização por trens leves e a criação de áreas verdes. Nessa audiência, também foi apresentada pela prefeitura a proposta de demolição da High Line, suportada por comerciantes, proprietários de imóveis nas imediações da linha abandonada. 2. A ORGANIZAÇÃO FRIENDS OF THE HIGH LINE Dois moradores da região, Joshua David e Robert Hammond se conheceram na audiência e descobriram o interesse comum em tentar preservar a estrutura, por razões históricas e arquitetônicas. Nas conversas posteriores, amadureceu a ideia de criar uma organização específica para esse empreendimento. Ainda em 1999, decidem criar a ONG Friends of the High Line e começam a angariar suporte para a o projeto. O debate público que se seguiu envolveu diversos atores: a prefeitura, a sociedade civil e os donos das áreas localizadas abaixo da via elevada. A prefeitura, já no final do mandato da administração Rudolph Giuliani, era a favor da demolição da via e assinou em 2001 um decreto autorizando a demolição. Os proprietários de áreas na região também lutavam pela demolição, sob o argumento de desvalorização econômica de seus ativos7. 6 RPA – Regional Plan Association é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1922, com o objetivo de coordenar os esforços de desenvolvimento da região de N.York, N.Jersey e Connecticut, englobando 3 estados e 783 municípios. Ao longo desse tempo, o RPA produziu três planos de desenvolvimento, está em vias de apresentar um quarto e auxilia os governos locais e entidades em estudos específicos, como no caso da High Line. Fonte: Palestra de Nicolas Rondero, diretor da RPA, em 3 de outubro de 2013, no seminário USP Cidades, S.Paulo. 7 Jornal New York Times de 31 de dezembro de 2000. Disponível em: __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 443 Os defensores da ideia do parque buscaram aumentar o grau de convencimento através de campanhas promocionais, que envolveram até celebridades em defesa do “patrimônio histórico” da cidade. Além do argumento emocional, havia também uma aposta na valorização possível da área. Os cálculos feitos mostravam um retorno de US$ 262 milhões, em aumento de impostos, a partir de um investimento de US$ 100 milhões8. Em 2001, a ONG consegue recursos para uma ação judicial, propondo o adiamento da demolição até o início do mandato do próximo prefeito, em 2002. Todos os candidatos foram procurados pela ONG para que manifestassem publicamente apoio à manutenção da estrutura. Nesse período, houve alguns fatores que podem ter ajudado a reverter a decisão da demolição: Em 2002, A nova administração do prefeito Michael Bloomberg, influenciada em parte pelo fato de alguns de seus membros terem ajudado a equipe da Friends of the High Line, acabou encampando a ideia da recuperação da linha. No mesmo ano, o órgão de preservação9 inclui a High Line entre os monumentos a serem preservados na cidade e em 2003 oficializou o Meat Packing District como bairro histórico, sinalizando a importância da preservação histórica na região. Finalmente, fizeram-se sentir também os efeitos da destruição das torres gêmeas em 11 de setembro de 2001. Segundo os criadores da ONG, o estado de espírito reinante não combinava com novas demolições, escavadeiras e entulho na ilha 10. http://www.nytimes.com/2000/12/31/realestate/which-track-for-the-high-line.html?pagewanted=all&src=pm. Acesso em: 05/10/2013. 8 9 DAVID, Joshua e HAMMOND, Robert. High Line. A história do parque suspenso de Nova York. São Paulo: Bei, 2013. Landmarks Preservation Comission. 10 DAVID, Joshua e HAMMOND, Robert. High Line. A história do parque suspenso de Nova York. São Paulo: Bei, 2013. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 444 Em março 2002, o juiz do caso declarou ilegal a demolição e em 2003 o Community Board votou pela manutenção da High Line. Há mais um percalço importante na história da High Line, a mobilização da cidade de Nova Iorque para sediar as Olimpíadas de 2012. No projeto original, havia a proposta de construir um estádio nas imediações da via elevada e chegou-se a discutir novamente a necessidade de demolir parte de sua estrutura para acomodar o entorno do estádio. Com a decisão do Public Authorities Control Board, de não utilizar fundos públicos para o estádio, a candidatura inviabilizou-se, tornando a nova discussão sobre a demolição desnecessária. 3. O PROJETO A dupla de criadores da Friends of the High Line disse não ter plano estruturado de ocupação da área no início dos seus trabalhos 11 . A intenção era angariar fundos para poder realizar um concurso, que gerasse projetos para discussão. Segundo eles, a estratégia de captação de recursos deveria utilizar o design como arma de promoção, para criar “a impressão de que se tratava de uma grande organização”. O logotipo foi um desses recursos. Figura 3.1: Logo High Line. Fonte: http://www.thehighline.org/. Acesso em 05/10/2013 11 Palestra proferida por Joshua David e Robert Hammond em 26 de setembro de 2013, por ocasião do Arq.Futuro 2013, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 445 Nessa mesma linha, a ONG optou por não tentar impor uma visão final do que poderia se tornar o espaço, mas valorizar a pré-existência, como mostram essas fotos do local, tiradas pelo fotógrafo Joel Sternfeld 12. Figura 3.2 e 3.3: High Line antes das intervenções de 2008. Fonte: http://www.thehighline.org/galleries/images/joel-sternfeld. Acesso em 05/10/2013 Com a decisão da cidade de manter a linha elevada, a Friends of the High Line pôde se concentrar no projeto para o local. Esse processo envolveu duas fases. Um concurso de ideias e um concurso de design. O primeiro foi realizado em 2003 e gerou 762 propostas. Uma vez que os critérios de escolha haviam sido deixados em aberto, houve uma diversidade muito grande nas ideias, que incluíam uma piscina de quase uma milha, um manifesto político em forma de presídio e até uma montanha russa. O segundo concurso aconteceu no ano seguinte. Das 51 propostas submetidas, foram selecionadas sete e finalmente quatro se qualificaram como finalistas. A comissão do concurso submeteu as propostas finalistas à comunidade através de vários workshops 13. Assim, foi escolhida a proposta do escritório James Cornfield Operations. 12 STERNFELD, Joel. Walking on the High Line. Disponível em: http://www.thehighline.org/galleries/images/joel-sternfeld. Acesso em 05/10/2013. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 446 Segundo Lisa Switkin, diretora do escritório 14 , o conceito do projeto foi o de manter elementos que já existiam nas condições do local antes da intervenção, como, por exemplo, os trilhos, que eram a marca da própria linha, e os jardins que haviam crescido naturalmente. Na execução da obra, apesar de se manterem espécies que já estavam lá, todo o piso e a área do jardim foram refeitos. A esse conceito inicial, se somaram alguns outros princípios. O primeiro, relativo à inserção da estrutura suspensa na vizinhança. Para passantes no local, a única coisa que se podia ver era a parte de baixo da estrutura. Assim, a facilidade de acesso também foi privilegiada para poder incentivar a visitação. Passarelas foram construídas, com alguma preocupação com a segurança. A união dos diversos ambientes criados ao longo da via veio através da nova superfície proposta: uma estrutura modular que permitiu a união dos elementos ao longo da via. Assim, segundo o escritório, seria permitido fazer uma “jornada através da cidade”, mas ao mesmo tempo permitindo que houvesse mudanças no paisagismo e criação de diferenças entre os diversos ambientes. Figura 3.4 e 3.5: Superfícies e usos. Fonte: Roberta Laredo set/2011 13 Os mecanismos de consulta pública dos projetos em Nova Iorque envolvem, dependendo da importância, os representes no City Council e a população das áreas envolvidas, através dos Community Boards. Disponível em: http://www.nyc.gov/html/cau/html/involved/involved.shtml. Acesso em: 05/10/2013. 14 Palestra proferida por Lisa Switkin em 26 de setembro de 2013, por ocasião do Arq.Futuro 2013, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 447 Em relação às atividades, o conceito escolhido foi a de se diferenciar do parque próximo, o Hudson River Park. Ali, há uma grande oferta de esportes. O High Line, ao contrário, deveria ser um espaço “devagar”, para permitir a contemplação e “entrar num outro mundo” 15. As atividades escolhidas, entretanto, parecem ir além desse conceito: conversas com estudantes, passeios, shows, eventos noturnos. A preocupação com os equipamentos aparece nos diversos tipos de bancos que foram testados e colocados ao longo do caminho, nos acessos à rua, na iluminação baixa e até em surpresas como a água para os pés cansados. Figura 3.6 e 3.7: Bancos: leitura, descanso e contemplação. Fonte: Roberta Laredo set/2011 As dificuldades de construção tiveram a ver com o acesso de equipamentos pesado ao topo da estrutura e com a necessidade de criar uma estrutura impermeável, com desnível para saída de água e ainda incluíram reparos no aço e no concreto, apesar de ser mantida a estrutura original quando possível. Apesar de se tentar manter a aparência relativamente “natural” das plantas nativas da situação pré-intervenção, foram adicionas novas espécies, com o que se atingiu 220 espécies vegetais no total. 15 Ibidem __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 448 Figura 3.8: Intervenção paisagística. Fonte: Roberta Laredo set/2011 O diálogo com a cidade acontece quando a linha se aproxima de residências ou passa por dentro de depósitos. Há interação espontânea entre moradores e hóspedes de hotel e os frequentadores da via. Figura 3.9: Entorno. Fonte: Roberta Laredo set/2011 A construção foi dividida em três setores, dois dos quais já estão prontos. O último setor, o que ainda está sendo feito, é o que pretende unir a cidade e o rio. Ele atravessa uma região povoada por novos empreendimentos imobiliários e circunda o mega-projeto de utilização do terminal ferroviário. Prevê-se que o contraste com prédios altíssimos trará novos desafios de escala para o parque. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 449 Figura 3.10: Setor ainda não inaugurado. Fonte: Roberta Laredo set/2011 4. BALANÇO PÓS-INAUGURAÇÃO O parque High Line foi inaugurado em 08 de junho de 2009. A linha foi oficialmente doada pela CSX para a cidade de Nova Iorque e se encontra sob a jurisdição de departamento de trânsito. Quanto à gestão do parque, a falta de recursos públicos fez com que a prefeitura optasse pelo modelo de manutenção privada, através de uma PPP, semelhante à existente no Central Park, que também tem a equipe de manutenção gerida pelo setor privado. A Friends of the High Line foi escolhida para ser a administradora do parque e é responsável pela contratação da equipe de jardinagem, limpeza e segurança, pelo que recebe uma parte das despesas (10%). A diferença é captada através de doações (90%). VISITAÇÃO O local, virtualmente vazio antes do projeto, conheceu um boom de visitação: 4,4 milhões de pessoas em 2012, contra previsão inicial de 300 mil 16 . O acesso é gratuito. Há uma programação de eventos para atrair novos visitantes, como o programa de parceria que leva alunos de escolas públicas a ter aulas sobre a industrialização do local e ainda programas culturais para moradores e visitantes do bairro do Chelsea, cortado pela via e famoso por suas galerias de arte. 16 DAVID, Joshua e HAMMOND, Robert. High Line. A história do parque suspenso de Nova York. São Paulo: Bei, 2013. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 450 VALORIZAÇÃO A previsão antes da obra era a de que o investimento ficaria da ordem de 100 milhões de dólares, o que geraria retorno de 262 milhões de dólares, em aumento de tributos. Na realidade, foram gastos em projetos, despesas legais e construção, aproximadamente US$ 150 milhões, dos quais dois terços de recursos públicos e a diferença de verbas privadas. Entretanto, o retorno em impostos adicionais devidos à valorização dos imóveis foi muito superior, estimado em 950 milhões de dólares 17. Além disso, há 40 novos projetos de prédios na região, o que representa US$ 2 bilhões de dólares em novos investimentos. 5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO DO PARQUE HIGH LINE O High Line está inserido num contexto de transformação do ambiente urbano, descrito, entre outros por David Harvey, em A condição pós-moderna. Num espaço relativamente curto de tempo – 75 anos, a cidade de Nova Iorque criou uma infraestrutura específica para atender a uma realidade industrial, deixou de usá-la e agora assiste à sua ressignificação, numa realidade econômica totalmente diferente, concentrada no setor terciário avançado. O processo de criação do parque é tão emblemático dessa nova realidade que enseja algumas reflexões. Sob o ponto de vista de resultados econômicos e visitação, o projeto de requalificação da High Line parece ter sido um sucesso. Uma estrutura deteriorada e abandonada se transformou num espaço público gratuito, frequentado por moradores e visitantes e que acabou valorizando a área em torno. 17 High Line. A história do Parque suspenso de Nova York. P. 110 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 451 Sobre esses primeiros resultados pode-se fazer alguns questionamentos: quais foram e em que contexto surgiram os instrumentos que viabilizaram o projeto? Quais são os fatores de sucesso na implementação do novo equipamento urbano? O NOVO URBANISMO A primeira reflexão é sobre as forças que moldam a nova cidade contemporânea. A própria sobrevivência do espaço nesse contexto já pode ser vista como um símbolo de um novo urbanismo, tal qual descrito por François Ascher 18. Segundo ele, diante do aumento da complexidade das novas relações sociais, os novos princípios do urbanismo devem conceber os lugares em função das novas práticas sociais e procurar maneiras de lidar com a multiplicidade de interesses. Isso exige uma nova forma de gerenciar os conflitos entre grupos de pressão, o que é evidenciada na longa história da participação de vários atores envolvidos no projeto da High Line. Além disso, evidencia-se também o princípio de que o gestor público deve lidar cada vez mais com o arcabouço jurídico de contratos e novas modalidades de parcerias. Requalifica-se, assim, o próprio papel do poder público: de planejador e controlador, o poder público passa a atuar com um coordenador do processo público, criando instâncias para que se possa ouvir e lidar com a multiplicidade de opiniões. FINANCIAMENTO Ao contrário do exemplo da Promenade Plantée, de Paris 19, que foi liderada desde o início pelo poder público, o High Line não só partiu de uma iniciativa popular como sobreviveu enquanto grupo de pressão graças aos financiamentos privados. Esses financiamentos permitiram manter 18 19 ASCHER, François. Os novos princípios do urbanismo. São Paulo: Romano Guerra, 2010. Le Viaduc des Arts et la Promenade plantée (12e). Disponível em: http://www.semaest.fr/article/le-viaduc-des-arts-et- la-promenade-plantee-12e. Acesso em: 05/10/2013. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 452 uma equipe dedicada durante anos, até que se tomasse a decisão de investir recursos públicos para a construção. Assim, pode-se dizer que o dinheiro privado serviu como catalisador do projeto até que houvesse uma certeza política que refletisse o desejo da sociedade de investir numa determinada direção. A importância do equacionamento financeiro do projeto é exemplificada pela lei de 2005 20 que regularizou o novo zoneamento da região onde está o High Line, oficializando o direito de venda do potencial construtivo, e abrandando a reação negativa dos proprietários dos terrenos que eram a favor da demolição da linha. O fato da gestão do parque se valer ainda de uma estrutura e fundos privados para se viabilizar reflete a dificuldade do poder público, mesmo o da possivelmente cidade mais poderosa do mundo, em lidar com a manutenção de seu patrimônio. Por outro lado, os recursos privados parecem garantir uma dose de legitimidade e de proximidade entre os doadores e o objeto. Não menos importante do que isso é o bom uso das métricas. A exemplo do que é feito em outras iniciativas da cidade de Nova Iorque, existe uma aparente clareza sobre o que deve ser medido: visitação, investimento, valor patrimonial, retorno, imposto predial, são dados quantitativos que servem para demonstrar (ou não) a viabilidade e o resultado do empreendimento. Na frente pública, há outros exemplos interessantes de medições feitas pela municipalidade. A secretária de transportes da cidade, Janette Sadik-Khan 21 , por exemplo, quando quis demonstrar a vantagem da introdução das zonas de pedestre em Times Square e outras regiões da cidade, divulgou informações sobre o número de visitantes, o valor do metro 20 West Chelsea Zoning Proposal – Approved. Disponível em: http://www.nyc.gov/html/dcp/html/westchelsea/westchelsea3a2.shtml. Acesso em 05/10/2013. 21 Janette Sadik-Khan. Palestra proferida em 25 de setembro de 2013, no Arq.Futuro, São Paulo. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 453 quadrado nos imóveis circundantes, a arrecadação tributária decorrente das ações e ainda os números de acidentes com pedestres e ciclistas. Essa é uma impressionante demonstração da escolha de estatísticas relevantes e da sua ajuda nas tomadas de decisões relativas a programas municipais. QUALIDADE Não se pode saber quais seriam os resultados de visitação e permanência se o projeto fosse outro, mas pode-se dizer que houve uma grande consistência na sua proposição, no conceito por trás dele e na execução. A ideia da simplicidade como criadora da sensação de bem estar foi seguida no paisagismo, nos equipamentos, nos acessos, Há, no projeto, uma preocupação em manter a escala das intervenções num patamar próximo das pessoas, tal como descrito por Jan Gehl 22 , obviamente facilitada pela natural segregação existente entre os carros e as pessoas. Além disso, a existência de bons equipamentos como bancos e gradis, alternando materiais e paisagismos, parece induzir á permanência nos espaços, efetivando, assim, a intenção dos projetistas de criar uma atmosfera minimalista e agradável. Especificamente, a grande quantidade de bancos evoca as teorias de William Whyte, num estudo seminal na década de 1970, a respeito da facilidade de sentar, que concluiu: “people tend to sit most where there are places to sit” 23. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA COMUNIDADE Os mecanismos de participação da comunidade na aprovação e escolhas de projeto são garantidos por lei municipal 24. Isso é uma garantia de legitimidade e envolvimento nas ações que dizem respeito àquela região. 22 GEHL, Jan. Life Between Buildings. Londres: Island Press, 2011.Edição original 1971. 23 WHYTE, William. The Social Life of Small Urban Spaces. Nova Iorque, Project for Public Spaces, 2001, 9ª tiragem - 2012. P.28 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 454 Além da consideração legal, entretanto, pode-se destacar na história da High Line, uma particularidade: os grupos de pressão foram constituídos por segmentos cuja representatividade política na sociedade é bastante recente, como o grupo de gays, por exemplo. Os dois fundadores da Friends of the High Line declaram publicamente sua opção sexual e explicitam que o apoio da comunidade gay foi fundamental para a sobrevivência da ONG. Além disso, outros grupos, ligados a uma economia terciário-avançada podem ser identificados na história: as galerias de arte, o mercado imobiliário e os preservacionistas. 6. CONSIDERAÇÃO FINAL Para terminar, diante de um caso que parece ser atualmente uma unanimidade, pode-se perguntar quais poderiam ser as consequências ainda não medidas. Em outras palavras, será que há questões que ainda não foram levantadas e que poderiam contrapor esse aparente sucesso? O POSSÍVEL EFEITO NEFASTO DO AUMENTO DOS PREÇOS DOS IMÓVEIS. Se a primeira métrica de sucesso do projeto é a valorização da área, há que pensar na população que já morava nessa área. Como estão lidando com o declarado aumento dos preços? Essa preocupação já chegou aos legisladores municipais. Em 2005, quando o zoneamento foi aprovado 25, houve uma proposta de uso, densidade e conjunto de regulações para a área, que obriga 30% dos novos prédios a oferecerem unidades mais “baratas”. Parte da área cortada pela via, o Chelsea tem identidade ligada às galerias de arte e estúdios, tradicionalmente em imóveis baratos. Como será, no futuro, mantida a identidade de um bairro? 24 About Community boards in NYC. Disponível em: http://www.nyc.gov/html/cau/html/cb/about.shtml. Acesso em: 05/10/2013 25 Proposed Use, Density, and Bulk Regulations. Disponível em: http://www.nyc.gov/html/dcp/html/westchelsea/westchelsea3c.shtml. Acesso em: 05/10/2013. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 455 O PARQUE NÃO É A RUA Se a segunda métrica de sucesso do empreendimento é medida em número de visitações, como se traduz isso na frequência aos estabelecimentos localizados embaixo da linha ou nas áreas adjacentes? Será que os milhões de dólares investidos num elemento acima da rua não podem gerar o efeito inverso embaixo da estrutura? Como será a vitalidade das ruas ao redor do High Line? Uma outra questão ligada a isso é o fato de que um parque exige manutenção e dedicação exclusiva para ser mantido. A sociedade vai ter vontade política e recursos para manter esse espaço no futuro? Como objeto de estudo, o High Line ainda é muito recente para permitir uma análise completa e uma conclusão. Há variáveis que podem alterar a dinâmica de gestão do espaço e a própria inserção no entorno: a terceira etapa está em construção, a expectativa de um megaempreendimento imobiliário no lugar do terminal ferroviário, a dinâmica de ocupação comercial e residencial das áreas adjacentes e ainda mudanças no quadro político com novas eleições no final de 2013. Entretanto, mesmo diante de uma realidade em construção, pode-se pontuar o impressionante dinamismo de uma cidade que se transforma constantemente, ao ritmo das convicções e ações da sociedade que acolhe. O complicado jogo de forças que possibilitou a criação do parque foi sendo alterado ao longo do tempo pela ação política e pelo envolvimento pessoal de atores que conseguiram adesões e recursos para interferir no resultado final. Dentro dessa ótica, o parque ganha um caráter simbólico de preservação de memória, de ocupação do espaço público e de participação popular. Há que se acompanhar o desenrolar da história para constatar se esses valores virão também acompanhados de inclusão social e da fruição da diversidade que a cidade contemporânea pode oferecer. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 456 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ASCHER, François. Os novos princípios do urbanismo. São Paulo: Romano Guerra, 2010. DAVID, Joshua e HAMMOND, Robert. High Line. A história do parque suspenso de Nova York. São Paulo: Bei, 2013. DUNLAP, David W. Which Track for the High Line?. New York Times, Nova Iorque, 31 de dezembro de 2000. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2000/12/31/realestate/which-trackfor-the-high-line.html?pagewanted=all&src=pm>. Acesso em: 05/10/2013. GEHL, Jan. Life Between Buildings. Londres: Island Press, 2011.Edição original 1971. ______. Cities for People. Londres: Island Press, 2010. HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: edições Loyola, 1993. JACOBS, Jane. Morte e vida das grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2009. SENNET, Richard. O declínio do homem público; as tiranias da intimidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. WHYTE, William. The Social Life of Small Urban Spaces. Nova Iorque, Project for Public Spaces, 2001, 9ª tiragem - 2012. NEW YORK CITY – DEPARTAMENT OF CITY PLANNING. West Chelsea Zoning Proposal – Approved. Disponível em: http://www.nyc.gov/html/dcp/html/westchelsea/westchelsea3a2.shtml. Acesso em 05/10/2013. NEW YORK CITY – DEPARTAMENT OF CITY PLANNING. West Chelsea Zoning Proposal – Approved. Proposed Use, Density, and Bulk Regulations. Disponível em: <http://www.nyc.gov/html/dcp/html/westchelsea/westchelsea3c.shtml>. Acesso em: 05/10/2013. NEW YORK CITY – MAYOR’S COMMUNITY AFFAIRS UNIT. About Community boards. Disponível em: <http://www.nyc.gov/html/cau/html/cb/about.shtml>. Acesso em: 05/10/2013. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 457 NEW YORK CITY – MAYOR’S COMMUNITY AFFAIRS UNIT. About Community boards. Disponível em: <http://www.nyc.gov/html/cau/html/involved/involved.shtml>. Acesso em: 05/10/2013. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE L’ EST DE PARIS. (SEMAEST). Le Viaduc des Arts et la Promenade plantée (12e). Disponível em: <http://www.semaest.fr/article/leviaduc-des-arts-et-la-promenade-plantee-12e>. Acesso em: 05/10/2013. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO PÚBLICO NA IDENTIDADE DA CIDADE CONTEMPORÂNEA RESUMO Esse artigo pretende discutir a importância do espaço público para a cidade contemporânea. O ponto de partida é a teoria sociológica dos papéis públicos, formulada por Richard Sennet, que assinala a necessidade da distinção clara entre o público e o privado no relacionamento diário entre os cidadãos das cidades para que se crie a própria identidade humana. A partir desse reconhecimento, foi usada a obra de Olivier Mongin para verificar até que ponto a cidade contemporânea está criando uma cisão nesse equilíbrio histórico. Palavras-chave: Espaço-público, identidade, cidade contemporânea, Richard Sennet, Oliver Mongin. ABSTRACT This article aims to discuss the importance of the Public Space in the context of the Contemporary City. The starting point is the sociological theory of the Public Roles, expressed by Richard Sennet. It points out the clear distinction between the Public and the Private realm in the daily relationship between citizens, necessary to the very creation of the human Identitity. The article, then, uses the work by Olivier Mongin and tries to investigate how the Contemporary City is creating a fracture in this historic equilibrium between public and private and its consequences. Key words: Public Space; Identity; Contemporary City, Richard Sennet, Olivier Mongin. 459 A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO PÚBLICO NA IDENTIDADE DA CIDADE CONTEMPORÂNEA Mauro Calliari Valter Caldana 1 2 1. O ESPAÇO PÚBLICO COMO PALCO DA VIDA ATIVA O livro O Declínio do Homem Público, de Richard Sennet, publicado em 1974 e revisado dois anos depois, é basilar para a compreensão da importância da vida pública nos últimos séculos. Foi escrito num momento emblemático da história contemporânea, logo após a deflagração da crise do petróleo, um dos pontos de inflexão do início das transformações que ainda estão em curso, mas que já estão moldando um novo paradigma social, descritos por autores como David Harvey como pós-modernidade (HARVEY, 1993). Nesse livro, Richard Sennet conta a gênese do que ele chama de doença contemporânea – o narcisismo, e seus efeitos na vida pública. Vejamos o encadeamento de ideias que ele propõe, num texto recheado de referências psicológicas e sociológicas: Segundo Sennet, uma maneira de definir a cidade pode ser dada através do convívio que ela proporciona. Assim, “uma cidade é um assentamento onde estranhos devem provavelmente 1 Administrador de Empresas pela FGV-SP e Mestrando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, SP.. Email:[email protected]. 2 Professor Doutor pela FAU-USP, Professor Visitante do IUP, Paris e Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Email:[email protected] __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 460 se encontrar”.3 (SENNET, 1998, p.324). Essa experiência de encontro com estranhos em local público é a essência da civilidade, o conjunto de atos e regras que normatiza a convivência entre pessoas que não têm intimidade entre si. Segundo ele, a civilidade tem um papel importante para a manutenção da própria individualidade. Ao conviver com os diferentes, um indivíduo ganha capacidade de compreensão sobre si mesmo. A convivência com a alteridade em graus variados de intimidade faz com o que o habitante da cidade tenha que representar papéis que permitam intercâmbios e trocas dentro de determinadas regras. O papel é o “comportamento apropriado a algumas situações, mas não a outras”. É ele que garante a verossimilhança em público: adotar um comportamento comum que todos concordam ser adequado. Assim, ao longo da história, as cidades ocidentais foram construindo esse equilíbrio entre a vida pública e a vida privada. Esse equilíbrio garantia que o homem, em contato com outras pessoas em sua faina diária, estivesse sempre exercitando sua cidadania. A diversidade do espaço público, na forma do mercado, da praça, das ruas, permitia que ele convivesse cotidianamente com pessoas de origens e posses distintas das suas. Os signos externos dessa alteridade eram, segundo Sennet, a garantia de que, mesmo sem uma convivência íntima, os diferentes se reconhecessem e cada um assumisse, na vida pública, o seu papel, que lhe permitia justamente exercitar essa diferença,participando da “vida ativa” que caracteriza a res-publica. A identidade dos habitantes das cidades ocidentais foi, assim, sendo construída, paradoxalmente, através da convivência entre os diferentes. A partir do momento em que a 3 Ao longo do livro, essa mesma definição é encontrada outras vezes, com pequenas variações. Em uma delas, por exemplo, a frase muda para “cidade é um assentamento onde estranhos podem se encontrar, cotidianamente”. Cada uma parece enfatizar um determinado aspecto do encontro com a alteridade, conforme o contexto . __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 461 própria escala da cidade aumenta, com a migração em direção aos centros administrativos e econômicos no século XVIII, a convivência entre os “estranhos” também aumenta e o senso de identidade natural baseado na vizinhança e no conhecimento mútuo que havia nas vilas e pequenas cidades é substituído pela dúvida: “quem somos nós?” e “quem é o estranho?”. Para Sennett, nesse momento, há uma reconstrução da sociabilidade, baseada em dois princípios: os códigos de respeitabilidade, como, por exemplo, as roupas, que refletem exatamente as origens e as profissões de cada um, e os papéis públicos. “O comportamento “público” é antes de tudo, uma questão de agir a certa distância do eu, de sua história imediata, de suas circunstâncias e de suas necessidades; em segundo lugar, essa ação implica a experiência de diversidade”. (SENNETT, 1998, p. 115) Em outras palavras, o contato com o diferente permitiu a constituição da própria identidade do homem urbano ao longo dos séculos até meados do século XIX. Ou seja, eu preciso do outro para me conhecer. Olivier Mongin analisa a questão da importância dos espaços públicos sob uma ótica ligeiramente diversa, mas bastante complementar. Antropólogo e filósofo francês, escreveu, em 2005, o livro A condição urbana. Sua importância reside na abrangência histórica da evolução do ambiente urbano europeu e, principalmente, na descrição detalhada das dinâmicas que estão moldando a cidade contemporânea. O livro de Mongin foi escrito quase trinta anos depois de O declínio do homem público. Apesar de Sennet não ser citado diretamente nenhuma vez ao longo do texto, pode-se ver nele uma possibilidade de detalhar a doença do homem contemporâneo esboçada por Sennet. A citação abaixo, por exemplo, exprime o mesmo tipo de raciocínio sobre a polaridade privadopúblico: “Do mesmo modo que a forma da cidade corresponde à colocação em tensão de termos opostos (o centro e a periferia, o dentro e o fora, o interior e o exterior), a __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 462 inscrição em um espaço público exige encontrar um ritmo, o melhor ritmo concebível entre o privado e o público, entre o interior e o exterior, entre a interioridade e a exterioridade.” (MONGIN, 2009, p. 61) Assim, o mecanismo do teatro também parece ser capaz de explicar a própria evolução da cidade, como civita. Segundo Mongin, a cidade remete a três tipos de experiência urbana, (MONGIN, 2009, p.29-30). A primeira experiência é física: a experimentação da cidade pelo transeunte: “A prática do transeunte é a marcha, mas porque esta é uma experiência rente ao chão que exige lentidão e paciência, porque ela desconfia do olho que quer captar longe demais, alto demais. Caminhando, não se vê grande coisa, mas se muda de perspectivas incessantemente, como um pintor cubista que renuncia à perspectiva clássica.” (MONGIN, 2009, p.62) Assim, a descoberta da cidade se dá “passo a passo”. O sair de casa implica um desejo de exteriorização, que “se exprime por uma libertação, uma saída de si, uma saída de casa”. (MONGIN, 2009, p.63) O raciocínio de Mongin é luminoso, a respeito do binômio estar-só/estar-em-grupo ,nesse ajuntamento de diferentes que é a cidade: “Quando não há ninguém, é preciso ser vários; quando há muita gente, é preciso estar só, mas em cada um dos casos há movimento, caminhada, flanância.” (MONGIN, 2009, p.67). Talvez essa frase ajude a explicar a noção do flâneur, o personagem símbolo da ideia de viver anonimamente a experiência da multidão, que foi encarnado por Baudelaire. Um de seus poemas que simboliza essa experiência é o À une passante. Nele, o poeta encontra uma moça em meio à confusão da rua. Ela é linda e faz o seu coração renascer... apenas para perdê-la em seguida. A perplexidade pela perda se expressa condoída: “Um éclair … puis la nuit! – Fugitive beauté __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 463 Dont le regard m´a fait soudainement renaître, Ne te verrai-je plus que dans l´éternité?” 4 A segunda dimensão da experiência urbana é a do espaço público. É no espaço público que os “corpos se expõem e onde se pode inventar uma vida política pelo viés da deliberação, das liberdades de da reivindicação igualitária”. “O indivíduo, o homem do espaço privado e da interioridade, tenta assim se exteriorizar numa vida pública. Homem da vitaactiva, o urbano se expõe para fora, fora de sua casa, ele se abre ao espaço público e à experiência da pluralidade humana”. (MONGIN, 2009, p. 61) Mas, atenção, “Sair da solidão, sair de seu interior, não oferece a garantia de se beneficiar da felicidade pública. O espaço público é incerto, e o sujeito que ali se arrisca é indeciso: é por isso que ele se esconde por trás das máscaras.” (MONGIN, 2009, P. 69). Ora, vemos aqui a convergência do raciocínio de Mongin e Sennet, a respeito da importância das máscaras e dos papéis públicos. Mongin explica, assim, como o uso do papel em público ajuda na constituição da polis grega e ocidental: “o espaço onde eu apareço aos outros como os outros aparecem a mim”. (MONGIN, 2009, p. 87) O terceiro aspecto da experiência é a dimensão do objeto. “a cidade é também um objeto que se observa”. As três dimensões juntas compõem a totalidade da experiência urbana: “..., essa experiência multidimensional não separa o público e o privado, mas os associa” (MONGIN, 2009, p. 30). 4 BAUDELAIRE, Charles. Les Fleures du Mal. Paris: Editions Feminines Françaises, sem data de publicação. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 464 É possível incluir nesse ponto da discussão algumas ideias de Jane Jacobs a respeito do teatro público. Jornalista e ativista, Jacobs escreveu em 1961 o livro Morte e vida das grandes cidades, que teve grande repercussão ao combater os princípios do urbanismo moderno e defender a diversidade nos espaços públicos e que poderá ser um contraponto interessante à análise sociológica ao propor uma descrição empírica e saborosa da dinâmica de uso dos espaços públicos. Segundo ela, um dos princípios para a fruição da vida pública é, paradoxalmente, o conceito de separação entre o público e o privado. Assim como Sennett, Jacobs atribui grande importância à separação entre a persona pública e a persona privada: “[a vida social nas calçadas] Reúne pessoas que não se conhecem socialmente de maneira íntima, privada, e muitas vezes nem se interessam em se conhecer dessa maneira.” (JACOBS, 2009, p. 59). Ou seja, mesmo uma ardorosa defensora da diversidade e do convívio social entre pessoas diferentes no espaço público, parte do pressuposto de que esse convívio tem suas regras e seus limites: “...as cidades estão cheias de pessoas com quem certo grau e contato é proveitoso e agradável, do seu, do meu ou do ponto de vista de qualquer indivíduo. Mas você não vai querer que elas fiquem no seu pé. E elas também não vão querer que você fique no pé delas.” (JACOBS, 2009, pgs. 59,60) Assim, é o papel publico o instrumento que garante a possibilidade da criação de um espírito de vizinhança: “A soma desses contatos públicos casuais no âmbito local... resulta na compreensão da identidade pública das pessoas, uma rede de respeito e confiança mútuos e um apoio eventual na dificuldade pessoal ou da vizinhança. A inexistência dessa confiança é um desastre para a rua. Seu cultivo não poder ser institucionalizado. E, acima de tudo, ela implica não comprometimento pessoal.” (JACOBS, 2009, p.60) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 465 Parece, portanto, que o equilíbrio entre público e privado pode ser visto como elemento fundamental no exercício da urbanidade. O que se verá a seguir é como esse equilíbrio foi rompido. 2. A CIDADE CONTEMPORÂNEA: O NARCISISMO, DESEQUILÍBRIO ENTRE A VIDA PÚBLICA E A VIDA PRIVADA E A AMEAÇA À URBANIDADE O equilíbrio entre o público e o privado foi rompido na metrópole contemporânea. Em que momento isso aconteceu? Segundo Sennet, a transformação começou a ocorrer no século XIX, em função de dois fatores que contribuíram para mudar esse equilíbrio: o crescimento da sociedade industrial e a consequente expansão do capitalismo, e o advento do secularismo. O capitalismo trouxe uma série de mudanças estruturais que tiveram influência direta no ambiente urbano e nos hábitos das cidades. Em primeiro lugar, o crescimento das instalações fabris e os remanejamentos de populações trabalhadoras para as suas proximidades. Em segundo lugar, a mudança nos hábitos de consumo e na comercialização das mercadorias. Esse último contribuiu para a mudança física das ruas de Londres e Paris, com o advento do hábito da promenade ao longo das lojas e cafés. Esse espaço burguês ocupou os centros de onde, gradualmente, foram sendo afastados os extratos sociais mais baixos. O segundo fator, o secularismo, contribuiu para que o ponto de vista individual prosperasse, em detrimento do ponto de vista coletivo. Na medida em que a Igreja e as tradições religiosas deixaram de mediar a relação do indivíduo com o mundo, ele foi obrigado a atribuir sentido ao que o cercava. Ora, no momento em que cada indivíduo parte de uma busca individual em busca do sentido, todos os acontecimentos e eventos passam a ter importância, e, na medida em que tudo é importante, o peso atribuído a cada evento pessoal passa a alimentar o ponto de vista individual. “Nada é o bastante para que eu sinta”. (SENNETT, 1993, p. 408). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 466 Nessa cadeia de eventos, o crescimento do individualismo passa a ser dominante nas relações de troca e, com o tempo, o EU passou a ser o ponto de vista preponderante. A manifestação pública desse individualismo assume um caráter de contenção e autodefesa. É o desejo, segundo Sennet, de se “misturar” na multidão, ou seja, o de chamar menos a atenção em público. Assim, a paramentação extravagante das roupas dá lugar à qualidade, mas também aos detalhes, jóias, relógios, gravatas, ornamentos, destinados a deixar claro o extrato de origem de cada um, mas dentro de códigos de não se mostrar demasiadamente. É nessa época que Sennett, aliás, situa o código vitoriano de ensinar às crianças as regras de não demonstrar sentimentos em público. Segundo ele, o motivo é evitar que elas pudessem, quando adultos, serem “interpretados” ou desvendados pelos outros. Assim, nas ruas do centro das duas grandes cidades europeias, Paris e Londres, o silêncio é ordem, “porque o silêncio é a ausência de interação social”. (SENNET, 1993, p. 266). Claro que as classes sociais continuam convivendo entre si, mas nos lugares certos. Em Paris, a burguesia adota os bulevares e o refúgio dos cafés contra o barulho externo e a intromissão. Dessa forma, se o convívio com a alteridade foi parte integral da constituição da própria identidade do homem urbano, a partir de um determinado momento, temos uma situação em que o homem urbano deixa de conviver com as diferenças. O risco? A própria perda da identidade. No século XX, portanto, chegamos ao que Sennett chama de “o fim da cultura pública”. O mito continua presente nas palavras e expressões: “calor humano é bom” e o “mau” é a frieza, alienação e impessoalidade. Entretanto, a questão é que o filtro do narcisismo torna menos importante a procura pelos interesses comuns que a busca da identidade comum. Na prática, isso significa que as pessoas vão buscar rapidamente encontrar e conviver com aquelas pessoas com quem podem compartilhar seus sentimentos, sem ter que passar pelas etapas de encontrar assuntos comuns. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 467 Se a civilidade é a “atividade que protege as pessoas umas das outras e ainda assim permite que elas tirem proveito da companhia umas das outras, a incivilidade é justamente o oposto: “sobrecarregar os outros com o eu de alguém”. (SENNETT, 1993, p. 324). Portanto, se usar “máscara é a essência da civilidade”, o homem incivilizado contemporâneo deixou de usar sua máscara para poder se mostrar inteiro aos iguais. A questão é que as máscaras precisam ser criadas por tentativa e erro. E esse conceito de brincar, de jogar com o papel público e ir construindo sua própria personalidade, o “playacting” tem a ver com o crescimento pessoal e principalmente com o estabelecimento de uma persona pública preparada para o jogo urbano. Ora, o oposto da capacidade de jogar com a vida social é o próprio narcisismo. Não é para menos que Sennet define a classe média, a mais afetada pela indefinição do seu papel, como “sem rosto” e "sem regras”. Quanto mais estreito o escopo da experiência social, mais destrutiva se tornará a experiência do sentimento fraterno, pois em algum momento haverá forçosamente, a decisão sobre a rejeição ou não a novos membros. A consequência é o fim dos intrusos e dos diferentes dos grupos, com o estreitamento ainda maior dos horizontes desse grupo original. Zygmunt Bauman, em A modernidade líquida, ecoa esse pensamento: “...quanto mais eficazes a tendência à homogeneidade e o esforço para eliminar a diferença, tanto mais difícil sentir-se à vontade em presença de estranhos, tanto mais ameaçadora a diferença e tanto mais intensa a ansiedade que ela gera.” (BAUMAN, 2000, p. 123). Mongin traça um percurso um pouco diferente, não de dentro para fora, mas de fora para dentro, e, essencialmente, chega ao mesmo diagnóstico: a ameaça à “experiência urbana”, descrita no item anterior. Para ele, a configuração da cidade contemporânea apresenta uma inversão das hierarquias que fundamentavam a experiência urbana: Prevalência das relações periferia-periferia sobre as relações periferia-centro; Prevalência dos fluxos sobre os lugares; __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 468 Prevalência do privado sobre o público. Se na cidade pré-industrial, o “espaço urbano instituía limites em relação a um ambiente, a um fora, e favorecia uma mistura, uma roçadela, uma heterogeneidade social, até mesmo uma conflitualidade” (MONGIN, 2009, p.24), a nova configuração urbana quebra as bases pelas quais estranhos podem se encontrar no mesmo espaço. A clarificação desse raciocínio aparece na exposição do conceito das três velocidades da cidade, de Jacques Donzelot: “exclusão, periurbanização, gentrificação” (DONZELOT, apud Mongin, 2009, p. 208). Os três processos caminham juntos e contribuem para a segregação de iguais em determinados ambientes. “A gentrificação é esse processo que permite fruir as vantagens da cidade sem temer seus inconvenientes” (MONGIN, 2009,p. 215). Essa explicação é fundamental e ajuda a entender o fenômeno da segregação espacial verificados atualmente nas grandes cidades, em que determinados extratos sociais se separam do resto da cidade nas moradias – nos condomínios, no lazer – em clubes, nas compras – nos shopping centers, e no trabalho – nos “centros empresariais”. A configuração dos espaços antitéticos da urbanidade é um tema que ganhou destaque no trabalho de vários autores que descrevem a segregação. Vejamos essas definições: NÃO LUGARES Marc Augé, em seu livro Não Lugares, trata de espaços de passagem – aeroportos, estações, que deixam de oferecer a possibilidade de algum tipo de relacionamento com o lugar e desestimulam o relacionamento entre as pessoas pela sua “tensão solitária”. “Um não lugar é um __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 469 espaço destituído das expressões simbólicas de identidade, relações e história” (AUGÉ, 1992, p. 119).5 ESPAÇOS DE FLUXOS Mongin afirma que “o espaço dos fluxos não é, portanto, sem lugar, mas esses lugares permanecem não-lugares no sentido de que eles são aleatórios, provisórios”. (MONGIN, 2009, p.235). Assim, “a existência de um lugar que se distingue do não lugar no sentido dos hubs e dos nodes da cidade virtual é a condição inicial de uma experiência urbana” (MONGIN, 2009, p. 241). ESPAÇOS DE CONSUMO Bauman se debruça sobre os espaços de consumo – salas de concertos, pontos turísticos, áreas de esportes, shopping centers e cafés. Segundo ele, esses espaços encorajam a ação e não a interação. Neles, ”A tarefa é o consumo e o consumo é um passatempo absolutamente e exclusivamente individual”. “O templo do consumo pode estar na cidade. mas não faz parte dela; não é o mundo comum temporariamente transformado, mas um “mundo completamente outro””. (BAUMAN, 2000, pp. 114 - 115). Os grandes lugares de compra, ao contrário das lojas integradas às ruas da cidade oferecem o que nenhuma realidade externa pode dar: o equilíbrio quase perfeito entre liberdade e segurança. “as multidões que enchem os corredores dos shopping centers se aproximam tanto quanto é concebível do ideal imaginário de “comunidade” que não conhece a diferença... Por essa razão, essa comunidade não envolve negociações, nem esforço pela empatia, compreensão e concessões” (BAUMAN, 2000, p. 117). 5 AUGÉ, Marc. Non lieux, introduction al´anthropologie de la surmodernité. Paris: Seuil, 1992 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 470 ESPAÇOS ÊMICOS E FÁGICOS Levi-Strauss, antropólogo francês que publicou sua obra no início do século XX, é citado por Bauman para explicar as duas estratégias que a humanidade desenvolveu para se defender da alteridade: A Antropoêmica – que vomita, cospe, deporta o outro. Bauman destaca como um subproduto dessa estratégia o exemplo do grande espaço vazio parisiense de La Defense, que permite a passagem de pessoas mas sem oferecer nenhum atrativo ou equipamento para que parem. A Antropofágica – que ingere, devora, e ao fazê-lo, suspende a alteridade. Os shopping centers são expressão típica dessa categoria, ao criar um ambiente de auto-suficiência e artificialidade. LUGARES VAZIOS A ausência de significado também é o ponto de vista para a análise de Jerzy Kociatkiewiz e Monika Kostera, que individuaram o conceito de Lugares Vazios6. Segundo eles, lugares vazios são lugares a que não se atribui significado. Não precisam ser delimitados fisicamente por cercas ou barreiras. “Não são lugares proibidos, mas espaços vazios, inacessíveis porque invisíveis.” A CIDADE GENÉRICA O termo, cunhado pelo arquiteto Rem Koolhas, evoca a falta de singularidade de cada cidade e procura definir uma dinâmica que diz respeito ao esvaziamento do espaço público. 6 The Anthropology of Empty Space.Qualitative Sociology, 1999 pg. 43, 48. Apud Zygmunt Bauman em Modernidade líquida. São Paulo: Jorge Zahar, 2000 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 471 Segundo ele, a serenidade da cidade genérica se dá justamente pela evacuação do domínio público, e pela repetição ao infinito de sua estrutura fractal: uma lâmpada de cabeceira que ilumina a tela do computador. “O que afirma a Cidade Genérica não é o domínio público com suas exigências excessivas [...] mas o residual [...]. A rua morreu. Essa descoberta coincide com tentativas frenéticas de ressuscitá-la... A pedestrização – em princípio a ser preservada – não faz mais que canalizar as torrentes de pedestres condenados a destruir com seus pés o que eles supostamente deveriam reverenciar.” 7 Nesse contexto, aparecem dois novos termos, cunhados, à mesma maneira provocadora, para representar os espaços da cidade genérica: junkspace e fuck context. O primeiro se refere aos espaços obtidos pela soma de três fatores de continuidade: o a condicionado, a escada rolante e a transparência, característicos do espaço público pouco civil dos shopping centers e o segundo uma tentativa de definir o território resultante da ausência de conceitos e do caos relativo ao urbano contínuo; “um território de visão confusa, de expectativas limitadas, de integridade reduzida”. O tom deliberadamente provocador de Koolhaas talvez não deva ser tomado como o decreto de morte da cidade, mas como uma apologia pela lucidez. “A Cidade Genérica representa a morte definitiva do planejamento”.(KOOLHAS, 2000, pp.730-731) Afinal, segundo ele, o caráter trash do urbano generalizado é resultado de uma falta de política: “é o agregado das decisões não tomadas, das questões que não foram enfrentadas, das escolhas que não foram feitas, das prioridades indefinidas, das contradições perpetuadas, dos comprometimentos aplaudidos e da corrupção tolerada” (Ibid). 7 Rem Koolhas et.al, Mutations. Bordeaux: Arc em Rêve – Centre d´Architecture, 2000 p. 725, 726, 730-731. Apud Mongin, p. 167 e 169. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 472 Todos esses termos e conceitos descrevem a experiência urbana resultante de uma realidade da cidade sem fim, do mundo do urbano contínuo. Ora, estamos diante de um quadro que vai, provavelmente, potencializar essa situação. Se a cultura de cidades tem sua raiz na Europa, o aumento do espraiamento urbano e do número das megacidades está acontecendo principalmente em países menos desenvolvidos. Segundo o The State of the World´sCities, 2001, são mais de 370 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, das quais a maior parte já está em países menos desenvolvidos. Está-se falando da possibilidade do fim de um estilo de vida, da própria urbanidade Será esse o fim da experiência urbana tal como a sociedade ocidental a conhece? Afinal, como diz Mongin: “Quando a tensão entre o privado e o público, entre um fora e um dentro é impossível, a cidade morre inevitavelmente” (MONGIN, 2009, p. 178). E se parece exagerado falar na morte das cidades, contemplemos a possibilidade de um fim, na descrição de Mongin: “Elas [as cidades] não sucumbem com grande espalhafato; elas não morrem somente quando sua população as abandona. Talvez elas possam morrer assim: quando todo mundo sofre, quando os transportes são tão penosos que os trabalhadores preferem desistir dos empregos de que têm necessidade; quando ninguém consegue água ou ar puro, quando ninguém pode ir passear” (MONGIN, 2009, p. 17) 3. AS TENTATIVAS DE RECUPERAÇÃO DA EXPERIÊNCIA URBANA: O SENTIDO DO LUGAR E A VIDA VIRTUAL NA METRÓPOLE Do ponto de vista de morfologia urbana, talvez como consequência das transformações estruturais, o que se viu é que a cidade contemporânea sofreu transformações profundas ao longo do século XX que levaram um desequilíbrio entre os elementos estruturantes de sua unidade. São __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 473 eles: o predomínio dos fluxos sobre os lugares, do privado sobre o público na constituição da cidade e ainda o fim do papel catalisador do centro como ponto de convergência simbólica, econômica e política das cidades. A isso, acrescenta-se também a nova ordem econômica mundial, da globalização dos meios de produção e da desconcentração de mercados. A sociedade em rede e o livre fluxo dos capitais tornam ainda mais fluida a relação com o espaço físico, que chega a ser quase irrelevante para a produção e o fluxo de mercadorias, serviços financeiros, lazer e até para o encontro entre as pessoas, potencializado ou substituído pelas redes sociais, que ainda se constituem em um fenômeno novo diante da temporalidade da história das cidades. Está-se falando, portanto, de uma crise, uma situação de ruptura com um passado que talvez nunca volte e da necessidade de um novo paradigma de análise para a nova metrópole global, espraiada, cuja urbanização invadiu o campo, sem necessariamente criar cidade. Assim, há vozes que se manifestam pela aceitação do fim da utopia e do planejamento, como Koolhaas, por exemplo, que parece estar nos exortando a deixar o saudosismo de lado e nos ocuparmos de construir a cidade possível. Afinal, enquanto se discute a cidade, ela vai sendo construída, justamente pelas forças que atuam no vácuo da omissão pública, da incapacidade de lidar com a informalidade e até da pressão demográfica por moradia, transformada em “demanda” pela indústria da construção civil. A questão é que o fim de uma utopia pressupõe a aceitação da continuidade do movimento atual, a ação pragmática de um fazer cotidiano multifacetado, que pode levar a crise a um novo patamar. Afinal, enquanto isso, existem planos diretores sendo feitos, leis sendo promulgadas, movimentos da sociedade civil protestando em praça pública e, finalmente, cidades que parecem estar dispostas a estabelecer novos paradigmas para enfrentar a crise da cidade contemporânea. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 474 A última parte desse artigo vai tentar mostrar as direções possíveis numa tentativa de recuperar, não os pressupostos de outra época, talvez idealizada, mas as premissas para uma situação urbana que resgate a plenitude da experiência urbana. Essas três premissas, tais como descritas por Olivier Mongin serão a espinha dorsal desse raciocínio e serão cotejadas às idéias de outros autores, como François Ascher8, que listou os “novos princípios do urbanismo”, com algumas direções bastante convergentes, mas sob o ponto de vista do gestor urbano e não do sociólogo. A pergunta, colocada de outra forma por Mongin evoca o lugar do encontro e o político: “os lugares formatados pela “reterritorialização” em curso podem permitir um habitar e favorecer a instituição de práticas democráticas dentro dos espaços urbanizados?” (MONGIN, p.24). Segundo ele, são três as condições para que se recupere a experiência urbana. Vejamos quais são essas condições e suas implicações: REDESCOBRIR O SENTIDO DO LUGAR O ponto de partida para essa proposta é a constatação do predomínio dos fluxos sobre os lugares. Essa situação, originada por um desequilíbrio entre as escalas do local, do estatal e do supranacional, na raiz da fragmentação da metrópole contemporânea, e gera duas dimensões de problemas a serem enfrentados: o imaginário do não lugar e a vida virtual. Manuel Castells9 explica as características da cidade virtual: em primeiro lugar, as redes, como forma espacial, em segundo lugar, os nós e conexões como expressão física dessa forma e, por fim, o fato de as elites locais já terem adotado um comportamento “nômade”, ou, em outras palavras indiferente aos lugares. 8 ASCHER, François. Os novos princípios do urbanismo.. 9 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 475 A questão é que, segundo Mongin, a realidade física das metrópoles e a vida virtual não são capazes de fornecer as exigências “corporais, cênicas, estéticas e políticas” de que o homem precisa para viver sua vida em sociedade. O trecho seguinte, de Françoise Choay exemplifica o valor da experiência física: “Se admitimos que a relação corporal como um espaço representa um valor antropológico fundamental, daí resultam duas consequências. Em primeiro lugar, o espaço orgânico local não pode ter um substituto: ele não é substituível pelo espaço operativo do território: esses dois tipos de ordenação são complementares. Em segundo lugar, o espaço em escala humana e a dupla atividade dos que o fabricam e dos que o habitam constituem nosso patrimônio mais precioso.” (Françoise Choay em Patrimoine urbain et cyberespace apud Mongin,2009, p. 238) Vê-se que a defesa do espaço orgânico local não é um valor em si, mas relativo à própria experiência da vida humana. Assim, a defesa de um novo ordenamento urbano, ou a busca pela escala local não deriva de uma ideia de forma urbana abstrata ou do saudosismo pelo tipo-ideal de cidade, mas da própria necessidade da recomposição do ambiente que torna possível a expressão humana em seus vários planos. Mongin adverte que é essencial “não se bater por qualquer lugar”. Ou seja, é preciso hierarquizar os lugares e dar prioridade a aqueles que podem ser mais importantes na reconstituição da sociedade. Em relação à vida virtual, é preciso lembrar que a internet não existia enquanto tal, na época em que Sennet escreveu O declínio do homem público. Além disso, as redes sociais ainda eram apenas incipientes no ano de 2005, quando foi publicado o livro A condição urbana. Apesar disso, o fenômeno da sociedade em rede já havia sido descrito por Manuel Castells, em A sociedade em rede, de 1997 e explorado por David Harvey, em Condição pós-moderna, de 1989. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 476 Para esses autores, os efeitos da globalização e do aumento da velocidade da informação já haviam se feito notar, na disposição das empresas ao redor do mundo, na substituição das fábricas nos centros urbanos pelo interior e por países de mão de obra mais barata, na própria hierarquia da rede de cidades, baseada na sua posição diante da nova ordem mundial. O avanço ainda maior da conectividade, portanto, é apenas mais um passo em direção a um maior isolamento, através da comunicação online, das compras online, de serviços online, do lazer online. E, diante dessa mudança impressionante na sociedade de informação, pode-se perguntar se o espaço público de nossos tempos não estaria migrando para a própria rede, que substituiria de vez o espaço físico. Harvey dedica um espaço grande ao espaço público. Segundo ele, o espaço público na cidade pós-moderna é o espaço do turismo, da mistura de estilos arquitetônicos, da gentrificação, da busca de referências de significado em outras culturas. Essa mistura tem mais a ver com a Disneylândia do que com a pólis, na medida em que recria uma cidade do imaginário coletivo, mas que não existe. Some-se a isso a busca pelo dinheiro dos grandes eventos esportivos e artísticos e temos uma situação em que o espaço público está em pleno processo de ressignificação. Assim, a valorização do espaço público, mesmo como símbolo dessa nova cidade, gentrificada, excludente e sem história, talvez ainda seja o que resta de garantia de que ao menos os encontros físicos continuarão a fazer sentido. Cabe aqui a lembrança de um dos “novos princípios do urbanismo”, de Ascher: o de promover uma qualidade urbana nova. Nele, está contida a idéia do que ele chama de “urbanismo multisensorial”, que preconiza a elaboração não somente do visível, mas do sonoro, do tátil, do olfativo, em busca de uma qualidade do espaço público que seja “equivalente à dos espaços privados”. (ASCHER, 2010, p. 95) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 477 A isso, pode-se juntar outra exortação à vida no mundo físico: “Ora, o perigo está em tomar o virtual pelo próprio real. ‘É ali que eu vivo’. De modo nenhum! Não é lá dentro! Você vive de acordo com isso, mas você não vive dentro disso” (Jean-Toussaint Desanti apud MONGIN, 2009, p. 241). Assim, Mongin diz, à guisa de conclusão: “Contra a desrealização ligada às novas tecnologias do virtual, o corpo precisa reconquistar uma relação mínima com um ambiente, com o real, com seu real, com seu sítio” (MONGIN, p. 243-244). REESTABELECER UMA CULTURA URBANA DOS LIMITES O que Mongin propõe é o estabelecimento de uma cultura de limites, mesmo diante de uma cidade que perdeu os seus. Essa mentalidade se traduziria na prática no conceito de vizinhança, de proximidade, de ligação com a escala pequena. O corpo existe enquanto corpo, ele não pode se furtar a uma relação como o real, com um mundo; ele não pode viver em um real que se parece com “qualquer coisa”, em um lugar que é “qualquer lugar”, um “lugar qualquer”. “Não se habita um lugar qualquer, mas um mundo onde, de imediato, dentro e fora, privado e público, interior e exterior, estão em ressonância” (MONGIN, 2009, p 242). Como se vê, o conceito é muito abrangente, e engloba a discussão do caminhar pela cidade, da dificuldade gerada pelas distâncias grandes demais ou as barreiras formadas pelas vias de transporte intransponíveis. Está-se falando, entre outras coisas, da própria relação entre o homem e o automóvel e da forma que a cidade assumiu para acomodar o desequilíbrio evidente de forças. Há vários autores que descrevem o fenômeno das cidades que se espraiam indefinidamente e que Bernardo Secchi chama de Cidade Difusa. Dois deles detalham, __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 478 especificamente, as tipologias urbanas criadas a partir, não de um centro histórico de trocas, mas do planejamento do transporte: Edge-Cities: O estudo de Joel Garreau 10 sobre a urbanização ao redor das grandes metrópoles americanas desvela a estrutura de um modelo de desenvolvimento imobiliário recente nos Estados Unidos e que parece prosperando em países como India, China ou Dubai. Para caracterizar e quantificar o fenômeno, são destacadas cinco características dessa urbanização: Ter mais de cinco milhões de pés quadrados de área de escritórios (465,000 m²) disponíveis; Ter no mínimo 600 mil pés quadrados (56,000 m²) de área de comércio disponível; Ter mais empregos que moradores; Ser percebido como um lugar pela população; Não ter tido nenhuma característica de cidade 30 anos atrás. Nesses locais, a possibilidade de aumento da densidade é menor do que na grade das ruas da cidade tradicional, além da escala das construções ter sido planejada para ouso intensivo do automóvel. Segundo o autor, o encaminhamento da questão das edge-cities parece ser um dos grandes desafios dentre os projetos de urbanização do século XXI. Aerotrópolis: O termo foi cunhado na década de 1930 pelo artista Nicholas De Santis ao evocar uma cidade do futuro construída em torno de um arranha-céu, com um aeroporto no topo 11 . Em 2011, John Kasarda e Greg Lindsay 12 retomaram a idéia, para qualificar as aglomerações produzidas ao redor dos aeroportos. Trata-se de depósitos, centros logísticos, escritórios, centros de compra, que, no entender dos autores, serão a base dos centros urbanos 10 Garreau, Joel. Edge City: Life on the New Frontier, 1991. Pg. 7 11 Popular Science in, Revista Gerente de Cidade, número 65, 1º trimestre de 2013. 12 KASARDA, John e LINDSAY, Greg. Aerotrópole - o Modo Como Viveremos No Futuro. São Paulo: DVS Editora, 2012. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 479 do futuro. O conceito tem a ver com a noção da globalização, através da qual a proximidade geográfica deixe de ser fundamental para o estabelecimento de atividade econômica, uma vez que o acesso ao hub de transportes é, esse sim, fundamental para o acesso ao mercado global. O livro não é crítico em relação ao resultado da urbanização resultante, até pelo contrário, mas expõe com clareza uma configuração de não-cidade: falta de ligação com o sítio, falta de laços simbólicos e ausência de centro e dependência da comutação em automóveis. Outra vertente dessa mesma análise é a questão da escala. Se nas grandes megalópoles, a escala vertiginosa talvez só possa ser enfrentada através do plano local, dos bairros, talvez nas cidades médias ainda exista a possibilidade de uma resistência à perda de identidade. Na cidade difusa, a possibilidade de reatamento dos laços com o local recai, por um lado, sobre áreas menores, vizinhanças, pontos que ainda estabeleçam uma ponte com uma memória coletiva. A respeito disso, Mongin cita Gustavo Giovannoni, estudioso e pioneiro do patrimônio histórico, num texto de 1931, em que já se propunha “explorar a vida de um planejamento local de escala modesta e de dimensões reduzidas, próprio para induzir a reconciliação com a urbanidade”. Por outro lado, existe também outra possibilidade, de “conceber os lugares em função das novas práticas sociais”, um dos princípios do novo urbanismo de Ascher, que preconiza uma combinação de diferentes dimensões sociais e funcionais e hiperespaços, numa definição difícil de ser visualizada, mas que vai, segundo o autor, na direção da redefinição das fronteiras e das modalidades do próprio urbanismo. O trabalho de Jane Jacobs traz uma contribuição para a questão da escala. Segundo ela, bairros não são cidades pequenas. Morar nas cidades é justamente a respeito disso, do ser humano poder encontrar numa aglomeração maior gente que tem os mesmos interesses que ele, mesmo que não morem perto. Dessa maneira, pode-se dizer que segmentos de pessoas com __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 480 interesses comuns se sobrepõem aos segmentos de proximidade geográfica. “Essa é de fato a vantagem das cidades”. (JACOBS, 2009, p. 127) O planejamento físico de bairros eficientes deve almejar as seguintes metas (JACOBS, 2009): Fomentar ruas vivas e atraentes; Fazer com que o tecido dessas ruas forme uma malha o mais contínua possível; Fazer com que parques, aças e edifícios públicos integrem esse tecido de ruas; Enfatizar a identidade funcional de áreas suficientemente extensas para funcionar como distritos. O combate à segregação também faz parte dessa proposta envolvente. Se a luta dos lugares pode ter substituído a luta de classes, a luta pelos lugares envolve o fenômeno da apropriação por alguma classe, ou, seja a própria privatização dos espaços. Como restituir a unidade dos pólos separados espacialmente por cercas, condomínios, gated communities e espaços vazios? Segundo Jacques Lévy13, através de um “conjunto político, coerente e legítimo”, que é o objeto dessa última proposta, que será vista a seguir. RECUPERAR O SENTIDO POLÍTICO Mongin propõe, com essa ideia, a reflexão sobre a representação política local. Segundo ele, a possibilidade da experiência política exige uma representação territorial que faça sentido. Diante da cidade que não tem fim, cujo território abrange várias entidades de representação 13 Jacques Lévy, Géogaphies du politique, Paris: Sciences-Po, 1991 apud Mongin, 2009, p. 266. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 481 políticas, o desafio, segundo ele, está em inventar lugares que permitam reencontrar o sentido dos limites. “a despeito de um urbano generalizado que não cria uma civilização comum, a experiência urbana permanece nossa no sentido de que ela tem como papel favorecer e ativar a vita activa, ou seja, tornar possível uma “libertação” que passa simultaneamente por um lugarejo, por um espaço de habitação, mas também por uma mobilidade que entrelaça o individual e o coletivo.” (MONGIN, 2009, p. 315). Aparentemente, a busca por essas condições se tornaria uma missão para o século XXI, em que, não só se está propondo um novo paradigma para a cidade construída, mas também que a sociedade instalada nela busque coletivamente um propósito político e a própria ressignificação do espaço comum. Parece muito, e o próprio Mongin relativiza: “nós não estamos mais fisicamente sempre ‘no meio da cidade’ sonhada, a cidade do caminhante e do flâneur, mas mentalmente devemos mais do que nunca estar”. Assim, a missão passa a ser possível, na medida em que propõe esse projeto coletivo como ponto de partida e que abarque a escala do planejamento local, a busca pelo significado dos lugares existentes e algum tipo de representação política que dê conta de uma comunidade com algum tipo comum de laço geográfico ou imagético. O último dos “novos princípios do urbanismo”, de Ascher, tem a ver com esse conceito. Trata-se de adaptar a democracia à terceira revolução urbana. Ao se pensar num sistema de gestão que esteja em sintonia com a nova formatação da sociedade, Ascher propõe uma governança urbana baseada em dispositivos e formas de ação que incluam a sociedade civil, em sua multiplicidade de interesses multifacetados. Se o ponto de partida de Mongin é a ressignificação do espaço comum, a proposição de Ascher se dá na aceitação da fragmentação social e na multiterritorialidade dos grupos de interesse. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 482 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS O espaço público tem sido ao longo da história o palco do encontro entre os homens urbanos. Esse texto procurou mostrar que o papel que os homens desempenham em público é determinante para a própria constituição da sua identidade. Nesse jogo de encontrar a identidade pública, o equilíbrio entre o público e o privado é fundamental. O aprofundamento das relações econômicas capitalistas e o secularismo contribuíram para a ruptura desse equilíbrio, com a prevalência gradual do privado sobre o público. Internamente, o efeito desse desequilíbrio no homem contemporâneo ocidental é o crescimento do individualismo, que desemboca quase patologicamente num narcisismo que impede o reconhecimento da própria alteridade. O desequilíbrio se acentuou pelo próprio crescimento das cidades ao longo do século XX, e seus reflexos aparecem na própria morfologia urbana: segregação de grupos sociais do tecido urbano e privatização de espaços anteriormente públicos. Diante dessa cisão, a pergunta que se tentou responder é em que condições se poderia pensar numa costura que permitisse a retomada da fruição do espaço público. Não há uma resposta única para isso, como se viu na discussão. As propostas para melhorar a fruição do espaço começam por uma retomada do sentido do lugar. Isso implica tanto uma ressignificação espacial, como uma participação política que permita recuperar o sentido da res-publica, a coisa pública. Como diz Mongin, “A participação no âmago de um espaço coletivo é uma das condições da ação democrática.” (MONGIN, 2009, p. 228). As manifestações recentes que ocorreram no Brasil talvez possam ser vistas sob essa ótica: o espaço público foi ocupado, não só como local de afirmação política da vontade de participar da condução do país, mas também como espaço de fruição da cidade, do viver __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 483 coletivamente. Pode-se dizer que o sentido político da ocupação andou lado a lado como sentido de fruição do espaço, mostrando que um e outro são faces de uma mesma cidadania. Estamos num momento de crise dos valores que criaram a instituição da cidade ocidental. As condições físicas dessa cidade talvez nunca mais possam ser resgatadas, mas é possível imaginar que os valores que deram origem a essas cidades sim. Em outras palavras, o resgate do espaço público talvez passe pelo resgate do sentido do lugar. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ASCHER, François. Os novos princípios do urbanismo. São Paulo: Romano Guerra, 2010. BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. São Paulo: Jorge Zahar, 2000. BERMAN, Marshall. Tudo o que é sólido desmancha no ar. São Paulo: Companhia das letras, 1982. CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. JACOBS, Jane. Morte e vida das grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2009. KOOLHAAS, Rem. Generic City, in Small, medium, large, extra-large: Office for Metropolitan Architecture, Rem Koolhaas, and Bruce Mau. New York: Monacelli Press, 1995. MONGIN, Olivier. A condição urbana: a cidade na era da globalização. São Paulo: Estação Liberdade, 2009. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 484 NORBERG-SCHULZ, Christian. O fenômeno do lugar in Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995), Kate Nesbitt (org.). São Paulo: Cosac Naify, 2ª ed.rev., 2008 SENNET, Richard. O declínio do homem público; as tiranias da intimidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 BASES PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO CONTEMPORÂNEO NO CONTEXTO DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL RESUMO Este artigo objetiva investigar as possibilidades metodológicas do processo de elaboração de projetos arquitetônicos e urbanísticos focados na garantia de preservação de recursos naturais e de fontes de energia renováveis. Conceituando os elementos básicos pertinentes ao universo do Desenho Ambiental, proteção e manutenção dos ecossistemas, a reflexão desse artigo se fundamenta no campo das ações do Planejamento Ambiental. Desse modo destaca-se a legislação vigente, particularmente ligada às questões aqui abordadas e os possíveis caminhos apontados por filósofos, pensadores da arquitetura e urbanismo atuantes nesse seguimento e comprometidos com as questões da natureza, na contemporaneidade. Palavras-chave: Desenho ambiental, processo de projeto, recursos naturais, preservação, legislação. ABSTRACT This article goal is to investigate the methodological possibilities of the process for the elaboration of architectonic and urban designs focused on the assurance of the natural resources and renewable energy preservation. Conceptualizing the basic elements pertaining to the Environmental Design Universe, protection and maintenance of the ecosystems, this article reflection is based on the field of Environmental Planning. Thus it detaches the current legislation, particularly linked to the issues here focalized and the possible ways pointed by philosopher, thinkers in architecture and urbanism dealing within these aspects and committed to nature in the contemporaneity. Key words: Environmental design, design process, natural resources, preservation, legislation. 486 BASES PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO CONTEMPORÂNEO NO CONTEXTO DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL Paulo Eduardo Borzani Gonçalves 1 Gilda Collet Bruna 2 INTRODUÇÃO Pretende-se identificar os pré-requisitos conceituais e de avaliação, para a fundamentação do processo de projeto arquitetônico contemporâneo. Objetiva-se o compromisso com a preservação dos recursos naturais e seu rebatimento na construção do desenho ambiental. Com isto o propósito é encontrar caminhos possíveis para o direcionamento do processo de projeto arquitetônico e urbanístico, na direção do estabelecimento de relações harmônicas entre a urbanidade contemporânea e a natureza. A proposta metodológica apresentada visa inicialmente, compreender como surgiram as preocupações que originaram não só o Desenho Ambiental, mas também o seu 1 Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Coordenador da Pós Graduação - Lato Sensu em Design de Interiores da Universidade Guarulhos - UnG. Docente das Faculdades de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE. Doutorando do Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM, Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade São Judas Tadeu - USJT (2009) e graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Belas Artes - Febasp (1989) todos de São Paulo - SP. Titular da SAIS Consultoria - Soluções em Arquitetura Acessível, Inclusão Social e Sustentabilidade. Universidade Guarulhos e Universidade do Oeste Paulista. [email protected]. 2 É Professor Associado Pleno da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo sido Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 2004-2008. Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (1968) e defendeu Doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (1973). Em 1977 obteve Especialização em Tóquio, Japão, pela Japan International Cooperation Agency. Defendeu tese de Livre Docência em 1980 e foi professora visitante - Pós-graduação em 1985 na Universidade do Novo México. Aposentou-se como Professora Titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, diretora de 1991-1994. Presidente da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano Emplasa de 1995 a 2000. Universidade Presbiteriana Mackenzie. [email protected]. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 487 Planejamento. Procura-se assim investigar as relações estabelecidas entre o homem e o meio que habita. Nesse sentido é importante compreender o tema espaço e lugar, além das possibilidades de intervenção na paisagem que o rodeia, na perspectiva conceitual de uma arquitetura sustentável, como definida por Corbella: [...]a concepção e o desenvolvimento de edificações que objetivem “o aumento da qualidade de vida do ser humano no ambiente construído e no seu entorno, integrado com as características de vida e do clima locais, além da redução do uso de recursos naturais” (CORBELLA, 2003, p.17) Assim é que se focalizam a relação homem x recursos hídricos, buscando estabelecer padrões de convivência sadia entre seres humanos e rios, canais e córregos que permeiam as áreas de concentração de população e as áreas de vegetação envoltórias indispensáveis à manutenção dos cursos d’água. Nesse sentido busca-se compreender como a administração pública, responsável pela gestão das cidades utiliza os instrumentos legislativos. Com isso essa administração trata de garantir a preservação dos recursos naturais e a manutenção da estabilidade das relações ecossistêmicas inerentes à sobrevivência do planeta, procurando garantir a manutenção das relações de sustentabilidade que se apoiam, inevitavelmente, nos três pilares: econômico, social e o ambiental. PLANEJAMENTO E DESENHO AMBIENTAL: PERCURSO HISTÓRICO E CONCEITUAL A origem do Planejamento Ambiental, pode-se dizer que ocorre no início do século XIX, com as primeiras propostas decorrentes da investigação de pensadores como o inglês Jonh Ruskin, o francês Viollet-le-Duc e os americanos Henry David Thoureau, George Perkins Marsh e Frederick Law Olmsted entre outros, por vezes considerados como utópicos ou românticos, mas que na verdade se mostraram capazes de vislumbrar com antecedência a escassez de recursos __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 488 que veio a ocorrer com a implementação da primeira revolução industrial, norteada por princípios positivistas, seguindo as diretrizes do liberalismo econômico, que naquele momento pressupunham a inesgotabilidade dos recursos naturais do planeta. (FRANCO, 2001) Segundo Gorski (2010), no Brasil, até meados do século XX, as relações de encontro da população com os rios se mantiveram harmoniosas. Entretanto, a partir desse momento, ampliaram-se os conflitos entre o inevitável desenvolvimento urbano e uma população crescente. No meio físico, essa situação ocasionou a elevação dos índices de poluição e as dificuldades de acesso às áreas ribeirinhas. Assim houve o afastamento das atividades de lazer e esporte das regiões de várzeas, que tinham no hábito dessas práticas, garantindo a manutenção das condições de balneabilidade desses recursos fluviais urbanos. Para contextualizar essa afirmação, torna-se necessário estabelecer os parâmetros básicos que descrevem a maneira como o homem se relaciona com o meio ambiente. Segundo Maria Assunção Ribeiro Franco (2008), Tuan (1980) teria afirmado que a maneira do homem se relacionar com o meio ambiente estaria ligada às formas da topografia e ao grau de visibilidade possibilitado pelas paisagens em que instala seu habitat. A paisagem é um arranjo de aspectos naturais e humanos em uma perspectiva grosseira; os elementos naturais são organizados de tal forma que proporcionam um ambiente apropriado para a atividade humana [...]. (TUAN, 1980, p. 140) Para explicar sua teoria, Tuan (1980) estabelece uma comparação entre populações de duas culturas totalmente diferentes e que habitam localidades com características topológicas diametralmente opostas: uma localizada nas florestas tropicais, usando com exemplo uma tribo de pigmeus do Congo na África; e outra, instalada em regiões de planalto, como quando se refere a uma tribo de índios Pueblo do sudoeste da América do Norte. Para o primeiro grupo mencionado, onde não existe marcos visuais importantes, não se dá importância ao posicionamento das estrelas ou do Sol; definem assim um sentido de tempo restrito e uma memória bastante curta. Já __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 489 para o segundo grupo, dos indígenas habitantes de um platô semiárido, seu campo de visão amplo determina um sentido de mundo completamente estruturado num sistema de espaço e tempo, definindo assim, papéis fundamentais para as relações com o lugar, com a localização no espaço e com o sentido de direção. Outra teoria, também citada por Franco (2008), mostra uma característica mais holística, baseando-se em estudos neurofisiológicos que estabelecem uma relação de dualidade entre homem e natureza, e as relaciona, diretamente aos hemisférios do cérebro humano. Cabe ao lado esquerdo do cérebro controlar as funções do lado direito do corpo que envolve funções cognitivas, como o uso das palavras e a abstração; já, o lado direito do cérebro determina o controle do lado esquerdo do corpo, ligando-se ao registro das intuições e da compreensão, inclusive do ambiente em que se habita. (CREMA 3, 1988 apud FRANCO, 2008) Obviamente, a relação estabelecida entre o homem e o meio ambiente em áreas de vegetação natural, como as acima mencionadas, não é a mesma que ocorre em ambientes urbanos. Estes se vinculam a ecossistemas naturalmente ativos em que há uma interação entre diferentes elementos que os constituem, tais como: a temperatura; os ventos; as chuvas; as águas de superfície; e as subterrâneas; a altitude; e a inclinação dos terrenos; a vegetação; o tipo de solo; e outros tantos. Entretanto, nas cidades há a intervenção do homem, com suas construções, alterações de percursos naturais dos cursos d’água entre outras, que modificam fundamentalmente a coexistência entre tais elementos, rompendo o equilíbrio pré-estabelecido. É no meio urbano que se concentram as atividades propulsoras de maior impacto à natureza, regidas pelo homem e originando as maiores alterações dos recursos naturais: terra, água, ar e organismos vivos; pois a urbanização de áreas de concentração humana cria novos ambientes nos quais se desenvolvem relações de interação entre esses grupos, seus trabalhos e a natureza, 3 CREMA, R. Introdução à visão holística – Breve relato de viagem do Velho ao Novo Paradigma. São Paulo: Summus, 1988. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 490 as quais aumentam seu grau de complexidade na mesma proporção em que crescem os aglomerados e as sociedades se consolidam, impondo a abertura de ruas e avenidas, canalizando córregos e represando rios depois de retificar seus entremeios, além de impermeabilizar o solo com a construção de edificações em todas as escalas e para todos os usos, fatores que acabam por interferir na dinâmica dos processos físicos, os quais operam diretamente nos diversos ecossistemas existentes na natureza. (SOBRAL,1996) A ecologia tomou para si significados específicos, moldando termos utilizados, normalmente, pelas ciências sociais e até inventou outros termos para expressar seus conceitos, quais sejam: população, com o intuito de se referir a grupos de indivíduos de um tipo qualquer de organismo; comunidade ou comunidade biótica referindo-se a populações que ocupam determinada área; bioma, para designar um grande biossistema regional ou subcontinental caracterizado por um tipo principal de vegetação ou outro aspecto identificador da paisagem; ecosfera e biosfera, para referir-se ao sistema biológico maior, (aquele que mais se aproxima da autossuficiência); biocenosee e biogeocenose com sentidos equivalentes à comunidade e ecossistema respectivamente; ecossistema para designar o funcionamento conjunto da comunidade e o ambiente não-vivo. Para que se possa esclarecer o funcionamento da dinâmica dos processos físicos operantes na natureza é necessário compreender com clareza o significado do conceito de ecossistema. Segundo Sobral (1996) ecossistema é desenvolvido como um quadro referencial para entender sistemas naturais, porém as pesquisas comprovaram que são raríssimos aqueles que sobrevivem independentemente de interferências humanas. A partir desse quadro referencial foi possível definir outro conceito, o de ecossistema urbano que pretende entender e contabilizar as relações complexas e as reações entre as atividades humanas e o meio ambiente, buscando orientar as ações para serem capazes de atenuar seu impacto inevitável. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 491 Em 1972, quando da publicação do livro Urbanization and Environment: The Phisical Geography of the City4 , foi proposta a adoção do conceito de ecossistema urbano. Este conceito objetivava englobar os componentes naturais, sociais e construídos, considerando-os como interligados e capazes de perpetuar a cultura urbana por meio da troca e da conversão de quantidades de materiais e de energia, obrigando, para tanto, a se organizar uma concentração de trabalhadores; um sistema de transportes; e uma área de influência. Esta deve fornecer os recursos necessários ao abastecimento das cidades e, consequentemente, absorver sua produção. Em decorrência do estabelecimento dessa premissa, que alerta para a fundamental importância da conservação dos recursos naturais através da preservação da natureza, a população das cidades e posteriormente seus governantes tomaram consciência de sua responsabilidade frente à sobrevivência do Planeta, fato que acabou por se refletir na administração pública das cidades pelo mundo; alerta-se assim a importância das causas ambientais, que não se restringem a questões exclusivamente ecológicas, englobando desafios, para além da erradicação da pobreza, da consolidação global e irrestrita dos direitos humanos e a garantia da paz entre as nações. CONSTRUÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA No Brasil, a partir da promulgação de sua Constituição Federal, em 1988, a qual orienta a cooperação entre União, Estados e Municípios, em relação ao meio ambiente, garantindo que as administrações municipais assumissem uma posição mais participativa nas questões ambientais locais e regionais. Esse posicionamento dos municípios se deu através da descentralização de políticas e da formulação de programas adaptados às particularidades de cada região, 4 DETWYLER, T.R.; MARCUS, M. G. Urbanization and environment: the physical geography of the city. Los Angeles: Duxbury Press, 1972. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 492 possibilitando maior integração entre as três esferas governamentais e os agentes econômicos. Entretanto, torna-se importante ressaltar que a legislação federal de proteção dos recursos naturais não conseguia sozinha, refrear a degradação continuada dos recursos naturais, mesmo após a aprovação da legislação ambiental5 , fato que tem levado os órgãos estatais a buscar parcerias com agentes econômicos privados e entidades da sociedade civil, no intuito de minimizar a fragilidade do aparato de fiscalização e monitoramento das áreas de preservação; isto se dá através da combinação de instrumentos de comando e controle (ICC) com incentivos econômicos (IE), que possibilitem a implementação de amplos programas de recuperação dos recursos florestais e detenção da erosão hídrica, como descreveram LOPES, et al. (1998): [...] O uso de instrumentos econômicos está induzindo o uso sustentável dos recursos florestais. A intermediação das ONGs tem minimizado conflitos e contribuído para implementar a proteção ambiental. (LOPES et al. (1998, p. 08) No que diz respeito às políticas públicas, novos dispositivos constitucionais foram introduzidos a partir de 1988. Estes possibilitaram atribuir aos estados um papel suplementar na 5 Destacam-se os artigos 23 e 24. O Art. 23 trata da competência comum na proteção do meio ambiente e do combate à poluição em qualquer de suas formas: preservação das florestas, da fauna e da flora; proteção dos documentos, das obras e outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; fomento à produção agropecuária e organização do abastecimento alimentar; promoção de programas referentes à construção de moradias, bem como a melhoria destas habitações no tocante ao saneamento básico; registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais. A cooperação entre a União, o Estado e os Municípios, em relação a esses assuntos, deve ser normalizada por lei complementar, visando o equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar nacional. O Art. 24 trata da competência concorrente do domínio das leis por parte dos referidos entes da Federação, exceto o Município. Conforme esse dispositivo, a estrutura das normas gerais pertence ao poder legiferante da União, sem entrar em detalhes ou minúcias, sendo estas de competência dos Estados e do Distrito Federal. Não existe, porém, Lei Federal sobre normas gerais. Os Estados exercerão competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. No elenco de matérias mencionadas no Art. 24, tem-se, entre outras, aquelas pertinentes a:florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição; responsabilidade por dano ao meio ambiente, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (BRASIL, 1997) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 493 gestão ambiental descentralizada, fato que proporcionou maior contato e uma percepção mais direta dos problemas ambientais locais pelo Poder Público Estadual. Com isto foi possível ao estado direcionar medidas mais específicas e adequadas às diferentes situações regionais. Porém, apesar das semelhanças entre as políticas adotadas nas diversas esferas de governo, ocorrem sobreposições de determinações legislativas, levando a situações de conflito derivadas das características demasiadamente restritivas das Leis Federais. Desse modo alguns estados foram obrigados a aprimorar a regulamentação das políticas de gestão dos recursos naturais, no intuito de torna-las mais eficientes ampliando as possibilidades de participação dos diferentes agentes interessados na questão ambiental. O Congresso Federal aprovou ainda uma lei que delega aos municípios a tarefa de definir o que significa cumprir a função social da cidade e da propriedade urbana, bem como cuidar da expansão urbana de seu município: o Estatuto da Cidade aprovado em 2001. Este Estatuto é regulamentado no capítulo de política urbana (artigos 182 e 183) da Constituição Federal de 1988, oferecendo para as cidades um conjunto inovador de instrumentos de intervenção sobre seus territórios, além de uma nova concepção de planejamento e gestão urbanos. Segundo Saule Jr.; Rolnik (2001) foram definidas, no Estatuto, ferramentas para que o Poder Público e especialmente os Municípios pudessem utiliza-las no enfrentamento dos problemas da desigualdade social e territorial nas cidades, seguindo diretrizes e instrumentos de política urbana, relacionados a seguir: - Diretrizes gerais da política urbana, cabendo destacar a garantia do direito às cidades sustentáveis, à gestão democrática da cidade, à ordenação e controle do uso do solo visando evitar a retenção especulativa de imóvel urbano, à regularização fundiária e à urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda; -Instrumentos destinados a assegurar que a propriedade urbana atenda a sua função social, tais como o Plano Diretor, o parcelamento e edificação compulsória de áreas e imóveis urbanos, imposto sobre a propriedade urbana, [Imposto Predial e Territorial Urbano] (IPTU) progressivo no tempo, desapropriação para fins de __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 494 reforma urbana, o direito de preempção, a outorga onerosa do direito de construir (solo criado); - Instrumentos de regularização fundiária, como o usucapião urbano, a concessão de direito real de uso, as zonas especiais de interesse social; - Instrumentos de gestão democrática da cidade: conselhos de política urbana, conferências da cidade, orçamento participativo, audiências públicas, iniciativa popular de projetos de lei, estudo de impacto de vizinhança. (SAULE Jr.; ROLNIK, 2001, p. 11-12) Entre as diretrizes gerais previstas no artigo 2° do Estatuto da Cidade, em especial as inter-relacionadas com as normas da política urbana e com as competências constitucionais atribuídas aos entes federativos no campo das proposições relacionadas à proteção ambiental, deve-se destacar a seguinte: Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; (SAULE Jr.; ROLNIK, 2001, p. 13) Em sintonia com as questões ambientais contemporâneas e no intuito de chamar a atenção do mundo para a dimensão global dos perigos e ameaças à vida no planeta, a Cúpula da Terra realizou em 1992 a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO-92. Visando atuar para a minoração da constante degradação do meio ambiente e do esgotamento dos recursos naturais não renováveis, a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável constituiu-se tema básico do encontro. Nesse evento, foram assinados acordos com o intuito de alargar e fornecer o substrato filosófico, jurídico e político que fundamentaram e nortearam os atos futuros no caminho da transformação das promessas de preservação da vida no Planeta. Com isto assegurou que os compromissos assumidos pelos participantes, da Conferência, fossem registrados num documento, que assegurasse compromissos de trabalho para o próximo século, tal acordo foi denominado Agenda 21. Nesse processo procurou-se identificar os problemas prioritários, os recursos necessários e os meios pelos quais se pretende __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 495 enfrenta-los, estabelecendo-se para tanto um plano de metas para as próximas décadas, buscando disciplinar e concentrar esforços nas áreas chaves buscando evitar dispersões que levem ao desperdício ou às ações contraproducentes. Entretanto, é necessário ressaltar que para se atingir as metas estabelecidas pela Agenda 21 não é possível depender somente do Poder Público. São necessárias alterações de valores, de modelos produtivos e de padrões de consumo configurando uma verdadeira revolução cultural. PARADIGMAS PROJETUAIS CONTEMPORÂNEOS NO CONTEXTO DO DESENHO AMBIENTAL Inicia-se tratando da questão projetual e preservação do meio ambiente, com vistas a garantir a proteção, regularização e gestão dos recursos naturais, com a intenção de melhorar a qualidade da interação existente entre as populações urbanas e a natureza. No que diz respeito à rede de rios, canais e córregos que irrigam as áreas de adensamento, foram desenvolvidas algumas diretrizes de projeto e planejamento para o desenho ambiental. Fundamentadas, tanto na compreensão e percepção destas áreas, quanto na própria utilização dos recursos hídricos pela população, ficou claro que é preciso identificar o valor dos significados estéticos e ecológicos das paisagens fluviais para a sociedade urbana no século XXI. Nesse sentido, Gorski (2010) refere-se a uma metodologia desenvolvida por Maria da Graça A. N. Saraiva6 , que pretende avaliar valores intangíveis (cênicos, estéticos e culturais) de percepção da paisagem, capitados na população através de um estudo sobre O rio como paisagem: gestão de corredores fluviais no quadro do ordenamento do território. Nesse estudo se estabelecem índices de relacionamento entre homem e natureza, num determinado sítio, segundo 6 SARAIVA, M. G. A. N. O rio como paisagem: gestão de corredores fluviais no quadro do ordenamento do território. Liboa: Fundação CalousteGulbenkian/Fundação para a Ciência e Tecnologia, 1999. In: Goski, 2010, p. 37. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 496 uma perspectiva temporal-espacial7 . São elencados então, fatores levados em conta na avaliação decorrente da percepção e das preferências, com relação ao que diz respeito às paisagens fluviais. Visava-se com isto fornecer dados para alimentar o instrumental de projeto arquitetônico e urbanístico de acordo com o escopo dos projetos e com os tipos de impactos pretendidos, que decorrerão de intervenções nas unidades paisagísticas que integram o mosaico de ambientes fluviais. - características formais ou aspectos estéticos da água e sua relação com a paisagem – unidade como consistência e harmonia; vivacidade como forte impressão visual, contraste, textura, composição; variedade da apresentação da água e dos elementos a ela interligados, como o solo e a vegetação, e presença de elementos focais ou distintos; - características ecológicas – diversidade, integridade, composição e variedade de espécies; - componentes de apreciação cognitiva – simbolismo, legibilidade e mistério. (SARAIVA, 1999 apud GORSKI 2010, p. 37) Segundo Franco (2001) é preciso entender o convívio e harmonia do homem com a natureza, ocasionando o mínimo impacto possível, isto é, visando assegurar a permanência dos recursos ambientais, responsáveis pela garantia de vida às gerações futuras. Fizeram parte da construção desse paradigma diversos pensadores e filósofos. Mas, quando Frederick Law Olmsted projetou o primeiro grande parque urbano da América, o Central Park, em Nova York, datando de 1858-59, tornou-se o precursor da disseminação do ideal de transformar a prática do desenho ambiental num agente capaz de induzir a transformação social e estética à cidade. Segundo seu pensamento, o desenho urbano deveria englobar toda a cidade, sendo elaborado com a antecedência, de pelo menos, duas gerações, mantendo no tecido urbano espaços de reserva de área, que pudessem ser constantemente renovadas, considerando a ideia 7 A autora sintetiza índices de percepção extraídos de uma série de estudos realizados no período de 1960 à 1990. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 497 de parque como sistema de espaços livres urbanos interligados, como descrito por Maria Assunção Ribeiro Franco em seu livro Desenho Ambiental: A partir da experiência do Central Park, Olmsted concebeu a ideia de parques como sistemas de espaços livres urbanos interligados, a qual ele pôs em prática num projeto paisagístico para o Brooklin, cujo centro irradiador era o Prospect Park. (FRANCO, 2001, p.97) Ícone da arquitetura moderna ligando as questões ambientais às grandes produções profissionais do século XX, o polêmico arquiteto americano Frank Lloyd Wright que viveu entre 1867 e 1959, segundo vários biógrafos, concentrou seu pensamento como um filósofo da natureza, levando ao extremo sua preocupação com a inserção da arquitetura nas diversas paisagens em que se localizaria, por vezes chegando mesmo a ser considerado como um antiurbanista, segundo Franco (2001), devido à proximidade de suas crenças com o pensamento de Howard e Gueddes8, desconfiando como eles da eficácia das cidades modernas, apinhadas e movimentadas, como uma referencia à evolução humana. O ápice de sua manifestação teórica se deu na década de 1930, quando da publicação de: The disappearing city and Broadacres, no qual fazia a apologia do desenvolvimento familiar sobre um acre de terra, ou seja, numa gleba com cerca de 4.000 metros quadrados. Para comprovar sua teoria desenvolveu uma maquete experimental que reproduzia um modelo ideal de cidade horizontal de baixa densidade, que se aproximaria dos conceitos de “sustentabilidade urbana” desenvolvidos na contemporaneidade. Contudo, mais importante que as proposições ideológicas, até mesmo utópicas, de Wright, foi sua contribuição para o processo de projeto arquitetônico inspirado nas relações humanas, 8 Sir Ebenezer Howard (1850 — 1928)pré-urbanista inglês; tornou-se conhecido por sua publicação Cidades-jardins de Amanhã (Garden Cities of Tomorrow), de 1898, na qual descreveu uma cidade utópica em que pessoas viviam harmonicamente juntas com a natureza. Patrick Geddes (1854-1932), biólogo e filósofo escocês foi credenciado como o “pai” do planeamento regional. (QUENTAL, Nuno. Episódios da história do urbanismo. Escola Superior de Biotecnologia – Universidade Católica Portuguesa. Cascais: Land Art, 2013.) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 498 com os recursos naturais. Apesar de sua afinidade com os princípios transcendentais9 de Thoreau e Emerson10 , vivenciou o apogeu da industrialização da primeira metade do século passado, período no qual se desenvolveu a tecnologia aplicada aos sistemas construtivos. E, o arquiteto não se furtou à oportunidade de se apropriar das inovações da época para a concepção e elaboração de seus projetos, fato que o levou, por vezes a ser classificado como um arquiteto paradoxal, que utilizava “instrumentos e métodos industriais, valores humanos e um amor entranhado pela natureza”. (PFEIFFER, 1994 apud FRANCO, 2001) Foi nos projetos de arquitetura residencial que Wright deixou registrada sua relação com a paisagem natural, pois acreditava que a integração da arquitetura ao meio ambiente permitiria que o ser humano experimentasse o encantamento da beleza natural. Desse modo seria possível alcançar maior plenitude de vida. Para tanto, propunha uma tipologia denominada “Prairie House” (Casa de Pradaria). Nesses casos utilizava telhados levemente inclinados e propunha silhuetas largas e maciças, adotando beirais acolhedores e terraços baixos. Em sua maioria essas casas foram erguidas a partir de um pedestal que possibilitava o desenvolvimento de terraços espraiados, se conformando à topografia natural do terreno. Usava então muretas de contenção e os jardins se interligavam ao sítio, por meio do que o arquiteto chamou de “plantas abertas”. Estas tinham como proposta a exclusão de alguns ambientes internos, bem como algumas portas e até paredes, criando a sensação de interpenetração mútua entre a área interna e a externa, experiência que viria a ficar conhecida como “arquitetura orgânica”. O paradoxo vivenciado por Frank Lloyd Wright viria a se transformar, no início do século XXI, no paradigma da arquitetura contemporânea. Neste caso o foco se concentra na 9 O Transcendentalismo foi um movimento filosófico que exerceu grande influência na Nova Inglaterra, no final do séc. XVII e no séc. XIX [...]. 10 Thoreau (1817-62) [...] passou sua juventude imerso no universo intelectual “transcendentalista” da Nova Inglaterra, onde se destacava a figura do filósofo Ralph Waldo Emerson (1803-82), de quem se tornou amigo e admirador. (FRANCO, 2001, p. 91) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 499 possibilidade de desenvolver soluções que construíssem processos sustentáveis. Estes implicam na realização sistemática de ações que visam não só a preservação dos ecossistemas e da biodiversidade, mas também garantir a melhoria das condições socioeconômicas das comunidades. Contemporâneo de Wright, Aldo Leopold que viveu entre 1887 e 1948, foi o criador da “Land ethic” (ética da terra) fundamentada numa filosofia de “perspectiva biocêntrica”. Segundo seu criador, essa filosofia induziria os homens à ação de preservar a integridade, a estabilidade e a beleza dos sistemas naturais, reconhecendo que os seres humanos são elementos conscientes de um processo evolucionário, que prescinde de reflexões racionais sobre suas ações, com relação a si e com relação aos demais seres vivos. A partir dessa determinação, Leopold passa a ser considerado o pai do pensamento crítico em relação à ecologia, considerando essa ciência como sendo portadora do potencial reorganizador de um novo paradigma cultural para além do século XXI. A partir da ação de idealistas como Wright e Leopold existiram precursores dos questionamentos envolvendo o desenho ambiental, que desenvolveram teorias que viriam a consolidar o pensamento ambientalista. Estas acabaram por se refletir nas correntes arquitetônicas ditas ecológicas, que atuariam com maior empenho, a partir da década de 1970. Foi nesse período que as discussões se globalizaram e tomaram caráter oficial, sendo então respaldadas pelo instrumental da Gestão Pública das cidades em diversos países, e por órgãos internacionais como a Assembleia das Nações Unidas. Muito embora possa parecer que exista uma corrente hegemônica no campo do desenho ambiental baseado na atividade da arquitetura sustentável, esta nova tendência mundial se apresenta dividida em duas correntes teóricas: há aqueles ecocentristas que valorizam essencialmente o mundo natural e iniciativas individuais de transformação da relação homem/natureza; e há aqueles ostecnocentristas, que defendem uma arquitetura baseada na __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 500 máquina, considerando-a, supostamente, capaz de solucionar todos os possíveis problemas ambientais prementes. (FOLADORI, 2001) Pode-se destacar no universo dos arquitetos ecocentristas, os neovernaculares 11 , que, influenciados pela chamada Deep Ecology, propõem uma retomada das práticas arcaicas, destacando o papel dos povos indígenas e remanescentes de culturas tradicionais. Reconhecemnos não mais como simples testemunhos do passado, mas destacam a importância de sua vivência e dos processos que utilizam para enfrentar o futuro, ensinando a sociedade capitalista sobre o que representa ser verdadeiramente sustentável. A arquitetura neovernacular propõe a retomada de valores antigos, como a retomada do uso de materiais naturais e de técnicas artesanais, nas quais as formas mais simples do viver nos levam às soluções mais econômicas e de menor impacto. Com intensas preocupações regionais e sociais, utilizam-se dos recursos locais, tais como arquitetura de terra, defendida por arquitetos pioneiros, como o egípcio Hassan Fathy, ou o premiado trabalho em madeira do brasileiro Severiano Mário Porto. Outra importante vertente da arquitetura ecológica nasceu com a intenção de conciliar a tradição histórica e as possibilidades modernas. Assim focaliza a aplicação de tecnologias “limpas” e a utilização de recursos renováveis, a Green architecture, ou arquitetura “verde”. Esta busca também a eficiência energética das construções, a correta especificação dos materiais, a proteção da paisagem natural e o planejamento territorial, além do reaproveitamento de edifícios existentes. Procura dar a estes edifícios um novo uso. Aposta na mudança de postura dos profissionais para se orientarem essencialmente para a preservação da natureza e da qualidade do ambiente construído. Segundo esses arquitetos é preciso fugir de radicalismos e de forma isolada. Assim uma parcela dos projetos arquitetônicos, tanto novos quanto retrofits (reformas), passará a ser desenvolvida sob a ótica da sustentabilidade, estabelecendo padrões de 11 Por VERNÁCULA se compreende a prática arquitetônica baseada na tradição e transmitida entre gerações de modo informal, sem a participação de arquitetos ou representantes do saber acadêmico (oficial e erudito), fruto de um tempo e espaço.(CASTELNOU, A. M. N., 2012) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 501 sustentabilidade humana e ambiental, e introduzindo novas tecnologias de menor impacto ao privilegiarem a reutilização de matérias-primas. Entre os arquitetos que mais se destacam na atualidade como “verdes”, encontram-se Sambo Mockbee e muitos norte-americanos. (WINES, 2000) A partir dos anos 1990 surge a chamada eco-techarchitecture, baseada na defesa da alta tecnologia a fim de minimizar os impactos ambientais. Para isto, usam sistemas computadorizados e auto gestores, acreditando que a própria tecnologia mostraria o caminho para a garantia da qualidade ambiental (SLESSOR, 1997). Essencialmente tecnocentristas, aproximam-se das questões ambientais contemporâneas por serem moderados e por se enquadrarem nas regras mercadológicas. Associam biotecnologias a preocupações políticoeconômicas. Seus principais expoentes encontram-se principalmente na Europa e no oriente, destacando-se o alemão Thomaz Herzog, o francês Jean Nouvel e o italiano Renzo Piano. CONSIDERAÇÕES FINAIS Em pleno correr do século XXI é impossível pensar no fazer arquitetônico sem se considerar que qualquer intervenção, seja no âmbito da construção de edificações, seja na implementação de planos decorrentes do planejamento ou da ordenação de áreas urbanas, sem considerar as consequências do fato inevitável de gerar impacto no meio ambiente. Este abrange, de acordo com a resolução CONAMA 306 de 2002, o conjunto das condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abrigam e regem a vida em todas as suas formas, além de avaliar antecipadamente as proporções dos possíveis danos decorrentes das determinações projetuais. As decisões tomadas pelo arquiteto e urbanista devem, nesse sentido, serem fundamentadas no propósito de garantir a preservação da área de intervenção e de seu entorno __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 502 imediato. Assim, além de prever soluções de manutenção da integridade dos recursos naturais, de economia de energia e de geração mínima de resíduos sólidos, como princípios básicos do desenvolvimento sustentável para a sociedade, esse desenvolvimento tem como premissa amalgamar em íntima simbiose a gestão ambiental e o desenvolvimento econômico. Isto significaria poder suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das próximas gerações de suprirem as necessidades de seu tempo. Nesse sentido, seria preciso incorporar no planejamento e também no projeto arquitetônico, não apenas os fatores econômicos, mas também as variáveis sociais e ambientais, considerando as consequências das ações de longo prazo, bem como os resultados de curto prazo. A origem dessa conceituação foi definida por Franco (2001), com a intenção de dirimir possíveis dúvidas e se apresenta reproduzida a seguir: O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu da Estratégia Mundial para a Conservação (World Conservation Strategy) lançada pela União Mundial para a Conservação (IUCN) e pelo Fundo Mundial para a Conservação (WWF), apoiado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), embora já tivesse aparecido com o nome de “ecodesenvolvimento” na Reunião de Founeux em 1971, [...]. (FRANCO, 2001, p. 26) Ao se considerar o sentido abrangente de ecossistema, pode-se utiliza-lo para compreender os sistemas que interagem nas relações de subsistência das cidades. Desse modo, todos os elementos e processos que conformam os ambientes são inter-relacionados e interdependentes. Com isto, se houver alteração em qualquer das unidades, haverá reflexos em outros componentes. O conceito aqui adotado considera que os ecossistemas são formados por dois sistemas intimamente ligados, de um lado o “sistema natural”, englobando o meio físico e o biológico (solo, vegetação, fauna, recursos hídricos) e de outro, o “sistema cultural” configurado pelo homem e por suas atividades. Nesse sentido se atribui ao homem a capacidade de dirigir suas ações e se apropriar do meio ambiente. Este é fonte de matéria prima e energia indispensável à sua sobrevivência. Desse modo colocando-o na posição de receptor de seus __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 503 produtos e resíduos, caracterizando o ambiente urbano como um sistema aberto, onde cada parte depende de outras para garantir seu correto funcionamento e todas elas dependentes do meio ambiente natural e de seus recursos. (MOTA, 1981) É importante se considerar que as intervenções humanas das quais decorrem as alterações do meio ambiente são procedidas de maneira cada vez mais rápida e incessantemente. Nos grandes aglomerados urbanos fica impossível que a natureza cumpra seu ciclo de recuperação, pois o homem não é o único agente de alterações dos recursos naturais, outros animais buscam alimentos, constroem abrigos e expelem seus detritos, notadamente nas áreas rurais ou de preservação, porem esses processos ocorrem de forma naturalmente lenta e regular, garantindo o tempo necessário para se processar a neutralização dos seus prejuízos. No final do século XX, a população da Terra se transformou de predominantemente rural para preponderantemente urbana, concentrando pouco mais de 50% da população mundial em aglomerados urbanos. No caso do Brasil, esta alteração ocorreu em meados dos anos 1960, sendo que tal processo sofreu uma grande aceleração nas décadas seguintes, ligado a dois fatores: primeiro, ao êxodo rural; e na sequencia, à migração da população entre centralidades diversas. Tal processo denominado como “urbanização corporativa” por Milton Santos (1991)12 , gerou cidades com expressiva degradação das condições de vida e do ambiente urbano, fatos que vem se agravando com a paulatina intensificação da queda de qualidade da atmosfera urbana. (Mendonça, 2003)13 Atingindo cerca de 85% da população brasileira na década de 1990, o processo de urbanização da população brasileira ocorreu de maneira muito rápida, deflagrando um processo de metropolização muito veloz ao estabelecer uma rede de pequenas, médias, grandes e 12 13 SANTOS, M. A urbanização Brasileira, São Paulo: Hucitec, 1991. MENDONÇA, F. O ESTUDO DO CLIMA URBANO NO BRASIL: Evolução, tendências e alguns desafios. In: MENDONÇA, F.; MONTEIRO, C. A. F. (Orgs.). Clima urbano. São Paulo: Contexto, 2003, p. 175 –191. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 504 gigantescas cidades, sem contudo, considerar a necessidade do planejamento social inerente ao sucesso do desenvolvimento de áreas urbanas. Isto acabou resultando em condições ambientais degradadas e até na destruição de recursos naturais vitais à sobrevivência dos seres humanos no planeta. Por exemplo, as matas ciliares constituindo a vegetação que se forma naturalmente às margens dos cursos d’água, configurando uma proteção devido à massa verde extremamente eficaz para os meios hídricos, atuando no amortecimento do impacto da erosão de suas margens e para os lençóis freáticos, assegurando sua manutenção através da garantia de permeabilidade das áreas ribeirinhas. Embora a deterioração do meio ambiente seja um problema antigo e que sempre existiu na história da humanidade, agora, porém, há uma nova intensidade dos processos de degradação que acompanham a recente urbanização, resultando em uma acelerada vulnerabilidade das cidades. O conceito de Desenvolvimento Sustentável vem se difundindo na medida em que cresce a consciência sobre o esgotamento dos recursos naturais e se multiplicam os estudos que procuram mapear os vilões da temerosa insustentabilidade ambiental. De acordo com dados publicados pelo Balanço Energético Nacional (BEM) e pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD), o maior consumo específico de recursos energéticos provém da construção civil residencial, que aparece como responsável pela extração de aproximadamente 15 e 50% dos recursos naturais extraídos, 66% de toda a madeira extraída, 40% da energia consumida e 16% da água potável. Estes dados se referem ao conceito abrangente de ciclo de vida da edificação, que se inicia na fabricação dos materiais de construção, passa pelo transporte dos mesmos até o sítio das construções, pela obra propriamente dita, prolongando-se pela vida útil da edificação até a demolição e deposição final dos materiais. (Civil Engineering Research Foundation - CERF, entidade ligada à Sociedade Americana dos Engenheiros Civis – ASCE, 2001) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 505 O desenvolvimento da arquitetura e do ambiente construído em direção à sustentabilidade ambiental, frente aos benefícios socioeconômicos, implica numa revisão do processo projetual convencional. Pesquisas de metodologias de projeto arquitetônico e urbanístico remetem a uma interação entre estudo e proposição, com a inclusão de novas variáveis: arquitetura; desenho urbano; e planejamento, em suas várias escalas. Battle; McCarthy (2001) apud Gonçalves e Duarte (2006) definem o funcionamento das cidades, chamando-o de “metabolismo urbano”, como uma composição desses ciclos. E cada um destes contém características particulares, porém com influências mútuas, constituídos de: transporte; energia; água; resíduos; microclima, paisagem natural e ecologia; e materiais englobando construções e edifícios. Esses autores destacam que as decisões de transformação de cada um desses ciclos, para minimizar o impacto ambiental, são específicas da localidade de implantação do projeto, porém recebendo influências de questões econômicas, sociais e culturais de âmbito regional, nacional e até mesmo global. Segundo essa linha de pensamento as diretrizes para a elaboração de projetos devem definir em primeiro lugar as metas para o consumo e respectiva origem e procedência de recursos básicos como água e energia; em seguida pode-se definir a escolha das tecnologias e a determinação da eficiência dos processos de consumo desses recursos (na operação dos edifícios); e, por fim, são estabelecidas as metas e tecnologias de gerenciamento da geração de resíduos, incluindo a poluição atmosférica. A quantidade dos recursos gerados, reutilizados e reciclados nos limites físicos da região de intervenção ou alteração do meio físico (equipamento __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 506 ou edificação) irão caracterizar o compromisso da sociedade urbana com questões imediatas de impacto ambiental14. Com esse olhar sobre o ambiente construído, a busca pela sustentabilidade urbana vem ao encontro das seguintes metas aqui propostas: - preservação e liberação de áreas naturais devido aos efeitos e vantagens da compacidade urbana; - proximidade, diversidade e uso misto (socialização do espaço público); - maior eficiência energética (e menor poluição) pelo sistema de transporte; - microclimas urbanos mais favoráveis ao uso do espaço público e ao desempenho ambiental das construções; - edifícios ambientalmente conscientes ; - consumo consciente dos recursos em geral; -reuso e reciclagem (diminuição do impacto ambiental proveniente da geração de resíduos). (GONÇALVES; DUARTE, 2006, p. 63) Com o intuito de fortalecer o conceito de sustentabilidade urbana propõe-se estimular a revitalização de áreas urbanas com diferentes configurações e usos, para ser uma alternativa à ocupação de áreas degradadas e desvalorizadas (brownfields); com isto propõe-se substituir à prática de expansão urbana periférica, que se baseia na ocupação de áreas verdes (greenfields) livres. Em suma, os principais objetivos dessas premissas, segundo Gonçalves e Duarte, (2006) são: - ocupar áreas degradadas inseridas na cidade, otimizando o uso da infraestrutura disponível com base em parâmetros de densidade e uso misto; - conectar áreas da cidade, superando os obstáculos físicos existentes; - melhorar a qualidade ambiental da área como um todo; 14 Miguel Aloysio Sattler classifica os impactos determinados pela indústria da construção civil em dois tipos: impactos durante a fase de produção da construção (extração, processamento e distribuição de produtos), considerados de maior interferência no ambiente; e impactos durante a fase de utilização da construção (aplicações no local, desenvolvimento da vida no local e disposição dos produtos correspondentes).EDIFICAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS, 2003. Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Departamento de Engenharia Civil/NORIE __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 507 -otimizar o consumo de energia nos edifícios e na cidade; e - aumentar o valor ambiental e socioeconômico em área existente, ou restaurar o seu valor inicial. (GONÇALVES; DUARTE, 2006, p. 63) A orientação de estudos no sentido de embasar uma metodologia de projeto arquitetônico fundamentada nos princípios da sustentabilidade e da manutenção das fontes naturais de geração de energia, nos parece primordial, para assegurar o desenvolvimento da Arquitetura e do Urbanismo como campos da Ciência, capazes de orientar as novas gerações no sentido de construir cidades e edifícios que se adaptem aos ecossistemas vigentes, perpetuando o desenvolvimentos das espécies no planeta. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BRASIL. LEIS E DECRETOS. Constituição da Republica Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 1997. CAMARA DOSDEPUTADOS; COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, meio ambiente.. Conferencia das Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento. Brasília: Camara, 1995. CORBELLA, O. ; YANNAS, S. Em busca de uma Arquitetura Sustentável para os Trópicos. Rio de Janeiro: Revan, 2003. FOLADORI, Guillermo. Limites do desenvolvimento sustentável. Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 2001. FRANCO, M. A. R. Desenho ambiental: uma introdução à arquitetura da paisagem com o paradigma ecológico. 2 ed. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2008. ________. Planejamento ambiental para a cidade sustentável. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2001. GONÇALVES, J. C. S.; DUARTE, D. H. S. Arquitetura Sustentável: uma integração entre ambiente, projeto e tecnologia em experiências de pesquisa, prática e ensino. Ambiente Construído. Porto Alegra: Assoc. Nac. Tecnologia do Ambiente Construído, 2006, v. 6, n. 4, p. 51 81 out/dez. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 508 GORSKI, M. C. B. Rios e cidades: ruptura e reconciliação. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2010. LOPES, I. V.et al. [orgs.] Gestão ambiental no Brasil: experiência e sucesso. 2 ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. MENDONÇA, F.; MONTEIRO, C. A. F. (Orgs.). Clima urbano. São Paulo: Contexto, 2003. MOTA, S. Planejamento urbano e preservação ambiental. Fortaleza: Edições UFC, 1981. SAULE JÚNIOR, N.; ROLNIK, R. Estatuto da Cidade: novos horizontes para a reforma urbana. São Paulo,Pólis, 2001. xxp. (Cadernos Pólis, 4) SLESSOR, C., LINDEN, J. Eco-Tech: SustainableArchitectureand High Technology.ThamesandHudson,1997. SOBRAL, H. R. O meio ambiente e a cidade de São Paulo. São Paulo: Makron Books, 1996. TUAN, Y. F. Topofilia: Um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. Trad. Livia de Oliveira. São Paulo: Difel, 1980. VIEIRA, Luciana Alves; BARROS FILHO, Mauro Normando Macêdo. A emergência do conceito de Arquitetura Sustentável e os métodos. In: HUMANAE. Revista Eletrônica da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA. Disponível em: http://www.esuda.com.br/revista_humanae.php. WINES, J. Green Architecture. Milan :Taschen, 2000. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 CONTRADIÇÕES DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA: ÁREAS VERDES PÚBLICAS X HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL RESUMO Este artigo tem por objetivo propor uma reflexão sobre as contradições da legislação urbanística, tendo como recorte analítico as áreas vedes públicas frente às demandas por habitações de interesse social. Como procedimento metodológico adotou-se uma pesquisa qualitativa sobre a temática das áreas verdes públicas, que consistiu no exame da literatura pertinente de trabalhos científicos (livros, teses, dissertações, artigos, etc.) e da legislação urbanística. Considerando que as normas urbanísticas não tem sido suficientes para desencadear as emergentes transformações no processo de planejamento e gestão do meio urbano, com vistas à implantação de cidades verdes – cidades sustentáveis, cidades saudáveis. Foi possível constatar que a implementação de Políticas Públicas Habitacionais de Interesse Social está sendo viabilizada pela barganha de terras públicas (áreas verdes públicas). Palavras-chave: Legislação. Verde Urbano. Habitação de Interesse Social. ABSTRACT This article aims to propose a reflection on the contradictions of urban legislation, with the analytical approach areas you see the face of public demands for social housing. Methodological procedure we adopted a qualitative research on the topic of public green areas, which consisted of an examination of the scientific literature (books, dissertations, articles, etc..) And urban legislation. Whereas the urban norms has not been enough to trigger the emerging changes in the planning and management of the urban environment, with a view to implementing green cities - sustainable cities, healthy cities. It was found that the implementation of Public Policy for Social Housing is being made possible by the bargaining of public land (public green areas). Key words: Legislation. Urban Green. Social Housing. 510 CONTRADIÇÕES DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA: ÁREAS VERDES PÚBLICAS X HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL Sandra Medina Benini 1 Jeane Aparecida Rombi De Godoy Rosin 2 Gilda Collet Bruna 3 INTRODUÇÃO A idealização de cidades humanizadas materializadas nas mais diversas tipologias4 de cidades verdes não é um fato recente. Na realidade, essa questão há muito, vem permeando o imaginário 5 não apenas de urbanistas, arquitetos, mas rotineiramente daqueles que vivem em cidades. Cenários da vida urbana, o cotidiano foram registrados nos mais vastos acervos das artes plásticas, literatura, por meio de paisagens pitorescas, bucólicas, parques, bosques, assim como os mais encantadores jardins representados, descritos em afrescos, telas, versos e prosas. 1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP e Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNESP – Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente. E-mail: [email protected] 2 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP. E-mail: [email protected] 3 Docente da Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP. E-mail: [email protected] 4 No campo da arquitetura e do urbanismo, o conceito de tipologia tem sido comumente aplicado a edificações, como sinônimo de ‘modelo‘ (casa ou prédio, por exemplo). Esse uso se deriva indiretamente da ideia de tipos arquitetônicos, introduzida por Quatremère de Quincy no século XVIII e retomada por Salvatore Muratori e Gian Luigi Caniggia em meados do século XX (Cataldi, Maffei, Vaccaro, 2002). Para a descrição dos espaços urbanos, Muratori e Caniggia utilizam, em vez do estudo de tipos (tipologia), o estudo das formas (morfologia). Disponível em:<www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/e_nobre/tipos_arq_urb.pdf >. Acesso em 08/10/2013. 5 O imaginário permanece uma dimensão ambiental, uma matriz, uma atmosfera, aquilo que Walter Benjamin chama de aura. O imaginário é uma força social de ordem espiritual, uma construção mental, que se mantém ambígua, perceptível, mas não quantificável. Revista FAMECOS, Porto Alegre, nº 15, agosto 2001, quadrimestral. Disponível em: < 200.144.189.42/ojs/index.php/famecos/article/viewFile/285/217>. Acesso em 08/10/2013. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 511 De modo genérico, as cidades verdes podem ser compreendidas em expressões diversas, passíveis de identificação nos últimos períodos de nossa historia, notadamente a partir do final da revolução industrial até a contemporaneidade. Assim, tanto nas nações desenvolvidas como naquelas em vias de desenvolvimento, o poeta, o artista, o arquiteto, o cidadão, expressaram esse sonho comum por meio de suas artes, seja como protesto ou anseios de um ideal de vida a ser alcançado. Atualmente, contrastando-se com a beleza desses cenários, muitas cidades apresentam quadros estarrecedores de desigualdades e violações das mais diversas ordens, deste modo, sem desmerecer todo o processo de transformação e conquistas já realizadas, torna-se importante reconhecer, que esse sonho, esse ideal, foi recentemente materializado como direito fundamental, claramente expresso em nossa constituição federal. Sendo assim, no contexto de todo o processo conflituoso de urbanização por que tem passado as cidades neste início de século, obviamente a questão de maior importância, relaciona-se as proposições de equilíbrio do ambiente urbano com o ambiente natural, como condição única para se pensar em cidades mais humanas e fraternas, portanto é sob esse prisma que se adota o conceito de sustentabilidade. Em meio a tais considerações, as idéias, planos e desenhos para a construção de cidades inovadoras, cidades verdes, desde as primeiras propostas elaboradas por Ebenezer Howard, Tony Garnier e outros tantos urbanistas, até o momento atual, muitos especialistas tem demonstrado suas preocupações em elaborar estratégias para o enfrentamento das demandas ambientais, inclusive no que se refere a mudanças climáticas, as quais têm em comum, em sua maioria, o respeito pela natureza, a consciência de sua importância para harmonização do espaço urbano e sobretudo a construção de uma vivência harmoniosa em sociedade. Porém, diante das atuais demandas existentes no contexto das cidades, as normas urbanísticas editadas até então, não tem sido suficientes para desencadear as emergentes __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 512 transformações no processo de planejamento e gestão do meio urbano, com vistas a implantação de cidades verdes – cidades sustentáveis, cidades saudáveis. Neste contexto, a busca por este novo paradigma, deve considerar a existência de quatro grandes obstáculos, que inevitavelmente deverão ser superados: o primeiro faz referência as forças econômicas que regulam o sistema financeiro, controlando as oportunidades de trabalho e renda, o segundo diz respeito ao mercado imobiliário, restringido o acesso a terra urbana; o terceiro está estritamente relacionado com a incorporação de valores éticos na gestão do espaço urbano; e, por último, a instrumentalização da legislação urbanística, em especial o Estatuto da Cidade que prevê a garantia a uma cidade sustentável (Inciso I, Artº 2, da Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001). Nas cidades, a busca pela qualidade de vida tem orientado a elaboração e implantação de políticas públicas objetivando o bem-estar coletivo. Todavia, não somente administradores públicos, mas também pesquisadores de diversas áreas têm encontrado grande dificuldade de definir o que vem a ser qualidade de vida, em função do caráter subjetivo do conceito, o qual está estritamente relacionado com o atendimento das necessidades humanas, frente ao contexto sócio-cultural e econômico em que o indivíduo esteja inserido. A qualidade de vida no ambiente urbano é abarcada pelo Texto Constitucional de 1988, ao estabelecer como fundamento do Estado Democrático de Direito o princípio da dignidade da pessoa humana, (Inciso III, do Art. 1º), objetivando, entre outros, a redução da desigualdade social (Inciso III, do Art. 3º), seja nas diretrizes da Política de Desenvolvimento Urbano (Art. 182) ou nos pressupostos do Art. 225 que determina o meio ambiente, ora urbano, ou não, como um “bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações [...], e ainda incumbe ao Poder Público assegurar a efetividade desse direito (Art. 225, §1°). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 513 Nesse sentido, Rogers (2001, p.155) procura enfatizar que a sustentabilidade no ambiente urbano emerge como “uma nova ordem de eficiência econômica, beneficiando à todos os cidadãos, em vez de beneficiar alguns poucos em detrimento de muitos”. A noção da sustentabilidade urbana surge como forma de conjugação da questão econômica, social, política, cultural e ambiental, onde exista o comprometimento com processos de urbanização e práticas urbanísticas que incorporem a dimensão sócio-ambiental na produção e na gestão do espaço. Segundo Saule Junior (1997, p. 61), a sustentabilidade urbana passa a ser alicerçada nas “funções sociais da cidade” específicas, de caráter “difuso”, devendo oferecer mecanismos institucionais, administrativos e jurídicos que possam promover a “redução das desigualdades sociais, promoção da justiça social e melhoria da qualidade de vida urbana”, como forma de garantir o acesso à “moradia, transporte público, saneamento, cultura, lazer, segurança, educação, e saúde”. Diante de tais propósitos, nas últimas décadas houve uma preocupação voltada as questões ambientais no contexto das cidades, na busca de soluções diferenciadas, privilegiando a incorporação e valorização dos componentes naturais do ambiente urbano. Com a intensificação das demandas ambientais em áreas urbanizadas, há um despertar para a questão, com a proposição de novas teorias, práticas projetuais por meio de desenhos inovadores como possíveis respostas as complexas demandas oriundas de um processo contraditório de urbanização. BENEFÍCIOS DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS Certamente, muitas são as cidades, independente de seu porte, onde a falta ou a insuficiência de áreas verdes se constituem em problemas de grande complexidade, notadamente, naquelas em que não houve um processo de planejamento orientado pelos __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 514 princípios do desenho ambiental, visando o equilíbrio do ecossistema urbano. Nessas localidades, aparecem com frequência demandas relacionadas ao sistema de drenagem urbana, intensificados pela impermeabilização sempre crescente, sem falar da ausência de áreas verdes públicas (parques, bosques, jardins), além da dilapidação das áreas de APP (Área de Preservação Permanente), dentre outros aspectos. O cuidado com o planejamento e gestão desses espaços permeados por estratégias compatíveis com a construção da sustentabilidade urbana, configura-se como medidas emergenciais, tendo em vista suas potencialidades em contribuir para a melhoria da qualidade ambiental e consequentemente para uma vida mais saudável em cidades. Nesse sentido, se faz necessário destacar sua importância relacionada aos benefícios propiciados pelas áreas verdes: mitigação dos efeitos das diversas fontes poluentes; amenização das ilhas de calor - conforto ambiental, através do equilíbrio do índice de umidade do ar; humanização dos espaços edificados, proteção das áreas de nascentes e corpos de d’água, garantindo a recarga de lençóis subterrâneos, além dos enormes benefícios que transcende a dimensão física do espaço urbano para alcançar os bens mais subjetivos vinculados ao desenvolvimento da vida em comunidade. Em meio a tais apontamentos, Milano (1990) apud Vieira (2004) compreende que, a função essencial das áreas verdes urbanas, não está restrita somente em oferecer refúgios, para os habitantes escaparem da rotina acelerada do cotidiano das cidades, mas em possibilitar uma nova cultura em vivenciar os espaços verdes, a partir de novos elementos de composição incorporados no planejamento ambiental, onde as áreas verdes são projetadas para usos diversos, dentre eles: as práticas culturais, de lazer e recreativas integradas ao meio natural. Com este enfoque, para o desenvolvimento deste trabalho, considera-se como as áreas verdes públicas [...] todo espaço livre (área verde / lazer) que foi afetado como de uso comum e que apresente algum tipo de vegetação (espontânea ou plantada), que possa contribuir em termos ambientais (fotossíntese, evapotranspiração, sombreamento, __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 515 permeabilidade, conservação da biodiversidade e mitigue os efeitos da poluição sonora e atmosférica) e que também seja utilizado com objetivos sociais, ecológicos, científicos ou culturais". (BENINI, 2009, p. 71) A partir deste conceito, destaca-se que as áreas verdes, além dos benefícios comentados anteriormente, desempenham outras funções ambientais, como por exemplo: combate à poluição do ar6 através da fotossíntese7; “regula a umidade e temperatura do ar; mantém a permeabilidade, fertilidade e umidade do solo e protege-o contra a erosão e; reduz os níveis de ruído servindo como amortecedor do barulho nas cidades” (GOMES, 2005, p. 57). Troppmair e Galina (2003) acrescentam, enfatizando as vantagens do verde urbano na cidade: a) Criação de microclima mais ameno que exerce função de centro de alta pressão e se reflete de forma marcante sobre a dinâmica da ilha de calor e do domo de poluição; b) Despoluição do ar de partículas sólidas e gasosas, dependendo do aparelho foliar, rugosidade da casca, porte e idade das espécies arbóreas; c) Redução da poluição sonora, especialmente por espécies aciculiformes (pinheiros) que podem acusar redução de 6 a 8 decibéis; d) Purificação do ar pela redução de microorganismos. Foram medidos 50 microorganismos por metro cúbico de ar de mata e até 4.000.000 por metro cúbico em shopping centers; e) Redução da intensidade do vento canalizado em avenidas cercadas por prédios; f) Vegetação como moldura e composição da paisagem junto a monumentos e edificações históricas. (TROPPMAIR; GALINA, 2003, s/ p.) 6 “Gases venenosos em suspensão no ar acima da rua e a poeira tóxica cobrem a via carroçável e as calçadas. Automóveis, ônibus e caminhões congestionam as ruas, acelerando e freando, emitindo torrentes de monóxidos de carbono, óxidos de nitrogênio e partículas de chumbo e de combustível não queimado. O pára-e-anda do tráfego, característico de uma rua movimentada, produz mais poluentes do que um tráfego que flui suavemente a uma velocidade constante ao longo de uma rodovia, porque a concentração de fumaça dos escapamentos é maior, numa taxa irregular de combustão. Gotículas de óleo dos motores se transforma num fino aerossol; asbestos desprendem-se dos freios; a pavimentação das ruas literalmente trituram a borracha dos pneus em uma poeira fina” (SPIRN, 1995, p. 71). 7 “A fotossíntese auxilia na umidificação do ar, conseqüente resfriamento evaporativo” (BARBIRATO; SOUZA; TORRES, 2007, p.113-114). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 516 Neste contexto analítico, segundo Gomes (2007, p. 115) as áreas verdes podem proporcionar conforto térmico 8 , visto que essas superfícies verdes interferem na formação de microclimas9. Spirn (1995) explica que as áreas verdes diferem da paisagem de concreto, pela sua capacidade de dispersar a radiação solar, através da evaporação e transpiração. Nesta mesma corrente, Danni-Oliveira (2003, p. 157) com base nos estudos de climatologia urbana, afirma que as áreas residenciais, quando “ladeadas por áreas verdes”, recebem “incidência da radiação solar”, através de “trocas dos fluxos de calor e da umidade, bem como a dispersão de poluentes”. Segundo Pellegrino (2000, p. 162) o planejamento ecológico da paisagem “pode fornecer as ferramentas para se alcançar uma integração plena entre a sociedade e natureza, de forma que ambas prosperem a longo prazo”. 8 “Conforto térmico – Engloba as componentes termodinâmicas que, em suas relações, se expressam através do calor, ventilação e umidade nos referenciais básicos a esta noção. É um filtro perceptivo bastante significativo, pois afeta a todos permanentemente. Constitui, seja na climatologia médica, seja na tecnologia habitacional, assunto de investigação de importância crescente” (MONTEIRO, 2003, P. 24). “A sensação de conforto térmico está associada com o ritmo de troca de calor entre o corpo e o meio ambiente, sendo assim, o desempenho humano durante qualquer atividade pode ser otimizado, desde que o ambiente propicie condições de conforto e que sejam evitadas sensações desagradáveis, tais como: dificuldade de eliminar o excesso de calor produzido pelo organismo; perda exagerada de calor pelo corpo e desigualdade de temperatura entre as diversas partes do corpo” (BARBIRATO; SOUZA; TORRES, 2007, p.144). 9 “Cada cidade é composta por um mosaico de microclimas radicalmente diferentes, os quais são criados pelos mesmos processos que operam na escala geral da cidade. Os mesmos fenômenos que caracterizam o mesoclima urbano existem em miniatura por toda a cidade – pequenas ilhas de calor, microinversões, bolsões de grave poluição atmosférica e diferenças locais no comportamento dos ventos” (SPIRN, 1995, p. 71). “São exemplos de microclimas urbanos, as ruas margeadas por edifícios altos, praças e parques urbanos, sendo que estes últimos podem influenciar climaticamente até ruas adjacentes, dependendo do seu porte” (BUSTOS ROMERO, 2001, apud BARBIRATO; SOUZA; TORRES, 2007, p. 98). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 517 TUTELA DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS Para compreensão da problemática a ser desenvolvida nesta pesquisa, ressalta-se que em matéria urbanística a competência legislativa é concorrente entre a União, os Estados e ao Distrito Federal, restando assim, ao Ente Municipal à competência legislativa suplementar. Constituição Federal de 1988 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; [...] Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; Constituição do Estado de São Paulo Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Neste sentido, o Ente Municipal ao legislar sobre a matéria urbanística não poderá contrariar a Lei Federal ou a Lei Estadual nesta matéria, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade formal. No que tange a áreas verdes públicas, a Lei de Parcelamento do Solo (Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979), regulamenta matéria da produção do solo em todo o território brasileiro, determinando em seu artigo 22, quais os equipamentos urbanos (vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos) após o registro do loteamento, passam a integrar os bens de domínio público (Figura 01). __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 518 Figura 1 – Organograma das áreas do loteamento de domínio público Fonte: BENINI, 2009. Ao serem registrados, esses espaços urbanos passam a ser de domínio público por meio da afetação, sendo então, classificados como bens de uso comum ou bens de uso especial. Pires (2006, p. 61) ensina que a afetação é “a destinação de um bem a alguma finalidade (comum ou especial)” e que os bens de uso comum, são aqueles [...] destinados ao uso indistinto de toda a coletividade. Podem ser de uso gratuito (ruas, praias etc) ou remunerado (estradas, parques etc). Podem provir do destino natural do bem, por exemplo, rios, mares, ruas, praças, ou por lei ou ainda por ato administrativo. Mas há sempre uma afetação ao uso coletivo, Daí a incidência do regime jurídico administrativo. (PIRES, 2006, p. 60) __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 519 Por esta razão, no regime jurídico administrativo os bens públicos apresentam características próprias (intrínsecas), como: INALIENABILIDADE A inalienabilidade implica impossibilidade de alguém passar a propriedade de certo bem para outrem. Ela impede que certo bem público seja objeto de contratos de compra e venda, doação, permuta [...]. (DI PIETRO, 2007, 114) A causa da inalienabilidade é a proteção do uso público e, por conseguinte, do interesse coletivo. (CRETELLA JÚNIOR, 1984, p. 33 apud DI PIETRO, 2007, 114). IMPENHORABILIDADE Impenhorabilidade assegura que os bens públicos não sejam objetos de penhora, seja qual for modalidade. (PIRES, 2006, p. 63) IMPRESCRITIBILIDADE A imprescritibilidade é regra que afasta o elemento tempo como condição para aquisição de propriedade. Em razão dela, o decurso de tempo não favorece terceiro possuidor de qualquer tipo de bem público, de sorte a impossibilitar sua usucapião. (DI PIETRO, 2007, 117) No Código Civil (Lei º 10.406/2002) áreas reservadas nos loteamentos para uso comum do povo é tradição no ordenamento jurídico pátrio. Código Civil (Lei nº 10.406/2002) Art. 66. Os bens públicos são: I - Os de uso comum do povo, tais como os mares, rios, estradas, ruas e praças. II - Os de uso especial, tais como os edifícios ou terrenos aplicados a serviço ou estabelecimento federal, estadual ou municipal. III - Os dominicais, isto é, os que constituem o patrimônio da União, dos Estados, ou dos Municípios, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Art. 67. Os bens de que trata o artigo antecedente só perderão a inalienabilidade, que lhes é peculiar, nos casos e forma que a lei prescrever. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 520 A partir das determinações jurídicas comentadas anteriormente, o Promotor de Justiça José Carlos Freitas esclarece que as áreas públicas afetadas de bens de uso comum são Para a doutrina, os bens de uso comum do povo pertencem ao domínio eminente do Estado (lato sensu), que submete todas as coisas de seu território à sua vontade, como uma das manifestações de Soberania interna, mas seu titular é o povo. Não constitui um direito de propriedade ou domínio patrimonial de que o Estado possa dispor, segundo as normas de direito civil. O Estado é gestor desses bens e, assim, tem o dever de sua vigilância, tutela, fiscalização e superintendência para o uso público. Afirma-se que ‘o domínio eminente é um poder sujeito ao direito; não é um poder arbitrário’. [...] Sua fruição é coletiva, os usuários são anônimos, indeterminados, e os bens utilizados o são por todos os membros da coletividade - uti universi - razão pela qual ninguém tem direito ao uso exclusivo ou a privilégios na utilização do bem: o direito de cada indivíduo limita-se à igualdade com os demais na fruição do bem ou no suportar os ônus dele resultantes. [...] Numa acepção de Direito Urbanístico, existem bens afetados a cumprir específicas funções sociais na cidade (habitação, trabalho, circulação e recreação), caracterizando-se como espaços não edificáveis de domínio público: Encontramos, assim, espaços não edificáveis em áreas de domínio privado, como imposição urbanística, e espaços não edificáveis de domínio público como elementos componentes da estrutura urbana, como são as vias de circulação, os quais se caracterizam como áreas 'non aedificandi', vias de comunicação e espaços livres, áreas verdes, áreas de lazer e recreação. (FREITAS, s.a.) Desta forma, áreas públicas afetadas de bens de uso comum (áreas verdes ou institucionais) não poderão ter sua destinação, fim e objetivos originariamente alterados, conforme determina o inciso VII e § 1º a 3º, do art. 180, da Constituição do Estado de São Paulo. Constituição do Estado de São Paulo Artigo 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão: [...] VII - as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objetivos originariamente __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 521 alterados, exceto quando a alteração da destinação tiver como finalidade a regularização de: a) loteamentos, cujas áreas verdes ou institucionais estejam total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse social, destinadas à população de baixa renda, e cuja situação esteja consolidada, ou seja, de difícil reversão; b) equipamentos públicos implantados com uso diverso da destinação, fim e objetivos originariamente previstos quando da aprovação do loteamento; c) imóveis ocupados por organizações religiosas para suas atividades finalísticas. (NR) §1º - As exceções contempladas nas alíneas “a” e “b” do inciso VII deste artigo serão admitidas desde que a situação das áreas objeto de regularização esteja consolidada até dezembro de 2004, e mediante a realização de compensação, que se dará com a disponibilização de outras áreas livres ou que contenham equipamentos públicos já implantados nas proximidades das áreas objeto de compensação. (NR) §2º - A compensação de que trata o parágrafo anterior poderá ser dispensada, por ato fundamentado da autoridade municipal competente, desde que nas proximidades da área pública cuja destinação será alterada existam outras áreas públicas que atendam as necessidades da população. (NR) §3º - A exceção contemplada na alínea ‘c’ do inciso VII deste artigo será permitida desde que a situação das áreas públicas objeto de alteração da destinação esteja consolidada até dezembro de 2004, e mediante a devida compensação ao Poder Executivo Municipal, conforme diretrizes estabelecidas em lei municipal específica. (NR) O parágrafo 1º, do artigo 130, da Constituição do Estado de São Paulo, determina que seja admitida a disponibilização destas áreas verdes públicas, desde que a ocupação irregular nesses espaços tenha sido consolidada até dezembro de 2004, sendo que nos casos posteriores a esta data, seja realizada a compensação do bem. Todavia o parágrafo 2º deste mesmo artigo abre a possibilidade da dispensa da compensação do bem, mediante a manifestação do Administrador Público. Assim, apesar do discurso ambiental adotado pelos poderes públicos (Municipal e Estadual), a aquisição, implantação e preservação de uma área verde pública estão necessariamente, vinculadas à vontade/interesse do Administrador Municipal. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 522 Seguindo esta tendência da Constituição do Estado de São Paulo, o artigo 9º da resolução CONAMA n° 369/2006 que prevê a supressão de vegetação em área de APP para regularização fundiária, para efeito deste dispositivo jurídico é considerada “sustentável”. Neste mesmo contexto, o artigo 7º da Resolução SMA 31, de 19 de maio de 2009, dispensa as exigência artigo 6º desta mesma resolução, quando o parcelamento de solo urbano tiver como fim a implantação de conjuntos habitacionais de interesse social. Artigo 7° - No caso do licenciamento de novos empreendimentos destinados à construção de habitações de interesse social, de que trata a Resolução CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009, poderá ser dispensada a exigência prevista no artigo 6º, se houver a comprovação da existência, na proximidade, de áreas naturais que assegurem a manutenção das funções ambientais. § 1º - Para fins de aplicação do disposto no caput, poderão ser consideradas áreas verdes públicas ou privadas, parques municipais ou outras áreas não impermeabilizadas existentes em área urbana na região em que se pretende implantar o empreendimento. § 2º - A comprovação da existência de áreas naturais de que trata o caput deverá ser feita pela Prefeitura Municipal com base em estudo técnico. 10 Nesta abordagem, tanto a Constituição do Estado de São Paulo, a Resolução CONAMA n° 369/2006 e nº 412/2009, bem como, a Resolução SMA 31, de 19 de maio de 2009, remetem as áreas verde públicas, ora como bem de uso comum, imprescindível à implementação de um projeto de Cidade Verde – Cidade Sustentável, a condição de bem público disponível para implementação de Políticas Habitacionais. Entretanto, a implementação de Políticas Públicas Habitacionais de Interesse Social, viabilizada pela barganha de terras públicas (áreas verdes públicas), podem comprometer a 10 A Resolução CONAMA nº 412/2009, mencionada no artigo 7º da Resolução SMA 31, de 19 de maio de 2009, determina que os procedimentos de licenciamento ambiental de novos empreendimentos destinados à construção de habitações de interesse social com pequeno potencial de impacto ambiental em área urbana ou de expansão urbana, nos termos da legislação em vigor, sejam realizados de modo simplificado. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 523 qualidade de vida da população assistida, considerando a problemática ambiental, não apenas no contexto local, mas como um fator indutivo das mudanças climáticas em nível global. Neste contexto, as Políticas Públicas Habitacionais de Interesse Social implementadas nos moldes atuais, como foi apresentado neste artigo, podem não só alterar drasticamente a morfologia da cidade, comprometendo o equilíbrio ambiental, saturando a rede de infra-estrutura local, intensificando o adensamento populacional, privando a população de menor renda do acesso aos equipamentos sociais e ambientais, mas também as estruturas sociais, multiplicando assim, as mazelas urbanas. CONCLUSÃO No contexto das cidades, as normas urbanísticas editadas até então, não tem sido suficientes para desencadear as emergentes transformações no processo de planejamento e gestão do meio urbano, com vistas a implantação de cidades verdes – cidades sustentáveis . O verde urbano (áreas verdes públicas ou privadas e as APP – áreas de preservação Permanente) tem um papel significativo na produção dos serviços ambientais para melhoria da qualidade ambiental em cidades, devido aos seus inúmeros benefícios como, por exemplo: combate à poluição do ar; regulação a umidade e temperatura do ar; contribuição à permeabilidade, fertilidade e umidade do solo, protegendo contra processos erosivos; redução dos níveis de ruído servindo como amortecedor do barulho das cidades, dentre outros. Desta forma, as áreas verdes públicas em cidades, e ainda, por terem sido averbadas como de uso comum do povo, estes espaços devem ser considerados como bens ambientais, a serem preservados para as presentes e futuras gerações, com base nos preceitos constitucionais do artigo 225 da Carta Magna. Todavia, dentro do ordenamento jurídico, há um conflito de normas, uma vez que a Constituição do Estado de São Paulo, a Resolução CONAMA n° 369/2006 e nº 412/2009, bem como, a Resolução SMA 31, de 19 de maio de 2009, ao permitirem que áreas verdes públicas, __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 524 possam ser desafetadas para implementação de Políticas Habitacionais de Interesse Social, contrapondo-se aos Preceitos Constitucionais estabelecido no artigo 225 da Carta Magna. Por estas razões, a implementação de Políticas Públicas Habitacionais de Interesse Social, viabilizada pela barganha de terras públicas (áreas verdes públicas), podem comprometer a qualidade de vida da população assistida, considerando a problemática ambiental, não apenas no contexto local, mas como um fator indutivo das mudanças climáticas em nível global. REFERENCIAL BARBIRATO, Gianna Melo; SOUZA, Léa Cristina Lucas de; TORRES, Simone Carnaúba. Clima e Cidade: a abordagem climática como subsídio para estudos urbanos. Maceió: EDUFAL, 2007, 164 p. BENINI, Sandra Medina Benini. Áreas Verdes Públicas: A construção do conceito e a análise geográfica desses espaços no ambiente urbano. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia. 283 f., 2009. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. _________. Lei Federal nº 10.257 (2001). Estatuto da Cidade. DOU 11.07.2001, ret. DOU 17.07.2001. _________. Resolução CONAMA N° 369, de 28 de março de 2006. Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Áreas de Preservação Permanente. _________. Resolução CONAMA N° 412, de 13 de maio de 2009. Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de novos empreendimentos destinados à construção de habitações de Interesse Social. DANNI-OLIVEIRA, Inês Moresco. A cidade de Curitiba e a Poluição do ar: Implicações de seus atributos urbanos e geoecológicos na dispersão de poluentes em período de inverno. In: MONTEIRO, Carlos Augusto de Figueiredo; MENDOÇA, Francisco (Org.). Clima Urbano. São Paulo: Contexto, 2003, p.155-172. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Bens públicos: domínio urbano: infra-estrutura. Belo Horizonte: Fórum, 2007, 360 p. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 525 FERNANDES, Edésio. Questões anteriores ao Direito Urbanístico. Belo Horizonte: PUC Minas Virtual, 2006. FREITAS, José Carlos de. Bens Públicos De Loteamentos E Sua Proteção Legal. Disponível em < http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/material/doutrinas/arborizacao/bens_publicos_de_loteame ntos_sua_protecao_legal.pdf > Acesso 02.06.2013. GOMES, Marcos Antônio Silvestre. As praças de Ribeirão Preto/SP: uma contribuição geográfica ao planejamento e à gestão dos espaços públicos. 204 f. 2005. Dissertação (Mestrado) Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Geografia. Uberlândia, 2005. MONTEIRO, Carlos Augusto de Figueiredo. Teoria do clima urbano: Um projeto e seus caminhos. In: MONTEIRO, Carlos Augusto de Figueiredo; MENDOÇA, Francisco (Org.). Clima Urbano. São Paulo: Contexto, 2003, p. 9 -67. PELLEGRINO, Paulo R. M. Pode-se planejar a paisagem? In. Paisagem e Ambiente: ensaios São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, nº 13, dez de 2000, p.159-180. PIRES, Luis Manuel Fonseca. Loteamentos Urbanos: natureza jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2006, 160 p. ROGERS, Richard. Cidades para Um Pequeno Planeta. Tradução de Anita Regina Di Marco, 4ª Edição. Barcelona : Editorial Gustavo Gili, 2001. SÃO PAULO. Constituição do Estado de São Paulo, de 05.10.1989. __________. Resolução SMA 31, de 19.05.2009. SAULE JUNIOR, Nelson. Novas perspectivas do direito urbanístico brasileiro. Ordenamento constitucional da política urbana: aplicação e eficácia do plano diretor. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1997. ACSELRAD, Henri. Discursos da Sustentabilidade Urbana. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Campinas: nº 01, maio/ 1999. SPIRN, Anne Whiston. O Jardim de Granito: A natureza no desenho da cidade. Tradução Paulo Renato Mesquita Pellegrino. São Paulo: Edusp, 1995. 345 p. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 526 TROPPMAIR, Helmut; GALINA, Márcia Helena. Áreas verdes. Território & Cidadania. Rio Claro, SP, ano III, nº 2, jun-dez, 2003. Disponível em: <http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/territorioecidadania/Artigos/helmut%201.htm> Acesso em: 21 mai. 2008. VIEIRA, P. B. H. Uma visão geográfica das áreas verdes de Florianópolis, SC: estudo de caso do Parque Ecológico do Córrego Grande (PECG). Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis - SC, 2004. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 CONFLITOS ENTRE A OCUPAÇÃO URBANA E A PROTEÇÃO HÍDRICAAMBIENTAL NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL: O MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ, SP RESUMO Os conflitos e as interfaces entre a ocupação urbana e as áreas de proteção hídrica e conservação ambiental. Os impasses entre a gestão urbana e a gestão ambiental e sua influência no planejamento urbano, especialmente em áreas vulneráveis e de risco. A noção de uso sustentável pressuposto no planejamento urbano em áreas de proteção e de conservação ambiental. A região paulista da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte: situação atual, conflitos urbanos e ambientais. O uso do solo urbano em áreas ambientalmente protegidas. O município de Guaratinguetá: conflitos e aproximações entre o plano urbano e o plano de Bacia na ocupação urbana em áreas vulneráveis e de risco. Palavras-chave: ocupação urbana, gestão urbana e ambiental, vulnerabilidade, áreas de risco ABSTRACT Conflicts and the interfaces between urban occupation and areas of water protection and environmental conservation. The stalemate between the urban management and environmental management and its influence on urban planning, especially in vulnerable areas and risk. The notion of sustainable use assumption in urban planning in areas of environmental protection and conservation. The paulista region of Paraíba do Sul River Basin in Metropolitan Region of the Paraíba Valley and the North Coast: current situation, urban and environmental conflicts. The use of urban land in environmentally protected areas. The municipality of Guaratinguetá: conflict and approaches between the urban plan and the Basin plan for the urban occupation in vulnerable areas and risk. Key words: urban occupation, urban and environmental management, vulnerability, risk areas 528 CONFLITOS ENTRE A OCUPAÇÃO URBANA E A PROTEÇÃO HÍDRICAAMBIENTAL NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL: O MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ, SP Silvia P. S. M. Vitale 1 Angélica A. T. B. Alvim 2 INTRODUÇÃO As ocupações urbanas em áreas de conservação ambiental se caracterizam pelo conflito entre proteção dos recursos naturais e ambientais e a necessidade de moradia de populações, muitas delas em situação de pobreza e que se assentam em áreas de encosta e de inundações definidas como áreas de risco e vulneráveis. Neste contexto o objetivo do trabalho é caracterizar a região paulista da Bacia do Rio Paraíba do Sul, especialmente a área do Município de Guaratinguetá e analisar o conflito entre as políticas públicas urbanas e hídrico-ambientais que vêm influenciando esse quadro na região. Como objetivo a pesquisa visa compreender os conflitos urbanos e ambientais que ocorrem na Bacia Estadual do Rio Paraíba do Sul, caracterizada pela existência de áreas de proteção ambiental e áreas vulneráveis e de risco, que sofreu com a pressão da ocupação urbana. Recentemente elevada ao status de Região Metropolitana, apresenta o crescimento urbano intenso no eixo ao longo do Rio Paraíba do Sul e junto às suas várzeas, o qual é reforçado pelas infraestruturas viárias e de transporte instaladas paralelas a esse eixo. Um dos reflexos dessa problemática é a deterioração dos recursos naturais, em especial o recurso hídrico, pois as cidades necessitam se tornar dinâmicas face à sua sobrevivência econômica, e isso tem gerado pressão sobre o território, refletindo-se na 1 Arquiteta e urbanista; professora da Universidade Nove de Julho e da Universidade Cruzeiro do Sul; doutoranda em Arquitetura e Urbanismo do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie; [email protected] 2 Arquiteta e urbanista; professora e coordenadora geral de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie; [email protected] __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 529 liberação de áreas para a ocupação urbana em detrimento de outros usos ligados ao abastecimento público e à manutenção dos recursos naturais. Como pano de fundo para essa problemática temos os organismos que atuam na região, como os comitês de Bacia, e que, no caso do Vale do Paraíba é mais conflituoso por nele atuarem duas instâncias de comitês – o federal e o estadual- com diferentes enfoques quanto à abordagem dos problemas ambientais e hídricos na região e com pouca articulação com a política urbana, importante fator da poluição hídrica e ambiental. Isso se reflete na pouca interação entre os planos ambientais e os planos urbanos, o que repercute no crescimento urbano em áreas protegidas ou vulneráveis, gerando risco à população urbana. Recentemente têm ocorrido mudanças na abordagem ambiental em áreas de expansão urbana, preocupadas também com a recuperação ambiental, o que têm possibilitado novas atuações conjuntas entre instâncias e setores distintos da administração pública e da sociedade civil na resolução dos problemas urbanos e ambientais visando a um desenvolvimento sustentável. No entanto no Vale do Paraíba o enfrentamento dos problemas urbano-ambientais sob essa nova ótica dá seus primeiros passos, de forma tímida quanto à articulação entre as políticas urbanas e hídricoambientais. A REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA: BREVE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO O território que configura o Vale do Paraíba está em uma grande área de bacia hidrográfica, onde o Rio Paraíba do Sul se estende por 1.120 km desde a nascente no estado de São Paulo até a foz no estado do Rio de Janeiro, abrangendo uma área aproximada de 57.000km². Essa é uma das três maiores bacias hidrográficas secundárias do Brasil, e passa por três estados da federação – São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo que as maiores cidades se localizam na área do vale médio do rio, principalmente na porção paulista e também na porção fluminense. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 530 Figura 01: Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul nos três estados da federação. Fonte: disponível em http://www.igam.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=250&Itemid=257 A conformação físico-territorial do Vale do Rio Paraíba do Sul e sua posição estratégica no território paulista e brasileiro foram os fatores responsáveis pelo início de sua ocupação ainda no período colonial e, posteriormente, que configuraram sua rede de cidades, estas reforçadas pela instalação de infraestruturas viárias e de transporte no fim do século XIX paralelas ao eixo do rio. Essa rede de cidades instalada se beneficiaria com o processo de industrialização no Século XX destacando-a nacionalmente pela intensa e diversificada atividade econômica, e que intensificou o crescimento populacional urbano. O Vale do Paraíba se caracteriza pela produção industrial altamente desenvolvida, predominando os setores automobilístico, aeronáutico, aeroespacial e bélico nos municípios localizados no eixo da Rodovia Presidente Dutra. A proximidade com o Litoral Norte e suas atividades portuárias e petroleiras reforça seu lugar estratégico. A região caracteriza-se, ainda, por importantes reservas naturais, como as Serras da Mantiqueira, da Bocaina e do Mar. É o segundo maior produtor de leite do País – atividade que sustenta grande parte da população rural dos pequenos municípios, e na agricultura, a produção tradicional é a cultura de arroz nas várzeas do Rio Paraíba (EMPLASA, 2012), que cria conflitos com o abastecimento público devido aos agrotóxicos despejados nas águas do rio. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 531 Essa ocupação diversa na região demanda um uso intenso e múltiplo dos recursos hídricos gerando conflitos pelo uso hídrico na bacia. O Rio Paraíba do Sul é o destino final de esgotos, de efluentes industriais, dos agrotóxicos da agricultura, do assoreamento e erosão dos solos devido ao desmatamento das margens. Ao mesmo tempo suas águas e reservatórios são destinados ao abastecimento público de muitos municípios, especialmente da cidade do Rio de Janeiro, bem como para a utilização das usinas hidrelétricas, cuja demanda está cada vez maior. O crescimento industrial da região provocou uma grande concentração populacional que aumentou a demanda dos recursos naturais da Bacia do Rio Paraíba do Sul: um aumento médio de 74,79% na população residente na bacia desde 1980. Devido ao processo histórico no território da bacia e os ciclos econômicos e sociais que ocorreram e causaram sua degradação ambiental bem como o crescimento dos municípios e da população, tem-se hoje um cenário de vulnerabilidades ambientais em relação ao Rio Paraíba do Sul. Para Gil e Dias (2009, p. 102) “a implantação de políticas públicas pode gerar melhoria da qualidade de vida da população, pois pode se caracterizar por ações e intenções de desenvolvimento com os quais os poderes e instituições públicas podem responder às necessidades de diversos grupos sociais”. A GESTÃO HÍDRICA-AMBIENTAL NO VALE DO PARAÍBA HISTÓRICO DO ARCABOUÇO INSTITUCIONAL A Bacia do Rio Paraíba do Sul foi objeto de estudo e planejamento devido ao seu papel estratégico nacional. Organismos consultivos foram criados, nas escalas estadual e federal, para implementar desde a infraestrutura hídrica e de saneamento até recomendações sobre o ordenamento do solo, indicando as zonas preferencialmente destinadas a indústrias, expansão urbana, agricultura e proteção ambiental. Devido à falta de apoio político muitas ações, especialmente as ligadas à recuperação da bacia, não foram implantadas. Somente com a Constituição Federal de 1988 foram criadas as bases para a política dos recursos hídricos. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 532 Em 1993 o Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo foi definido pela Constituição Estadual de 1989 a partir de Diretriz da Constituição Federal de 1988 e está ancorado em três instâncias – deliberativa, técnica e financeira - de cuja articulação são estabelecidos programas e ações nas áreas de recursos hídricos, de saneamento e de meio ambiente. Por esse sistema o território paulista foi configurado em 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs) que definiram a Divisão Hidrográfica do Estado de São Paulo, cada uma com seu Comitê de Bacia. Em 1994 foi criado no Estado de São Paulo o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul e Serra da Mantiqueira (CBH-PSM) que elaborou em 2000 o primeiro Plano de Bacia do Paraíba do Sul e Mantiqueira. Em 2001 a Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul se desmembrou do Comitê da Bacia Hidrográfica da Serra da Mantiqueira (CBH-SM), criando o CBHPS - Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul objetivando trabalhar em prol da conservação e recuperação das águas do Rio Paraíba do Sul e afluentes localizados no trecho Paulista. Na escala federal, em março de 1996 foi criado, o Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). Este foi fortalecido com a aprovação da Lei 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Em 2011 foi criada a Agência de Águas do CEIVAP- AGEVAP e então foi executado um Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Paraíba do Sul (PPG), buscando consolidar a gestão dos recursos hídricos na bacia, especialmente na área do saneamento ambiental. Os estudos demonstraram a viabilidade da cobrança pelo uso da água na bacia em gerar recursos para grande parte dos investimentos previstos mediante um eficiente sistema de gestão. O PPG foi base para a elaboração do Plano de Recursos Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança na Bacia do Rio Paraíba do Sul (2002-2006) em 2002. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 533 Em dezembro de 2009 o Comitê paulista da bacia (CBH-PS) aprovou o Plano da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul - UGRHI 02 - 2009-2012, o primeiro plano do Comitê desmembrado em 2001. Em 2013 o Comitê paulista aprovou o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul: Trecho do Estado de São Paulo (UGRHI 02) 2011-2014. Neste, diferente dos planos anteriores, que enfatizavam investimentos em infraestrutura de saneamento, como forma de melhorar a qualidade do recurso hídrico, há uma intenção em priorizar ações para desenvolver os instrumentos de gestão, como uma maior integração dos Planos Diretores Municipais com o Plano da Bacia. CARACTERIZAÇÃO DOS CONFLITOS NA BACIA Segundo Alvim e Kato (2011), a Constituição Federal de 1988 definiu princípios inovadores para as politicas ambientais e urbanas, reforçando os caminhos distintos uma vez que tais políticas obedecem a lógicas diferentes e muitas vezes conflitantes. De acordo com estas autoras, as políticas ambientais (incluindo as políticas hídricas) são políticas concorrentes, ou seja, são de competência comum dos três níveis de governo; desse modo devem, quando a área em questão corresponder a dois ou mais municípios do mesmo Estado, se sujeitar ao Estado e, no caso de corresponder a municípios que estão em estados diferentes sujeitar-se à União. Esta situação gera muitos problemas referentes ao uso, escassez e a qualidade da água, devido à dificuldade em gerir os interesses distintos de muitos usuários, pois particularmente os recursos hídricos passaram, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a serem entendidos de forma integrada (saneamento, recursos hídricos e energia) no âmbito da bacia hidrográfica. Em áreas intensamente urbanizadas, as dificuldades de acesso à habitação e a ausência de políticas públicas, particularmente urbanas, habitacionais e de infraestrutura de saneamento, voltadas para a população mais pobre, acabam por induzir a ocupação de áreas impróprias para __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 534 urbanização, contribuindo para acirrar os conflitos entre a preservação ambiental e as atividades urbanas. Isso pressupõe a necessidade de convergência entre os instrumentos urbanos e ambientais e a consolidação de consensos e posturas quanto ao que se entende por preservar e recuperar as bacias hidrográficas. Nesse panorama emergem os desafios do presente e os embates necessários entre as políticas ambientais e as políticas urbanas, no sentido da construção de alternativas capazes de contemplar os interesses públicos em sua dupla dimensão: a demanda de água para abastecimento humano e suporte econômico, e as demandas de atividades urbanas em áreas intensamente urbanizadas. Conforme Alvim (2003, p. 368-369), a articulação entre os diversos setores que apresentam interface com a gestão dos recursos hídricos indica o êxito de uma gestão integrada das bacias hidrográficas. Esses setores possuem qualidades diferentes de relação com a gestão dos recursos hídricos, e, segundo Alvim, podem ser de três tipos: - Setores diretos: aqueles que necessariamente têm uma articulação direta e inerente com recursos hídricos, na concepção contemporânea do setor, pois dependem do recurso água. Entre eles, o saneamento básico, especificamente os setores de abastecimento de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos, o setor energético, a drenagem urbana, e a irrigação. - Setores correlacionados: são aqueles cuja articulação é evidente na medida em que se tem o conceito de desenvolvimento sustentável como elemento condutor do gerenciamento dos recursos hídricos no âmbito de uma bacia hidrográfica. Nesse grupo participam os setores de meio ambiente, resíduos sólidos, educação e saúde. - Setores indiretos, de abrangência territorial: são setores de natureza territorial que demandam e interferem nos recursos hídricos e que devem ser geridos em consonância com a gestão de recursos hídricos, de modo a atingir a gestão integrada da bacia. Nessa categoria, estão os setores-chave das políticas de ordenamento territorial urbano: uso e ocupação do solo __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 535 (legislações e instrumentos); habitação, indústrias, grandes equipamentos, circulação e sistema de transportes e agricultura. O principal instrumento do Comitê Estadual de Bacia é o Plano de Bacias (Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 2011-2014). Desde a instalação do Comitê estadual foram elaborados três planos de bacia que contém princípios e diretrizes em relação à gestão dos recursos hídricos da região. Muitas destas diretrizes buscam orientar os municípios em suas políticas urbanas, visto que elas são influenciadas pelas águas e as influenciam. Mas as ações do Comitê Estadual da Bacia do Paraíba do Sul de certo modo privilegiam problemas dos recursos hídricos, particularmente dos afluentes estaduais do Rio Paraíba do Sul. Por outro lado, no âmbito municipal, o principal instrumento é o Plano Diretor, de acordo com o Lei Federal 10257/2001 – o Estatuto da Cidade – que define orientações da politica urbana das cidades brasileiras. A partir do entendimento dos processos de planejamento e gestão em curso tanto do ponto de vista dos Comitês quanto do ponto de vista dos municípios, acredita-se que a partir do amadurecimento desses processos de planejamento e gestão e com a maior articulação dos diversos setores que se relacionam com a bacia devido às questões ligadas às vulnerabilidades urbano-ambientais, é possível existir um caminho para a aproximação entre as políticas urbanas e ambientais. CONFLITOS URBANO-AMBIENTAIS NO VALE DO PARAÍBA: O MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ, SP Guaratinguetá é um município do Vale do Paraíba paulista localizado no vale médio superior do Rio Paraíba do Sul. Configura um importante centro de comércio e de prestação de serviços da região. Seu território abrange 304,57 km², com uma população de 112 mil habitantes pelo Censo do IBGE 2010 e PIB de 2,305 bilhões (2010). O município está inserido na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e tem como principais rios atravessando seu território o próprio __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 536 Rio Paraíba do Sul, além de 5 afluentes: Ribeirão Guaratinguetá, Ribeirão São Gonçalo, Ribeirão Gomeral, Ribeirão dos Mottas, Ribeirão Pilões. Destaca-se o Ribeirão Guaratinguetá que é utilizado no abastecimento de água da cidade, ao invés do Rio Paraíba, servindo o município com a água mais limpa do Vale do Paraíba. Figura 02: Localização do município de Guaratinguetá, com sua área urbana localizada na porção mais estreita do território. Verifica-se também a extensa rede hídrica no Município. Fonte: SÃO PAULO (ESTADO)/IG/CEDEC, 2009.Vol. I, p.56. A Lei Municipal Nº 1925/86 estabelece as diretrizes básicas para uso e ocupação do solo no município de Guaratinguetá, dividindo-o em 5 grandes Zonas Urbanas (Sede Urbana, Santa Edwirges, Rocinha, Pedrinhas e Engenho D’água) e 2 Zonas Rurais (Quebra Cangalha e Mantiqueira). A cidade conta com uma área militar onde está localizada a Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR) e o Aeroporto Edu Chaves destinado exclusivamente a uso militar. Possui __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 537 Escolas de Ensino Superior como a FATEC e a Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá – UNESP, esta caracterizada pela forte influência da predominância industrial da região. Também há o Polo Industrial de Guaratinguetá que se destaca pela presença de empresas de grande porte e de multinacionais, exercendo forte influência na oferta de empregos e na migração dos municípios adjacentes. Em relação à forma de ocupação do tecido urbano, percebe-se que o relevo da cidade condicionou uma ocupação alongada e estreita, acompanhando as margens do rio Paraíba, invadindo planícies inundáveis, sendo que 2,4 Km² das planícies aluviais encontra-se em área de APP (Área de Preservação Permanente) do Rio Paraíba do Sul e dessas, 1,3 Km², equivalentes a 10% da área urbana de Guaratinguetá, estão sujeitas a inundações periódicas pelo rio Paraíba do Sul. Essa ocupação das áreas de planícies aluviais se deu tanto pela população de baixa renda quanto por loteamentos destinados às classes média e baixa. Para Siqueira, Batista, Targa e Catelani (2006, p.54) “a falta de um planejamento urbano que leve em conta as questões hidroambientais e técnicas de drenagem eficientes têm agravado ainda mais o problema”. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 538 Figura 03: Mapa das áreas de risco do Município de Guaratinguetá-SP. Fonte: ROSSETTI, R. B. (s.d.) Recentemente foi feito pelo Instituto Geológico em parceria com a Defesa Civil do Estado o “Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência”, que localiza em Guaratinguetá, na escala 1:3.000, os Perigos de Inundação e os Riscos de Inundação, Erosão e Solapamento de margens de drenagens. Esse documento permite que “o município gerencie o processo de uso e ocupação do solo, controlando a implantação de moradias e outros usos em áreas perigosas ou de risco, bem como proceda a intervenções para minimização dos riscos”. (SÃO PAULO ESTADO/IG/CEDEC, 2009, p.73) Por esse documento destaca-se a ocorrência de perigo de inundação em uma extensa área na planície de inundação do rio Paraíba do Sul, circunvizinha ou coincidente com a mancha urbana, onde o perigo varia de alto a muito alto, intercalando-se a perigo médio. O documento indica que se deve evitar a expansão urbana nestes locais. Quanto ao perigo de erosão, este existe em toda a mancha urbana e regiões circunvizinhas, com gravidade de alta a muito alta, __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 539 intercalando-se a perigo médio a baixo. O documento indica para expansão urbana uma extensa faixa com perigo médio a baixo localizada nos terrenos com baixa declividade fora da planície do Rio Paraíba do Sul. Segundo Siqueira (2006) apud Bassanelli e Batista (2011) faz-se necessário, ainda, uma análise hidro-ambiental das áreas destinadas a futuros loteamentos, de modo a protegê-los de danos ambientais, sociais e econômicos, promovendo melhor qualidade de vida aos seus moradores. No entanto, segundo Bassanelli e Batista (2011), famílias de dois bairros vítimas de inundações foram removidas para conjuntos habitacionais construídos sobre uma área de manancial, demonstrando a falta de articulação entre políticas habitacionais e urbanas com políticas hídrico-ambientais. Figura 05: Guaratinguetá- áreas inundáveis. Imagem do satélite CBERS 03/08/2006 – Georreferenciada pelo SPRING e fotos aéreas. Fonte: SIQUEIRA; BATISTA; TARGA; CATELANI (2006), p. 62-63. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 540 CONSIDERAÇÕES FINAIS Do ponto de vista da Bacia é importante que as políticas hídricas e ambientais se articulem às políticas urbanas buscando ações de recuperação ambiental em áreas degradadas e considerando a questão habitacional e de ocupação urbana como um problema a ser resolvido de forma articulada. Do ponto de vista urbano, observa-se a necessidade da cidade se adaptar às mudanças ambientais, incorporando em seus planos e instrumentos urbanísticos as áreas de risco e vulnerabilidades no que se refere ao diagnóstico de preexistências e a levantamentos específicos para sua identificação, antecipando-se a problemas e desastres urbano-ambientais e suas soluções, com intervenções orientadas para a sustentabilidade ambiental de forma ampliada. Sem considerar essa abrangência o plano diretor e seus instrumentos urbanísticos explicitam a falta de comprometimento com a questão, especialmente porque é considerado o principal instrumento “para a adaptação urbana e o enfrentamento dos riscos [...] [e] é o recurso mais importante para a gestão urbana visando à adaptação de cidades”. (LEMOS, 2010, p.204). REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALVES, H.; TORRES, H. Vulnerabilidade socioambiental na cidade de São Paulo: uma análise de famílias e domicílios em situação de pobreza e risco ambiental. Revista São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 20. n. 1, p. 44-60, jan./mar. 2006. ALVIM, A. T. B., et al. Das políticas públicas ambientais e Urbanas às intervenções: os casos das sub-bacias Guarapiranga e Billings no Alto Tietê, Região Metropolitana de São Paulo. Relatório técnico científico. FAU-Mackenzie. São Paulo, mimeo, 2010. ALVIM, Angélica A. Tannus Benatti. A Contribuição do Comitê do Alto Tietê à Gestão da Bacia Metropolitana, 1994-2001. São Paulo, 2003. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, FAUUSP, 471 p. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 541 ALVIM, Angélica T. B.; KATO, Volia R. C.; BRUNA, Gilda C. Políticas urbanas e ambientais em áreas protegidas: percursos para uma integração possível. In: Política Pública, rede social e território. Tamara Tania Cohen Egler, Hermes Magalhães Tavares (organizadores). Rio de Janeiro: Letra Capital, 2012, pp. 103-128. ALVIM, A. T. B.; KATO, V. R. C. Integração entre Políticas Urbanas e Ambientais na Região Metropolitana de São Paulo: Avanços e Desafios. In: XIV Enanpur - Quem planeja o Território: atores, arenas e estratégias. Anais... Rio de Janeiro: IPPUR/ UFRJ, 2011. v. unico. p. 1-21. BASSANELLI, H. R.; BATISTA, G. B. Análise espacial da evolução da mancha urbana no município de Guaratinguetá. Taubaté: UNITAU, 2011, p.12 /12. Repositório Eletrônico Ciências Agrárias, Coleção Ciências Ambientais. Disponível em: http://hdl.handle.net/2315/170 COSTA, Heloísa S. de M. (2006). A trajetória da temática ambiental no planejamento urbano no Brasil: o encontro de racionalizadas distintas. In: COSTA, G. M. (org.) Planejamento Urbano no Brasil: Trajetória, Avanços e Perspectivas. Belo Horizonte C/Arte, 2008, pp. 80-92. COSTA, Heloisa S. de M.; BRAGA, Tânia. (2004). Entre a conciliação e o conflito: dilemas para o planejamento e a gestão urbana e ambiental. In: ACSELRAD, Henri (org.). Conflitos Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Relume Dumará. pp. 195-216. Também disponível em: <http://www.cedeplar.ufmg.br/diamantina2002/textos/D61.PDF>. Acesso em 23 set. 2012. DUBOIS-MAURY, J.; CHALINE, C. Les risques urbains. 2. ed. Paris: Armand Colin, 2004. EMPLASA- EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO. Relatório de Caracterização das Unidades de Informações Territorializadas – UITs: Município de Guaratinguetá. São Paulo: EMPLASAGEO, s.d., 151 p. Relatório 05. Disponível para download em: http://www.emplasageo.sp.gov.br/uits/vale_paraiba/PDFs/Guaratingueta.pdf GIL, José Sileno Bernardes; DIAS, Nelson Wellausen. Análise dos investimentos Fehidro realizados via o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul nas bacias priorizadas do Estado de São Paulo. G&DR- Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, v. 6, n. 1, __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 542 p. 97-117, Taubaté, SP: jan-abr/2010. Disponível para download em: http://www.rbgdr.net/012010/artigo5.pdf GUARATINGUETÁ. Lei Nº 1.925, de 22 de outubro de 1986. Estabelece as diretrizes básicas para o uso e a ocupação do solo no Município de Guaratinguetá, e dá outras providências. Guaratinguetá, 1986. LEMOS, M. F. R. C. Adaptação de cidades para mudança climática: uma metodologia de análise para os planos diretores municipais. Tese (Doutorado) - Programa de Pós Graduação em Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. LEMOS, M.F.R.C. Adaptação de cidades para mudança climática: uma metodologia de análise para os planos diretores municipais. Rio de Janeiro: PROURB/FAU/UFRJ, 2010. Tese de Doutorado. MENDONÇA, F.A.; LEITÃO, S. A. M. Riscos e vulnerabilidade socioambiental urbana: uma perspectiva a partir dos recursos hídricos. In: GeoTextos (Salvador), vol. 4, n. 1 e 2, p. 145-163, 2008. PRIMO, Paulo Bidegain da Silveira, LIMA, Ângelo José Rodrigues. Evolução da Política de Recursos Hídricos do Brasil. In: BIZERRIL, Roberto S., TOSIN, Paulo César, ARAÚJO, Lígia Maria Nascimento de (org.). Contribuição ao conhecimento da bacia do rio Paraíba do Sul: coletânea de estudos. Rio de Janeiro: ANEEL: CPRM, 1998.p. 93-96. ROSSETTI, R. B., Identificação das áreas de risco na região urbana do município de Guaratinguetá, SP, quanto à ocorrência de inundações e processos erosivos. FEG/UNESP Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, SP, s.d. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/cdOnlineTrabalhoVisualizarResumo?numeroInscricaoTrabalho=45 19&numeroEdicao=18 __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 543 SÃO PAULO (ESTADO)/ EMPLASA- EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO. Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2012, 128 p. SÃO PAULO (ESTADO)/IG/CEDEC. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência do Município de Guaratinguetá. Termo de Cooperação Técnica IG-CEDEC de 02/12/2009. Disponível para download em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php SIQUEIRA; BATISTA; TARGA; CATELANI, Mapeamento das áreas de inundações das planícies aluviais de Guaratinguetá através de técnicas de geoprocessamento. Anais GEOVAP 2006: Primeiro Seminário de Geoprocessamento do Vale do Paraíba, Taubaté, Brasil, 7 de dezembro de 2006, UNITAU, p. 54-64. TORRES, H.; MARQUES, E.; FERREIRA, M. P.; BITAR, S. Pobreza e espaço: padrões de segregação em São Paulo. Revista do Instituto de Estudos Avançados (São Paulo, IEA-USP), v. 17, n.47, p. 97-128, jan./abr. , 2003. TUNDISI, J. G. Água no Século XXI: Enfrentando a escassez. IIE. São Carlos: RiMa, 2003. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESUMO Este artigo tem como objetivos:refletir sobre o conceito de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos e seus benefícios econômicos, sociais e ambientais; entender como os países europeus resolvem essa questão e traçar um quadro sucinto sobre a situação em que o Brasil se encontra em relação a esta questão, considerando o impacto do aumento do volume de resíduos que é superior ao crescimento populacional. Este assunto é o mote da discussão da tese de doutorado em desenvolvimento. Palavras-chave: resíduos sólidos urbanos, gerenciamento integrado, gestão urbana. ABSTRACT The article's purpose is reflect on the concept of municipal solid waste integrated management and its economic, social and environmental; understanding how European countries solve this issue and outline a summary table on the situation in Brazil regarding to this question, considering the impact of the increase in the volume of waste that is higher than the population growth. This issue is the discussion theme of the doctoral thesis in development. Key words: solid waste, integrated management, urban management. 545 GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Verônica Polzer 1 Maria Augusta Justi Pisani 2 INTRODUÇÃO O acúmulo de resíduos nos grandes centros urbanos vem se agravando devido a diversos fatores que vão desde o aumento da população, o consumismo desenfreado, o crescimento da economia, as falhas na coleta dos resíduos e na sua destinação correta como a reciclagem e compostagem e por fim a ausência de consciência ambiental da sociedade como um todo. Na natureza todos os resíduos produzidos são absorvidos dentro de um ciclo continuo e fechado, diferentemente das atividades humanas que provocam um acúmulo de resíduos quebrando o ciclo natural. Portanto o aumento da população somado ao consumismo sem precedentes tem como conseqüência o acúmulo de resíduos nas cidades. O gráfico 1 indica o crescimento populacional desde do ano 1 da era cristã, cujo número de habitantes era em torno de 133 milhões, depois em 1950 passou a ser 2,5 bilhões e em 2011 atingiu 7 bilhões. É possível observar também que os períodos em que a população dobra de tamanho são cada vez menores. Em relação ao crescimento do volume de resíduos sólidos, segundo a Abrelpe (2011) foi registrado um crescimento de 1,8% de 2010 para 2011 enquanto a população cresceu 0,9% no mesmo período. Isto 1 Doutoranda e Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2012). Possui especialização em Gerenciamento de Empreendimentos na Construção Civil (2009), graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2006) e técnico em Desenho de Construção Civil pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo (1999). Mackenzie, Rua Itambé, 45, tel 97123-1230, [email protected]. 2 Arquiteta e Urbanista (1979), especialista em patrimônio Histórico (1981) e em obras de restauro (1982) pela FAUUSP, Mestre (1991) e Doutora (1998) pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Professora da FAU Mackenzie. Lidera o Grupo de Pesquisa: Arquitetura e Construção. Coordenadora pedagógica do MINTER em Arquitetura Mackenzie –UNIFOR. Mackenzie, Rua Itambé, 45, tel 2114-8298, [email protected]. __________________________________________ II JORNADA DISCENTE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 546 significa que o crescimento no volume de resíduos gerados é ainda superior ao crescimento da população. Gráfico 1.1 - Crescimento Populacional. Fonte: Gráfico da autora baseado em UNITED NATIONS,2011, p.5 Os resíduos gerados ainda têm como agravante o destino incorreto para os aterros sanitários e lixões, considerando que grande parte destes materiaispoderiam ser desviados para a reciclagem e compostagem. Sem um programa de coleta seletiva, logística reversa e educação ambiental eficiente a cidade sofre com o depósito de resíduos em locais irregulares e a abertura de novos aterros sanitários em períodos cada vez menores. Segundo a Cetesb (1982) o aterro sanitário tem como vida útil mínima 10 anos, o que é muito inferior comparado a aterros sanitários em países desenvolvidos cuja a vida útil é superior pois o material tem outros destinos antes do aterro sanitário como reciclagem, compostagem e i
Download