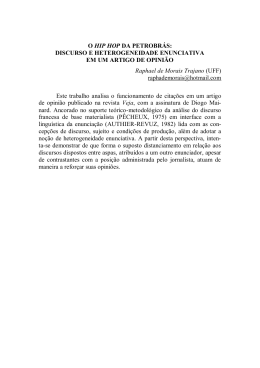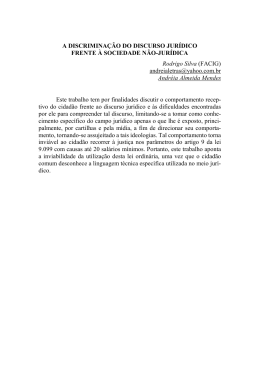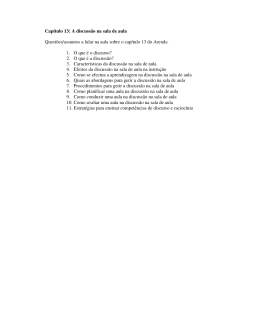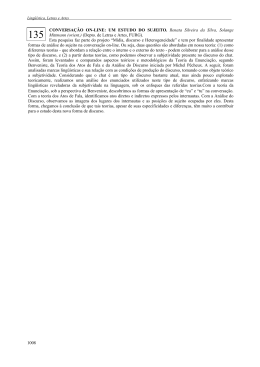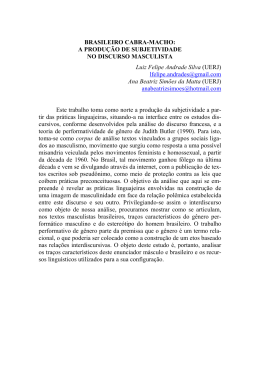INCLUSÃO: PARA QUÊ? Sueli Souza dos Santos PPGEDU/UFRGS Resumo O presente trabalho discute efeitos de sentido sobre a educação inclusiva e a construção da subjetividadedo aluno cego, partindo das diferenças entre a visão e o olhar, buscando relacionar psicanálise e discurso. Com base em textos de Lacan (1964), Merleau-Ponty (1964), Nasio (1995), entre outros, fundamenta-se o modo como vão se construindo as representações mentais que darão origem às formações do inconsciente. Considera-se a visão como função de órgão, ligado à percepção em suas armadilhas e distorções do real, diferente do olhar, que está preso à pulsão escópica, portanto da ordem do inconsciente, do indefinido, do indizível, fundante da subjetividade. Aponta-se para as questões da linguagem e do discurso, na linha de Pêcheux (1997) e Authier-Revuz(1998) . Concebe-se a heterogeneidade do sujeito e seu discurso, compondo o complexo campo das questões de identidade, singularidade e subjetividade que estão implicadas na construção das representações, tanto de deficientes visuais como dos videntes. Pergunta-se como a escola e a educação de crianças com necessidades especiais, portadoras de deficiência visual, contribui para a formação de subjetividades em crianças cegas, ou, ao contrário, submete-as à aculturação do ensino dos videntes, ou seja, crianças sem deficiências visuais significativas. A análise toma seqüências discursivas produzidas por alunos de uma escola que atende crianças e adolescentes deficientes visuais. As conclusões revelam algumas armadilhas do processo inclusivo dessas crianças, pois os conteúdos programáticos são apresentados da mesma forma que para crianças que não apresentam necessidade especiais, o que nos leva a questionar a contribuição do discurso sobre inclusão à constituição de subjetividades diferentes. Palavras chave:1.análise de discurso; 2.psicanálise;3. heterogeneidade;4. inclusão Ver não é olhar O presente trabalho parte de uma experiência de observação de crianças cegas de pré-escola em uma instituição que originariamente dedicava-se ao atendimento exclusivo a crianças portadoras de deficiência visual e que, atualmente, está aberta a toda a comunidade; desse modo, 50% das crianças são portadoras de deficiência visual e 50% são videntes. Durante dois anos de pesquisa, acompanhei um grupo de crianças na pré-escola e período de alfabetização. Esse grupo, no entanto, era composto só de crianças com deficiência visual. 1 Para compreensão da estruturação do psiquismo, uso o referencial psicanalítico que aponta o conceito de pulsão como fundante do aparelho psíquico. A pulsão por não ter um objeto próprio de satisfação, um lugar topológico determinado, caracteriza-se por pura intensidade, que pode estar ligada ou desligada das representações. Antes de haver qualquer representação, e a partir da primeira experiência de satisfação da necessidade, está a pulsão. Ao estudar a metáfora lacaniana do estágio do espelho, apontamos dois momentos constitutivos desse aparelho. O primeiro organiza a angústia do corpo fragmentado, fundindo a imagem ao objeto; mãe e bebê são uma só coisa. Esta fusão dá uma forma, uma contenção em que pela fascinação do olhar cria-se um jogo de júbilo, de gozo. Nesta completude não há possibilidade de falta; mãe e bebê, um completa o outro. Este estado idílico, fusional, num segundo momento já não basta, não satisfaz a mãe, que insatisfeita demanda outras coisas do bebê, rompendo a plenitude. O que pede uma mãe? Sempre alguma coisa, nunca a mesma coisa: o olhar, o cocô,o sugar, sempre outra coisa. (Santos,1998) Quando a mãe mostra sua insatisfação, desviando sua atenção, seu olhar marca que a criança não é mais seu ideal. Esse aparelho em formação, por não ser mais o objeto de desejo da mãe, muda de lugar. Assim, a criança passa a fazer substituições na tentativa de voltar àquele primeiro momento ideal, fundido na mãe, na relação de espelhamento. Como esse retorno é impossível, tenta agora ser o eu ideal, ou seja, o que imagina através do olhar da mãe(Outro) o que ela deseja. O jogo de olhares, buscando no espelho um reflexo que lhe dê sentido, nos leva a pensar sobre a diferença entre ver e olhar. Ver não é olhar, nos diz Nasio(1995), apontando para a diferença entre o ato perceptivo de fitar, que envolve o movimento ativo, e o ato de olhar, carregado de tensão, e implica satisfação no próprio ato. Uso aqui ato no sentido grego do termo, ou seja, de ruptura, descontinuidade, onde o olhar se perde da visão consciente, onde o pulsional é o motor e mantém a tensão do olhar. Este olhar está determinado pelo imaginário, pela fantasia, pois o que vemos são imagens, não a coisa em si. O que vemos está marcado pelo pulsional, apreendido pela fascinação do objeto. Dizendo de outra forma, o que vemos está marcado pela imagem produzida pelo eu, e não pelo olho enquanto órgão do sentido. Dizemos então que quem opera é o eu, ou seja, quem enxerga é o eu(moi) do imaginário que dá atribuições ao objeto. Ver é uma operação do eu imaginário em relação à coisa que está fora. Pensando sobre o olhar, o processo é o contrário, pois o olhar é despertado, sinalizado fora de nós, como uma intensa luz que se mostra e nos ofusca, apreende, captura, deslumbra, não podemos fugir do olhar. Há um estado de fascinação que nos liga e provém do Outro; quando isso se dá, não estamos na dimensão do eu imaginário, mas no plano da pulsão escópica, que prende desde fora, de um quadro, de uma cena, de um som, de um Outro olhar. Neste sentido é que Nasio (1995,p.35) nos diz: ‘ a fascinaçâo do olhar é uma experiência limite, é uma experiência limite porque se produz no limite do imaginário. O eu já não é eu porque lhe faltam as imagens em que ele se reconhece,todo esse mundo imaginário desaparece, não hã mais reconhecimento.” 2 Trago aqui um pequeno exemplo para pensar esta construção teórica, introduzindo minha análise. Esta se fundamenta nas concepções de discurso de Pêcheux (anos 80), em articulação com Authier-Revuz, tendo em vista experiência analítica iniciada em minha pesquisa de Mestrado(Santos,2003), a qual estendo agora. Luzia, 5anos, está em sala de aula e ouve vozes no pátio, dentre elas uma lhe chama atenção. Como impulsionada por uma faísca, levanta-se e diz: (1)“é o tio Alberto,’’ e dirige-se para a janela. A professora manda que volte ao seu lugar, ao que Luzia reponde: (2) “mas eu quero ver”. Poderia ser um exemplo sem sentido para o nosso tema, se não considerarmos que Luzia é cega. O que Luzia quer ver, se não enxerga? Há que se revisar a questão do olhar, para se poder entender que a imagem nasce das trevas. Pensemos o escurinho do cinema, por exemplo. É o escuro que permite a imagem aparecer na tela. O cego tem um olhar. Seu olhar, como o nosso, os videntes, está forjado na capacidade de imaginar, de criar suas próprias imagens, mas não só isso, pois segundo Lacan(1985), está ligado ao registro do engodo da identificação. É assim que a criança faz a aprendizagem da ordem simbólica, acessando a metáfora paterna, ou seja, sendo introduzida na cultura pela castração. Voltando à Luzia. Ela sabe que há um rosto no tio Alberto, que ela pode “ver” , se tocá-lo, mas tem sua representação através do som da voz que ela identificou e sabe que lá há um olhar que pode olhá-la, e esse olhar lhe dá visibilidade, porque ela significa algo para ele. Cada pessoa olha por uma perspectiva, como se espiasse um recorte da realidade. Bavcar, citado por Tessler e Caron(1998) em entrevista à revista Porto Arte, nos diz que os sentimentos são a subjetividade do olhar; para além disso é a objetividade Nessa medida, podemos pensar a semelhança da escuridão do cego como uma estrutura inconsciente, de onde emergem outras formas de compreensão e verdade à qual realidade, dita objetiva, não pode aceder. Somos todos um pouco cegos, pois interpretamos a realidade a partir do olhar do outro. Na escola ensina-se como olhar o mundo. Ensina-se que o céu é azul, o sol é amarelo, as folhas das árvores são verdes, muito embora nada disso seja a verdade, pois estamos dando atribuições a uma suposta realidade. Sempre que vamos descrever o que alguma coisa ou pessoa é, acabamos por descrever como ela é e não o que é, pois o ser em si ou a coisa em si é inapreensível. A representação que temos está constituída apenas pela capacidade via experiência de satisfação que cada um em sua singularidade é capaz de formular, e por isso mesmo não há um limite objetivo e definitivo para as representações; elas são sempre múltiplas, infinitas e particulares. Merleau-Ponty (1971) afirma : “A transcendência da coisa obriga-nos a dizer que somente é plenitude sendo inesgotável, isto é , não sendo inteiramente atual sob o olhar.”(p.183) Com isso quer nos fazer entender o quanto os sentidos estão aí para criar significações que são inesgotáveis, pois a coisa não pode ser observável em si, 3 verdadeiramente. Em toda observação sempre há passagem-para-outra, nunca se está ou se apreende a própria coisa. Voltando à Luzia: ela quer “ver” o tio Alberto, assim como diz que “viu” televisão, como diz: (3)“olha” o que eu pensei”; (4) “deixa eu “ver” tua sandália.” Ver, no seu discurso, tem múltiplos significados e não está diretamente ligado a sua capacidade perceptiva da visão, antes disso, revela que a linguagem dá significações às suas relações com o mundo, à sua imaginação , ao seu mundo particular que transcende o conhecimento das coisas como identidade, isto é , o olhar está além do que é visto. A língua que usa é a mesma para os cegos e videntes, mas as significações não são literais, transcendem a função de linguagem. As imagens existem, mas é a linguagem que lhes atribuirá sentidos, o que nos faz pensar que vemos imagens que nos despertam e que nos permitirão retê-las na memória, por isso podemos reevocá-las mesmo em ausência, e aí quem opera é o olhar. A pulsão escópica, ou seja, a pulsão do olhar está apensa a algo que é difuso, que é evanescente e que por sua imprecisão nos prende, captura, como se aí estivesse um mistério a ser desvendado, revelado, ou que deva ser preservado. Mesmo cega, Luzia pressente o olhar do Outro sobre ela, um olhar que lhe dá significado, que a faz sentir-se alguém importante para este Outro; é o que Lacan chama de significante, ou seja, um significante é o que um sujeito representa para outro significante. O olhar do Outro é a matriz de construção da subjetividade. A linguagem, o interdiscurso e a singularidade do sujeito. Considerem-se as seguintes seqüências discursivas: (2)“mas eu quero ver” (3)“olha o que eu pensei” (4) “deixa eu ver tua sandália” (5) “eu vi televisão, o Araqueto” Luzia, nessas formulações, se utiliza da linguagem de forma absolutamente singular, pois sendo cega, os verbos ver e olhar têm o sentido de demarcar que ela se apercebe de alguma coisa que ouve, apalpa, não que as esteja enxergando, e a partir daí cria uma representação. Os objetos lhe chegam pela via dos sentidos que não são visuais, o que não a impede de criar suas próprias representações, e através da língua, instituída como possibilidade de inserção num código comum dos videntes, se apropria desse conhecimento. No uso que faz da língua, o sujeito cego produz outro sentido, o seu sentido, diferente do uso que as pessoas videntes fazem da língua. Tomando as formas do dizer, lingüisticamente marcadas, e a dimensão do já–dito, noção marcada em superfície, constitutiva do sentido, busco os elementos para minha análise. A partir daí é possível a tematização das formas lingüísticodiscursivas do discurso–outro; discurso de um outro, conceito esse que será fundamental para da Análise do Discurso(AD). Nas formas do dizer, a dimensão do já-dito está lingüisticamente marcada, pode ser apreendida na palavra proferida, de acordo com o conceito de heterogeneidade, constitutiva e mostrada, de Authier –Revuz(1990). 4 Entendendo que as palavras são as palavras do Outro, fica claro que o discurso não se reduz a um dizer explícito. O Outro fala através do falante, o que equivale dizer que há outras falas que não correspondem ao enunciado de quem fala, marcando a heterogeneidade do discurso. Assim, quando Luzia diz: (2)“mas eu quero ver” (5) “eu vi televisão, o Araqueto” o que quer “ver”quando não tem olhos para ver? Está evidenciando no seu uso das palavras da língua que se refere a visão, um discurso de dominação dos videntes quer seja em relação a assistir televisão, admirar um objeto, a sandália da colega, encontrar com o tio Alberto, ou pedir atenção para o que está pensando: (3)“olha o que eu pensei”. Dizendo de outra forma, esse discurso de Luzia revela, não só por sua condição enquanto cega, um discurso de contradição, de confronto, que, na concepção de Authier-Revuz (1990,p.28), aponta para o discurso atravessado pelo inconsciente, articulado ao sujeito descentrado, dividido, clivado. Esses verbos “de visão” têm para ela outro sentido. Seguindo a concepção lacaniana, o sujeito não se constitui através de uma fala homogênea, posto que é clivado, inserido no campo do Outro, marcado pelo desejo do Outro. É a polissemia que advêm do deslocamento, da ruptura, da emergência do diferente, da multiplicidade dos sentidos, que garante a criatividade da língua. Em outras palavras, esse movimento afeta o sujeito e os sentidos na sua relação com a história e a língua, permitindo que o mesmo objeto simbólico passe por diferentes processos de re-significação, os sentidos-outros. Importante salientar que para a Análise de Discurso (AD), o interdiscurso determina o intradiscurso, ou seja, a língua é o lugar material em que o inconsciente e a ideologia se articulam. Assim sendo, Luzia usa o ver, olhar, não referido à função do órgão, ou seja, dos olhos, ou do aparelho visual, mas de forma metafórica, com possibilidade de deslizamento simbólico, incorporado do interdiscurso, isto é, o lugar dos sentidos constituídos coletivamente, acessados a cada enunciação, com o uso da língua, que figuram na memória do dizer, segundo Pêcheux em O papel de memória (1999). Isso possibilita levarmos em conta a noção de heterogeneidade, quer na educação, quer na linguagem. Heterogeneidades Pensando na escola hoje, podemos perguntar sobre sua capacidade para equacionar soluções que evitem o isolamento das crianças que apresentam necessidades especiais, daquelas que não apresentam. Segundo Meirieu (1991; p.162), sabemos agora, que o fato de isolar sistematicamente os alunos com dificuldades corre o risco de envolvê-los em uma espiral do bloqueio, mas também sabemos que , tratando-os “em igualdade”, como os outros, aprofundam-se sempre um pouco mais as distâncias. Para esse autor é preciso inventar fórmulas pedagógicas capazes de tratar a diferença sem formar guetos, fazendo trabalharem juntos alunos heterogêneos sem ceder à facilidade do caminho único. 5 Talvez possamos partir dessa última afirmação para questionar qual o sentido que aqui toma a palavra heterogeneidade. Não é preciso que se pense em diferenças marcadas por perdas perceptivas, motoras ou intelectuais, para se entender que há uma heterogeneidade constitutiva, ou seja, que constitui cada sujeito, e que se não se apresenta em forma de prejuízo no desenvolvimento sob qualquer aspecto físico ou mental, mas que se apresenta na linguagem, como representante da singularidade de cada um. Somos todos diferentes. Mas é na linguagem que a subjetividade se mostrará em suas formas diversas, múltiplas. Authier –Revuz(1990;p.26) apresenta a dupla concepção da fala heterogênea e do sujeito dividido. Para essa autora, a mesma palavra que carrega em si uma intenção consciente, que possibilita a comunicação efetiva, em geral erra o alvo, falha, se equivoca. Isso rompe a lógica do discurso, interrompendo o fluxo da conversa, sendo necessário retomar o sentido, reformular. Desse modo, é possível pensar em uma concepção de fala heterogênea e de um sujeito dividido. Fazendo uma aproximação com a psicanálise, no dizer das palavras se incluem sempre outras palavras nas entrelinhas, e o que permite a escuta dessas ressonâncias é a estrutura material da língua, que revela uma outra cena pela própria linguagem através das vacilações, dos desvios, das rupturas. O que é dito revela um outro discurso de ordem do inconsciente, no qual a análise transita. Segundo essa autora, que se fundamenta no dialogismo bakthiniano e na psicanálise, o discurso nunca é individual, pois implica que em cada enunciado, nas palavras, emerjam duas vozes, a do eu e a do outro. Essa concepção envolve o reconhecimento da intersubjetividade que funda a linguagem, ou seja, a forma verbal é dada a partir do ponto de vista do outro. As palavras sempre são habitadas por outras ressonâncias, é pela alteridade entre discurso e objeto que se produzem deslizamentos de sentidos, o que revela serem as palavras carregadas de sentidos outros.Em: (2)“mas eu quero ver” . (3) “olha o que eu pensei,” a mesma palavra, que carrega em si uma intenção consciente, que possibilita a comunicação efetiva, em geral erra o alvo, falha, manca , se equivoca, tropeça Luzia usa a mesma forma lógica que lhe possibilita acesso ao código da linguagem, mas evidencia, em sua formulação, os sentidos outros, enquanto desvios do discurso, na sua forma de heterogeneidade constitutiva, ao que podemos pensar que Freud chamaria de falsa leitura. No dizer das palavras, se incluem sempre outras palavras. O que permite a escuta dessas ressonâncias é a estrutura material da língua, revelando uma outra cena pela própria linguagem através das vacilações, dos desvios, da rupturas, do discurso inconsciente. Uma questão que se coloca é: qual o espaço que a educação reserva para a heterogeneidade, não só em relação a compreensão da linguagem, mas da própria educação, a aprendizagem, a criatividade, a possibilidade de construção da subjetivação das crianças, quer sejam elas portadoras de necessidades especiais ou não ? Se acreditamos que as palavras são sempre as palavras do Outro, isso equivale a dizer que o discurso só se constrói pelo atravessamento de uma multiplicidade de discursos. As palavras são habitadas por ressonâncias e alteridade entre 6 discurso e objeto. Isso se dá tanto do ponto de vista dos sujeitos em suas singularidades e pluralidade. Se pensarmos nas diferenças entre crianças videntes e deficientes visuais, que são o objeto de nosso estudo, temos que considerar que a heterogeneidade do discurso é mais uma marca a ser considerada na educação inclusiva, que denuncia e põe em evidência a impossibilidade de qualquer aproximação imaginária constituída por percepção visual, como referência para o ensino, por exemplo, de noções básicas do cotidiano do mundo infantil. Seguindo este entendimento, passamos à análise de algumas armadilhas que atravessam o ensino formal que estão a serviço de códigos de compreensão de uma realidade supostamente objetiva, e não a serviço do desenvolvimento da criatividade, sensibilidade e subjetividade. Entramos aqui no discurso da inclusão/exclusão. Para Skliar(2001), deve ser feita uma imersão do professor no mundo da alteridade e uma mudança radical nas representação políticas sobre esses sujeitos, ou seja, o professor deve ser um agente cultural atento, alerta e não um reprodutor da fronteira da inclusão /exclusão. Para Baptista (2001), é preciso um trabalho que atualize e qualifique a nossa concepção. O conceito de necessidades educativas especiais ampliou o conjunto dos sujeitos da educação especial. Com relação ao professor, no entanto, é preciso que este descubra quem é seu aluno. A inclusão exige que o educador amplie as competências que já possui, ou seja, investigar, observar, planejar de acordo com o aluno que possui, avaliar continuamente seu trabalho e seu planejamento, pois a inclusão pressupõe níveis de individualização de objetivos didáticos compatíveis com cada aluno. Quando nomeamos de “crianças portadoras de necessidades especiais” as crianças que apresentam algum tipo de deficiência, parece que diferenciamos estas de supostas “crianças sem nenhum tipo de necessidade”. A deficiência de algum órgão dos sentidos, física, motora ou intelectual, parece merecer atenção especial. As questões que se colocam são: que tipo de atenção se deverá dedicar a estas crianças? A educação inclusiva levará essas crianças a um melhor atendimento para suas dificuldades? Seria melhor tratá-las como crianças sem nenhum tipo de dificuldade e integrá-las em classes regulares? Existem crianças sem nenhum tipo de dificuldade para seu desenvolvimento intelectual ou emocional? Seriam as que não portam deficiências físicas ou mentais? Como chamaríamos as crianças emocionalmente violadas por excesso ou por ausência de limites e de atenção? Com estas questões não trato de defender a posição de igualar todas as crianças e negar as diferenças. Ao contrário, há que se respeitar as diferenças, inclusive porque as crianças, ditas normais, também apresentam diferenças nas suas capacidades de aprendizagem e desenvolvimento. A questão que me interroga mais diretamente é se a escola, em sua estrutura formal, e a psicologia escolar em particular, preocupam-se com a adaptação das crianças à escola , apenas em sua proposta programática, pedagógica ou, ao contrário, preocupa-se também em respeitar a criança na construção de sua subjetividade, criatividade, o que seguramente auxiliará no desenvolvimento do seu potencial intelectual. 7 O trabalho de observação com crianças cegas tem posto à mostra a cegueira do sistema escolar em relação à compreensão da formação do aparelho psíquico, isso porque os erros que se cometem com os cegos também são repetidos com os videntes. Voltemos ao céu azul, ao sol amarelo e as folhas verdes das árvores, tal como foi referido anteriormente. Como uma criança que nunca enxergou construirá a representação de cor, através do uso das formas lingüísticas com as quais se depara? Ou ainda, como é o céu, o sol, as múltiplas folhas existentes? Desde que perspectiva esses fenômenos ou seres nomeados com referência às cores os representam? Também não podemos esquecer que cada cor tem múltiplos matizes. Portanto nada garante que cada azul, amarelo, verde seja o mesmo, dependendo da imagem que cada um cria destas cores e ainda da imagem que cada um possa construir como representação destes objetos. O mais surpreendente é que, às vezes, os professores mandam que as crianças cegas desenhem algo que nunca viram, como se as crianças pudessem conhecer as coisas ou as cores em si, seguindo um padrão dito normal. Frente esta proposta de atividade, uma criança cega perguntou: (6) “como é que se desenha?” Como responder a esta questão? O que é um desenho? Para que se desenha? Como responder a tantas questões de cegos e videntes, sem incorrer no risco de ser um treinador de preconceitos pseudo-educacionais e deformador da criatividade e da subjetividade ? Volto aqui a Skliar(2001), quando afirma que: “ é de se pensar que a inclusão é compreendida, simplesmente, como um processo de socialização dos deficientes na escola regular, vai além dizendo que se pode chamar a isso de inclusão excludente ou integração social perversa. A ilusão de ser igual aos demais, impõe uma pressão etnocêntrica de ser como os demais.” (6)“como é que se desenha?” O que a palavra desenhar pode significar para uma criança cega é uma questão difícil de responder, pois o que cada um deve produzir é fruto de sua capacidade de representação, que, por sua vez, além de implicar os sentidos de sua percepção, depende dos apelos que a realidade lhe propõe. Assim, não há como responder de forma conclusiva, definida ou “discurso tipo”, independente das crianças serem videntes ou deficientes visuais. Inclusão? Por fim, questionamos: a palavra inclusiva, que emerge no discurso que postula uma escola “inclusiva”, a escola inclusiva, a quem inclui e para quê? Como se oportuniza a construção da subjetividade, da criatividade, da liberdade para pensar nesse tipo de escola, quando falta incluir também os professores nessa nova compreensão dessa função de educador? Qual seria a língua adequada para uma interlocução pedagógica com a criança cega? Mais uma vez recorro a Skliar ao afirmar : “A escola inclusiva é outra das invenções feitas desde o lugar privilegiado da “normalidade”, é mais uma vez um falar, julgar, sentir, perceber pelos outros, sem que esses outros tenham, além do local da sua escolarização, uma narrativa própria”. 8 Poderíamos continuar pondo questões sobre o sistema educacional das crianças, seja qual for a classificação que lhes demos, ou seja, normais ou portadoras de necessidades especiais. Concluo no entanto este trabalho, propondo uma reflexão sobre a necessidade das escolas privilegiarem uma formação que respeite a construção da subjetividade, ouvindo e respeitando as questões postas pelas crianças. A constituição da subjetividade passa pelo uso da língua que se faz nas interlocuções com a criança, cega ou vidente. Ouvindo e respeitando sua compreensão sobre o que vê, ouve, sente, entende, como vai construindo as representações das coisas, da realidade particular, como forma de deixar aproximar-se da macro realidade, mas respeitando os limites de cada criança, sem aculturá-la, a formas esteriotipadas de compreensão que transformam todos em seres impessoais, sem diferenças, como se obrigatoriamente tivessem que ter um consenso sobre a forma de compreender e sentir o mundo. BIBLIOGRAFIA AUTHIER-REVUZ,J.Palavras Incertas.As não-coincidências dos dizer Editora da UNICAMP São Paulo 1998 LACAN, J. O Seminário-Livro XI Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise J.Z.E Rio de Janeiro (1964-1985) MEIRIEU, Ph. .Aprender...sim, mas como?. ARTMED Porto Alegre1998 NASIO, J.D. O olhar em Psicanálise.Zahar Editor Rio de Janeiro, 1995 PÊCHEUX. M. Papel da Memória. São Paulo, Ed. Pontes, 1999. ____________Semântica e discurso. Uma crítica a afirmação do óbvio. São Paulo Editora da UNICAMP 1997 PONTY, M. O Visível e o Invisível. E. Perspectiva, -São Paulo, 1964 SANTOS,S.S O Olhar Estrábico do Desejo. Iin Revista do CEP d e PA Ano7- n.7-Setembro de 1998. -----------------. Sexualidade e amor na velhice.Ed.Sulina Porto Alegre 2003 SKLIAR, C; ;BAPTISTA, C. Inclusão ou Exclusão? In SCHMIDT, S.(org) A educação em tempos de globalização. Rio de Janeiro, ED.DP&A, 2001. . TESSLER e CARON Uma Câmera Escura atrás de Outra Câmera Escura In Porto Arte Revista de Artes Visuais Volume 9,1998 9 10
Download