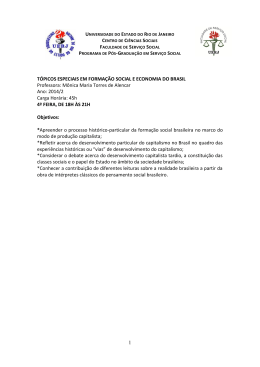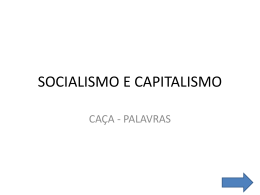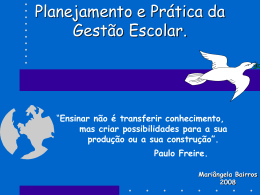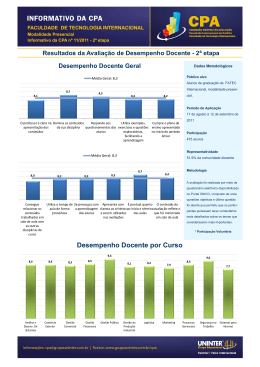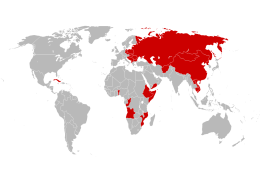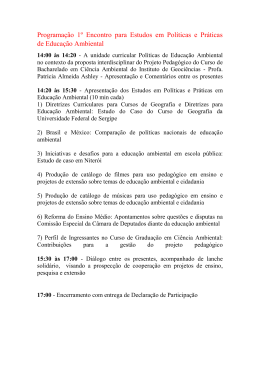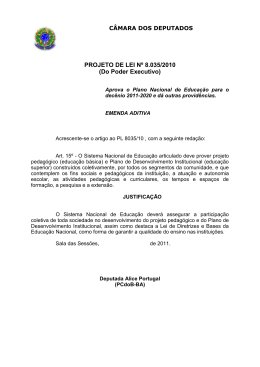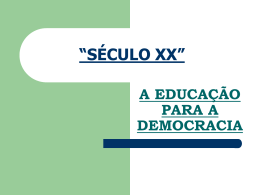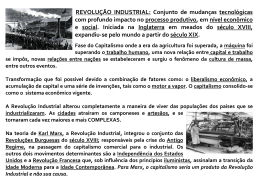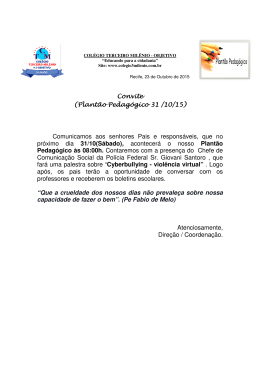CAPITALISMO, EDUCAÇÃO E RACIONALIDADE DOCENTE Zuleyka da Silva Duarte CEFED/UFSM [email protected] Vicente Cabreira Calheiros CEFED/UFSM [email protected] Resumo As transformações no mundo do trabalho, o novo paradigma econômico, bem como alterações significativas no sistema de produção, no avanço tecnológico, sem contar com a própria ressignificação do perfil dos trabalhadores, tem afetado não só a organização do trabalho, a qualificação profissional, como também, gerado conseqüências nos sistemas de ensino e nas instituições escolares. Nesse contexto, compreendemos a escola como uma instituição capitalista, porque contribui para a lógica do capital, com sua própria organização histórica, que ao exemplo das fábricas, trabalha pedagogicamente para capacitar as pessoas para o mundo do trabalho, considerando os papeis sociais que é preciso cumprir, no rigor das classes sociais. Assim, o objetivo principal deste trabalho, é analisar a organização do trabalho pedagógico e a prática docente na escola, considerando a categoria sociedade capitalista, como categoria fundamental para este entendimento, bem como racionalidade docente, para compreender o pragmatismo que norteia o trabalho pedagógico. 1 INTRODUÇÃO As transformações no mundo do trabalho, o novo paradigma econômico, bem como alterações significativas no sistema de produção, no avanço tecnológico, sem contar com a própria ressignificação do perfil dos trabalhadores, tem afetado não só a organização do trabalho, a qualificação profissional, como também, gerado conseqüências nos sistemas de ensino e nas instituições escolares. Se o capitalismo, conforme Freitas (1999, p. 115), “é uma forma de organização social que vive de crises” e por isso mesmo aproveita-se deste momento para renovar suas forças e ganhar tempo, é preciso compreender, como isto reflete na própria organização pedagógica e no fazer docente. Freitas (1999) adverte que é nos períodos de crise que o capitalismo se modifica no sentido de garantir taxas de exploração mais adequadas aos seus objetivos. Isso se refere ao papel do Estado, da produção de tecnologia, ao papel da classe trabalhadora com os impactos da luta política e ideológica, e também no plano das idéias, onde a ofensiva não é menor. “Procura-se colocar como referência a própria ‘ausência de referência’, caracterizando a incerteza como única verdade e fazendo-se uma assepsia das relações sociais presentes na prática social” (FREITAS, 1999 p. 120). Nesse contexto, compreendemos a escola como uma instituição capitalista, porque contribui para a lógica do capital, com sua própria organização histórica, que ao exemplo das fábricas, trabalha pedagogicamente para capacitar as pessoas para o mundo do trabalho, considerando os papeis sociais que é preciso cumprir, no rigor das classes sociais. Isto posto porque percebemos os movimentos de resistência dessa lógica bastante fracos o que nos conduz, em um primeiro momento, a pensar em um acomodamento por parte dos docentes, analisando na perspectiva que um lugar que produz conhecimento tem também um grande potencial emancipatório. Assim, o objetivo principal deste trabalho, é analisar a organização do trabalho pedagógico e a prática docente na escola, considerando a categoria sociedade capitalista, como categoria fundamental para este entendimento, bem como racionalidade docente, para compreender o pragmatismo que norteia o trabalho pedagógico. A partir de um primeiro olhar, percebe-se que essa artimanha do capitalismo, que proclama o que Freitas (1999) vem chamar de era das incertezas, contribui para o desenvolvimento de um pensamento pedagógico pragmático, objetivo, que não abre espaço para o debate político e prioriza somente a vida prática das diferentes situações da escola. Freitas (1999, p.121) faz a seguinte advertência: Setores progressistas são cooptados com palavras de ordem como: ‘é preciso fazer algo pela educação’ ou ‘meu compromisso é com a educação’, fazendo vista grossa ao projeto ‘modernizador’ da ‘nova direita’. Desmobiliza-se a luta de idéias, no seio da intelectualidade e facilita-se o avanço de forças conservadoras, combinando-se ingenuidade e cooptação. É justamente essa posição ingênua, que evidencia um certo comodismo, sem uma perspectiva de sair de uma zona de conforto que procuramos compreender, a partir das categorias de análise expostas. Para tanto, buscamos o entendimento de ambos os conceitos em uma perspectiva histórica, evidenciando as relações que estabelecem entre si e com o fazer docente. Tais análises partem de uma reflexão geral dos conceitos trabalho, racionalidade docente e trabalho pedagógico, as relações entre si e como se manifestam no universo da escola. 2 CAPITALISMO E EDUCAÇÃO A Festa Muitos convites para os convidados Muita bebida e comida para os sorrisos e supostos famintos Os restos para os criados e suas proles (O mendigo ao longe...) Uma banda para animar a festa Recicla a mentira (... enxerga tudo...) A moça, para saciar seu maior trauma Afoga suas magoas em fetiches, fantasias (... sente-se bem...) O moço, para superar sua fraqueza Aumenta os traumas alheios (... e de longe ele pensa: luxo... lixo.) E assim, vão para casa sem saber que Seu lixo... é luxo. (Vicente C. Calheiros) Recorremos a esta poesia para iniciarmos a discussão a respeito das relações de trabalho e educação na sociedade regida pela lógica do capital. Neste exemplo, está colocada uma cena corriqueira na história da humanidade, aonde o lixo de alguns é o luxo de outros. Mas esta situação não nasceu no capitalismo, ela é muito mais antiga e, o capitalismo, assim como os demais modos de produção não conseguiram, ou nem tentaram, superá-las. Cabe colocar que o capitalismo, enquanto modo de produção é a sistematização da lógica do capital pela burguesia. Compreendemos que as relações humanas contidas no desenvolvimento histórico das sociedades 1, até hoje, é fundamentado nas lutas de classes (MARX & ENGELS, 2003). Sendo a classe dirigente no capitalismo, a burguesia, que se apropria da venda da força de trabalho alheia e determina o valor da vida. Importante colocar que conforme os diferentes processos históricos, diferentes relações sociais se estabelecem e estas não podem ser entendidas como únicas, insuperáveis, incontestáveis, embora Mészáros (2005, p. 27) aponte que esta questão está nos “(...) parâmetros estruturais fundamentais” do capitalismo. Devemos compreendê-las como relações em constante transformação 2 , visto que a burguesia foi a “classe oprimida sob o domínio dos senhores feudais” (MARX & ENGELS, 2003, p.47), “vindo a desempenhar na história um papel extremamente revolucionário” (Op. cit., p. 47). Para que esta classe se apodere cada vez mais do controle das relações sociais existentes, tendo em mente o controle político e econômico do Estado, buscando transformá-lo em um comitê administrativo dos seus interesses comuns, é necessário se apoderar do processo de produção das mercadorias e, não menos importante, transformar as relações sociais em mercadoria. Para Marx e Engels (2003, p. 48), a burguesia fez “(...) da dignidade pessoal um simples valor de troca e no lugar de inúmeras liberdades já reconhecidas e duramente conquistadas colocou a liberdade de comércio sem escrúpulos”. É necessário então pensar em uma nova estrutura social, e nesse caso é preciso construir uma educação para a crescente classe burguesa, e a margem deste projeto, uma educação para a classe trabalhadora e, assim, construir uma escola que represente tais interesses (ENGUITA, 1993; MANACORDA, 2010). A educação, nesse processo, possui uma estreita relação com os interesses conservadores da burguesia, e segundo Bezerra (1980, p. 25) ela “é um componente conjuntural. As suas instituições se moldam e produzem o tipo de educação que corresponde ao jogo de forças do momento”, buscando claramente a manutenção das relações que os colocam como classe dirigente. Pistrak (2000) coloca que a tendência 1. No livro Manifesto do Partido Comunista F. Engels salientam em uma nota de rodapé na edição inglesa de 1888 que esta afirmação diz respeito a “(...) toda a história escrita. A organização social anterior à história escrita era quase desconhecida em 1847.” 2. Não é o objetivo deste estudo esta questão, porém é importante colocar que partimos da formulação teórica de que “(...) o capital está fadado a crises cíclicas, que se aprofundam, mas que possuem, em cada momento histórico, uma materialidade diferenciada” (NOZAKI, 2004, p. 35). pela “manutenção do regime exige que se cultive nos cidadãos (ou nos vassalos) os sentimentos conservadores, isto é, a idéia de que a destruição das bases “constitucionais” equivale ao caos, à anarquia, à selvageria, ao desaparecimento da cultura e da civilização; numa palavra, à volta ao estado selvagem (2000, p. 171)”. Dessa forma, tais interesses vêem a se refletir na escola, como nos afirma Pistrak (2000) ao dizer que ela “sempre esteve a serviço das necessidades de um regime social determinado” (Op. Cit., p. 29), sendo neste caso específico o capitalismo, e continua afirmando que “se não fosse capaz disso, teria sido eliminada como um corpo estranho inútil” (Op. cit., p. 29). A escola é fruto do desenvolvimento histórico das relações humanas e “(...) obedece a certas finalidades sociais, já que é uma instituição social. (...) A escola, portanto, não é um local ingênuo sob um sistema qualquer. Dela, espera-se que cumpra uma determinada função (FREITAS, 2003,p.14)”. Camini (2009, pp. 47-48), discute sobre a concepção de educação e escola capitalista, e coloca que ela “foi se construindo na contradição, pois é produto da luta de classes (...). Portanto, sua forma é capitalista, atravessada por contradições por que nela se confrontam os interesses do capital, por meio da regulamentação e controle do Estado, e os da classe trabalhadora, constituída por seus professores, funcionários, alunos e pais”. Sendo a classe em ascensão, a partir das transformações que desencadearam na ruptura com o modo de produção feudal e a imposição do capitalismo, iniciando um processo de crescente industrialização e deslocamento da centralidade social do campo para a cidade, ou seja, “o capitalismo vai desestruturando o regime feudal de produção, constituído pela produção agrícola camponesa autônoma e pela produção artesanal, para instaurar o sistema de fábrica” (RIBEIRO, 1999, p. 09), transformando o camponês em trabalhador assalariado. Mas este processo não se deu sem tensões entre as classes, da mesma forma que não foi de um dia para outro, visto que ele constitui-se a partir de interesses antagônicos. Ainda neste sentido, compreendemos que os camponeses foram arrancados do campo, obrigados a vender, para subsistir, a única mercadoria de que dispunham que, segundo Enguita (1993, p. 177) era a “sua capacidade de trabalhar, sua força de trabalho”. . É de extrema importância então, formar diferentes cidadãos, um para ser dirigente e outro, para ser dirigido. A educação toma um papel central nessa construção, pois a ela cabe a função de internalizar nos indivíduos a “legitimidade da posição que lhes foi atribuída na hierarquia social, juntamente com suas expectativas “adequadas” e as formas de conduta “certas”, como mais ou menos explicitamente estipuladas nesse terreno” (MESZÁROS, 2005, p.44). Nessa mesma direção, Ribeiro (1999) aborda as questões que estavam no centro dos interesses da burguesia que desencadearam na concepção de educação e construção da escola. Segundo a autora esta foi (…) concebida no interior de processos revolucionários de instituição de um novo modelo de produção – o capitalismo – que precisa de operários alfabetizados e disciplinados, ou mais produtivos; de um novo modelo de sociedade – a burguesa – que precisa libertar-se da “autoridade” eclesial, colocando-se, nos negócios, em nível de igualdade com a nobreza e o clero; de um novo modelo de ciência – a físico-experimental – para fundamentar a criação de máquinasferramentas que imponham aos operários o tempo, a quantidade e a qualidade da produção; de um novo modelo de política – o Estado – que unifique feudos, delimite um território, centralize poder, elabore e aplique as leis que regulem a organização da sociedade civil; portanto, de uma nova educação – a escola pública – que, através do ensino da língua vernácula, da disciplina e da obediência às leis civis, forme o cidadão burguês e o operário (RIBEIRO, 1999, p. 08). Construíram, para a escola pública, um currículo que respondesse aos conhecimentos que entendiam como necessários para que os trabalhadores desempenhassem sua função social, a reprodução da força de trabalho, a produção de mercadorias, enxergando nestes um mero depósito de “conhecimentos”, sendo o que Freire (1987) denominou de educação bancária. De acordo com o citado autor, nesta perspectiva o saber, o conhecimento, é uma mera doação dos que se julgam sábios (professores) aos que este julgam nada saber (alunos). Esta doação se fundamenta “numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que se constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro” (FREIRE, 1987 p. 67). 3 RACIONALIDADE DOCENTE E A DIMENSÃO EDUCATIVA A fragmentação do conhecimento organizado nos currículos escolares evidencia a função da escola em preparar o aluno para o mundo do trabalho, desempenhando papéis que venham a valorizar o capital. Fazemos esta afirmação quando percebemos a ruptura histórica entre teoria e prática; quando enfatizamos o saber elaborado sob o ponto de vista de uma classe social e finalmente quando organizamos o trabalho pedagógico, métodos, conteúdos e gestão para reproduzir estas condições. Assim, considerando a escola também com espaço plural, de debates, contradições, mas, sobretudo da construção do conhecimento, questiona-se como a lógica do capital, manifesta-se ainda com toda a força na escola contemporânea. Para isso, pensamos como fundamental, em um primeiro momento, refletir sobre a racionalidade docente, visto que o educador ainda é figura essencial no processo educativo e na organização do trabalho pedagógico. Nesse sentido, é preciso compreender o mundo da racionalidade e suas imbricações com o fazer docente. Por isso esclarecemos a racionalidade docente, na grande maioria das vezes, como uma consciência reificada, reflexo da realidade sóciohistórica e reproduzida pelo capitalismo e suas diferentes faces.O resultado do trabalho alienado, nos fornece elementos para compreender o início dessa razão instrumental. O conceito de consciência reificada, foi elaborado pela primeira vez por Luckács, em sua Teoria da Constituição da Realidade Social, conforme expõe Crocco (2009): “(...) o estudo da reificação assenta-se na análise do fenômeno da alienação e do fetichismo da mercadoria.” E continua: Trata-se da elaboração da temática da alienação que, passando pelo fetichismo da mercadoria, culmina na incubação da reificação como uma nova configuração histórica da realidade social, na qual está presentes seu conteúdo constitutivo. (...) O que é específico neste processo, é o domínio da coisa, do objeto sobre o sujeito, o homem; é a inversão entre a verdade do processo pelo que aparece na sua forma imediata. (CROCCO, 2009, p. 50) Assim, compreendemos que existe uma limitação do próprio processo de consciência, que impede os docentes de se contrapor às amarras e armadilhas do capitalismo. Este investe no disciplinamento, no individualismo e no empoderamento unilateral. As implicações desta alienação, estão no condicionamento do próprio docente em relação a realidade. Ou seja, não desenvolve uma capacidade crítica, de modo que não consegue ter uma opinião própria acerca dos assuntos os quais aborda no processo de ensino. Na Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer afirmam que este tipo de consciência reificada, ou personalidade abstrata, aparece como o homem da “sociedade alienada de si mesmo” (Adorno, 1985 p. 100). Isso implica em que este sujeito tenha um comportamento padronizado, cujas opiniões são sustentadas pelo senso comum. Já nos escritos pedagógicos em que analisa os “Tabus acerca do Magistério”, Adorno procura salientar algumas dimensões da aversão em relação à profissão docente, “que representam um papel não muito manifesto na conhecida crise das novas gerações de professores, mas justamente por isso, são bastante importantes.” (ADORNO, 1985 p. 158). O autor alega ter observado que entre os melhores estudantes, depois que concluem o exame final, situa-se ter a maior aversão contra a profissão para a qual se qualificam. “Tornar-se professor lhes parece uma espécie de coerção e a isso se submetem como a última ratio.” (Ibid, 158). As motivações materiais que representam o magistério como a profissão da fome, contribuem para reforçar os preconceitos sociais, o que de certa forma agrava a crise na educação. Essa aversão nos permite pensar que é resultado de uma violência simbólica, nem sempre consciente, que contribui para reforçar o processo de reificação, onde o sistema de produção capitalista e suas nuances como a indústria cultural e o trabalho alienado muito contribuem. Por isso é necessário ter clareza dos limites que estão colocados na profissão docente e na organização do trabalho pedagógico como um todo. É preciso então, que o trabalho pedagógico se situe no campo de pedagogia crítica/emancipatória. A escola, para além de uma instituição capitalista, precisa privilegiar o diálogo, o debate; precisa evidenciar as contradições que ocorrem nos seus limites e para além dos seus muros. Os momentos de reunião e formação precisam ser bem aproveitados como momentos de reflexão da prática e auto-reflexão crítica, buscando sempre uma autonomia intelectual e ética como motivadores da qualidade educativa. Sabemos dos limites de tais intenções com a organização social pautada pelo antagonismo de classes. Afinal a escola não é uma ilha na sociedade. Não está totalmente determinada por ela, mas também não está totalmente livre dela, como nos adverte Freitas (1999). “Entender os limites existentes para a organização do trabalho pedagógico, ajuda-nos a lutar contra eles; desconsiderá-los nos conduz à ingenuidade e ao romantismo” (Ibid, 99). Este entendimento implica uma maturidade teórica, compreendendo a escola como uma totalidade, a educação como uma prática de intervenção na realidade, visando a sua transformação. O que constitui grande desafio, uma vez que “(...) o trabalho, no interior da atual organização da escola, é ‘trabalho’ desvinculado da prática social mais ampla’, é o que argumenta Freitas (1999, p. 99) e ainda completa ponderando que o trabalho pedagógico é desvinculado da prática porque não é trabalho material, não é trabalho vivo. É preciso, entretanto ressignificar o trabalho pedagógico, na medida em que o trabalho do professor juntamente com o aluno de objetivar, se apropriar e mediatizar o saber produzido pelo trabalho material socialmente útil. No entanto, essa compreensão passa pela formação do próprio professor, pela tomada de consciência e substituição da consciência reificada e ingênua por um entendimento crítico e elaborado da organização social e pedagógica. Encontros de formação que construam uma base teórica sólida, que problematize a relação entre educação e sociedade; aprofundamento nos conhecimentos relativos à gestão e trabalho pedagógico, políticas, fundamentos e práticas educativas que conduzam à consciência emancipada, é um caminho árduo, mas necessário, no processo de resistência e superação dos modelos arcaicos e conservadores de educação, escola e sociedade. 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS Pesquisas no âmbito escolar e teorias diversas nos apontam a escola como uma instituição que, por estar dentro da sociedade, a reproduz em todas as suas instâncias. Desse modo, como vivemos em uma sociedade capitalista, reproduz a lógica do capital. Por isso tem sido recorrente considerarmos a escola como uma instituição capitalista, uma vez que sua organização está voltada para preparar cidadãos que possam ocupar os postos de trabalho, conforme o antagonismo das classes que compõe a sociedade. Entretanto não conseguimos compreender como um espaço que produz conhecimento pode estar tão conformado com a lógica perversa do capital, onde os melhores postos de trabalho e as melhores oportunidades sejam para os filhos da elite. Nesse sentido há uma educação para os filhos dos trabalhadores e outra para os filhos da elite. Uma educação para quem vai ser dirigente e outra para os dirigidos. Por que um espaço dialógico manifesta tão pouca resistência a esse modelo de produção e suas implicações na organização escolar? Uma das hipóteses que estamos considerando neste trabalho é a própria racionalidade docente. Com que razão os professores organizam sua prática e o trabalho pedagógico? Evidenciamos que a razão reificada, conseqüência da sociedade capitalista e alimentada pela indústria cultural, fetichisa as mercadorias, e fomenta o que deve ser desejado e assim consumido. Dessa forma o indivíduo não consegue ultrapassar o nível do senso comum e, coisificado, reproduz o pensamento dominante como se fosse o seu. Para resistir a essa lógica, pensamos que seja necessário que a educação e a escola sejam consideradas como instâncias de transformação social. É preciso aproveitar as reuniões pedagógicas como espaços de formação, reflexão e autorreflexão e sempre considerar as potencialidades emancipatórias que também circulam por entre os muros da escola. Essa dimensão crítica passa pela formação de professores, pela capacitação teórica, pelo envolvimento nas instâncias decisórias, o que de certo modo vai refletir na própria organização do trabalho pedagógico e nos modelos de gestão. 4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ADORNO, T. Tabus acerca do Magistério. In: Educação e Emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. ADORNO, T; HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. CAMINI, Isabela. Escola Itinerante: no caminho de uma nova escola. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2009. ENGUITA, M. F. Trabalho, escola e ideologia. Marx e a crítica da educação. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1993. 351p. MANACORDA, Mario Alighiero. Marx e a pedagogia moderna. Campinas, SP: Editora Alínea, 2010. 2º Edição. BEZERRA, Aída. As atividades em educação popular. In: BRANDÃO, Carlos Rodrigues (org). A questão política da educação popular. 5° edição. 1980. FREITAS, Luiz Carlos de. Ciclos, seriação e avaliação. Confronto de lógicas. São Paulo: Moderna, 2003. Coleção Cotidiano Escolar. ______________________Crítica da Organização do Trabalho Pedagógico e da Didática. 2.ed. São Paulo: Papirus, 2005. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17. ed. Rio de janeiro, Paz e Terra, 1987. NOZAKI, Hajime Takeuchi. Educação Fìsica e reordenamento do mundo do trabalho: mediações da regulamentação da profissão. – Niterói: UFF, 2004. MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. São Paulo, SP: Boitempo, 2005. Marx, Karl. Engels, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. São Paulo, SP: Martin Claret, 2003. RIBEIRO, Marlene. É possível vincular educação e trabalho em uma sociedade “sem trabalho”?. Revista da UCPEL, Pelotas, v. 8, n. 1, p. 5-17, jan./jun. 1999. Ribeiro, Marlene. Movimentos sociais e educação : desafios a uma pedagogia para a emancipação humana. In: Encontro Paranaense dos Estudantes de Pedagogia (20. : 2003 : União da Vitória). Educação : cidadania, inclusão e movimentos sociais, União da Vitória : Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e Letras, 2003. p. 57-69. PISTRAK. Fundamentos da Escola do Trabalho. Expressão Popular. São Paulo. 2000.
Download