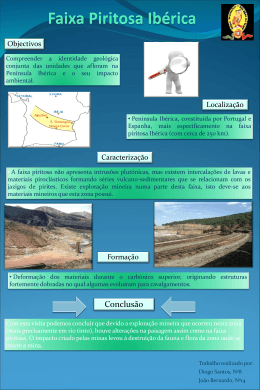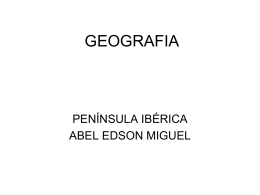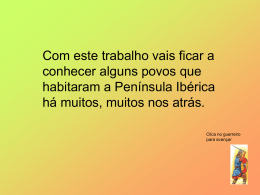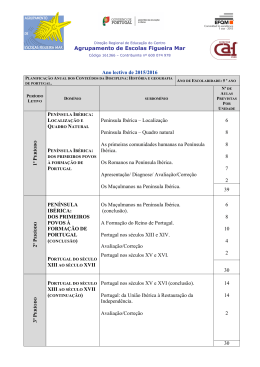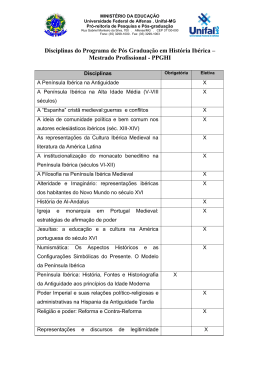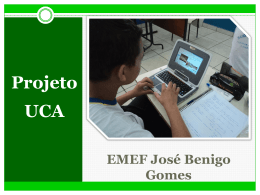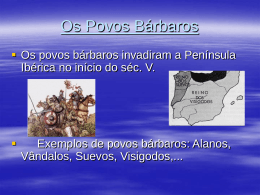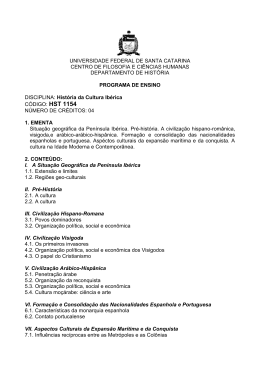■ ANO 6 ■ Nº 5 TIRAGEM: ■ SETEMBRO/2010 ■ 20 000 EXEMPLARES Festival da Record, 1967 UMA NOITE QUE (NÃO) PASSOU EM NOSSAS VIDAS té meados de agosto, depois de três semanas em cartaz, o documentário brasileiro Uma Noite em 67 já havia sido visto por mais de 41 mil espectadores. O número é irrisório se comparado aos totais que algumas superproduções estrangeiras ostentavam naquele momento em sua avassaladora carreira nas salas comerciais do país. Shrek Para Sempre, por exemplo, havia atingido 7,1 milhões de espectadores em seis semanas. Eclipse precisara de sete semanas para chegar a 6,2 milhões de espectadores. Toy Story 3 conquistara 4,2 milhões de espectadores em nove semanas. A comparação soa tão injusta quanto o embate entre um rinoceronte e um bem-te-vi, mas serve para desfazer eventuais equívocos sobre a quem pertence o mercado cinematográfico mundial. Com uma ou outra exceção, como a Índia, ele é território quase exclusivo do filme de ficção, preferencialmente vindo dos EUA ou feito com participação expressiva de capital norte-americano. As migalhas sobram para os outros filmes de ficção, e os restos das migalhas para os documentários. Nesse contexto, os números de Uma Noite em 67 são, na verdade, muito expressivos. Poucos documentários brasileiros ultrapassam a faixa de 10 mil espectadores. Dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil, o filme tem formato conservador, semelhante ao de um programa especial de TV. Imagens de arquivo combinam-se com entrevistas realizadas nos últimos anos para reconstituir o que teria sido a mais acirrada finalíssima na história dos festivais de música organizados por emissoras brasileiras de TV. Em 21 de outubro de 1967, a Record – em sua primeira encarnação, que não deve ser confundida com a atual – promoveu no teatro Paramount, em São Paulo, o encerramento do seu III Festival de Música Popular Brasileira. Diante de uma plateia ruidosa que se dividia em blocos de fãs como se fossem torcidas de times de futebol, os 12 finalistas subiram ao palco para se submeter à avaliação do júri. No documentário, as imagens daquela noite mostram algumas dessas apresentações e também entrevistas realizadas nos bastidores durante a transmissão ao vivo do even- Sérgio Rizzo Especial para Mundo Documentário revive a noite mágica de 21 de outubro de 1967, quando os então jovens Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, Roberto Carlos, Edu Lobo e outros disputaram a finalíssima do III Festival de MPB Montagem: Reprodução A to. Graças a elas, tem-se uma ideia de como o festival, criado por Solano Ribeiro, deu origem a um bem-sucedido programa de TV que, em sua derradeira edição, caminhava para o clímax (e para um consequente pico de audiência) à medida em que eram anunciadas, em ordem decrescente, as cinco primeiras colocações. E quem as disputava? Um elenco de jovens na faixa dos 20 e poucos anos, alguns já conhecidos do público graças a edições anteriores do festival, e que reunia Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, Roberto Carlos e Edu Lobo, entre outros. “Ponteio”, “Roda Viva”, “Domingo no Parque” e “Alegria, Alegria”, as canções favoritas do público, galvanizaram na competição a atenção de todos e se estabeleceram, com o tempo, em clássicos da MPB – sigla que também se consolidou naquele período, graças sobretudo aos festivais da Record. Uma Noite em 67 investiga o caráter lendário daquela final, como se houvesse ali algo de mágico sobre aquele tempo e sobre a importância que seus participantes exerceriam no cenário cultural brasileiro nas décadas seguintes. É fácil concordar com essa tese, principalmente se a nostalgia do espectador entra em cena, mas Terra e Calil descobriram vozes dissonantes: para alguns dos próprios participantes, como Chico e Caetano, aquilo foi apenas um rio que passou em suas vidas, e já faz tempo – e, aliás, eles nem mesmo lembram direito como foi. Mas, como se podia observar nas salas que exibiram o filme, a significativa parcela jovem do público – cujos pais talvez fossem crianças no final dos anos 60, ou talvez ainda não tivessem nascido – reagiu a essas considerações com humor, como se a desimportância alegada por esses ícones da MPB fosse apenas jogo de cena ou falsa modéstia. Afinal, o mundo que se vislumbra em Uma Noite em 67 parece pertencer a uma outra ordem, incomparavelmente mais nobre e estimulante do que a atual. Vivia-se sob ditadura militar e, ainda assim, vivia-se intensamente – inclusive para dar conta dos desafios de viver sob regime ditatorial. Enchia-se um teatro e alcançavam-se elevados índices de audiência não por causa de uma eliminação no Big Brother, mas para assistir a um desafio de música em que letras de protesto encontravam arena privilegiada para circular. É possível também, no entanto, que uma parcela desse público tenha se deixado seduzir apenas pelo modo como o filme se insere na lógica das celebridades que governa hoje a mídia. De acordo com esse raciocínio, Uma Noite em 67 equivaleria a um divertido vídeo do YouTube ao mostrar que alguns dos venerados sessentões (e setentões) da MPB um dia foram rapazes e moças ainda em pleno e sinuoso processo de descobertas. Sérgio Rizzo é jornalista e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da FAAP, da Academia Internacional de Cinema e da Casa do Saber. E-mail: [email protected] HISTÓRIA & CULTURA HISTÓRIA & CULTURA M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O UCA OU ARAP Gilson Schwartz Especial para Mundo A distribuição de um computador por aluno em escola pública coloca vários problemas complexos que não se resolvem na teoria, mas demandam muita pesquisa, estudos e debates. Alguns dados já disponíveis, resultados de pesquisas científicas, recomendam muita cautela. Eles mostram que há equipamentos nas escolas, mas seu uso ainda é muito mais burocrático do que pedagógico. Tecnologia na escola: a conexão é mais em cima A questão mais essencial não é decifrar o computador para saber se ele é útil ou inútil, libertário ou totalitário, alavanca do progresso ou modernizador do atraso, fadado a decair em robotização de educadores ou predestinado a revelar novos talentos e potenciais criativos, bom ou ruim. Esse maniqueísmo não leva a nada e, a bem da verdade, os dois lados do chip precisam ser levados em conta. O fato é que essa polêmica não se resolve na teoria. A luz precisa acender ao longo do túnel. Somente pesquisando, estudando esse processo de digitalização da vida escolar (e da vida em geral), medindo seus resultados e promovendo o debate sobre possibilidades e riscos da virtualização de processos de aprendizagem por meio de interfaces tecnológicas e audiovisuais cada vez mais complexas (como os videogames e os telefones ceulares) será possível aproveitar o que a tecnologia tem de bom e, na medida do possível, evitar as armadilhas da nova escravização digital. Alguns dados já disponíveis, resultado de pesquisas científicas, recomendam muita cautela. Os números mostram que há equipamentos nas escolas, mas seu uso ainda é muito mais burocrático do que pedagógico. Segundo pesquisa coordenada pela professora Roseli de Deus Lopes, da Escola Politécnica da USP (patrocinada pela Fundação Victor Civita), os funcionários administrativos nas escolas acessam as máquinas 4,7 vezes por semana, em média – enquanto os professores só fazem isso 3,2 vezes por semana e os alunos ainda menos: 2,6 vezes por semana. Para os defensores do UCA, a ampla distribuição de equipamentos vai alterar radicalmente a audiência e a frequência dos três tipos de usuários típicos de uma escola: o gestor, o professor e o aluno. A pesquisa revela que quanto mais computadores a escola tem, maior é a frequência de uso com participação de estudantes. Mas alguns casos de quem já recebeu os UCAs revelam um lado escuro da história: nem todas as escolas de fato conseguem acessar a internet e, quando o acesso existe, a largura da banda é insuficiente para atender os quase mil alunos que em média frequentam uma escola pública. Ou seja, ganha-se uma traquitana altamente tecnológica, mas desconectada da internet real e muito distante da internet educacional que aos poucos vai abrindo caminho em meio à pornografia, jogos de azar ou violência gratuita e mera propaganda disfarçada de “conteúdo” (o que tem de blogueiro trabalhando por jabás e em troca de pequenos favores e promoções é algo pouco discutido ou divulgado). A pesquisa revela que as escolas que têm apenas conexão discada acabam utilizando as máquinas apenas para atividades administrativas ou para tarefas muito básicas, como ler notícias, copiar conteúdos, consultar mapas, usar calculadora ou planilha eletrônica. Já nas escolas em que os professores fazem um uso mais avançado da tecnologia em atividades com os alunos (como criar blogs e páginas na web, programar ou desenvolver projetos de iniciação científica ou usar robótica educacional e programas de modelagem 3D), o acesso é quase sempre via banda larga. Mas essa qualidade de acesso é, ainda, um privilégio de escolas privadas de alto padrão e de umas poucas escolas públicas em condições especiais (como aquelas que funcionam dentro dos campi universitários, como a Escola de Aplicação da USP). Segundo Roseli Lopes de Deus, a pesquisadora do Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (LSI/USP) que coordenou o estudo, a questão da mobilidade é essencial para um bom uso das máquinas a serviço da aprendizagem. Nos próximos anos, ela acredita que o “hardware” adequado estará mais para telefone celular do que para computador portátil. Dessa perspectiva, a distribuição de milhares de notebooks pode ser uma aposta interessante, mas que já é um pequeno trambolho numa sociedade em que a informação circula mais rápido por quase 200 milhões de celulares pré e pós-pagos, já com banda larga integrada. O risco, nesse caso, é começarmos a descobrir entulhos digitais com centenas de milhares de laptops do UCA descartados depois do primeiro estrago, de uma peça de baixa qualidade cuja reposição é mais cara que a compra de um celular mais potente. O UCA pode até virar revestimento de barraco, quando não virar entulho e carga pesada para ser reciclada ou remanufaturada. O número que mais preocupa são os 18% de escolas que já têm laboratório de informática mas não usam o recurso para trabalhar com os alunos. Sem uma cultura de uso em rede e aberta à criatividade que é possível quando se usa inteligentemente a tecnologia, a distribuição de “um computador por aluno” pode empacar naquilo que afinal é a essência de qualquer processo de ensino e aprendizagem: a capacitação dos professores, a existência de projetos pedagógicos e a habilidade de alunos para assumir o protagonismo na busca, na criação e no compartilhamento de conhecimento. © Pierre Duarte/Folhapress utopia de uma educação altamente tecnológica, virtual, on-line, portátil e ubíqua, presente na sala de aula mas também nas múltiplas interfaces virtuais e redes sociais de alunos, professores e familiares, está chegando às escolas públicas brasileiras. Ou será uma distopia, ou seja, uma utopia perversa em que a realidade é o oposto de tudo o que se considera como uma sociedade ideal? A dúvida deixou de ser apenas filosófica e agora ocupa espaço nas mochilas e mesas de milhares de professores e estudantes em escolas públicas de todo o Brasil que estão recebendo banda larga e “um computador por aluno” (UCA). O projeto saiu das pranchetas do Ministério da Educação e da Casa Civil da Presidência da República, mas nasceu mesmo no célebre Massachussetts Institute of Technology (MIT), um dos mais importantes celeiros de tecnologia e políticas públicas exportadas pelos Estados Unidos para o mundo todo (seu maior propagandista é o guru de alta tecnologia do Media Lab do MIT, Nicholas Negroponte, autor do livro já clássico Vida Digital). Originalmente, o projeto OLPC (one laptop per child) era uma aliança entre empresas norte-americanas para levar a inclusão digital ao Terceiro Mundo. Logo o consórcio do MIT passou a enfrentar concorrência, em países como a Índia as autoridades preferiram adaptar o modelo e, no Brasil, após um período de testes e uma penosa trajetória pelas burocracias federais, em 2010 muitos alunos de escolas públicas estão ganhando o que parecia utópico – cada um com seu computador pessoal. O Projeto Um Computador Por Aluno tem a finalidade de promover a inclusão digital, por meio da distribuição de um computador portátil (laptop) para cada estudante e professor de educação básica em escolas públicas. Em 2007 foram selecionadas 5 escolas como experimentos iniciais, nas cidades de São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Palmas (TO), Piraí (RJ) e Brasília (DF). Em 2008 era prevista a compra de 150 mil laptops para 300 escolas públicas em todos estados (cada escola com um número médio de 500 alunos e professores beneficiados). Coincidentemente ou não, o fato é que centenas de escolas públicas estão ganhando o equipamento nesse ano eleitoral. Para os entusiastas do projeto, ele é o prenúncio de uma revolução não apenas na educação pública, mas na própria relação entre as públicas e as pagas, já que na maioria das escolas privadas o nível de inclusão digital sempre foi muito maior que nas escolas municipais, estaduais ou federais. Para os críticos, que não são poucos, o mimo pode custar caro e o UCA afinal se revelar uma “arapuca”, ou seja, uma armadilha que em vez de libertar o potencial criativo de cada criança e adolescente representará só outro mecanismo de controle. O computador pode se tornar uma espécie de “tornozeleira eletrônica” em que a escola, que já tem muito de prisão ou hospital, será transformada num espaço de monitoramento digital de cada atividade, fabricando uma verdadeira distopia na qual a mais clássica ficção científica torna-se realidade e o big brother sai da televisão para colonizar mentalmente alunos e professores. Tecnologias do futuro podem recriar terrores do passado na sala de aula © Freestockphotos A 2010 SETEMBRO M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M& UN D O PA N GHISTÓRIA E A M U N D& O PA N G E A 2-HC HISTÓRIA CULTURA CULTURA PUCA? Qual é, será ou deveria ser o conteúdo adequado e mais estimulante para um aprendizado autêntico, que explora todas as vantagens da digitalização contemporânea? Como produzir conteúdo, material didático e experiências de aprendizagem que ampliem as competências de cada aluno, em vez de apenas torná-lo mais um número na massa indiferenciada que responde a provinhas e “assiste” às aulas dadas por vídeos ou robôs fantasiados como professores-avatares? O fato é que os governos, com medo de perder o trem da história tecnológica contemporâena, assim como as escolas privadas, que também vendem supostas virtudes pedagógicas travestidas de acesso à mais moderna ferramenta digital, na maioria dos casos parecem colocar o carro na frente dos bois, comprando, treinando professores e obrigando alunos a usar essas interfaces sem de fato saber onde está a inovação, onde está a mera automação e redução de certos custos (como oferecer aulas de reforço em grande escala ou simplesmente usar os softwares para facilitar o registro de notas e presença). Com circuitos e chips capazes de emitir ondas de rádio de curta distância, os UCAs podem efetivamente servir mais para controlar a massa do que para estimular os talentos individuais, ainda que cada aluno tenha o seu computador próprio. Entre as áreas de maior inovação na busca de um casamento mais feliz e durável entre educação e tecnologia estão a telefonia celular, o uso de videogames em sala de aula (e mesmo fora do espaço convencional da escola) e a disseminação de livros eletrônicos, por meio de bibliotecas públicas cada vez mais amplas, que conversam entre si e abrem espaços vivos e virtuais de aprendizagem coletiva quase autogestionária. A Unesco tem destaque nessa frente, assim como a União Europeia, que investe muito na preservação da memória e na construção de fabulosos acervos de cultura digital. No lugar do UCA, podem surgeir propostas de UEBA (um e-book por aluno). O uso de videogames tem sido apontado por especialistas como uma das frentes mais promissoras. São os chamados “jogos sérios” ou “jogos engajados”, “pela mudança”, em que temas áridos de segurança, saúde, biologia, história, economia, geografia e meio-ambiente, mais que “ensinados”, são vivenciados por estudantes e especialistas em redes sociais e jogos colaborativos em que a competição existe, mas o resultado é o ganho de conhecimento, consciência ou prazer estético, ético e moral. O fato é que a vivência, comparada com a simples leitura, ativa mais neurônios. Se a memória é um processo que envolve não apenas a razão, mas também sentimentos e associações inspiradas e inspiradoras, certamente é mais fácil aprender e lembrar quando entramos num ambiente virtual 3D em que a sobrevivência do planeta ou a observação de um experimento físico ou biológico, mesmo que fictício, acontece com a nossa intervenção ou protagonismo. Mais que “um computador por aluno”, o mais provável é que a humanidade precise de “uma pedagogia por aluno” (seria o UPA!). Se de fato respeitamos a singularidade de nossa existência inteligente e sensível, se queremos e podemos nos diferenciar de matilhas, rebanhos e cardumes, é porque sabemos colocar a natureza, a tecnologia e a cultura a serviço de projetos, crenças, interesses e desejos que, na contracorrente da massificação, afirmam ao mesmo tempo nossa peculiar criatividade individual em meio a um oceano azul de inteligência coletiva. Entre o UCA e o UPA, existem muitas armadilhas camufladas no hardware, no software e na cultura predominante entre professores, alunos, funcionários e familiares. Enquanto essa cultura permanecer no século XII, vai ser difícil fazer proveito da tecnologia do século XXI. © Freestockphotos © Marcia Ribeiro/Folhapress Games criativos: entre o lúcido e o lúdico Gilson Schwartz é economista, sociólogo e jornalista, criador e líder do grupo de pesquisa Cidade do Conhecimento na USP (www.cidade.usp.br). É um dos coordenadores da pesquisa “Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas”, promovida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), que ao longo dos próximos quatro anos vai avaliar as práticas de apropriação de tecnologia nas escolas brasileiras, em particular do programa UCA. É o curador no Brasil do videogame Conflitos Globais (www.conflitosglobais.com.br), com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Infográfico da pesquisa: http://revistaescola.abril.com.br/img/tecnologia/ esp_029_infraestrutura_04.jpg SETEMBRO 2010 HC-3 HISTÓRIA PA N G E A M &UCULTURA N D O PA N G HISTÓRIA EAMUND & OCULTURA PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O EUROPA TEME EXPANSÃO ISLÂMICA A Europa não pode vacilar, quando se trata da defesa de sua identidade própria, cristã e ocidental. Hoje, a identidade europeia é ameaçada pelo Islã, tanto pelas turbulências políticas que ganham aspecto cada vez mais explosivos e abrangentes no Oriente Médio e Ásia central (região estratégica, onde estão situadas as mais vastas reservas de petróleo do planeta), quanto pelas agitações e tensões religiosas e culturais dentro dos próprios países europeus, potencializadas pela ameaça de terrorismo. A percepção exposta acima, com algumas diferenças de grau de radicalismo, reflete, na média, os pontos de vista da Igreja Católica e dos setores mais conservadores da direita europeia, em geral identificados, no âmbito político, com a Democracia Cristã (veja matérias sobre o assunto nas págs. 6 a 8 desta edição de Mundo). É a lógica da suposta “guerra de civilizações” que está em curso. Mas uma breve análise da história da formação da cultura europeia demonstra que esse conceito é impraticável e irreal, pois não há como isolar nenhuma “civilização” pura. O próprio Islã ofereceu contribuições decisivas para a construção de uma “identidade europeia”, como mostra claramente a história da Península Ibérica. A conquista da Península Ibérica foi iniciada no séc. VIII, por berberes (povos que viviam no norte da África) convertidos ao Islã por Tarique. À época, os povos ibéricos – majoritariamente formado por visigodos, de maioria cristã e judaica – não ofereceram grande resistência. Os berberes, em contrapartida, exerceram o seu poder através da cobrança de impostos (a jazia), mas nunca pela imposição religiosa, obedecendo ao princípio da liberdade de culto exposto no Corão. Foi o processo que permitiu a construção e o magnífico desenvolvimento do Califado de Córdoba e da Andaluzia. Apesar disso, há uma grande possibilidade de choque entre as culturas islâmica e ocidental, segundo afirma o professor português sociólogo das religiões Moisés Espírito Santo, entrevistado em Lisboa. Isso não se deve a supostos antagonismos religiosos ou doutrinários, mas ao acelerado processo de massificação do islamismo no mundo. “Tchetchênia, Cazaquistão, Uzbequistão e Afeganistão eram repúblicas laicas, que hoje são islâmicas por maioria. Hoje, todo o Ori- Em 20 anos a África será “islamizada”, como aconteceu com os povos da Ásia central, afirma o sociólogo das religiões Moisés Espírito Santo. É o catolicismo – que não se confunde com o cristianismo – que demonstrou, historicamente, a sua intolerância tado inglês que é oficialmente protestante, mas tem como parceiros todas as outras religiões, como na Suécia e na Noruega. Os países nórdicos não são laicos no sentido latino. O estado tem uma matriz religiosa, que é a protestante, mas as religiões várias são parceiras com iguais direitos da religião do estado. Mundo – O que aconteceu na Península Ibérica após a implantação do catolicismo? MES – O catolicismo não deriva de Cristo, mas de Constantino. O catolicismo nasceu de um ato político. O imperador Teodósio decretou, no século IV, que toda a Europa seria católico-romana, e previa pena de morte para os dissidentes. Todos os bens das antigas religiões passaram por decreto para a Igreja Cristã Romana, como se chama. A religião do imperador se sobrepôs a liberdade religiosa dos cidadãos Mundo – Houve conflito com o Islã na Península Ibérica? MES – Quando o Islã conquista a Península Ibérica em 711, através dos berberes, fazem isso com facilidade. Não houve guerra. Não havia estado, havia vários reinos e todos eles incapazes de impor a ordem. Naquele tempo coexistiam o cristianismo popular, anárquico, com seus cultos locais, além do catolicismo romano e do judaísmo. © Senise Renato Mendes, de Lisboa Da Equipe de Colaboradores ente Médio até a China está em conquista permanente pelo Islã”. Em 20 anos o continente africano será islamizado, afirma o professor, com exceção dos estados fortemente centralizados e dotados de vitalidade institucional. Para ele, a maioria dos países africanos vive um estado social de anomia, que caracteriza os povos que sofrem a perda de identidade cultural. A falta de coesão social, a difusão ideológica e a ausência de uma proposta de salvação religiosa fazem com que as características simples do islamismo e a sua forte coerência teológica sejam altamente sedutoras para os povos do continente africano. Veja a entrevista: Mundo – Quais são as matrizes culturais e religiosas da Europa? Moisés Espírito Santo – A matrizes são muito antigas e tem a ver com o Império Romano, com a religião e direito romano, que é um direito com características modernas, centralizado e organizado. O Império Romano era laico, permitia que todas as religiões existissem desde que mantivessem a ordem pública. Essas tradições foram respeitadas pelo cristianismo primitivo, que era tolerante e livre, mas não pelo catolicismo romano. A matriz religiosa europeia é de laicidade. Mundo – Pode ser feita uma analogia entre passado e presente religioso na Península Ibérica? MES – Foi na Península Ibérica onde a religião católica mais se assemelhou à prática do antigo Império Romano. Até Constantino, no séc. IV, existia a religião oficial do império, mas também tolerância e liberdade para os povos. Faz lembrar um pouco o atual Es- Mundo – O judaísmo também contribui com a cultura e a religião na península. MES – No século IV, as comunidades judaicas eram as mais importantes do ponto de vista de uma doutrina monoteísta. Eles chegaram na Península Ibérica muito antes do nascimento de Cristo. Toda uma cultura médio oriental se instalou por aqui, com os fenícios, os púnicos etc. Até o séc. XIV, metade da população portuguesa era judaica. Portugal e Espanha foram dos povos mais judaizantes. Era um judaísmo que vinha do norte de África. Mundo – Havia liberdade religiosa na Península Ibérica? MES – Aqui, entre os séculos VIII e XII, sob ocupação islâmica, funcionou a plena liberdade religiosa, coisa que não exista em nenhuma outra parte da Europa. Alguns dos aspectos da diversidade religiosa, que se praticam nos dias de hoje, foram afirmados nessa época. 2010 SETEMBRO M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M& UN D O PA N GHISTÓRIA E A M U N D& O PA N G E A 4-HC HISTÓRIA CULTURA CULTURA
Download