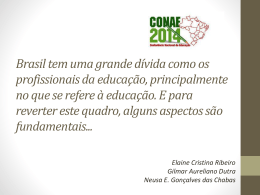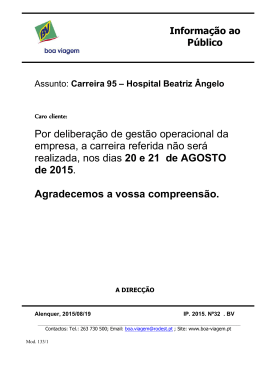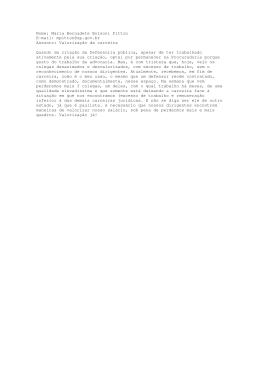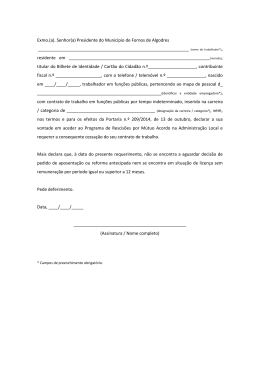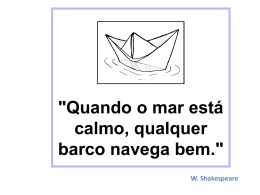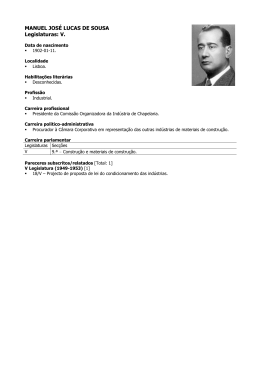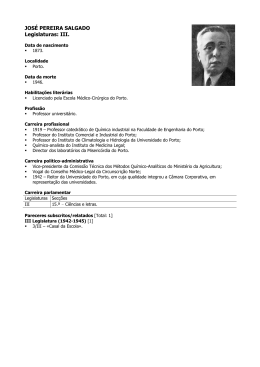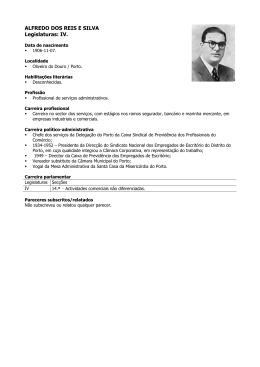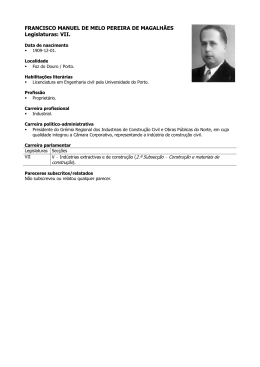1 “Eu Proteu”: A Auto-Gestão de Carreira entre Fatos e Mitos Autoria: Isleide Arruda Fontenelle Resumo Os últimos dez anos viram emergir uma nova concepção de carreira assentada em uma maior valorização da responsabilidade individual do profissional, concomitantemente à publicação de uma extensa literatura acerca das transformações no mundo do trabalho, advindas de intensas mudanças tecnológicas e organizacionais que provocaram impactos profundos nas noções de emprego e na natureza do trabalho. É nesse contexto que a idéia da “auto-gestão da carreira” surge como reflexo dos fatos concretos que a geraram – flexibilidade do emprego, nova forma de trabalho baseada na gestão do conhecimento, perspectiva de curto prazo—; bem como de toda uma “retórica” assentada nas idéias de autonomia, de auto-conhecimento e de “sucesso psicológico”, recorrentemente ilustrada a partir do “Mito de Proteu”. Pretende-se problematizar esses fatos e essa retórica a partir de uma pesquisa exploratória que analisou a inserção da disciplina “orientação de carreira” no currículo obrigatório do Curso de Especialização em Administração para Graduados da FGV-SP, reformulado em 2004; bem como através de pesquisas secundárias e de bibliografia focadas no mapeamento contemporâneo da “auto-gestão” da carreira, quando são apresentados os paradoxos contidos nessa nova concepção, que carrega a promessa da autonomia e a distopia da descartabilidade. 1. Os fatos: o desafio da carreira na passagem da economia da produção para a economia do conhecimento Em uma pesquisa que realizou sobre algumas implicações subjetivas das mudanças no mundo do trabalho, o sociólogo Richard Sennett freqüentou reuniões informais realizadas por um grupo de programadores e analistas de sistemas que haviam sido demitidos da IBM, nos Estados Unidos, por conta da redução de quadros em um processo de reestruturação que aquela organização estava enfrentando. (SENNETT, 1999) Antes da demissão, esses trabalhadores acreditavam no desenvolvimento a longo prazo de suas carreiras profissionais. Depois de demitidos, desnorteados, procuraram diferentes interpretações para o fato. E essas interpretações, ao longo das reuniões de grupo que Sennett freqüentou, evoluíram em três estágios: - No primeiro deles, quando a dor da demissão ainda estava recente, a empresa foi culpabilizada e eles, trabalhadores, se viam como vítimas. A palavra recorrente era traição: eles haviam sido traídos pela empresa; - Um tempo depois, nessas mesmas reuniões, começou o segundo estágio de interpretação: os programadores não mais culpavam a empresa, mas buscavam forças externas para atribuir a culpa: agora, era a economia global que aparecia como a razão do desemprego, especialmente por conta da globalização e da contratação de trabalhadores estrangeiros (mão-de-obra barata). A palavra recorrente era medo; - Finalmente, no terceiro estágio, o foco voltou-se para eles mesmos e como eles se viam em meio à história do trabalho high-tech e seu imenso crescimento à época, bem como para as novas aptidões necessárias para lidar com isso. O foco passou a ser a transformação na própria profissão, quando eles começaram a falar do que poderiam e deveriam ter feito em 2 suas carreiras para prevenir o desemprego. Aqui aparece, finalmente, o discurso da carreira, embora mais sob a ótica do fracasso do que do controle que eles poderiam ter tido sobre ela. E aqui começa, então, o discurso da responsabilidade pessoal: os programadores e analistas começam a se censurar por terem ficado demasiado dependentes da empresa, por terem acreditado nas promessas da cultura empresarial e passam a se perguntar por que não investiram em si mesmos. Eles poderiam ter se tornado empresários do Vale do Silício — região das empresas de alta tecnologia nos Estados Unidos — ou terem sido aproveitados nessa reestruturação em curso na IBM caso tivessem se preparado para isso. Essa história ocorreu no momento em que a IBM enfrentava a maior crise de sua história, na passagem da década de 1980 para a década de 1990. Uma crise provocada por fatores tais como: a incapacidade da empresa em prever o crescimento dos computadores pessoais - com o surgimento da Microsoft -, o que balançou as estruturas de uma empresa que tinha o monopólio do mercado de informática até então; e a existência de uma forte burocracia interna e rígidas estruturas de trabalho hierárquicas. A reação da IBM consistiu em substituir sua organização rígida por uma organização flexível do trabalho; em eliminar a estabilidade tradicional, fortemente assentada em um capitalismo paternalista, com vistas ao emprego vitalício – 1/3 de seu quadro foi demitido só no primeiro semestre de 1993 – e com a quebra dos estágios de carreira e do contrato social baseado na lealdade. Teria sido isso que fez a IBM voltar a ganhar competitividade no mercado e é no interior desse contexto mais amplo que se desenvolve a narrativa dos programadores e analistas desse estudo de Richard Sennett. Essa é uma história exemplar para pensarmos a evolução do conceito de carreira, de algo que, tradicionalmente, era compreendido como de responsabilidade da empresa, para um novo conceito no qual caberia a cada um a responsabilidade individual por gerir o seu próprio destino profissional. Nesse sentido, essa história dos trabalhadores demitidos da IBM, narrada por Sennett, ilustra o início de um processo que, atualmente, tem se tornado cada vez mais presente no discurso das empresas, da mídia especializada e, por conseqüência, dos profissionais do mercado: a idéia de um “eu, sociedade anônima” (1). De fato, o significado de carreira mudou muito ao longo do tempo e a mudança desse conceito tem a ver com as mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais mais amplas. A palavra carreira significava, originalmente na língua inglesa, uma estrada para carruagens. Segundo Jean-François Chanlat, a moderna idéia de carreira nasce com a sociedade industrial capitalista liberal, passando a significar a estrada para a progressão profissional ao longo de uma vida. E veio a significar isso por conta do novo desenho das sociedades industriais modernas que foram fundadas sob as idéias de igualdade, liberdade de êxito individual e progresso econômico e social. Portanto, sob a noção de mobilidade social: as pessoas poderiam ascender na escala social. E isso teve um impacto fundamental no interior das organizações, já que o emprego (a noção moderna de trabalho assalariado) passou a ser um dos grandes veios de ascensão social na era moderna. Ainda segundo Chanlat, o modelo tradicional de carreira, que foi hegemônico no período industrial, foi marcado por uma certa estabilidade no emprego e uma progressão linear: baseado na descrição fixa e verticalizada dos cargos; na avaliação do desempenho e voltado para o êxito profissional. (CHANLAT, 1995; e 1996) Esse modelo tradicional de carreira começou a ser sacudido por transformações no ambiente sócio-econômico. Lançados simultaneamente em seus países de origem e, também, traduzidos no mesmo ano aqui no Brasil, os livros de BRIDGES (1995) e RIFKIN (1995) apontam claramente o novo tempo que produz uma nova forma de gerir a carreira: o fim do trabalho como nós o conhecemos ao longo do século XX - especialmente com a denominação de “emprego”, ou seja, “trabalho assalariado”-, decorrente de profundas transformações tecnológicas e organizacionais (terceira revolução industrial ou pós-fordismo, dentre outras 3 denominações). Assim compreendido, o “fim do trabalho” significou, por um lado, desemprego, o que introduz a questão social do que fazer com a imensa maioria que não disporá mais do seu trabalho assalariado. Esse é o aspecto sobre o qual o livro de Rifkin joga luz, conduzindo suas análises para uma proposta de cunho social: o investimento no terceiro setor como uma forma de oferecer “a milhões... permanentemente desempregados, trabalho significativo em serviços comunitários no terceiro setor para ajudar a reconstruir seus próprios bairros e infra-estrutura locais”. (RIFKIN, 1995, p.279) Por outro lado, o “fim do trabalho” também significou uma mudança na própria natureza do trabalho. Ou seja, ainda haverá trabalho, embora em bem menos quantidade e a partir de uma maneira inteiramente nova de realizá-lo e de geri-lo. Esse é o foco do livro de BRIDGES (1995): compreender como as macro transformações no mundo do trabalho impactam diretamente as organizações e seus profissionais (2). Assim, o autor enumera algumas características dessas novas organizações: são desprovidas de cargos e todos passam a ser encarados como “trabalhadores contingentes”, no sentido de que “o emprego de todos é contingencial aos resultados que a organização atingir”. Daí porque “os trabalhadores precisam desenvolver uma mentalidade, uma abordagem ao seu trabalho e um modo de administrar suas próprias carreiras que mais se assemelhe à de um vendedor externo do que à de um empregado tradicional”. (BRIDGES, 1995, p.58-59) Essa análise ainda parecia surreal quando feita na metade da década de 1990, a ponto de Bridges admitir que ainda existia “um considerável nervosismo com relação a se dizer essas coisas tão explicitamente” (BRIDGES, 1995, p.60), especialmente em setores nos quais a estabilidade do emprego sempre foi altamente prezada. Mas Bridges insistia que olhássemos para as ações dessas empresas, pois essas – dispensa de empregados, aposentadorias precoces, reestruturações e reatribuições de cargos, cortes radicais de benefícios e transferências forçadas – diziam claramente que as regras haviam mudado. Dez anos depois, essas coisas já podem ser ditas claramente e a maioria dos profissionais do mercado já compreende aquilo que, segundo Bridges, ainda parecia incompreensível em meados dos anos 1990. Não por acaso, Bridges e outros autores (3) que, na mesma época que ele, começaram a atentar para as mudanças na carreira são, agora, bibliografia obrigatória e pontos de referência claros para que se discuta essa nova maneira de gerir a carreira como a única forma viável dentro de um novo desenho organizacional baseado em formas fluidas, que podem ser montadas e desmontadas rapidamente, com um elemento de desorganização necessária para que sobrevivam naquilo que Nigel Thrift denominou de “capitalismo leve”. (THRIFT, 1997) Passada também uma década na qual foram feitas as leituras sobre as transformações no mundo do trabalho e sobre os impactos disso nas relações e na natureza do trabalho, o cenário agora se revela mais claramente, no sentido de possibilitar um melhor entendimento sobre o que resultou de dez anos de reestruturações e sobre quais seriam os novos rearranjos necessários. Recentemente publicada, a obra de GORZ (2005) visa elucidar exatamente isso: segundo o autor, agora está evidente que vivemos uma nova forma de economia – a “economia do conhecimento”- e que ela altera os três pilares estruturais da “economia industrial”, quais sejam, o trabalho, o valor e o capital, já que a nova forma de trabalho, baseada na gestão de informações, altera radicalmente a medida do tempo por unidades de produto, implodindo a idéia do tempo como padrão de valor, que foi a base de toda a economia industrial que perdurou ao longo do século XX. Gorz chama atenção para o componente de saber fundamental nessa nova economia: um saber que “não é composto por conhecimentos específicos formalizados que 4 podem ser aprendidos em escolas técnicas. Muito pelo contrário, a informatização revalorizou as formas de saber que não são substituíveis, que não são formalizáveis: o saber da experiência, do discernimento, a capacidade de coordenação, de auto-organização e de comunicação” (GORZ, 2005, p.9). Nessa nova forma de gerir o saber, toda produção passa a se assemelhar a uma prestação de serviços, já que, mesmo na indústria, a informatização transforma o trabalho em “gestão de um fluxo contínuo de informações”.(GORZ, 2005, p.17) É nesse contexto que o autor nos fala sobre o “advento do auto-empreendedor” e da “vida como “business”. Citando uma comunicação de Norbert Bensel, diretor de recursos humanos da Daimler-Chrysler (4), Gorz chama atenção para o termo que este usa ao se referir aos trabalhadores da empresa: “empreendedores”, não apenas na gestão por objetivos mas, especialmente, na própria “gestão da sua força de trabalho considerada como seu capital fixo”. Apresentando dados que revelam que as cem maiores empresas americanas só empregam um pequeno núcleo de assalariados estáveis e em período integral – os 90% restantes são formados por uma “massa variável de colaboradores externos, substitutos, temporários, autônomos, mas igualmente de profissionais de alto nível”- , o autor constata que, atualmente, “a diferença entre o sujeito e a empresa, entre a força de trabalho e o capital deve ser suprimida. A pessoa deve, para si mesma, tornar-se uma empresa”. (GORZ, 2005, p.23 – grifos do autor). Daí a necessidade de investir em si mesmo, esteja o profissional na categoria de contingente ou como assalariado estável, já que também não há nenhuma garantia de permanência nessa posição. É essa a idéia de “vida como business”: nos dois casos, é preciso se estar permanentemente atento e preparado, levando o tempo da vida a se reduzir “inteiramente sob a influência do cálculo econômico e do valor. Toda atividade deve poder tornar-se um negócio... A produção do si obrigatória se torna um ‘job’ como qualquer outro” (GORZ, 2005. p.25-26). A idéia de empregabilidade e de responsabilidade individual pelo seu destino, tão claramente narrada na história de Sennett, ganha aqui todo o seu sentido. Trata-se, portanto, de uma mudança estrutural do mercado que impõe reformulações que atingem os profissionais, as empresas e, também, as instituições de ensino formadas para preparar tais profissionais. Mas se esse processo já está claro e compreendido pelos atores envolvidos, a forma de vivenciá-lo, por esses mesmos atores, ainda é presa de um momento de passagem entre um modelo que já está obsoleto – mas que continua funcionando, agonizado – para um novo modelo que põe a todos diante do risco do novo. No que diz respeito às empresas, se de um lado é altamente necessário e confortável assumirem o discurso da empregabilidade quando se trata de justificar seu contingente de empregados temporários, por outro lado há, ainda, uma necessidade de manter uma certa retórica, seja em função de ainda subsistir a necessidade de se garantir uma certa “dimensão humana” nas organizações, seja frente ao seu desafio de atrair, desenvolver e reter competências - um núcleo estável -, embora geralmente este seja exatamente o grupo composto por aqueles profissionais mais qualificados e capacitados a gerirem as suas próprias carreiras e, portanto, a terem domínio sobre suas escolhas e carreiras e a não estarem, necessariamente, comprometidos com uma dada organização. Frente a esse desafio, as empresas estão desenvolvendo práticas de desenvolvimento profissional e pessoal cujo objetivo é o de estabelecer o compromisso entre as metas da empresa e os propósitos individuais do profissional, atuando em dois níveis: oferecendo aos profissionais informações sobre os critérios de progressão na empresa, baseados no desempenho e na competência; e oferecendo oportunidades de crescimento e possibilidade de 5 desenvolvimento através da aplicação de programas que ajudariam o profissional a se conhecer melhor e a montar seu roteiro de carreira construindo uma visão mais clara de onde quer chegar, corrigindo a rota de crescimento profissional e traçando ou identificando objetivos novos. Exemplares nesse sentido seriam, respectivamente, a “avaliação 360º” e os programas de coaching, mentoring e counseling. A idéia subjacente a isso é a de que a “auto-gestão da carreira” estaria primordialmente orientada para o “sucesso psicológico”. Nesse sentido, o mais importante não seria mais a busca da eficiência - a capacidade de fazer mais e melhor – e, sim, a busca do significado e da satisfação naquilo que o profissional estaria realizando. Para isso, seria preciso desenvolver o auto-conhecimento, onde caberia a cada profissional saber o que gosta, realmente, de fazer, e quais seriam suas reais habilidades. Para isso, também seria necessário desenvolver um conhecimento apurado do mercado a fim de saber exatamente onde aplicar aquilo que ele, profissional, gosta e sabe fazer bem. Obviamente que isto é apresentado como a face positiva que compensaria o fato real e assustador que se tornou a responsabilidade individual de cada um pelo seu próprio destino, o que pode significar, também, “não ter ninguém a quem culpar pela própria miséria... não procurar as causas das próprias derrotas senão na própria indolência e preguiça, e não procurar outro remédio senão tentar com mais e mais determinação... Com os olhos postos em seu próprio desempenho – e portanto desviados do espaço social onde as contradições da existência individual são coletivamente produzidas - , os homens e mulheres são naturalmente tentados a reduzir a complexidade de sua situação a fim de tornarem as causas do sofrimento inteligíveis e, assim, tratáveis”. (BAUMAN, 2000, p.48). Em outras palavras, há um novo contrato no qual o indivíduo está só, e a promessa da autonomia, contida nas idéias de auto-conhecimento e sucesso psicológico, é a contrapartida disso. Buscando compreender como a “auto-gestão da carreira” se aplicaria ao contexto brasileiro, MARTINS (2001) realizou uma pesquisa, como parte integrante de seu projeto de dissertação de mestrado em Administração de Empresas, junto a profissionais que cursavam pósgraduação lato sensu no FGV Management, em turmas selecionadas aleatoriamente nas diferentes regiões do país. O autor tomou como modelo as pesquisas de SCHEIN (1996), – realizada junto a 44 alunos de MBA na Sloan School of Management do MIT para caracterizar o modelo das âncoras de carreiras – e de KOTTER (1996) – junto a 115 alunos de MBA de Harvard, investigando as novas regras do ambiente de carreira, para justificar que as pesquisas focadas em uma única instituição seriam comuns na prática acadêmica norteamericana e que “normalmente seus resultados são utilizados em modelos representativos do comportamento de um determinado segmento social nacionalmente distribuído”. (MARTINS, 2001, p.122) Assim, como base nos dados colhidos, Martins concluiu que, do ponto de vista das empresas, na prática, as organizações brasileiras “apresentam alguns indícios de adequação ao novo contrato. Contudo, ainda haveria muito trabalho a ser feito nas políticas e ações de Recursos Humanos relativos à gestão de carreiras, especialmente quanto às estruturas de carreira, à disponibilização de recursos e informações e ao uso da avaliação de desempenho como parte integrante desse processo”. (MARTINS, 2001, p.156-157) Do ponto de vista do profissional pesquisado, Martins apresenta dados indicativos de um 6 profissional já consciente da responsabilidade pessoal por gerir sua própria carreira, bem como já a par dos novos critérios da carreira voltada para a satisfação pessoal e para o equilíbrio entre carreira e vida pessoal. Seriam profissionais que valorizariam o autoconhecimento, que perceberiam a importância do conhecimento do ambiente de carreira e das escolhas de carreira baseadas em referenciais próprios, que vivem um significativo número de mudanças de emprego e de redefinições de carreira e que seriam proativos no autodesenvolvimento e na avaliação da carreira. Mas, como o próprio pesquisador admitiu, são indícios presentes no “discurso”, não se podendo afirmar que a maioria desses profissionais já tenha, efetivamente, um comportamento que indique isso. “Somente com a utilização de um método de pesquisa como o etnográfico seria possível a verificação e confirmação desse comportamento pela observação direta”.(MARTINS, 2001, p.156) Tal fato deixa evidente que, já há uma compreensão clara de que o novo modelo foi absorvido. Paradigmática, nesse sentido, é a reformulação realizada, em 2004, por um dos mais tradicionais cursos de pós-graduação lato sensu em Administração de Empresas do Brasil – o Curso de Especialização em Administração para Graduados (CEAG) da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), que passou a incluir a disciplina “orientação de carreira” como uma das quatro disciplinas que compõem seu atual ciclo básico – e obrigatório -, denominado, em seu conjunto, como disciplinas para “habilidades pessoais”. Como o próprio nome já diz, o objetivo dessas disciplinas é o de instrumentalizar os alunos do curso para habilidades em comunicação, negociação, relações interpessoais e na orientação de carreira (5). No que diz respeito a esta última disciplina, ela está orientada para “fornecer elementos de reflexão sobre projeto de vida e projeto profissional que permitam aos alunos a escolha, o planejamento e o desenvolvimento de carreiras com maior adequação frente ao mercado de trabalho atual” (6). E por que dotar esses alunos-profissionais de habilidades pessoais em “gestão de carreira”? De acordo com a entrevista realizada com um dos participantes da reformulação do CEAG, nas sondagens feitas junto aos alunos tendo em vista a reformulação do curso, bem como – e especialmente – nos dados reais de mudança de posição de cargo e de emprego que esses alunos vivem durante os dois anos e meio que freqüentam o CEAG, ficou evidente que há uma enorme mobilidade desses alunos-profissionais: de função, emprego, cidade, etc., ao ponto da mala-direta dos alunos se tornar obsoleta a cada ano. Assim, a disciplina “orientação de carreira” visa atender a um novo perfil de profissional do mercado: jovem, recém-ingresso no mercado de trabalho e com uma demanda por compreender melhor esse ambiente profissional altamente mutável e seu lugar nele. Tanto é assim que, conforme o entrevistado, ao serem consultados durante a discussão da formatação dessa disciplina, esses alunos apresentavam uma demanda quase que individual, colocando, com isso, desafios novos para uma disciplina que também é produto de um tempo absolutamente novo. Daí porque, ainda segundo dados da entrevista com um dos reformuladores do programa, a implantação e o formato da disciplina não foram tão consensuais entre os idealizadores do “novo CEAG”: em função de uma demanda individual que não poderia ser atendida em uma disciplina cuja carga horária é de 16h de aula; em função da ausência de uma clareza quanto ao conteúdo e à metodologia a serem desenvolvidas decorrentes de tal demanda; e, por conta dos dois fatores anteriores, em função da dúvida sobre como tornar essa disciplina coerente com a proposta do CEAG: “um curso utilitário, voltado para dar ao profissional recémformado um empurrão na vida profissional”, nas palavras do entrevistado. 7 Esse é um fato importante de ser mencionado, já que a fundação do CEAG, quarenta anos atrás, teve por objetivo formar profissionais altamente capacitados em gestão para atender ao emergente e próspero mercado de trabalho na consolidação do processo de industrialização brasileira. Um modelo baseado em um tipo de desenvolvimento voltado para a grande empresa e para a aplicação do modelo fordista de indústria, seja no uso da tecnologia, seja no crescente grau de burocratização. Nesse processo, o CEAG formou muitos profissionais para o mercado e constituiu-se numa marca de sucesso, a ponto de oferecer aos egressos não apenas o conhecimento necessário, como também o título – a marca CEAG – que poderia fazer toda a diferença no mercado de trabalho. Desnecessário dizer que esse já não é mais o nosso tempo. A reformulação do CEAG indica que o conteúdo precisa ser repensado para atender aos novos tempos e sustentar a marca. Daí porque, embora desafiante para a estruturação da disciplina, é importante notar o quanto essa “demanda individual” é sintoma claro da mudança de perfil desse aluno, coerente com as novas exigências do mercado e com o desenvolvimento profissional que se requer dele. Para dizer mais claramente: se o objetivo do CEAG é formar o profissional para o mercado de trabalho, na era do “Você, S/A”, cada profissional é uma empresa – o que está evidente na “demanda individual” que foi endereçada na proposta de reformulação do curso. Portanto, se já está claro que é preciso mudar, o desafio maior é “como mudar”. Nesse sentido, retomo o que seria o principal desafio na nova orientação de carreira, segundo MARTINS (2001): desenvolver a busca pelo autoconhecimento, para que, através dele, se possa alcançar a satisfação dos objetivos de carreira e vida profissional, ou seja, “o sucesso psicológico”. Mas, segundo esse mesmo autor, conhecer a si mesmo “não é uma tarefa que possa ser improvisada. Tampouco se trata de uma habilidade que possa ser desenvolvida rapidamente, a partir de um conjunto de técnicas e exercícios. E no entanto é o que viabiliza a escolha autêntica, indispensável à eficácia da gestão de carreira”. (MARTINS, 2001, p.157) Trata-se, portanto, da incorporação de um saber que “não pode ser nem predeterminado nem ditado... que exige o investimento de si mesmo... Em poucas palavras, formas de um saber vivo adquirido no trânsito cotidiano, que pertencem à cultura do cotidiano”. (GORZ, 2005, p.9) Esse é um tempo, portanto, que requer uma mudança estrutural na forma do pensamento – uma mudança subjetiva – e que, a ela deve corresponder, também, uma forma inteiramente nova de relacionar saberes e conhecimentos no sentido inverso ao que foi realizado durante a segunda metade do século XX, quando um número crescente de saberes comuns – produzidos na vivência do cotidiano – “foram transformados em conhecimentos homologados e profissionalizados, para enfim se tornarem serviços tarifados. O desenvolvimento das profissionalizações desqualificou as práticas e as relações das quais os saberes comuns eram suporte, e as substituiu por prestações de pagamentos, por relações comerciais”. (GORZ, 2005, p.32). O desafio, portanto, está na mudança dessa “velha cabeça”. Referindo-se a isso em uma conferência realizada em 1999, Peter Drucker alertava para o fato de que estaríamos vivendo uma mudança sem precedentes na história da condição humana: estaríamos tendo, pela primeira vez, a possibilidade de fazer escolhas e de administrar a nós mesmos. Nesse contexto, Drucker relaciona a capacidade de aquisição de conhecimentos com o desenvolvimento da carreira. A má notícia, segundo ele, é que nós estaríamos totalmente despreparados para isso. Pois por conhecimento, Drucker não se refere apenas aos conhecimentos formais, mas a capacidade de sabermos “quem somos”: qual o nosso lugar, nossas aptidões, nosso temperamento, nossas reais capacidades de realização do que queremos. Portanto, aprender a assumir essa responsabilidade de administrar a nós próprios 8 não é um desafio simples e, segundo o autor, “ninguém nos ensina isso – nenhuma escola, nenhuma universidade – e, provavelmente, só daqui a 100 anos é que começaremos a fazêlo”. (DRUCKER, 1999) Daí porque – sabendo do objetivo da minha pesquisa junto à FGV -, o meu entrevistado fez questão de mencionar o quanto tudo isso era absolutamente novo: a reformulação do CEAG e a implantação da disciplina “orientação de carreira”, não permitindo, portanto, uma avaliação mais abrangente desse esforço de reformulação, que está bem no início. De fato, o objetivo desse artigo não é avaliar resultados, mas tomar a reformulação do CEAG e a conseqüente implantação do curso “orientação de carreira” como paradigmáticas de uma mudança real nas relações e na natureza do trabalho que coloca desafios enormes para todos que estão diretamente nela envolvidos. Nesse sentido, a própria reformulação do curso e as dificuldades enfrentadas na implantação da disciplina “orientação de carreira” serão tomados como sinalizadores cruciais dos dilemas enfrentados nesse momento de passagem entre dois modelos – da sociedade da produção para a sociedade do conhecimento –, cuja mudança está clara no nível racional e discursivo, mas que ainda não foi assimilada no nível da experiência concreta. Isso ocorre, a meu ver, porque ainda estamos presas do velho mito da ordem e da segurança que estruturou nossas instituições, nossas subjetividades e nossa forma de viver até bem recentemente. Vamos a isso. 2. Os mitos: a carreira entre o sonho da autonomia e a distopia da descartabilidade O século XX foi fundado sob o mito do progresso e da ordem e seu correlato essencial: a idéia de identidade como algo que permaneceria identificando alguém ao longo de uma existência. Sustentando esse mito, estava o trabalho, como o principal valor dos tempos modernos devido a sua “maravilhosa, quase mágica, capacidade de dar forma ao informe e duração ao transitório...Graças a essa capacidade, foi atribuído ao trabalho um papel principal, mesmo decisivo, na moderna ambição de submeter, encilhar e colonizar o futuro, a fim de substituir o caos pela ordem e a contingência pela previsível (e portanto controlável) seqüência dos eventos” (BAUMAN, 2000, p.157). Essa forma moderna estruturou nossas vidas ao longo do século XX pois, em que pesem todas as críticas que lhe foram endereçadas, os padrões, códigos e regras que nos conformavam também eram “pontos estáveis de orientação pelos quais podíamos nos deixar guiar” (BAUMAN, 2000, p.14). Nesse sentido, havia uma troca que o psicanalista vienense Sigmund Freud identificou tão bem: a troca de liberdade por segurança. O “mal-estar da civilização” era o mal-estar da modernidade: de ceder em liberdade, às custas de ganhar em segurança, em estabilidade, na construção de uma narrativa linear de vida. (FREUD, 1974) Com a quebra desse mito da ordem, vivemos no “mal-estar da pós-modernidade” (BAUMAN, 1998): em vez de ordem, caos; em vez de regras, desregulamentação; em vez de segurança, a liberdade individual reinando soberana como valor primordial. Nosso tempo é o da “modernidade líquida”, como assim definiu o sociólogo Zygmunt Bauman para se referir ao atual ponto de chegada da era moderna: uma sociedade que, à maneira dos líquidos e gases, poderia sofrer uma constante mudança de forma quando submetida a fortes pressões, já que “os fluidos não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente prontos (e propensos) a mudá-la; assim, para eles o que conta é o tempo, mais do que o espaço que lhes toca ocupar; espaço que, afinal, preenchem apenas ‘por um momento’” (BAUMAN, 2001, p.8). 9 Fluidez é a categoria por excelência apresentada por Bauman para se referir ao estágio da presente era moderna e para captar a natureza dessa fase inteiramente nova na história da modernidade: um tempo que vive a implosão de todas as suas formas produzidas. É o tempo da velocidade e do acesso, onde já não existe mais valor em se fixar no solo ou assumir compromissos e laços por longo tempo. Comparando esse novo tempo com o que se foi, Bauman lembra que, se para Rockefeller o valor maior era construir coisas duradouras – fábricas, estradas de ferro e torres de petróleo –, Bill Gates, o representante por excelência dessa nova modernidade, “não sente remorsos quando abandona posses de que se orgulhava ontem; é a velocidade atordoante da circulação, da reciclagem, do envelhecimento, do entulho e da substituição que traz lucro hoje – não a durabilidade e confiabilidade do produto”. (BAUMAN, 2001, p.21). Não é por acaso que, no atual estágio da “modernidade líquida”, o trabalho perca o seu lugar de construtor da ordem e seja apontado como um dos principais responsáveis pelas incertezas que se abatem sobre uma sociedade em processo acelerado de derretimento de seus sólidos: na passagem de um horizonte temporal de longo prazo para um de curto prazo, na flexibilidade do emprego disso decorrente, na quebra das rotinas, o trabalho, agora radicalmente imaterial, é, antes de tudo, o modelo vivo do mundo fluido no qual imergimos. Mas se, de um lado, essa nova ordem traz consigo o sonho da autonomia e do “princípio do prazer” embutidos no discurso do direito de escolha e da auto-realização, sua outra face é a agonia da incerteza e a permanente gestão do risco. A idéia central é a de que “não há mais garantias”. Até mesmo o Estado – que na sua forma de “bem-estar” se nos apresentou como um “Deus de Prótese” - já saiu de cena. Nesse sentido, sem o Estado provedor e sem o trabalho assalariado, gerir a vida pode significar a responsabilidade inteiramente pessoal por inventar formas de sobrevivência nos períodos de “moratória” do emprego contingente e por prover tudo aquilo que uma época já havia nos acostumado a achar que era papel do Estado ou da empresa: salário, seguro saúde, previdência social, benefícios, etc. Nesse sentido, a individualização, agora, passa a significar “uma coisa muito diferente do que significava há cem anos e do que implicava nos primeiros tempos da era moderna – os tempos da exaltada ‘emancipação’ do homem da trama estreita da dependência, da vigilância e da imposição comunitária... A individualização traz para um número sempre crescente de pessoas uma liberdade sem precedentes de experimentar – mas... traz junto a tarefa também sem precedentes de enfrentar as conseqüências”.(BAUMAN, 2000, p.3947). Além da responsabilidade individual pela sobrevivência e dos riscos a isso relacionado, resta ainda uma crise identitária, especialmente para aqueles que estão na geração que vive esse momento de passagem: forjados e educados sob a égide da ordem e da promessa de permanência e, agora, entregues à deriva do tempo desplugado. Com seus 90 anos, Peter Drucker é o exemplo vivo disso quando diz: “Quando eu nasci, não havia opção alguma (...) Em toda história, praticamente ninguém teve a possibilidade de escolher. Acho que até cerca de 1900, mesmo nos países mais desenvolvidos, a maioria esmagadora das pessoas seguia o pai – se tivesse sorte... E agora somos forçados a aprender que nossa tarefa é decidir qual é a nossa opção. E mais: Por quê, qual é a que me serve e onde me situo?...”. (DRUCKER, 1999) Assim, vivemos o momento em que esse novo discurso da carreira emerge, encerrando em si 10 a grande promessa contida na idéia de mobilidade social instaurada pela modernidade; mas, também, trazendo consigo a urgência da desconstrução do “mito da identidade” que também foi tão necessário para que vigorasse, de fato, o projeto moderno da sociedade industrial da ordem. Em outras palavras, o novo discurso da carreira demonstra toda a ambivalência própria à construção do projeto moderno: entre aquilo que existiu apenas imaginariamente, como promessa, e o que vingou, de fato, como realização. A “identidade do trabalho” foi, certamente, algo que vingou na sociedade industrial; daí porque sua diluição, hoje, como fim do trabalho como o conhecíamos, coloca a todos que foram forjados nessa ordem em um “dilema identitário”. Não é por acaso que a nova gestão de carreira se constrói em cima de um novo mito: o “mito de Proteu”. Baseado em HALL (1996), que teria sido o autor do conceito de “carreira proteana”, MARTINS (2001) também foi buscar entender, em sua pesquisa já apresentada anteriormente, se os profissionais brasileiros estariam apresentando um “comportamento proteano”; ou seja, se seriam versáteis, flexíveis, adaptáveis, hábeis em planejar a carreira com base em uma visão de futuro compatível com seus objetivos de vida e se tomariam a decisão de mudar de emprego e redefinir sua carreira caso se dessem conta que esses objetivos não estariam sendo alcançados. Como também já foi dito, Martins concluiu que, no discurso, os profissionais entrevistados já assumiam essas características, mas não seria possível afirmar se elas seriam exercidas na prática. Em um sentido mais amplo, a idéia de um “eu proteu” já se tornou disseminada na literatura que busca compreender qual a nova subjetividade que corresponderia a um tempo fluido como este que vivemos. O psicólogo Robert Jay Lifton sugere o termo “eu proteu” - em uma alusão à figura mitológica de Proteu, uma divindade sideral que, dentre outras habilidades, disponha do dom de adivinhar o futuro e da capacidade de assumir diferentes formas - como uma maneira contemporânea de se pensar o sujeito moderno: um eu maleável, multiforme, camaleônico, disposto a assumir quantas identidades forem necessárias para a sua sobrevivência social. (LIFTON, 1993) Trazido para o contexto da carreira, as comparações com o Mito não terminam por aí: lembremos que, originalmente, “carreira” significava uma estrada para carruagens e que essa noção de estrada persistiu na noção de carreira que perdurou ao longo do século passado, em sua fase de trabalho industrial. Uma idéia profundamente atrelada ao que é sólido: terra, estrada, fixidez, ordem. Agora, a idéia de “carreira proteana” busca um mito que vem das águas: Proteu era um dos velhos do mar, filho de Oceano e Tétis. Nesse sentido, o “mito de Proteu” tem toda uma relação com a construção da “modernidade líquida”de Zygmunt Bauman. E, já que estamos no terreno dos mitos, não é demais lembrar que o mito primordial de toda a mitologia foi “Caos” e que o primeiro mito que veio depois dele, para dar um sentido de ordem, foi Gaia, a Terra. Mas notemos o fato fundamental de que Proteu não é destituído de forma. Ele é, apenas, capaz de mudar de forma. Não é por acaso que Lifton busca o mito de Proteu para repensar o sentido psicológico da identidade na nova reconfiguração social que estamos vivendo. Seu objetivo, como o crítico cultural norte-americano Neal Gabler notou tão bem, consistia em continuar insistindo em um sentido sólido da identidade, ao ver “o eu multiforme não como uma ausência do eu e sim como um testemunho à maleabilidade do eu...”(GABLER, 1999, p. 215). Não é por acaso que o título completo do livro de Robert Lifton é “The protean self: human resilience in na age of fragmentation”. A idéia de resiliência aí contida – um outro conceito central na gestão de pessoas contemporânea – não se dá por acaso: a resiliência, um conceito originário da Física, foi absorvido pela Psicologia a partir dos estudos do psiquiatra Vítor Frankl e repousa na idéia da capacidade de se adaptar aos ambientes mais inóspitos sem que a pessoa “se quebre”, ou seja, sendo flexível o suficiente para se adaptar às circunstâncias 11 sem perder seu núcleo sólido, sua forma original. (FRANKL, 1991) A idéia de um “eu multiforme”, devido à urgência em assumir diferentes formas ou papéis que nos torne “atores mais flexíveis e acabados” numa era em que representar se torna essencial à sobrevivência, pode nos levar a interpretar o “Mito de Proteu” – na atual gestão de carreira – com essa intenção em assumir máscaras, simulacros, formas de representação que leve os profissionais a sobreviverem “na imagem”. Segundo o psicólogo Kenneth Gergen, a nova realidade fluida estaria levando muitos indivíduos a não somente adotar alguns papéis conforme esses surgem, mas também “a exercitar-se para eles, com o auxílio de cursos de extensão universitária, aconselhamento profissional sobre a melhor carreira a seguir e manuais de auto-ajuda...” (GERGEN, 1991; apud GABLER, 1999, p. 216). Existir através da imagem tornou-se, então, o primeiro lema do “Você S/A”. Esse é o contexto do “culto à performance”, que repercute tantos nas organizações quanto nos profissionais. Com relação às repercussões organizacionais, é interessante a referência ao artigo de WOOD JR. (2000), fazendo uso do conceito de “organizações de simbolismo intensivo (OSIs)” como representativo dessa época em que se tornou fundamental “gerenciar a imagem”: uma época na qual empresários e executivos se voltaram para “o lado menos objetivo da gestão empresarial”. “As OSIs podem ser empresas, departamentos de empresas, grupos ou qualquer arranjo humano em que a manipulação simbólica é um elemento central do jogo gerencial. Nas OSIs, líderes e liderados fazem extensivo uso da retórica e metáforas. Agindo dessa forma, eles procuram manipular a fluidez dos símbolos e modificar a textura organizacional. As OSIs são, portanto, arenas teatrais, nas quais muitas peças têm lugar simultaneamente. Mais que isso, as OSIs são cenários cinematográficos, em que o passado e a realidade são continuamente reinterpretados, editados e exibidos”. (WOOD JR., 2000) Quanto aos profissionais, segundo o sociólogo José Garcia Durand, em entrevista concedida a WOOD JR. (2005), sem vínculo empregatício e inseguros de suas competências e de seu futuro, precisam “recorrer a valores e retórica típicos do campo artístico. Quem é criativo, sobrevive; quem não é, fracassa. Todos devem se reinventar a cada momento, como fazem os artistas. Em sociologia, isso se chama ideologia do talento. Quem sabe as revistas de negócios venham a exibir gerentes de orelha cortada, como Van Gogh!”. (WOOD JR., 2005) Onde se aplica, nesse contexto, o discurso da carreira como busca do “sucesso psicológico” através do auto-conhecimento? Aliás, atrelar a categoria de “sucesso” ao “psicológico” já parece, em si, confuso. O que significa o “sucesso psicológico”: sucesso alcançado socialmente – dinheiro e demais símbolos de reconhecimento social ?; ou, de fato, realização pessoal a partir do que cada um deseja? Como conciliar esta busca em um ambiente no qual “não há administrador hoje que não sinta a enorme pressão interna por dar mais de si em ter.mos de aprendizagem, leitura e capacitação e, ao mesmo tempo, não esteja confrontado com o corte de pessoal, com o acirramento das rotinas de trabalho e com a intensificação dos processos de decisão” (MIGUELES, 2003, p. 14). É no interior dessa realidade, ainda tão premente e tão presa do mito do trabalho e da identidade, que o “eu, proteu” ou “eu, sociedade anônima”, reclama seu espaço e carrega a distopia da descartabilidade. Por outro lado, nas transformações em curso que também já 12 fazem parte do nosso tempo, há formas novas da produção social que requerem uma mudança radical de paradigma na forma de concebermos o que é trabalho, e que encerram, de fato, uma maneira também inteiramente nova de pensarmos sobre o que é “carreira”. Essas novas formas trazem consigo a esperança da autonomia. Os dilemas enfrentados na proposta de um curso de “orientação de carreira” na reformulação do CEAG indicam toda a ambivalência vivida nessa passagem e no que resultará dela. NOTAS (1) Refiro-me, especialmente, aos sugestivos títulos da publicação da Editora Abril, a Revista Você S/A; e do livro de William Bridges - “Criando você e cia” – (BRIDGES, 1998). (2) De todo modo, é importante salientar que, mesmo para aqueles que não foram dispensados no novo contexto do trabalho, fica a questão de que, pelo menos psicologicamente, eles também são afetados, “ainda que por enquanto apenas obliquamente. No mundo do desemprego estrutural ninguém pode se sentir verdadeiramente seguro”. (BAUMAN, 2000, p.185). (3) Refiro-me, especialmente, ao livro de HALL (1996) e ao artigo de SCHEIN (1996). Publicados no final da década de 90, dois livros também merecem destaque: REARDON et al.(1999) e GREENHAUS et. al.(1999). (4) “Os colaboradores da empresa fazem parte do seu capital... Seu comportamento, sua aptidão social e emocional têm um peso crescente na avaliação de seu trabalho... Este não será mais calculado pelo número de horas de presença, mas sobre a base dos objetivos atingidos e da qualidade dos resultados. Eles são empreendedores”. (GORZ, 2005, p.17). Grifos meus. (5) Refiro-me às quatro disciplinas básicas que compõem o ciclo de matérias de desenvolvimento de “habilidades pessoais” do CEAG-FGV/SP: comunicação e expressão; negociação e resolução de conflitos; relações interpessoais e equipes de alta performance; e orientação de carreira. Esse e os demais parágrafos sobre a reformulação do CEAG-FGV são parte de uma pesquisa exploratória que realizei visando obter dados concretos que ilustrassem, na prática, o estado em que se encontra essa questão no Brasil. Nessa pesquisa, contatei dois participantes da reformulação geral do CEAG, dois coordenadores diretamente envolvidos na formulação da disciplina “orientação de carreira” e três professores que ministram a disciplina atualmente. Reforço esses dados com matéria publicada no Jornal O Estado de São Paulo no qual o coordenador do CEAG, Fernando Gómez Carmona, “assegura que o diagnóstico que levou a escola a promover as mudanças foi obtido em pesquisas com alunos, professores e empresas...que as transformações têm sido discutidas desde 2001 com profundidade [e que] as habilidades pessoais são muito requeridas pelas empresas, que não querem um gestor somente técnico”. (ESCOLAS, 2004) (6) Conforme programa da disciplina “orientação de carreira”, o qual eu tive acesso. 13 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. ______. O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Trad. Mauro Gama e Cláudia M. Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. BRIDGES, William. Criando você e cia.: aprenda a pensar como o executivo de sua própria carreira. Rio de Janeiro: Campus, 1998. ______. Mudanças nas relações de trabalho: como ser bem-sucedido em um mundo sem empregos. São Paulo: Makron Books, 1995. CHANLAT, Jean-François. Quais carreiras e para qual sociedade (I). In: RAE - Revista de Administração de Empresas-FGV. São Paulo, v.35, n.6, p.67-75 (nov-dez,1995). ______. Quais carreiras e para qual sociedade (II). In: RAE - Revista de Administração de Empresas-FGV. São Paulo, v.36, n.1, p.13-20 (jan-fev-mar,1996). DRUCKER, P. Você está preparado?. Revista Idéias e Pessoas Online. Disponível em: <www.mfn.com.br/ip/conteudo/esta_preparado.htm> Acesso em:17/04/2005. (Trecho da conferência “Redefinindo Lideranças, organizações e comunidades”, de 09/nov/1999 – Fundação Peter Drucker) ESCOLAS de negócios tentam adaptar-se ao mercado. In: Estadão Online. São Paulo . 21/mai/2004. Disponível em: <www.estadao.com.br/educando/noticias/2004/mai/21/75.htm>. Acesso em 21/mai/2004. FRANKL, V. E. Em busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração. 7ª. ed. Petrópolis: Vozes, 1991. FREUD, Sigmund. O Mal-Estar na Civilização. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud (Volume XXI -1927-1931). Trad. Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1974. p.75-171. GABLER, Neal. Vida - O Filme: como o entretenimento conquistou a realidade. Trad. Beth Vieira. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. GORZ, André. O Imaterial: conhecimento, valor e capital. São Paulo: Annablume, 2005. GREENHAUS, Jeffrey H. et al. Career management. Orlando: Harcourt, 1999. HALL, Douglas T. The carrer is dead, long live the career: a relational approach to careers. San Francisco: Jossey-Bass, 1996. KOTTER, John. As novas regras. São Paulo: Makron, 1996. LIFTON, Robert Jay. The protean self: human resilience in an age of fragmentaion. Nova York: Basic Books, 1993. MARTINS, Hélio Tadeu. Gestão de carreiras na era do conhecimento: abordagem 14 conceitual & resultados de pesquisa. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 2001. MIGUELES, Carmen. Pesquisas: por que administradores precisam entender disto? São Leopoldo: Nova Harmonia, 2003. REARDON, Robert C. et al. Career development and planning: a comprehensive approach. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co., 1999. RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos níveis dos empregos e a redução da força global de trabalho. São Paulo: Makron Books, 1995. SCHEIN, Edgard. Career anchors revisited: implications for career development in the 21st century. Academy of Management Executive, 1996. SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: conseqüências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Rio de Janeiro: Editora Record, 1999. THRIFT, Nigel. The rise of soft capitalism. Cultural Values, abr.1997, p.52 WOOD JR., T. Cultura, produção e consumo. In: RAE - Revista de Administração de Empresas/FGV. São Paulo. Vol. 3, N. 4, nov/2004-jan/2005. p. 120-124.(entrevista feita com o sociólogo José Carlos G. Durand) ______. Organizações de simbolismo intensivo. In: RAE - Revista de Administração de Empresas/FGV. São Paulo. V.40, n.1, Jan-Mar./2000, p. 20-28.
Download