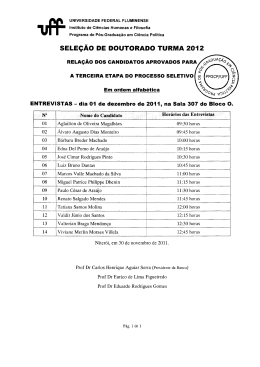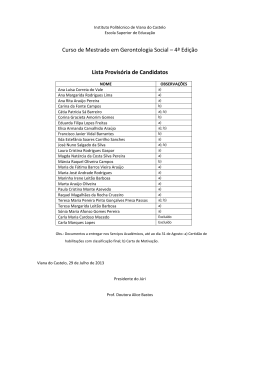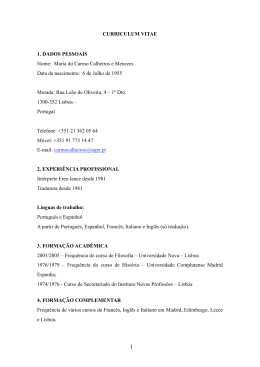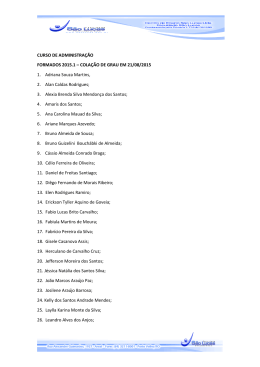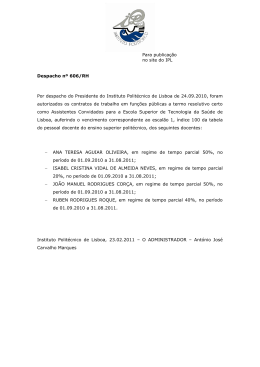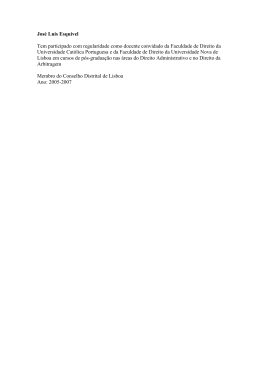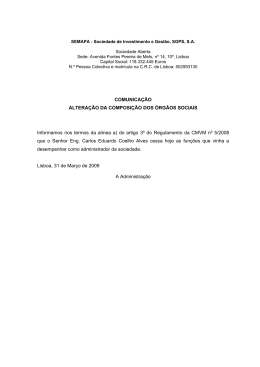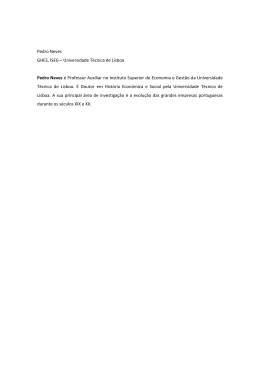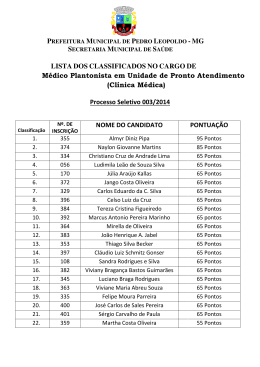2º CENTENÁRIO DAS INVASÕES FRANCESAS A neutralidade portuguesa no conflito franco-inglês Estratégia política e diplomática nas vésperas das invasões Como o título sugere, o essencial deste estudo gira em torno da estabilização de uma neutralidade que nos permitisse um equilíbrio, embora difícil, no conflito europeu, e em cuja obtenção o Governo português muito se empenhara, ainda que para o conseguir houvesse de eliminar as maiores situações de apuro, não poucas vezes revestidas de carácter discriminatório e a arcar com subsídios demasiadamente onerosos. De facto, a época subsequente à Revolução Francesa de 1789 foi para Portugal uma época de instabilidade perigosa, em que a manutenção da neutralidade constituía empresa assaz difícil, levando o Ministério português a trilhar caminhos de subserviência sem limites e a suportar situações provenientes de atitudes nitidamente arbitrárias e humilhantes. De qualquer modo, envolvido o País em situações tão embaraçosas, é relevante a acção processada pelo Governo português no sentido de conseguir um bem difícil equilíbrio na balança europeia a despeito de todos os atraentes convites, como das pressões sofridas. Ecos da Revolução Francesa em Portugal. A Revolução Francesa, que constituiu um dos grandes marcos da História da Humanidade, faz parte de um movimento revolucionário global, atlântico ou ocidental, que começou na América do Norte em 1776, atingiu a Inglaterra, a Irlanda, as Províncias Unidas, os Países Baixos austríacos, a Suiça e culminou na França em 1789. Aqui, em França, adquiriu um carácter mais violento, e veio a exercer grande influência em numerosos países, embora essa influência e acção revolucionária não tivesse sido por toda a parte uniforme. Efectivamente, esboçadas já antes de 1789, as grandes fracturas políticas eclodiram imparavelmente através da Revolução Francesa que, com a propagação da sua mensagem, anunciava a era da Razão e dos direitos individuais, proclamava a Carlos Rodrigues Jaca 1 soberania da Nação, condenava as seculares opressões feudais e exaltava a igualdade. A sua repercussão resultou, sobretudo, do espírito de fraternidade e do universalismo dos primeiros revolucionários. As notícias dos acontecimentos revolucionários que se sucediam em França concentravam a atenção da opinião pública mundial. Nos jornais e outras publicações periódicas do tempo, a Revolução Francesa ocupava o primeiro lugar, acontecendo, que as gazetas perdiam leitores quando não informavam sobre este assunto. A projecção, em Portugal, dos acontecimentos da Revolução Francesa não se processou com base em fundamentos sempre idênticos, revestindo aspectos diferentes consoante as ideologias, variando de opinião ao sabor dos vários interesses e modos de ver, e até com o evoluir da própria Revolução. Assim, numa primeira fase, que correspondeu em França à liquidação do Antigo Regime e à implantação da Monarquia Constitucional (1789-1792), a posição portuguesa foi de expectativa perante os acontecimentos iniciais, sem contudo deixar de transparecer alguma apreensão, levando o Governo a providenciar na defesa do Reino. Foi ideia corrente aceitar-se, e durante muito tempo, que Portugal recebeu com hostilidade os primeiros ecos da Revolução, ideia que não é completamente exacta e que alguns estudos têm contribuído para a sua desmistificação. Obviamente, na impossibilidade de prever o rumo trágico dos acontecimentos, não eram poucos aqueles que viram na grande Revolução uma esperança de renovação política e social sem prejuízo da fidelidade ao rei e às instituições, porquanto não se tratava de derrubar o regime, mas sim de alcançar transformações que «derramassem o benefício das Luzes sobre toda a nação». Carlos Rodrigues Jaca 2 As primeiras notícias dos acontecimentos em França publicadas pela «Gazeta de Lisboa» e pelo «Jornal Enciclopédico» são acolhidas com relativa tolerância. A «Gazeta de Lisboa» informava semanalmente os seus leitores por meio de um largo noticiário proveniente de Paris, Londres, Madrid e outras vias de informação, mostrando o semanário lisboeta a sua simpatia pela agitação em França. Antes da intervenção da censura, a «Gazeta de Lisboa» noticia a convocação dos Estados Gerais, a proclamação da Assembleia Nacional Constituinte, as primeiras medidas tomadas e ainda os motins de rua que acompanham estas alterações. A 17 de Julho noticia-se a tomada da Bastilha, episódio maior da «famosa revolução de Paris». Em Agosto, ao mencionar a sessão em que foi votada a abolição dos privilégios da nobreza e do clero, os direitos feudais, comenta, de modo significativo: «Na sessão que houve na noite de 4 para 5 do corrente se concluiu em duas para três horas o que há dez anos se não ousaria esperar no decurso de dois ou três séculos… magnífica sessão, digna de ser transmitida a todos os séculos e de um bem distinto lugar na história da França e na do espírito humano». O princípio da igualdade de todos perante a lei chegava a Lisboa «com uma forte carga emocional». E mais ainda, quando foi anunciada em França uma Constituição onde ficaria para sempre gravada a «Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão». Para muitos políticos, nobres, burgueses e «filósofos», a monarquia absoluta chegava ao fim, mesmo na sua forma mitigada de «despotismo esclarecido». Algumas das nossas autoridades manifestavam um certo espírito de abertura às primeiras iniciativas da Revolução Francesa. A diplomacia portuguesa contava com a receptividade do ministério a uma política reformista, por isso terá podido evidenciar uma atitude favorável às primeiras reformas e mudanças ocorridas em França. Era o caso de José Seabra da Silva, magistrado e Secretário de Estado do Reino; do Duque de Lafões, grande fidalgo adepto das «Luzes»; Luís Pinto de Sousa, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, mostrava muita curiosidade e um interesse constante pelo desenrolar dos primeiros acontecimentos, elogiando, nomeadamente, a instauração em França de um modelo Carlos Rodrigues Jaca 3 parlamentar que pudesse, em muitos pontos, ter oportuna aplicação no nosso país. D. Vicente de Sousa Coutinho, à época embaixador em Paris, não acreditando logo que se fosse pôr em causa a realeza, manifestava o seu contentamento por muitas das medidas tomadas na Assembleia Nacional Constituinte. Em 18 de Junho de 1789, escrevia que «a França regenerada viria a ser uma das mais formidáveis [nações] da Europa e, recomendava mesmo, que Portugal pudesse adoptar alguns exemplos das suas reformas». É bem possível que outros elementos da «elite» política da época perfilhassem, no início, idêntica opinião. De facto, inicialmente, acreditava-se no nosso país que apenas seriam introduzidas algumas reformas na monarquia francesa, de modo a melhorar a sua funcionalidade, mas sem pôr em causa o essencial e, em especial, a autoridade do monarca. No fundo, era o que muitos dos nossos homens públicos desejavam que acontecesse em Portugal. Daí a razão da referida simpatia inicial. Esta corrente de opinião que animou os espíritos da época evoluiu (ou involuiu), rapidamente, quando a França enveredou pela via do Terror que conduziu à República. O medo da anarquia modificou radicalmente os sentimentos, «a agitação e as propostas e inovações lesivas dos privilegiados despertaram progressiva hostilidade, hostilidade que determinou o silenciar dos entusiastas e pesou na organização da defesa do Reino contra o contágio gaulês». Em Janeiro de 1790, D. Vicente de Sousa Coutinho demonstra um certo desencanto, preocupando-o, em especial, o receio de que a «anarquia» se instale entre o Povo, as suas dúvidas adensam-se e o embaixador português «já não sabia se tal havia sucedido para bem ou para mal daquela monarquia». O seu temor acerca das ideias revolucionárias é manifesto ao revelar que «os amigos da liberdade ou para melhor dizer os inimigos do sossego público, tinham composto em todas as línguas um catecismo desta doutrina e intentavam espalhá-la pela Europa». Com a radicalização da Revolução Francesa, mesmo personagens esclarecidos e reformadores, como era o caso de António de Araújo de Azevedo –, embaixador na Haia, S. Petersburgo, e mais tarde Secretário dos Negócios Estrangeiros e Guerra, que inicialmente haviam demonstrado alguma simpatia pelo processo, passam-se para o campo ideológico anti – revolucionário, ainda que numa perspectiva Carlos Rodrigues Jaca 4 de moderação. Com efeito, alguns meses bastaram para eles tomarem consciência de que os acontecimentos não evoluíam no sentido de uma monarquia reformada, mas sim num sentido bastante mais subversivo e incontrolável. O já referido ilustre diplomata e homem de Estado, Araújo de Azevedo, que esteve em Paris entre Março e Agosto de 1790, como observador, conhecendo pessoas como Montmorin, Necker, Lavoisier o abade Delille, Bailly e Marmontel, e assistiu a algumas sessões da Assembleia Nacional, alerta o Gabinete lisbonense da repugnância que sente pela anarquia e por aquilo a que chama os «excessos da democracia». Pina Manique. Acção repressiva das ideias revolucionárias. Quando se recorda Pina Manique e a sua acção repressiva sobre as novas ideias, impõe situar esses factos entre a década de 90 e 1804, numa política orientada a salvar o trono e a não pôr em perigo as instituições, embora já antes as autoridades portuguesas tivessem começado a tomar consciência de que não estavam perante simples reformas da monarquia francesa, mas sim perante uma subversão das suas estruturas. É, precisamente, essa tomada de consciência que as levará para o campo da oposição declarada à Revolução, sendo pois «a radicalização do processo revolucionário francês, associada ao temor que se instala entre os grupos dirigentes portugueses pela propagação dos princípios revolucionários, que vai conduzir à posição contra – revolucionária, tornada predominante entre a “elite” portuguesa». A ofensiva contra – revolucionária foi a tarefa do Intendente – Geral da Polícia, Diogo Inácio de Pina Manique. A repressão que desenvolveu contra tudo o que lhe “cheirasse” a ideias revolucionárias valeu-lhe a reputação de «reaccionário» temível e omnipotente, como, nomeadamente, o descreve Joseph Carrère, viajante que passou algum tempo em Lisboa entre 1795 – 1798: «o nome de Pina Manique infunde um terror generalizado, porque exerce o despotismo mais revoltante». Carlos Rodrigues Jaca 5 A «Gazeta de Lisboa» e o «Jornal Enciclopédico», publicações que procuravam dar a conhecer os acontecimentos da Revolução de uma forma calorosa e nem sempre isentos de uma certa e «bem intencionada» adesão aos ideais revolucionários, pelo menos no primeiro período, foram silenciadas no que dizia respeito ao noticiário de França; a «Gazeta de Lisboa» a partir de 5 de Setembro de 1789 e o «Jornal Enciclopédico» que, igualmente, «inseria correspondências atinentes à França convulsa, antecede-a no silenciar da revolução». O Intendente – Geral visava, fundamentalmente, os suspeitos nos meios «afrancesados», considerados como focos de propaganda, exercendo contra eles uma larga e pertinaz perseguição, sobretudo acicatado pelo conde de Chalon, embaixador de Luiz XVI, que inteiramente dedicado à contra – revolução, denunciava as tendências jacobinas dos seus compatriotas. De facto, o núcleo francês era muito importante, principalmente em Lisboa. Alguns deram forte implantação às actividades maçónicas no nosso país participando, directa ou indirectamente, na propagação da Revolução Francesa. A polícia verificava com frequência que, tanto franceses como portugueses, cantavam estribilhos revolucionários ou exaltavam a liberdade e proferiam expressões contrárias à religião e à soberania do Príncipe Regente, futuro D. João VI. Também acontecia, uma vez ou outra, serem vistos nas ruas de Lisboa os «cocares ou laços tricolores», símbolo da Revolução, havendo igualmente quem propagandeasse os acontecimentos de França em folhas, prosa e verso, algumas até de origem estrangeira depois traduzidas, como foi ocaso do «Credo da República Lombarda» e o «Catalão Republicano»; quanto a produção nacional refira-se o chamado «Pasquim da Porta Férrea» divulgado em Coimbra e a «Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão», atribuída a Coelho da Silva. A propaganda ao serviço do processo revolucionário recorria a leques decorados, caricaturas, ao envio pelo correio de cartas anónimas e à afixação de comunicados em lugares considerados estratégicos a fim de dar a conhecer aos portugueses o ideário da Revolução. Tudo o que dizia respeito à França tornava-se suspeito e, por isso, os próprios emigrantes, que tinham abandonado o seu país para escapar às perseguições, e por vezes à morte, tornaram-se objecto de estreita vigilância. Pina Manique, convicto do perigo da maçonaria, tratou de impedir a fundação de lojas por parte dos maçons franceses da Grande Loge de France e do Grand Orient. No Carlos Rodrigues Jaca 6 entanto, em Portugal, por volta de 1778, havia lojas perfeitas, ou simplesmente maçons desgarrados, em vários pontos do país, como Lisboa, Porto, Coimbra, Valença e Funchal, recrutando-se os seus elementos, sobretudo, entre a oficialidade do exército e da marinha, o professorado, o comércio e a indústria, a burocracia civil e eclesiástica. Assim, ante a subversão revolucionária soprada de França, acende-se a perseguição à «pedreirada», cujo volume ia aumentando e inquietando os defensores da ordem estabelecida. A repressão alarga-se com a proclamação da República e a implantação do governo terrorista da Convenção montanhesa. Pina Manique olha cada vez com mais desconfiança os residentes franceses em Portugal… «os seus cuidados levam-no a temer os criados e preceptores de além Pirinéus, a espiar os franceses de Lisboa, a vigiar o trânsito fronteiriço, a controlar a correspondência dos cidadãos da nova república e as suas operações comerciais. Perante o ministério, anota as contravenções na venda de obras proibidas por livreiros gauleses, acusa o recebimento de notícias e papéis destinados a indivíduos da mesma nacionalidade, dá conta das suas confabulações em público sempre que elas implicam simpatia pelos homens de Paris, e não se esquece de investigar quer as denúncias que lhe fazem chegar, quer os movimentos e as acções de reais ou hipotéticos espiões, emissários e propagandistas franceses chegados a Lisboa». Na sua febre de perseguição, Pina Manique lançava mão de todos os meios, sendo frequentes o apresamento de navios franceses, o impedimento de desembarque de soldados republicanos, constantes as rusgas dentro e fora da alfândega em busca de livros proibidos e o encarceramento ou expulsão de vários franceses residentes em Lisboa. Neste caso, os exemplos de maior repercussão foram os do tesoureiro da feitoria francesa em Lisboa, do pintor Noël, De D´Ortiquigni, acusado de ligação a uma loja maçónica na Madeira, de Dupethouars, capitão do barco “Le Diligent”, e do «cidadão Darbault», enviado pela Convenção, em 1793, para secretário da legação francesa em Lisboa. No entanto, alguns emigrados, essencialmente oriundos da nobreza, ao chegar a Portugal dispuseram-se a colaborar com as autoridades do Reino, como foi o caso do marquês de La Rozière que, depois de ter abandonado a França, em 1791, entrou para o exército português e veio a ser, posteriormente, inspector geral das fronteiras. Igualmente, o conde Jean – Victor de Novion foi adido do exército e depois tornou-se Carlos Rodrigues Jaca 7 comandante da Guarda Real da Polícia de Lisboa. Obviamente, tratava-se de situações excepcionais. No Verão de 1793, um observador francês, não identificado, denunciava que certos imigrados eram bem acolhidos e pagos pelo Governo português, chegando alguns a exercer actividades de espionagem. Quanto aos portugueses que se atreviam a pensar independentemente da “cartilha” oficial, prendeu, perseguiu e castigou, ao menor sinal de inconformismo e firmeza de convicções. Escritores, poetas, sábios e artistas exilaram-se, deixando o país cada vez mais pobre de valores culturais e humanos. Para exemplo, basta citar Francisco Manuel do Nascimento, o célebre Filinto Elysio, e o botânico Félix de Avelar Brotero, que tiveram de se expatriar para poderem livremente expandir os seus pensamentos. Diogo Inácio de Pina Manique veio a desaparecer da cena política portuguesa quando em 1804, ano que antecedeu a sua morte, foi demitido a fim de se dar saída a uma exigência de Napoleão Bonaparte. A seu tempo, ver-se-á a causa e o decreto da sua demissão. Regência de D. João. Política externa. A Campanha do Rossilhão. No princípio de 1792 agravou-se o estado de saúde da Rainha, de tal modo que, a 10 de Fevereiro, os médicos publicaram um boletim a confirmar que a soberana não podia ocupar-se mais dos negócios do Estado. «Sob fortes pressões anos e anos, desde tenra idade sujeita a escrúpulos, dada à melancolia, com propensão para as afectações nervosas, a sua robustez física entrou num processo de degenerescência mental que a conduziu à insânia e mesmo ao frenesim, apesar da grande mansidão do seu génio, da sua imaginação perspicaz e dos seus hábitos sempre propensos à espiritualidade». A Rainha D. Maria I fora atingida por desgostos profundos que lhe abalaram o espírito: a morte da mãe, D. Mariana Vitória, em 1781, o marido, D. Pedro III quatro anos depois, perda do seu confessor, o arcebispo de Tessalónica, o falecimento prematuro do Príncipe D. José, herdeiro do trono e, finalmente, a marcha da revolução em França, foram acontecimentos que perturbaram o espírito da Rainha por tal forma que, manifestando-se claramente a loucura, teve de abandonar o governo da nação. Carlos Rodrigues Jaca 8 Assim, de 1791 a 1799, teve D. João de dirigir os negócios públicos no clima de tensão política e militar que envolvia a Europa, cabendo-lhe organizar a participação de Portugal na Guerra do Rossilhão e, a partir de 1798, enfrentar as imposições francesas para que o nosso país abandonasse a aliança com a Inglaterra e optasse pelas vantagens da política continental de Napoleão. A notícia dos acontecimentos ocorridos em França durante o ano de 1792, como a insurreição parisiense de Agosto, que prenunciara a abolição da realeza naquele país, o regime de Terror que se segue à deposição do rei e ao fim da Assembleia Legislativa, os massacres de Setembro e o encarceramento de Luís XVI e Maria Antonieta na prisão do Templo, reflectiram-se em toda a Europa, obrigando os governos a tomar medidas com vista à defesa dos seus interesses imediatos. Perante o que se estava a desenrolar, os diferentes governos agitam-se, não pensando noutra ideia que não fosse a de uma coligação geral contra a França revolucionária. Sob a direcção da Inglaterra, em cuja órbita Portugal vai girar mais do que nunca, iria começar a mobilização de poderosos meios para conjurar o perigo, antes que fosse tarde. De início a atitude de Portugal neste conflito, que veio a envolver toda a Europa, foi manter-se numa posição de neutralidade mas, em breve, perante a ameaça que sobre nós pendia, fomos mudando de política. Em finais de 1792, a neutralidade peninsular, mantida com manifestas precauções defensivas no plano ideológico e militar, tornara-se insustentável. Aconteceu que, nos fins de 1792, a luta entre girondinos e montanheses, dando origem ao segundo Terror, conduziu ao processo de Luís XVI, acusado de traidor à pátria por pactuar com as cortes estrangeiras, pelo que a Convenção o condenou à guilhotina em 21 de Janeiro de 1793. Este acto de violência que impressionou e aterrou toda a Europa, determinou em Portugal um luto rigoroso de 15 dias, ao mesmo tempo que a Espanha e a Inglaterra começaram a preparar-se activamente para entrar na guerra. Carlos Rodrigues Jaca 9 Sendo as relações exteriores que preocupavam agora os diversos governos, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Luís Pinto de Sousa, propõe à Espanha uma tríplice aliança contra a Convenção Nacional Francesa, a Assembleia que saiu da insurreição de 10 de Agosto e devia estabelecer a nova forma de governo. A aliança seria do nosso interesse, pois nos garantiria a protecção marítima da Inglaterra no Brasil e, da parte da Espanha, a cobertura da fronteira terrestre, só que… da parte destas nações houve reticências à nossa participação. No entanto, a Inglaterra sempre ia recomendando para cá que «aprontem alguns navios de guerra, para o caso de ser necessário assegurar a neutralidade». A Convenção, a par dos entendimentos entre ingleses e espanhóis, (a capital do reino passou a ser também uma notável placa giratória da espionagem revolucionária e contra – revolucionária) resolveu mandar a Lisboa, em Março de 1793, um enviado, Antoine Darbault, para estabelecer relações diplomáticas e obter a confirmação da neutralidade portuguesa, importante para a França porque ela lhe manteria aberto o porto de Lisboa e facilitaria o comércio com o Brasil. Porém, o ministro Luís Pinto, que o recebe, não lhe aceita as credenciais e o Gabinete português persiste na recusa de reconhecer o governo francês, sem deixar de asseverar ao emissário que socorreria os seus aliados. Perante a insistência do emissário, o Intendente da Polícia, Pina Manique, recebe ordens terminantes para o expulsar do país. Entretanto, o duque de Alcudia, o famoso Manuel Godoy, ministro do rei de Espanha, Carlos IV, e favorito da Rainha, concertara, em 25 de Maio de 1793, em Aranjuez, com Milorde Santa Helena, representante britânico, uma acção conjunta numa intervenção contra a França, sem comunicar coisa alguma ao Governo português, de modo que Portugal não figurasse num acto comum e «entrasse depois disso no concerto a título de acessão». Nestas condições, figurando como «potência acedente e passiva», o Príncipe D. João não estava resolvido a entrar no ajuste. Ao fim e ao cabo, após várias negociações, Portugal entrou na aliança, não como potência acedente, firmando em separado tratados de mútuo auxílio e recíproca protecção, com a Espanha a 15 de Julho e com a Inglaterra a 26 de Setembro. Carlos Rodrigues Jaca 10 Como represália, a Convenção autorizou o corso contra os navios portugueses. Temendo-se, em Lisboa, que essas represálias francesas atingissem o Brasil, o nosso governo pediu ao Gabinete londrino que cedesse alguns barcos, para que, juntamente com barcos portugueses, vigiassem aquela costa e a de Portugal, pedido a que os ingleses não atenderam, mostrando o desejo de aproveitar os nossos barcos de guerra onde melhor entendesse, apesar do tratado acabado de firmar. O desenrolar dos acontecimentos em França, o terror da Convenção e, sobretudo, a execução de Luís XVI e de Maria Antonieta, dá origem à primeira grande coligação constituída pela Inglaterra, Nápoles, Rússia, Portugal, Espanha, Prússia e Áustria, tendo já estes dois últimos países iniciado a guerra contra a nova República. Portugal, para quem a sua neutralidade seria ideal, viu-se envolvido na guerra, pela sua posição de nação aliada da Inglaterra, alinhando ao lado da Espanha. Em meados de Setembro de 1793, seis mil portugueses, comandados pelo escocês Marechal Forbes Skellater, partiram em direcção à Catalunha, desembarcando no porto de Rosas, indo juntar-se ao exército espanhol, que combatia no Rossilhão, ao sul de França, contra os franceses. Os nossos soldados tomaram parte em todas as batalhas que ali se travaram, dando grandes provas do seu valor, apesar das inúmeras privações que tiveram de suportar. De facto, foram jornadas de sacrifício, pois, tanto o Governo português como o espanhol, tinham posto milhares de homens em combate sem que lhes pudessem assegurar as necessidades mais indispensáveis. A desorganização espanhola na administração militar era desoladora, faltavam alimentos, faltava água, faltavam hospitais, enquanto a Convenção com a célebre declaração da «pátria em perigo», fizera o milagre de pôr em campanha forças aguerridas e numerosas. Apesar das enormes dificuldades o exército português, logo à sua chegada, prestou grandes serviços, auxiliando com bravura a derrota que os franceses sofreram em Cérer e, pouco depois, era também tomado Villelongue onde se distinguiu o segundo Regimento do Porto. Foram-se alcançando, assim, algumas vitórias, ainda que o estado, tanto das nossas tropas, como das espanholas, fosse miserável, devido ao abandono em que eram votadas pelo governo de Madrid. Mas a sorte das armas em breve mudaria. Em Abril de 1794 a situação das tropas francesas tinha melhorado, conseguindo algumas vitórias e acentuando o Carlos Rodrigues Jaca 11 movimento de avanço. O Marechal Forbes ainda propôs um ataque desesperado a uma posição dos franceses, mas o conselho de oficiais rejeitou a proposta e resolveu iniciar a retirada. Esta fez-se precipitadamente, sem ordem, os soldados estavam desmoralizados, deixando as armas e as mochilas pelos caminhos. Em Novembro de 1794, os franceses vibraram o golpe fatal na batalha da Montanha Negra. A Campanha estava liquidada. No ano seguinte, depois do malogro da ofensiva militar do Rossilhão, a Espanha negoceia bilateralmente com a França os preliminares da Paz de Santo Ildefonso, ratificada pelo Tratado de Basileia, em Junho de 1795. Tal foi o sigilo posto no ajuste da paz que, durante alguns dias, se continuou combatendo. O Tratado de Basileia, negociado sem conhecimento do Governo português, deixando-nos em estado de guerra com a França e sujeito, portanto, a todas as agressões, «era quanto a Espanha nos oferecia como paga dos serviços que lhe tinham prestado no Rossilhão e na Catalunha». Recompensado foi o ministro de Carlos IV, D. Manuel Godoy, “protegido” da Rainha D. Maria Luísa, a quem foi atribuído o título de «Príncipe da Paz». Acção diplomática. A luta pela neutralidade. Da campanha do Rossilhão não retirou Portugal quaisquer benefícios de ordem política. A posição portuguesa era melindrosa, pois via-se em guerra com a França sem qualquer apoio terrestre, sendo urgente a paz, só que… a Inglaterra não desejava que tal se concluísse em termos que pudessem prejudicar os seus interesses. Impedidos de fazer a paz, e muito menos a guerra, o Governo português iniciou uma batalha diplomática que se iria prolongar por muitos anos e cujo objectivo consistia em manter uma paz simultânea com as potências em litígio: Inglaterra, França e Espanha. Sem dúvida que, com o fim da Campanha do Rossilhão, começava um grande calvário para a política externa portuguesa. Os ingleses pretendiam que os ajudássemos nas operações navais e lhes mantivéssemos todos os privilégios de comércio e navegação, enquanto os franceses, aliados aos espanhóis, exigiam que puséssemos termo às vantagens concedidas à Inglaterra, a fim de nos reconhecerem o direito a viver em paz. No Tratado de Basileia, de cujas negociações nunca o nosso embaixador em Madrid soubera parte, a França aceitava o rei de Espanha como medianeiro para os Carlos Rodrigues Jaca 12 negócios de Portugal, como estava expresso no artigo 15º do referido Tratado: «A República Francesa, querendo dar um testemunho de amizade a S. M. Católica, aceita a sua mediação em favor da Rainha de Portugal, dos reis de Nápoles e da Sardenha, do infante Duque de Parma e dos demais Estados da Itália, para que se restabeleça a paz entre a República e cada um daqueles príncipes e Estados». Além das cláusulas conhecidas, chegaram à Corte de Lisboa notícias de uma combinação secreta entre a França e a Espanha para a conquista de Portugal a título de indemnização pelos territórios cedidos aos franceses além dos Pirinéus, ou caso o nosso país não se desligasse da Inglaterra. Efectivamente, começava a pressentir-se em Lisboa que a Espanha, apesar de se dar como mediadora nas negociações entre Portugal e a República Francesa, se preparava para nos fazer a guerra de acordo com a França. Negava-nos os socorros, recebia nos seus portos as presas que os franceses nos faziam e dava abrigo aos corsários republicanos que saíam dos portos da Galiza e iam assaltar os nossos navios de comércio. A Inglaterra continuava a não fazer caso das nossas reclamações. Quer dizer, a Espanha burlava-nos constantemente e a Inglaterra considerava-nos descaradamente como uma colónia, ou antes como uma «potência vassala». Perante esta situação, a grande prioridade consistia em procurar desbloquear a política externa. De início, o Governo de Lisboa recorreu a uma argumentação sem qualquer consistência: Portugal não se sentiria obrigado a fazer a paz com a França porque – dizia – nunca tinha saído da posição da mais estrita neutralidade. Apesar de ter enviado uma divisão expedicionária para o Rossilhão, apesar de ter participado com a sua esquadra, conjuntamente com a Inglaterra, pretendia ser considerado pela França como potência neutral, alegando que não fizera senão cumprir as obrigações que os tratados lhe impunham, e que procedera simplesmente como potência auxiliar e não como potência beligerante. Ora bem. Fosse em consequência de tratados antigos, com declaração de guerra ou sem declaração de guerra, a partir do momento que as nossas tropas se juntaram às forças espanholas para hostilizar a França, declarávamo-nos em guerra com esta nação; desde o momento que os nossos navios se aliaram para o mesmo fim aos ingleses, o estado de Carlos Rodrigues Jaca 13 guerra acentuava-se mais e expunha-nos às represálias dos franceses. Isto é claro e lógico. E mais, ainda que por absurdo se admitisse esta argumentação, virava-se contra nós outro facto – o da recusa que tínhamos feito de receber o enviado francês, Darbault, como já foi referido, para estabelecer relações diplomáticas e que acabou por ser expulso de Portugal. Obviamente, a posição portuguesa não foi aceite, a França exigia um pedido formal de paz para impor severas condições. O próprio Governo de Madrid, representado por Godoy, o «Príncipe da Paz», adiantava que a França «não entrava seguramente em negociação alguma com Portugal, a não ser a da paz propriamente dita, por olhar este reino em manifesto estado de guerra contra si; que todavia não se recusaria a prestar os seus bons ofícios para que a França reconhecesse efectivamente a neutralidade de Portugal». Esta boa vontade e desejos conciliadores do duque de Alcudia não passava de astúcia e fingimento. Acrescente-se que existia um forte grau de parentesco entre as duas famílias: em 1785, o Infante português, D. João, casara com a Infanta espanhola D. Carlota Joaquina, filha dos reis de Espanha, Carlos IV e D. Maria Luísa. Igualmente, o Infante de Espanha, D. Gabriel, veio a casar com a Infanta portuguesa D. Maria Vitória. Porém, não foram poucas as situações em que Portugal foi traído e prejudicado pela perfídia do ministro Godoy, que era amante da rainha e o rei espanhol tratava por «caro Manuel». A duplicidade do ministro espanhol chegou ao ponto (para melhor dissimular os seus projectos de conquista) de planear uma entrevista entre as duas famílias reais, para provar a sinceridade da Espanha, querendo mostrar assim a amizade entre as duas Cortes peninsulares, que de facto não existia. O nosso ministro, Luís Pinto, entusiasmado, “mordeu a isca”, julgando que dessa entrevista sairia alguma resolução favorável aos interesses de Portugal. No dia 22 de Janeiro de 1796, realizou-se o encontro entre as duas famílias reais em Elvas e Badajós, havendo troca de banquetes, de visitas, de brindes, mas a situação política não teve a mínima alteração. Pouco depois, já em Espanha, activadas as negociações da paz entre Portugal e a França com a mediação de D. Manuel Godoy, o nosso ministro dos Estrangeiros pretendia convencer o representante francês em Madrid, general Perignon, a acreditar na peregrina e teimosa ideia de que o nosso País não era beligerante, «não obstante as Carlos Rodrigues Jaca 14 obrigações das suas alianças». O general Perignon, naturalmente, não “embarcou” no sofisma, admitindo, no entanto, a assinar a paz nas seguintes condições: «1ª – Retrocessão de todas as terras e ilhas ao norte do curso do Amazonas, que então por diante serviria de limite entre a Guiana francesa e o Brasil, desde o rio Negro até ao Amazonas; 2ª – Livre navegação do mesmo Amazonas para os Portugueses, Espanhóis e Franceses que ocupassem as suas margens; 3ª – Indemnização de 25 milhões de francos em dinheiro de contado; 4ª – Admissão dos navios franceses nos portos de Portugal e seus domínios, no mesmo pé em que neles se admitiam os da nação mais favorecida, tendo as mesmas vantagens de que a Inglaterra gozava pelo tratado de Methwen». Estas condições eram completamente inaceitáveis, provando que a mediação do «Príncipe da Paz» de nada servia. E mais, a sua deslealdade tornou-se bem notória quando propôs ao Governo português que entrasse numa aliança que se projectava entre a França e a Espanha contra a Inglaterra. Era o caso do Tratado de Santo Ildefonso, assinado em 18 de Agosto de 1796, entre a Espanha e a França, tratado de aliança ofensiva e defensiva que em consequência do seu artigo 18º rompeu as hostilidades entre a Inglaterra e a Espanha e veio agravar as dificuldades, pois a existência de alguns artigos secretos, de que nunca suspeitaram os enviados portugueses, tinha por fim fazer romper a aliança anglo-lusa. A situação em que Portugal se envolvera era altamente crítica e de alto risco. Se entrava na aliança que lhe ofereciam, estava em guerra com a Inglaterra, e o primeiro resultado dessa luta era, sem dúvida, a perda das colónias; não aderindo à aliança era iminente uma guerra contra a França e a Espanha, cujo resultado seria, certamente, a invasão do País por um exército fanco-espanhol. Negociações com o Directório. O Tratado de 10 de Agosto de 1797. Nestas condições, Portugal, mudando de política, resolve negociar directamente com o Directório executivo da República Francesa e, com esse fim, vai enviar para Paris um agente especial, supondo-se que seria bem sucedido na sua missão. Para o desempenho das funções de negociador pareceu ser o mais indicado o ministro português em Haia, António de Araújo de Azevedo, (que a Inglaterra tinha acusado de partidário da França, acusação que a Espanha lhe fizera igualmente) Carlos Rodrigues Jaca 15 expedindo-se, em 6 de Junho de 1796 para a capital holandesa os respectivos plenos poderes. António de Araújo de Azevedo era um belíssimo diplomata, experiente e sempre excelentemente informado, servido por uma inteligência penetrante e esclarecida, ligando-se aos assuntos franceses e espanhóis logo que chegou à capital francesa. Já anteriormente à assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, haviam sido empreendidas algumas negociações de paz. Porém, agora a situação do País era tão melindrosa que obrigava o Governo a tratar prementemente dela – conseguir que o Directório executivo abandonasse as suas exigências territoriais e não insistisse no fecho dos portos aos navios ingleses. As primeiras negociações tiveram lugar durante o Inverno de 1796-97 em Paris e Madrid simultaneamente. A 12 de Outubro de 1796, o diplomata inicia as negociações de um tratado com a França, apresentando um contra-projecto de paz, resumindo as últimas concessões que Portugal podia fazer e a que acrescentava um artigo secreto, pelo qual nos obrigávamos a pagar à França uma indemnização de dois ou três milhões de cruzados. Apesar dos esforços de Araújo de Azevedo e dos gastos que o nosso Governo fez para conciliar a boa vontade de alguns membros do Directório, muito receptivos à corrupção, o executivo francês não concordou nas condições apresentadas. Ao insistir na cessão do território do Brasil ao norte do rio Amazonas, o nosso representante declarou não estar autorizado para isso, nem julgar dever pedir novas instruções para Lisboa, pela certeza que tinha de se não poder concordar com semelhante exigência. Sendo, portanto, um facto que a negociação da paz tomara um carácter interminável, o Directório fez saber ao nosso embaixador que Portugal só tinha dois caminhos a seguir: ou dar por nula a sua aliança com a Inglaterra e só assim a França não nos declararia guerra, ou o nosso País entrava, francamente, com os espanhóis e franceses numa aliança contra a Grã-Bretanha, tanto mais que o Gabinete espanhol e o ministro da França em Madrid, já haviam assinado uma convenção secreta, pela qual combinavam a conquista de Portugal, ao mesmo tempo que, a 26 de Abril de 1797, Araújo de Azevedo foi intimado a sair de Paris no prazo de vinte e quatro horas. Logo que a Grã-Bretanha tomou conhecimento dos preliminares da paz entre a Áustria e a França, tratou de demonstrar ao Directório executivo o desejo que tinha de facilitar, por todos os meios possíveis, a conclusão de uma paz que acabasse na Europa Carlos Rodrigues Jaca 16 com as calamidades da guerra. Nestas condições, a Corte de Lisboa, com toda a razão, julgou conveniente mandar de novo para Paris o seu antigo plenipotenciário António de Araújo de Azevedo. Ao mesmo tempo que o Directório tratava com o nosso representante, o mesmo Directório negociava em Lille com os ingleses tendo como objectivo fundamental afastar Portugal da aliança inglesa, pretendendo, assim, concluir com o nosso País uma paz em separado. Aliás, de Lisboa, recomendava-se que «o interesse de Portugal é fazer a paz por todos os meios possíveis, ainda que com a separação da Inglaterra, e portanto quando assim haja de acontecer, contra o que esta Corte quer e deseja, Vª Ex.ª não perderá um instante de tempo em propor aos comissários franceses uma paz particular com esta coroa, debaixo da imediação da Corte de Espanha, a qual V.ª Ex.ª reclamará como aceita, e proporá desde logo não só todas as condições já oferecidas, mas a soma de quatro milhões todos em espécie …». António de Araújo de Azevedo conhecia a fundo os homens e as coisas de França, e bem sabia que era a corrupção a melhor de todas as diplomacias com a corrupta sociedade política do Directório. M. de Talleyrand, (diplomata francês, Bispo de Autun no antigo regime, Presidente da Assembleia Nacional, Ministro das Relações Exteriores do Directório e, pouco depois, do Consulado e do Império, tinha simpatia por Portugal e era amigo de António de Araújo), parecia ao plenipotenciário português mais vulnerável para se deixar seduzir do que o seu anterior antecessor, Mr. Delacroix. Nesta enviatura fundava Araújo de Azevedo grandes esperanças, segundo a sua política, tendo por sistema defender Portugal das agressões da França pela corrupção, persuadido como estava de que o meio mais simples, fácil e seguro de obter a paz com esta potência era despender alguns milhões de cruzados, que a navegação e comércio restituiriam depois ao País. Vejamos o que a este propósito nos diz António de Araújo de Azevedo em ofício enviado para Lisboa, datado de 25 de Junho: «Para comprar os membros do Directório e outros indivíduos que cercam o governo, a fim de impedir a coalizão (acordo) com a Espanha, demorar a ruptura desta Carlos Rodrigues Jaca 17 potência e adiantar a nossa negociação, fiz despesa de que ainda não posso dar contas…Em Paris não se dá passo algum sem dinheiro, e é preciso destinar três ou quatro milhões de libras para comprar os directores, ainda que a saída de Letourneur, que era um dos corruptíveis, diminuiu aquela despesa. O secretário do Directório e o ministro das relações exteriores são igualmente corruptíveis, e Barras vende-se a quem mais dá. O príncipe de Pignatelli teve logo à sua disposição 22.000 luizes para vencer a paz, porque era empenho da Corte de Nápoles; empregou quatro milhões em corrupção, porque sem ela os que não podem fazer bem fazem mal». Sem dúvida que Araújo de Azevedo empregou, de novo, esses meios de que já se servira, o suborno e a corrupção, empenhando-se desta vez com a maior diligência para conseguir a paz de que Portugal tanto carecia. As despesas secretas que fez para esse fim corresponderam a um milhão cento e sessenta mil libras tornesas, mas conseguiu, enfim, assinar um tratado que era o mais favorável que Portugal podia alcançar nas difíceis condições em que se encontrava. Algumas concessões de parte a parte levaram a um entendimento que terminou pela assinara do Tratado de 10 de Agosto de 1797, considerado vantajoso para Portugal. Luís Pinto de Sousa em ofício de 11 de Setembro do mesmo ano dizia a D. João de Melo e Castro, embaixador em Londres, que o Tratado havia sido «abraçado por toda a Nação com o maior alvoroço». Entre as principais cláusulas do Tratado, Portugal obrigava-se a pagar uma indemnização de dez milhões de libras tornesas; a respeito dos territórios na América não seria o Amazonas a fronteira, como até aí a França queria, mas que nos sertões ao norte do grande rio se traçaria uma linha divisória, reconhecendo o Governo francês os direitos de Portugal à posse dos territórios da margem setentrional do Amazonas que ficassem ao sul dessa linha; conseguiu António de Araújo também que fosse recíproca a neutralidade e que a França não insistisse na admissão dos seus lanifícios, para não prejudicar os interesses ingleses, sem que fossem proibidos do mercado francês os nossos vinhos. Havia, porém, no Tratado dois artigos, o 4º e o 5º, que viriam a provocar a cólera e o ressentimento da Inglaterra. O artigo 4º estipulava que Portugal, sem romper a sua aliança com a GrãBretanha, não a auxiliasse na guerra contra a França, nem com tropas, nem com dinheiro, nem com mantimentos para as suas esquadras; o artigo 5º dizia que nos portos Carlos Rodrigues Jaca 18 da nossa costa não podiam estar mais de seis navios de guerra de cada uma das nações beligerantes. Oposição da Inglaterra à ratificação do Tratado. Araújo de Azevedo na prisão do Templo. Logo que a conclusão deste Tratado chegou ao conhecimento do ministério inglês, Lord Grenville irrompeu em violentas recriminações contra o Governo português, acusando-o de quebrar todos os tratados que o obrigavam a auxiliar a Inglaterra. Luís Pinto de Sousa, nosso ministro dos Estrangeiros, apressou-se a comunicar para Londres desautorizando António de Araújo, dizendo que este exorbitara das suas funções e participando que os artigos contrários à ajuda na guerra e ao livre acesso dos portos não seriam ratificados, o que fez com que o Gabinete inglês se desfizesse em protestos de amizade, estima e consideração ao nosso Governo. Lord Grenville afirmava que S. M. Britânica «se achava empenhado, não só a procurar uma paz a Portugal, sem que ela lhe custasse o menor sacrifício, mas também, no caso de um rompimento inevitável, a assistir à monarquia portuguesa com todos os socorros que estivessem na sua real possibilidade». O Tratado de 10 de Agosto de 1797 devia ser ratificado no prazo de dois meses e, como o Directório não aceitou a ratificação parcial do Governo português, e o dia 10 de Outubro passou sem vir a ratificação completa, no dia 26 o Directório declarou rotas as negociações, e ordenou a António da Araújo que saísse imediatamente de Paris. O nosso ministro conseguiu, graças à sua amizade com Talleyrand, que lhe dessem ainda um mês de espera, a fim de mandar um correio a Lisboa a pedir o Tratado sem restrições. Em situação extremamente difícil, António de Araújo oficiou para Lisboa, pedindo que o Tratado se ratificasse sem cláusula alguma pela nossa parte, sob pena de se expor o País a uma invasão dos exércitos franceses. E dizia mais: «A Inglaterra não tem pela sua parte motivo algum justo para nos ter como inimigos, porque nós não nos aliámos à França para a combater, não fazendo mais do que negociar a nossa neutralidade, carácter que queremos assumir durante a guerra … Esta viva oposição da Grã-Bretanha é tão injusta como odiosa, e se não houvesse os dois artigos que combate, outros na falta deles lhe dariam motivo para isso, porque o Carlos Rodrigues Jaca 19 seu fim é conservar-nos em guerra com a França para nos perder. A Inglaterra nunca se sacrificou por Portugal, nem de tais sentimentos é capaz, e bem pelo contrário o que tem feito é sacrificar Portugal aos seus interesses. A França tem toda a razão para declarar guerra crua à Grã-Bretanha… O certo é que a França quer negociar com Portugal, apenas separadamente. A Inglaterra sabe isto muito bem; querer portanto o contrário disto, é não querer que a paz se faça. A Inglaterra não deve meter tanto medo, quanto dela se tem, porque o carácter do Governo inglês apresenta semelhanças ao da Santa Sé, mostrando-se imperioso, quando acha condescendência, e moderado nas suas pretensões, quando se lhe mostra firmeza. A Inglaterra não tem direito algum para exigir de Portugal que nos seus portos se admitam mais que seis navios em tempo de guerra marítima na Europa…». Argumenta, pois, e bem, António de Araújo para o Governo português, vincando que a oposição da Inglaterra à ratificação do Tratado por ele negociado carecia de fundamento, tendo apenas como objectivo obrigar-nos à continuação do nosso estado de guerra com a França e, consequentemente, «à total ruína da monarquia, além de atentatório da sua independência». António de Araújo de Azevedo alertava para o facto de lhe ter constado que Godoy, o «Príncipe da Paz», teria já escrito a Talleyrand, dizendo que se a Corte de Lisboa não ratificasse o Tratado, el-rei de Espanha estava pronto a tudo quanto dele quisesse o Directório, e que se fosse preciso, ele, «Príncipe da Paz», comandaria o exército, ameaça que mais tarde concretizou, invadindo Portugal. As razões apresentadas por Araújo de Azevedo, por tão evidentes, não podiam deixar de convencer Luiz Pinto de Sousa que, de imediato, ordenou ao nosso ministro em Londres, D. João de Almeida, transmitir ao Governo britânico achar-se Portugal numa situação cada vez mais crítica e que o perigo de uma guerra era iminente. Porém, só no fim de Novembro, e depois de malogradas as negociações francobritânicas para a paz, a Inglaterra consentiu que Portugal ratificasse sem restrições o Tratado de 10 de Agosto, isto é, quando expirara o novo prazo concedido por Talleyrand a António de Araújo e, como já se referiu, quando o Directório o havia anulado por decreto de 26 de Outubro e fora participado ao Conselho dos Quinhentos e ao dos Anciãos. Apesar de todas as diligências empregadas era, por isso, impossível alcançar a pedida ratificação. Carlos Rodrigues Jaca 20 Além do desgosto que sentiu por ver anulados todos os seus esforços para chegar à conclusão da paz, António de Araújo era preso, em 28 de Dezembro de 1797, em virtude da seguinte ordem: «O Directório Executivo, em virtude do artigo 145º da Constituição, e considerando que o sr. Araújo de Azevedo, ex-ministro plenipotenciário da rainha de Portugal em França, é indiciado de ter durante a sua residência em França conspirado contra a segurança interna, e especialmente de haver urdido um trama, por meio do qual se pretendia comprometer alguns membros do governo: Determina que o dito Araújo de Azevedo seja preso, que se ponham os selos nos seus papeis, em todos os seus móveis, ouro e prata, depois de separados aqueles dos ditos papeis ou móveis que podem parecer suspeitos; e que sejam imediatamente remetidos ao ministro da polícia geral: Ordena a todos os executores demandados de justiça que conduzam sem demora o dito Araújo de Azevedo ao Templo (donde Luís XVI e Maria Antonieta saíram para o cadafalso), na Comuna de Paris, e ao director desta casa de detenção que o receba, tudo em conformidade com a lei». Araújo de Azevedo, depois de ter sofrido três interrogatórios, o primeiro dos quais no mesmo dia em que foi preso, mostrou-se bastante resoluto, não desesperando da sua situação. Apesar de sobre si poderem recair graves consequências, nunca deixou de protestar contra o insólito procedimento do Directório, recusando-se a assinar os interrogatórios quando não lhe aceitavam os protestos, e chegando a dizer que um procedimento desses só se poderia esperar em Constantinopla. Violadas as suas imunidades diplomáticas, com desprestígio para a Corte de Lisboa, nada se provou do que o acusavam. Finalmente, a 29 de Março de 1798, António de Araújo foi solto, com ordem para sair de Paris dentro de seis horas e do território da República no prazo de dez dias. Quando foi posto em liberdade, sem a reparação por que havia insistido junto do Governo parisiense para emenda do agravo e dano pessoal, soube que ela não lhe seria dada pelo facto do Directório, em face do procedimento violento que adoptara, não querer desautorizar-se perante a opinião pública francesa: «Vós (Araújo) fostes vítima duma desconfiança do Governo, cujo motivo veio de longe, porque um Governo em tempo de revolução é desconfiado, e deve sê-lo. O Directório está persuadido da vossa inocência, mas deve, depois do que vos obrou, fazer-vos sair para fora da República». Carlos Rodrigues Jaca 21 Por esta altura já Araújo de Azevedo se encontrava de relações tensas com o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Pinto de Sousa, porquanto, várias vezes, durante as negociações, e principalmente por via da falta de ratificação do Tratado, lhe censurava os erros da politica externa portuguesa nos ofícios que lhe remetia de Paris. Não desejando, de imediato, regressar ao exercício do cargo de embaixador na Holanda, conseguiu uma licença do Príncipe Regente que lhe permitiu viajar pela Alemanha. Assim, desde Dezembro de 1798 a Outubro de 1800 esteve em contacto com a civilização germânica, estudando alemão e estabelecendo relações e convívio com o famoso Klopsotock, o Regente do ducado de Brunswick, Goethe, Herder, Schiller, o grão marechal Kachrists, o Eleitor de Dresde, Werner Charpentier, Widenow e outros. Campanha de 1801. («Guerra das Laranjas»). No início de 1799 as relações entre Portugal e a França estavam mais tensas do que nunca, decorrendo o referido ano sem progressos sensíveis apesar do esforço dos vários intermediários que tentavam aproximar as duas nações. Ao longo do período que vai de 1796 a 1801, que corresponde ao predomínio do partido inglês no Governo, foi objectivo prioritário dissuadir ou anular a ameaça franco – espanhola, sem prejuízo da aliança inglesa, tida como alicerce fundamental da nossa política externa. A 10 de Novembro de 1799 (18 do Brumário pelo calendário revolucionário), Napoleão dissolve o Directório e, através de uma hábil propaganda que atingiu sobretudo o meio operário, ocupa o cargo de Primeiro Cônsul, apresentando-se como um «pai», um «salvador», e ser ele o único a conseguir a paz. Sob este ponto de vista, a submissão de Portugal, contribuindo para isolar a Inglaterra, aparecia como «um penhor» capaz de a obrigar a negociar. Carlos Rodrigues Jaca 22 De facto, iniciado o período do Consulado, a conjuntura militar evolui rapidamente e Napoleão retoma o projecto da invasão de Portugal. Assim, em Julho de 1800, chega a Espanha o general Bertier que, entre outros assuntos a debater, deveria solicitar ao governo de Madrid que declarasse guerra a Portugal. Referindo-se a esta missão, Bonaparte participava a Talleyrand, em 28 de Julho: «Ele estará encarregado de instigar a Espanha, por todos os meios possíveis, à guerra contra Portugal, fazendo-lhe sentir… que é indispensável, num momento em que a guerra continental vai terminar, e em que provavelmente não se tardará a entrar em negociações para a paz geral, ter em mãos o maior número de equivalentes possível». As relações entre Lisboa e Madrid haviam-se deteriorado no decorrer do ano de 1800, apesar dos laços familiares que uniam os dois soberanos, falhando todas as tentativas de Carlos IV para convencer o genro a fazer um acordo de paz com a França. Efectivamente, o monarca espanhol fez saber ao Príncipe D. João a conveniência de aceitar as condições que a França havia proposto, oferecendo-se Talleyrand como mediador, só que… às primeiras tentativas do Gabinete português nesse sentido encontrou, de imediato, a oposição inglesa ameaçando retirar de Lisboa as suas forças com o pretexto de que eram necessárias na Índia. Neste contexto, em Maio de 1800, era corrente e bem fundamentada a hipótese de uma próxima expedição contra o nosso País. Ao encarregado de negócios português, Santos Branco, declarava o cônsul Lebrun: «Portugal não quer fazer a paz connosco: conquistá-lo-emos». A nossa situação era o mais crítica possível. Napoleão conservava um grande ressentimento contra nós, por via de termos colaborado com a esquadra inglesa, comandada por Nelson, nas operações em frente de Alexandria contra os franceses e depois no bloqueio de Malta. A indignação de Bonaparte era tal, por essa participação portuguesa, que na ordem do dia ao exército do Oriente declarava: «Virá tempo em que a nação portuguesa chorará com lágrimas de sangue a ofensa que praticou com a República Francesa». Carlos Rodrigues Jaca 23 Era público e notório que o mais importante para Napoleão era obter do Governo espanhol uma aliança eficaz para forçar Portugal. Numa carta datada de 8 de Novembro que Luciano Bonaparte, irmão de Napoleão e embaixador em Madrid, remeteria ao rei Carlos IV, o Cônsul insistia no interesse que teria para os dois países a conquista de Portugal: «O maior dano que podemos fazer ao comércio inglês é apoderarmo-nos de Portugal. Essa conquista, aliás, compensaria a Espanha das perdas e despesas que fez na guerra e tornaria o reino de Vossa Majestade ilustre como nunca. Se Ela julgasse ter necessário de auxílio de quaisquer tropas de engenharia e artilharia francesa, Vossa Majestade está persuadida do empenhamento que eu poria em as diligenciar». As negociações entre Luciano Bonaparte e o «Príncipe da Paz» iniciaram-se no fim de Dezembro de 1800, tendo sido assinado um projecto de convenção sobre o qual se veio a pronunciar o Primeiro Cônsul. A convenção, remetida de novo para Madrid, foi assinada por Godoy e Luciano Bonaparte com a data de 29 de Janeiro de 1801. Esta convenção, dita de Madrid, estipulava um prazo de quinze dias ao Governo português para se fazer a paz com a França ou para se considerar em guerra com a Espanha, enunciando as condições impostas a Portugal: Abandonarmos a aliança inglesa; abrir os nossos portos aos navios da Espanha e da França e fechá-los aos da Inglaterra; entregar ao rei de Espanha as províncias portuguesas que perfizessem a quarta parte da população dos nossos Estados da Europa para garantia da restituição de Mahon, de Malta e da ilha da Trindade; indemnizarmos os súbditos espanhóis dos prejuízos que tivessem sofrido, e fixarmos definitivamente os nossos limites com a Espanha; indemnizarmos a França. O Príncipe Regente recusou as condições transmitindo-o, oficialmente, a 18 de Fevereiro para Madrid, o que queria dizer que as relações diplomáticas entre Portugal e Espanha tinham acabado. Em finais de Fevereiro, Carlos IV, declarava oficialmente guerra ao genro, publicando um decreto em forma de manifesto onde explicava os motivos que o Carlos Rodrigues Jaca 24 levaram a tal atitude: «Os portos de Portugal são mercado público das presas, espanholas e francesas; no rio Guadiana os soldados portugueses cometeram contra os meus súbditos violências inauditas, agredindo-os, e fazendo fogo sobre eles como se por ventura estivessem em guerra aberta, sem que o Governo português desaprovasse este procedimento… … A República Francesa, justamente irritada contra Portugal, queria fazer-lhe experimentar, os efeitos do seu ressentimento. As armas vitoriosas dos franceses teriam assolado as suas províncias se o meu amor fraternal pela Rainha e por seus filhos, não desviasse a tempestade. Diante da minha mediação os franceses pararam sempre. Representei vivamente à Rainha de Portugal os perigos, de que parece não se aperceber, e nas expansões do meu coração, empreguei a linguagem da ternura paternal e de uma sincera e previdente amizade… …Como correspondeu a corte de Lisboa? Pagando a minha lealdade com estudadas contemporizações, mandando plenipotenciários sem poderes, nem mesmo limitados, adiando todas as explicações decisivas, em uma palavra valendo-se de todos os subterfúgios da política falaz, e das astúcias da fraqueza. O Príncipe Regente levou a obcecação ao ponto de denominar seu aliado o rei da Grã-Bretanha numa carta, que dirigiu à minha Real Pessoa, esquecendo assim os vínculos, que nos unem, e o respeito que me deve, quando dava o nome de aliança a um facto que não significava mais que o abuso indecente do predomínio, que a Inglaterra assumiu sobre Portugal». Em Maio de 1801 havia a certeza de que Portugal seria invadido. Assim foi. Na manhã do dia 20 iniciaram-se as hostilidades, invadindo o exército espanhol a fronteira do Alentejo e tomando Olivença que se entregou sem resistência apesar de poder dar combate aos Carlos Rodrigues Jaca 25 sitiantes. Também, no mesmo dia, Juromenha, que estava em situação de sustentar honrosa defesa, aceitava a rendição em condições semelhantes. Contra Elvas investiu o próprio «Príncipe da Paz» exigindo a rendição da praça, recebendo como resposta à sua intimação que Elvas nunca se renderia enquanto dentro das suas muralhas existisse um soldado, acabando os espanhóis por retirar-se depois de algumas trocas de tiros. A praça de Campo Maior, defendida por sólidos baluartes, uma artilharia poderosa e suficientemente fornecida de víveres ainda resistiu ao bombardeamento durante alguns dias, capitulando a seis de Junho. A ofensiva prossegue, provocando a rendição de Arronches, Portalegre, Monforte, Flor da Rosa, etc., etc. Onde quer que os invasores chegassem, obrigavam as populações ao pagamento de avultadas contribuições cometendo saque e roubos que foram avaliados em muitos milhões de cruzados. A acção dos portugueses foi quase nula nesta campanha, não mostrando a menor resistência na defesa do País. Em breve o Alentejo estaria completamente ocupado, se não se estivesse, entretanto, a negociar a paz. A notícia de que se ia negociar a paz, espalhou-se rapidamente entre as tropas portuguesas e, talvez por isso, há quem atribua a frouxidão da acção militar a esse facto. O próprio marechal – general do exército português dizia ao oficial espanhol D. Francisco Solano: «Para que nos havemos de bater? Portugal e Espanha são duas bestas de carga. A Inglaterra nos excita a nós, e a França vos aguilhoa a vós. Agitemos, e toquemos pois as nossas sinetas; mas por amor de Deus, não nos façamos mal algum. Muito se ririam em tal caso à nossa custa». O nome jocoso por que então ficou conhecida esta infeliz campanha – a «Guerra das Laranjas» – resultou de Godoy, ao entrar no Alentejo com as tropas invasoras, ter colhido dois ramos de laranjas que enviou à sua amante, a rainha Maria Luísa. Tratados de Badajós e de Madrid (1801). Perda de Olivença. Logo que os espanhóis entraram em Portugal foram dados os primeiros passos para a suspensão das hostilidades. Luiz Pinto de Sousa, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, foi incumbido pelo seu sucessor, João de Almeida, para iniciar as negociações da paz. Desde o principio da campanha que nós a solicitávamos, mas só a 28 de Maio é que Carlos IV, que viera assistir ao triunfo do favorito de sua mulher, comandante em chefe do exército, D. Manuel Godoy, consentiu em receber o negociador português. Carlos Rodrigues Jaca 26 As condições que Luciano Bonaparte apresentou primeiro eram duríssimas, porém, aquelas que Napoleão Bonaparte pretendia impor eram muito mais rigorosas: que se fizesse um embargo a todos os navios que estivessem nos portos de Portugal e que se proibisse a sua entrada para o futuro; que as tropas francesas e espanholas ocupassem as províncias do Minho, Beira e Trás-os-Montes; que se pagasse uma indemnização de vinte e cinco milhões de libras tornesas e, finalmente, que aceitasse as cláusulas que lhe eram impostas como preliminares de quaisquer negociações. As negociações entre Luiz Pinto de Sousa, Godoy e Luciano Bonaparte iniciaram-se em Badajós a 29 de Maio, e a 7 de Junho concordou-se na assinatura de dois textos separados, um tratado com a Espanha e outro com a França, cujas condições eram ainda assim bem desfavoráveis para nós. A paz foi assinada, de facto, em 7 de Junho, mas em virtude da chegada no mesmo dia de instruções de Napoleão com ordem formal de exigir a ocupação das províncias portuguesas em que não haviam acordado os negociadores, antedatou-se o tratado para dia 6. Pelo Tratado de Badajós Portugal comprometia-se a fechar os portos tanto no continente como nas colónias, a todos os navios quer de guerra ou mercantes pertencentes à Inglaterra e a abri-los aos da República e dos seus aliados; fixava-se o limite entre as duas Guianas que ficava ser o rio Arawari; permitíamos, ainda, a entrada dos panos franceses nas mesmas condições que as mercadorias mais favorecidas. Nas condições secretas ajustadas em suplemento ao tratado com a França, seríamos obrigados a pagar quinze milhões de libras tornesas, metade em dinheiro e metade em jóias, sendo este pagamento feito em Madrid no prazo de quinze meses depois da troca das ratificações. Por sua vez, a Espanha restituía-nos as praças e povoações de Juromenha, Arronches, Portalegre, Castelo de Vide, Campo Maior e Ouguela que nos tinha conquistado, ficando com Olivença e com o seu território e povos desde o Guadiana, rio, que serviria de limite entre os dois reinos. À cessão de Olivença acedeu Luiz Pinto de Sousa, com a seguinte restrição: «O infra – escripto plenipotenciário declara que consente, unicamente pelo bem da paz, em firmar o artigo 3º. da cessão da praça de Olivença, e seu território, para o que se não achava expressamente autorizado, salva contudo a ratificação de Sua Alteza Real, o Príncipe Regente, ou a sua absoluta denegação. Em fé do que nós firmamos. Feita em Carlos Rodrigues Jaca 27 Badajós aos 8 de Junho de 1801. Luiz Pinto de Sousa». En obséquio personal del senõr Pinto lo firmo. El Príncipe de la Paz». Mas essas condições, apesar de serem tão duras ainda assim pareciam suaves em comparação das exigências do Primeiro Cônsul, e todo o receio do Governo português era que Bonaparte não ratificasse o tratado feito por seu irmão. Foi o que sucedeu. Quando Napoleão tomou conhecimento do tratado que acabava de firmar-se em nome do seu país, demonstrou grande indignação, não só com seu irmão Luciano, mas também com a Corte de Espanha, por não se ter inscrito no referido tratado a cláusula que se tinha estabelecido na convenção de Madrid de 29 de Janeiro de 1801, da ocupação como penhor, de algumas províncias de Portugal, recusando-se a ratificá-lo. Porém a atitude de Godoy para com a França tinha-se modificado completamente. O Governo espanhol ansiava pela paz, pois as tropas francesas, que ali se encontravam, cometiam os maiores desmandos e abusos, espalhando por toda a parte o pânico e o escândalo. O ministro de Carlos IV protestava agora junto do embaixador de França da atitude que Napoleão queria tomar para com o nosso país, porquanto, o que a República e a Espanha mais desejavam de nós, era que fechássemos os portos à Inglaterra, o que se tinha conseguido pelos tratados de Badajós. «Este era el punto essencial y este al que siempre há resistido Portugal», argumentava Godoy. A situação passava a jogar a nosso favor e Napoleão iria “dar o braço a torcer”. Como por esta altura se discutia entre a França e a Inglaterra as bases do Tratado de Amiens, o Primeiro Cônsul não terá insistido na totalidade das suas exigências. Pouco tempo depois, o Governo português soube por comunicação do ministro britânico, Lord Hawkesbury, ao nosso embaixador em Londres, D. João d`Almeida Mello e Castro, que as negociações para a paz entre a Inglaterra e a França decorriam em bom ritmo e o representante inglês pusera como condição a integridade dos domínios portugueses. Com efeito, Bonaparte a 27 de Agosto de 1801, dava “carta branca”a seu irmão Luciano para concluir a paz com o nosso País, tendo sido posta de parte pelo Primeiro Cônsul a ideia da ocupação de algumas províncias de Portugal. Finalmente, a 29 de Setembro desse ano de 1801, depois de uma longa luta, Portugal assinava com a França por mediação da Espanha o Tratado de Madrid, tratado que tornava mais pesada a indemnização pecuniária, vinte milhões de libras, fora os Carlos Rodrigues Jaca 28 cinco mil que foram passados por “baixo da mesa”, «pois o cinismo dos que intervinham nas negociações não deixava esquecer o seu proveito pessoal». A 1 de Outubro de 1801 eram assinados em Londres os preliminares da paz entre a Inglaterra e a República Francesa, cujo artigo 6º. salvaguardava a integridade dos territórios e possessões portuguesas, garantindo os nossos direitos a Olivença e à parte da Guiana usurpados pelo Tratado de Badajós. Porém, um artigo secreto sancionava a extorsão de Olivença, artigo que viria a ser corroborado pelo definitivo Tratado de Amiens, de 25 de Março de 1802. A vila e termo de Olivença muito interessava aos espanhóis, não só pelo facto de ser uma região rica sob o ponto de vista agrícola, mas também por razões de ordem estratégica. Tal perda, por ser considerada uma espoliação, foi reclamada pelo Governo português em várias ocasiões. Em Abril de 1811 a praça foi reconquistada pelas tropas anglo – lusas de Beresford, porém, inutilmente, uma vez que o general inglês a entregou às autoridades espanholas. A mais importante diligência para reivindicar Olivença teve como palco o Congresso de Viena, iniciado em 27 de Setembro de 1814. Durante o período dos trabalhos desta reunião, que fixaria definitivamente a Carta da Europa, «a missão diplomática portuguesa conseguiu marcar um lugar à parte, mercê das altas qualidades de inteligência do seu chefe». De facto, os nossos representantes – Conde de Palmela, D. António Saldanha da Gama e D. Joaquim Lobo da Silveira – conseguiram, no respeitante ao território de Olivença, inserir no Tratado de Viena de 9 de Junho de 1815 um artigo, o 105º, que determinava textualmente: «As Potências, reconhecendo a justiça das reclamações formuladas por Sua Alteza Real, o Príncipe Regente de Portugal e do Brasil, sobre a vila de Olivença e os outros territórios cedidos à Espanha pelo Tratado de Badajós de 1801, e considerando a restituição desses objectos como uma das medidas adequadas a assegurar entre os dois Carlos Rodrigues Jaca 29 Reinos da Península boa harmonia, completa e estável, cuja conservação em todas as partes da Europa tem sido o fim constante das negociações, formalmente se obrigam a empregar por meios conciliatórios os seus mais eficazes esforços a fim de que se efectue a retrocessão dos ditos territórios a favor de Portugal. E as Potências reconhecem, tanto quanto depende de cada uma delas, que este ajuste deve ter lugar o mais breve possível». A Espanha só assinou o Tratado de Viena em 10 de Junho de 1817 mas, apesar disso, negou-se sempre a fazer a entrega de Olivença, iludindo o cumprimento deste dever. Assim, a sua recuperação ficou sendo – e é-o ainda em nossos dias, passados mais de duzentos anos e embora afastada das negociações diplomáticas – um problema em aberto. Em Portugal, sempre que se proporcionou, ou que se pôde, tem-se insistido na justa devolução da antiga praça portuguesa, quer por meio de instituições de cultura, com base na força do direito que foram buscar à história quer, ainda, pela voz do sentimento popular, que nunca deixou de considerar Olivença como terra portuguesa. Nota: Os elementos bibliográficos, manuscritos e impressos, relativos a esta 1ª e 2ª Parte, serão incluídos numa segunda fase deste tema, a publicar oportunamente. Carlos Rodrigues Jaca 30
Download