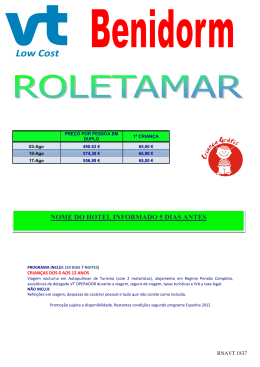Joan Didion NOITES AZUIS a continuação de O ANO DO PENSAMENTO MÁGICO Tradução de Celina Portocarrero Título original: Blue Nights Copyright © 2012 by Joan Didion Copyright © desta edição, 2012 by Editora Nova Fronteira Participações S.A. Direitos de edição da obra em língua portuguesa no Brasil adquiridos pela Editora Nova Fronteira Participações S.A. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser apropriada e estocada em sistema de banco de dados ou processo similar, em qualquer forma ou meio, seja eletrônico, de fotocópia, gravação etc., sem a permissão do detentor do copirraite. Editora Nova Fronteira Participações S.A. Rua Nova Jerusalém, 345 — Bonsucesso — 21042-235 Rio de Janeiro — RJ — Brasil Tel.: (21) 3882-8200 — Fax: (21)3882-8212/8313 www.novafronteira.com.br CIP-Brasil. Catalogação na fonte Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ D553j Didion, Joan. Noites azuis / Joan Didion. ; tradução Celina Portocarrero. - Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 2012. 144p. : 21 cm Tradução de : Blue Nights ISBN 978-85-209-2706-9 1. Romance americano I. Portocarrero, Celina. II. Título. 12-4785. 09.07.12 19.07.12 CDD: 813 CDU: 821.111(73) 037149 Este livro é para Quintana. 1 Em algumas latitudes há uma época do ano, anterior e posterior ao solstício de verão, perfazendo-se algumas semanas, em que os crepúsculos se tornam longos e azuis. Esse período de noites azuis não existe na Califórnia subtropical, onde vivi a maior parte do tempo a respeito do qual falarei aqui e onde o final do dia é rápido e se perde na intensidade do sol poente, mas existe em Nova York, onde vivo agora. Percebemos isso pela primeira vez quando finda abril e principia maio, uma mudança na estação, não exatamente um aquecimento — de modo algum, na verdade —, embora de repente o verão pareça próximo, uma possibilidade, quase uma promessa. Passamos por uma janela, andamos até o Central Park, nos damos conta de que estamos nadando na cor azul: a própria luz é azul, e ao fim de mais ou menos uma hora aquele azul se aprofunda, torna-se ainda mais intenso conforme vai escurecendo e desbotando, aproxima-se enfim do azul do vitral num dia claro em Chartres, ou da radiação Cherenkov lançada pelas barras de combustível nas piscinas dos reatores nucleares. Os franceses chamam esse momento do dia de l’heure bleue ou “a hora azul”. Para os ingleses, the gloaming. A própria expressão gloaming reverbera, ecoa — the gloaming, the glimmer, the glitter, the glisten, the glamour —, levando em suas consoantes as imagens de casas sendo fechadas, jardins escurecendo, rios margeados de grama deslizando por entre as sombras. Nas noites azuis pensamos que o fim do dia nunca virá. Quando as noites azuis chegam ao fim (e chegarão, e chegam), sentimos um verdadeiro calafrio, um temor de doença, no momento em que percebemos: a luz azul está indo embora, os dias já Noites Azuis 7 se encurtam, o verão se foi. Este livro se chama Noites azuis porque, quando comecei a escrevê-lo, senti que minha mente se voltava cada vez mais para a doença, para o fim da promessa, o minguar dos dias, a inevitabilidade do esmaecer, o declínio da claridade. As noites azuis são o oposto do declínio da claridade, mas são também seu aviso. 8 Joan Didion 2 26 de julho de 2010. Hoje seria seu aniversário de casamento. Há sete anos, neste mesmo dia, tiramos os colares havaianos das caixas do florista e os sacudimos para que a água em que estavam guardados caísse sobre a grama do jardim da catedral de são João, o Divino, na avenida Amsterdam. O pavão branco abriu o leque. O órgão soou. Ela havia entrelaçado jasmins-de-madagascar brancos na grossa trança que pendia às suas costas. Jogou o véu de tule sobre a cabeça, e os jasmins se soltaram e caíram. A flor de pluméria tatuada logo abaixo do ombro transparecia sob o tule. — Vamos lá — sussurrou ela. As menininhas de colares havaianos e vestidos claros saltitaram pelo corredor e andaram à sua frente até o altar principal. Depois que tudo foi dito, as meninas seguiram-na até as portas da frente da catedral e contornaram os pavões (dois iridescentes pavões azuis e verdes, além do pavão branco) até a casa paroquial. Havia sanduíches de pepino e agrião, um bolo cor de pêssego da confeitaria Payard, champanhe rosada. Escolhas dela, todas. Escolhas afetivas, coisas de que se lembrava. Eu também me lembrava. Quando ela disse que queria sanduíches de pepino e agrião em seu casamento, lembrei-me dela arrumando travessas de sanduíches de pepino e agrião nas mesas que armamos em Noites Azuis 9 volta da piscina para o almoço do seu 16º aniversário. Quando disse que queria colares havaianos em vez de buquês em seu casamento, lembrei-me dela com 3, 4 ou 5 anos, descendo de um avião em Bradley Field, em Hartford, usando os colares havaianos que ganhara ao sair de Honolulu na noite anterior. A temperatura em Connecticut naquela manhã era de -6ºC e ela estava sem casaco (estava sem casaco quando saímos de Los Angeles para Honolulu, não tínhamos planejado ir até Hartford), mas isso não foi um problema. Crianças com colares havaianos não usam casacos, advertiu-me ela. Escolhas afetivas. Naquele casamento, ela realizou todas as suas escolhas afetivas, menos uma: queria que as meninas andassem descalças pela catedral (lembrança de Malibu, ela estava sempre descalça em Malibu, sempre tinha farpas do deque de madeira vermelha: farpas do deque, alcatrão da praia e iodo para os arranhões dos pregos dos degraus que separavam o deque e a praia), mas as menininhas ganharam sapatos novos para a ocasião e queriam usá-los. o sr. e a sra. john gregory dunne ficarão honrados com sua presença no casamento de sua filha quintana roo com gerald brian michael no sábado, dia vinte e seis de julho às quatorze horas Os jasmins. Seriam outra escolha afetiva? Será que ela se lembrava dos jasmins? Terá sido por isso que os quisera, terá sido por isso que os prendeu na trança? 10 Joan Didion Na casa em Brentwood Park, onde ela viveu de 1978 a 1988, uma casa tão decididamente convencional (dois andares, saguão central no térreo, venezianas e uma antessala para cada quarto), a ponto de parecer idiossincrática (“a casa pretensiosa deles em Brentwood” era como ela se referia à casa quando a compramos, uma garota de 12 anos esclarecendo que não era dela aquela decisão, nem aquele gosto, uma criança reivindicando a distância de que todas as crianças imaginam precisar), havia jasmins-de-madagascar crescendo do lado de fora das portas da varanda. Eu roçava nas flores cerosas sempre que ia ao jardim. Do lado de fora das mesmas portas havia canteiros de lavandas e também de menta, um emaranhado de menta, mantido exuberante por uma torneira que pingava. Nós nos mudamos para aquela casa no ano em que ela ia começar o sétimo ano na então escola Westlake para moças, em Holmby Hills. Parece que foi ontem. Nós nos mudamos daquela casa no ano em que ela se formaria em Barnard. Também parece que foi ontem. Os jasmins e a menta já estavam mortos, eliminados quando o homem que iria comprar a casa insistiu para que nós a livrássemos dos cupins cobrindo-a e pulverizando pesticidas. Na época em que esse comprador fez uma oferta pela casa, ele nos mandou um recado pelos corretores, aparentemente como condição para fechar negócio, dizendo que queria a casa porque podia imaginar sua filha se casando no jardim. Isso foi algumas semanas antes de ele exigir que pulverizássemos o pesticida que matou os jasmins, matou a menta e matou também a magnólia cor-de-rosa que a menina de 12 anos que tanto menosprezava a nossa casa pretensiosa em Brentwood via das janelas da sua saleta no segundo andar. Os cupins, eu tinha certeza, voltariam. A magnólia cor-de-rosa, eu também tinha certeza, não voltaria. Fechamos negócio e nos mudamos para Nova York. Onde, na verdade, eu já havia morado antes: dos 21 anos, e quando tinha acabado de sair do Departamento de Inglês em Noites Azuis 11 Berkeley e começado a trabalhar na Vogue (um salto tão absolutamente antinatural que, quando o departamento de pessoal da Condé Nast me pediu que enumerasse os idiomas em que era fluente, só consegui pensar em “inglês médio”), até os 29 e quando era recém-casada. Onde voltei a viver, desde 1988. Por que então digo que vivi a maior parte desse tempo na Califórnia? Por que tive uma sensação tão forte de traição quando troquei minha carteira de motorista da Califórnia por uma emitida em Nova York? Não era, na verdade, uma mudança bastante simples? Nosso aniversário está chegando, a carteira precisa ser renovada, que diferença faz onde a renovamos? Que diferença faz se sempre tivemos na carteira aquele mesmo número desde que nos foi atribuído, aos 15 anos e meio, pelo estado da Califórnia? E, afinal, não houvera sempre um erro naquela carteira? Um erro do qual eu sabia. Aquela carteira não dizia que eu tinha um metro e cinquenta e sete? Quando eu sabia muito bem que tinha, na melhor das hipóteses — altura máxima, maior altura desde sempre, altura antes de perder um centímetro e pouco com a idade —, quando eu sabia muito bem que tinha, na melhor das hipóteses, um metro e cinquenta e seis e meio? Por que dar tanta importância à carteira de motorista? Qual era o motivo? Abrir mão da carteira da Califórnia significava que eu nunca mais teria 15 anos e meio? Era o que eu queria? Ou o problema com a carteira era apenas mais um caso de “manifesta inadequação ao acontecimento iminente”? Pus “manifesta inadequação ao acontecimento iminente” entre aspas porque essa frase não é minha. Foi Karl Menninger quem a usou, em O homem contra si próprio, como uma forma de descrever a tendência de reagir com exagero a circunstâncias que podem parecer banais, até 12 Joan Didion previsíveis: uma propensão, diz o dr. Menninger, comum entre suicidas. Ele cita a moça que entra em depressão e se mata depois de cortar o cabelo. Menciona o homem que se mata porque foi aconselhado a parar de jogar golfe, a criança que comete suicídio porque seu canário morreu, a mulher que se mata após perder dois trens. Observe: não foi um trem, foram dois trens. Pense nisso. Reflita sobre quais circunstâncias especiais são necessárias antes que essa mulher desista de tudo. — Nessas situações, — nos diz o dr. Menninger — o cabelo, o golfe e o canário tinham um valor exagerado, de modo que, diante da perda ou mesmo de uma ameaça de perda, o golpe do rompimento dos laços afetivos foi fatal. É, evidentemente não se discute. “O cabelo, o golfe e o canário”, a cada um deles havia sido atribuído um valor exagerado (como deve ter acontecido com aquele segundo trem perdido), mas por quê? O próprio dr. Menninger faz essa pergunta, embora de forma retórica: “Mas por que existiriam superestimas exageradas de um modo tão extravagante e avaliações tão incorretas?” Imaginaria ele ter respondido à pergunta só pelo fato de tê-la feito? Acreditaria ele que tudo o que precisava fazer era formular a pergunta e se retirar para uma nuvem de referências teóricas psicanalíticas? Poderia eu realmente interpretar a mudança da minha carteira de motorista da Califórnia para Nova York como uma expe riência que envolvia “laços afetivos”? Será que eu a via mesmo como uma perda? Será que eu a via de fato como uma separação? E, antes de deixarmos esse assunto de “rompimento de laços afetivos”: Na última vez em que vi a casa de Brentwood Park, antes da escritura mudar de mãos, ficamos sentados do lado de fora, observando o caminhão de mudança de três andares se afastar Noites Azuis 13 e virar na rua Marlboro, levando consigo tudo o que possuía mos naquela época, inclusive uma caminhonete Volvo, já a bordo e a caminho de Nova York. Depois que o caminhão saiu de nosso campo visual, andamos pela casa vazia até a varanda, um momento de adeus tornado menos suave pelo cheiro forte de inseticida na casa e pelas folhas esturricadas onde antes havia a magnólia cor-de-rosa e o jasmim-de-madagascar. Senti o cheiro de inseticida até em Nova York, cada vez que abria uma caixa. Quando voltei a Los Angeles e passei de carro diante da casa, ela já não existia, havia sido demolida, para dar lugar, um ou dois anos depois, a uma casa um pouco maior (um novo quarto em cima da garagem, alguns centímetros a mais em uma cozinha já grande o bastante para acomodar um piano de cauda Chickering que passava quase despercebido), mas (para mim) sem o firme convencionalismo da original. Alguns anos mais tarde, numa livraria em Washington, encontrei a filha, aquela que o comprador podia imaginar se casando no jardim. Ela estudava em algum lugar de Washington (Georgetown? George Washington?), e eu estava lá para fazer uma palestra sobre Política e Prosa. Ela se apresentou. — Cresci na sua casa — disse ela. “Não exatamente”, pensei, mas não disse. John sempre dizia que nos mudamos “de volta” para Nova York. Nunca o fiz. Brentwood Park era antes, Nova York era agora. Brentwood Park, antes do inseticida, tinha sido uma época, um período, uma década durante a qual tudo parecia estar conectado. Nossa casa pretensiosa em Brentwood. Era exatamente isso. Ela a chamava assim. Havia carros, uma piscina, um jardim. Havia agapantos, lírios-do-nilo, explosões intensamente azuis que flutuavam em longas hastes. Havia gauras, nuvens 14 Joan Didion de minúsculas flores brancas que só eram visíveis a olho nu ao cair da noite. Havia chintzes ingleses, bordados chineses. Havia um cão boiadeiro de Flandres imóvel no patamar da escada, um olho aberto, montando guarda. O tempo passa. A memória desbota, a memória se ajusta, a memória se adapta ao que imaginamos lembrar. Até mesmo a lembrança dos jasmins em sua trança, até mesmo a lembrança da tatuagem da pluméria transparecendo sob o tule. “É terrível ver alguém morrer sem filhos.” Napoleão Bona parte disse isso. “Que dor maior pode haver para os mortais do que ver seus filhos mortos?”, Eurípedes disse. “Quando falamos em mortalidade estamos falando de nossos filhos.” Eu disse. Penso agora naquele dia de julho na catedral de são João, o Divino, em 2003 e fico surpresa por John e eu parecermos tão jovens, tão bem. Na verdade, nenhum de nós estava bem: naquela primavera e naquele verão, John havia se submetido a uma série de procedimentos cardíacos, por último a implantação de um marca-passo, cuja eficácia ainda era duvidosa; três semanas antes do casamento, eu havia desmaiado na rua e passado várias noites na UTI do hospital presbiteriano de Columbia, recebendo uma transfusão por conta de um inexplicável sangramento gastrointestinal. — Você só tem que engolir uma pequena câmera — disseram na UTI, quando tentavam demonstrar para si mesmos o que causava o sangramento. Lembro-me de resistir: como eu nunca tinha sido capaz, na vida, de engolir uma aspirina, parecia improvável que eu pudesse engolir uma câmera. — Claro que consegue, é só uma pequena câmera. Noites Azuis 15 Uma pausa. A tentativa de imposição deu lugar à persuasão: — É uma câmera bem pequena mesmo. No fim, engoli a câmera bem pequena, e a câmera bem pequena transmitiu as desejadas imagens, que não demonstraram o que estava causando o sangramento, mas demonstraram que com suficiente sedação qualquer um é capaz de engolir uma câmera bem pequena. Da mesma maneira, em outro uso não totalmente eficaz da medicina de alta tecnologia, John pôde levar um telefone ao peito, discar um número e obter uma leitura do marca-passo, algo que, segundo me disseram, provou que no exato instante em que ele discou o número (embora não necessariamente antes ou depois disso) o dispositivo estava funcionando. A medicina, conforme pude perceber em mais de uma ocasião desde então, continua a ser uma arte imperfeita. Ainda assim, tudo parecia bem enquanto sacudíamos a água dos colares havaianos na grama do jardim da catedral de são João, o Divino, em 26 de julho de 2003. Será que você notaria, se passasse aquele dia pela avenida Amsterdam e visse de relance a festa de casamento, o quão despreparada estava a mãe da noiva para aceitar o que aconteceria antes mesmo de 2003 chegar ao fim? O pai da noiva morto em sua própria mesa de jantar? A própria noiva num coma induzido, respirando por aparelhos, os médicos da unidade de terapia intensiva receando que ela não passasse daquela noite? O primeiro de uma enxurrada de problemas de saúde que culminariam, vinte meses depois, na morte da noiva? Vinte meses nos quais ela só teria forças suficientes para andar sem apoio por um mês, no total? Vinte meses nos quais ela passaria semanas a fio em unidades de terapia intensiva de quatro hospitais diferentes? Em todas essas unidades de terapia intensiva havia os mesmos sons, o mesmo gorgolejar nos tubos plásticos, o mesmo gotejamento da medicação endovenosa, os mesmos estertores, os 16 Joan Didion mesmos alarmes. Em todas essas unidades de terapia intensiva havia as mesmas exigências de proteção contra novas infecções, o uso de aventais hospitalares, os chinelos de papel, o gorro cirúrgico, a máscara, as luvas que só se punha com dificuldade e que deixavam irritações avermelhadas que sangravam. Em todas essas unidades de terapia intensiva havia o mesmo corre-corre pela unidade quando uma emergência era declarada, pés batendo no chão, o chacoalhar do carrinho de emergência. “Isso nunca deveria ter acontecido com ela”, lembro-me de pensar — indignada, como se ela e eu tivéssemos direito a uma isenção especial — na terceira unidade de terapia intensiva. Quando ela chegou à quarta, eu já não mais invocava aquela isenção especial. “Quando falamos em mortalidade, estamos falando de nossos filhos.” Acabei de dizer isso, mas o que isso quer dizer? Tudo bem, é claro que eu consigo entender, é claro que você consegue entender, mais uma maneira de admitir que nossos filhos são reféns da sorte, mas, quando falamos de nossos filhos, do que estamos falando? Estamos falando do que tê-los significou para nós? Do que não tê-los significou para nós? Do que significou deixá-los ir? Estamos falando do enigma que é a promessa de proteger o que não pode ser protegido? De todo o quebra-cabeça que é ser pai ou mãe? “O tempo passa.” Sei, tudo bem, uma banalidade, é claro que o tempo passa. Então, por que eu digo isso, por que já disse mais de uma vez? Estarei dizendo isso da mesma maneira que digo ter vivido a maior parte da minha vida na Califórnia? Estarei dizendo isso sem ouvir o que digo? Será que eu ouvia assim: “O tempo passa, mas de um jeito não tão agressivo, de modo que ninguém percebe”? Ou Noites Azuis 17 mesmo: “O tempo passa, mas não para mim”? Será que eu não percebia a natureza geral ou a permanência da desaceleração, as irreversíveis mudanças no corpo e na mente, o modo como acordamos em uma manhã de verão, menos resistentes do que antes, e no Natal descobrimos que nossa capacidade de movimento está esgotada, atrofiada, exaurida? O modo como vivemos a maior parte da vida na Califórnia, e então não mais? O modo como nossa consciência desse tempo que passa — essa permanente desaceleração, essa efêmera resistência — multiplica-se, propaga-se, torna-se nossa própria vida? “O tempo passa.” Será que eu nunca acreditei nisso? Terei acreditado que as noites azuis durariam para sempre? 18 Joan Didion
Download