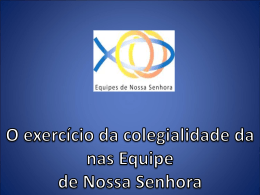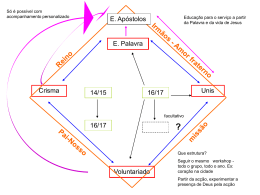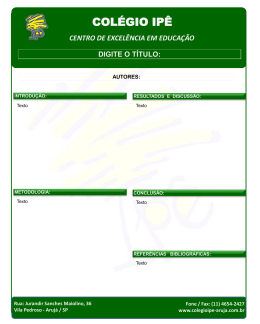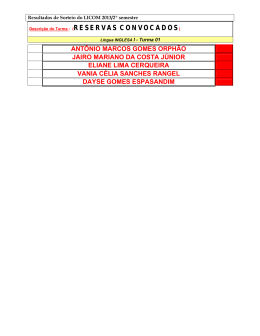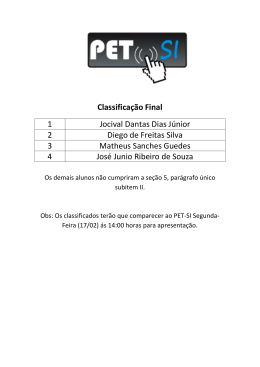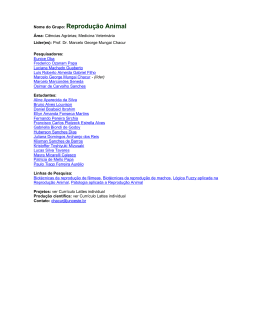CAPÍTULO 3 COLABORAÇÃO E AUTONOMIA DE PROFESSORES Este capítulo é constituído por duas partes. Na primeira, aborda-se a problemática do trabalho colaborativo de professores. Dada a profusão de literatura neste campo e também a popularidade que o conceito tem vindo a ganhar junto de algumas áreas da formação de professores, parece importante começar por indagar significados para o conceito de colaboração profissional que permitam relacioná-lo com outras dimensões do trabalho dos professores. Depois, analisam-se realizações e concretizações desta ideia na vida dos professores, que se traduzem em formas de colaborarem profissionalmente, retirando-se igualmente consequências destas práticas colectivas para o seu desenvolvimento profissional. A segunda parte do capítulo foca a autonomia dos professores, uma outra dimensão da sua actividade profissional que tem vindo a ganhar visibilidade no campo educativo, ao mesmo tempo que se reconhece que estes profissionais desempenham um papel cada vez mais relevante nas sociedades modernas. O professor afirma-se, pois, cada vez mais, como profissional que toma decisões informadas perante os problemas com os quais é confrontado na sua prática escolar, ou seja, como alguém que procura determinar e não ser determinado no seu agir profissional. Trata-se ainda de um domínio recente onde persistem dificuldades ao nível da clarificação conceptual, da precisão terminológica e da definição de instrumentos de análise. Após uma breve abordagem ao conceito, analisam-se as fases da autonomia do professor, ao longo da sua carreira, e a influência dos contextos escolares. 61 Trabalho colaborativo de professores O conceito de colaboração profissional O termo “colaboração” é massivamente utilizado em Educação, em contextos diversificados e envolvendo diferentes protagonistas, assumindo, por isso, múltiplos significados. Christiansen et al., (1997) dão conta dessa dificuldade, advertindo que a “colaboração é um fenómeno e um processo largamente indefinido e só parcialmente compreendido por muitos que participam em trabalhos colaborativos” (p. 283). Esta é também a opinião de Hargreaves (1998), que não estabelece diferença entre colaboração e colegialidade, preferindo utilizar os dois termos em conjunto: Um (...) conjunto de críticas à colaboração e à colegialidade refere-se ao seu significado, pois são frequentemente discutidas como se fossem amplamente compreendidas. Contudo, na prática, aquilo que se chama colaboração ou colegialidade pode assumir formas muito diferentes: o ensino em equipa, a planificação em colaboração, o treino com pares (peer coaching), as relações de mentores, o diálogo profissional e a investigação-acção em colaboração, para referir apenas algumas. (p. 211) Da mesma forma, Little (1990) lamenta que “o termo colegialidade sobrevem conceptualmente amorfo” (p. 509), acrescentando que um largo leque de interacções professor-professor são designadas pelos “termos colegialidade ou colaboração” (p. 509). Boavida e Ponte (2002) discutem também a diferença entre colaboração e cooperação. A partir da análise dos termos laborare (trabalhar) e operare (operar), que entram na composição de colaborar e cooperar, estes autores sustentam que “operar é realizar uma operação, em muitos casos relativamente simples e bem definida” (p. 46), enquanto “trabalhar é desenvolver actividade para atingir determinados fins; é pensar, preparar, reflectir, formar, empenhar-se” (p. 46). É este o sentido de colaboração para Stewart (1997), ao salientar que se trata de um processo que envolve pessoas de diferentes contextos e com diferentes vivências e experiências profissionais, trabalhando conjuntamente, como iguais, tendo em vista benefícios mútuos. Aponta também a colaboração como uma relação em que pessoas se envolvem em trabalho conjunto, “como pares e não numa relação hierárquica, e em que uma das partes pode utilizar a outra, ou pelo menos o contexto da outra, para um estudo” (p. 31). Inspirada em Clift e Say (1988), a autora propõe uma terceira visão da colaboração, como esforço 62 concertado de um conjunto de membros de universidades e escolas para desenhar e proporcionar oportunidades, visando a melhoria do ensino e da formação de professores. Procurando sistematizar o conceito de colaboração, Helen Stewart identifica os seus elementos fundamentais: a) A colaboração implica interdependência e uma atitude de dar e receber; b) As soluções emergem como resultado de um trabalho de construção mútua que tira partido das diferenças; c) Os parceiros devem questionar os estereótipos para procurarem com os outros novos sentidos; d) A colaboração envolve co-propriedade das decisões; e) Os participantes assumem responsabilidade colectiva pelos destinos do trabalho; f) A colaboração é um processo emergente – através da negociação e das interacções, as normas das futuras interacções são constantemente actualizadas. Estes seis elementos da colaboração fazem emergir outros tantos princípios que Stewart (1997) sintetiza do seguinte modo: 1. A colaboração não é um acontecimento estático nem mesmo um percurso formalizado para alcançar um objectivo específico; tão-pouco é um fim em si mesmo. É antes um processo criativo contínuo que envolve a construção de um resultado, sempre em evolução, no interior de uma matriz sempre em mudança. (p. 36); 2. A mudança continuada é essencial para a colaboração; a própria mudança pode ser um catalisador na construção de novo conhecimento, novos padrões, novos objectivos. (p. 38); 3. A diversidade pode ser enriquecedora se vista positivamente e usada construtivamente. As diferenças internas podem ser construtivas e produtivas; podem despertar para modos alternativos de ver e de viver que são libertadores. Tensões internas e diversidade podem ser mesmo essenciais para a qualidade e integridade do todo. (p. 41); 4. Processos como conversar e narrar, tradicionalmente julgados como improdutivos, são considerados, na colaboração, trabalho significativo e construtivo. (p. 43); 63 5. A confiança e o compromisso tornam-se factores poderosamente construtivos, pois a colaboração coloca os participantes face à vulnerabilidade e a potenciais pressões de mudança profunda. (p. 45); 6. A valorização da contribuição de cada participante é um poderoso factor central na colaboração. Co-laborar sugere uma mudança de padrões verticais de liderança e poder para padrões horizontais de liderança partilhada e relações simbióticas de apoio. (p. 48). Para esta autora, a conjugação dos elementos com os princípios do trabalho colaborativo, permite pôr em evidência duas dimensões fundamentais. A primeira diz respeito aos participantes no processo: a colaboração integra um conjunto de pessoas que se envolvem, de forma deliberada, para atingirem um objectivo comum, tal como também assinala Kapuscinski (1997), que fala na “existência de uma concordância explícita” por parte dos intervenientes. Esses participantes são iguais na diferença, ou seja, o processo colaborativo procura denominadores comuns na diversidade que é própria dos seres humanos e que os torna irrepetíveis e, ao mesmo tempo, iguais na possibilidade de se fazerem ouvir e de agirem. A segunda dimensão respeita ao próprio processo de colaboração: trata-se de um empreendimento eminentemente democrático, que valoriza cada uma das pessoas para a construção de um bem comum, respeitando as liberdades individuais, contribuindo para a construção de uma relação de confiança – como em qualquer processo democrático, a negociação é o meio de resolver problemas. Analisando a natureza das relações colaborativas entre professores, Hargreaves (1998) explicita aquelas que lhe parecem ser as suas características fundamentais, atendendo à forma como têm origem, ao tipo de envolvimento dos participantes, à sua orientação, ao tempo e ao espaço em que ocorrem e à sua previsibilidade. As relações de colaboração são espontâneas, porque partem principalmente dos professores, embora possam ser facilitadas institucionalmente por outros agentes educativos. Estas relações de trabalho são também voluntárias, porque nascem da livre vontade dos professores em trabalharem em torno de um tema e são, normalmente, orientadas para o desenvolvimento de objectivos partilhados. As culturas de colaboração são difundidas no tempo e no espaço, não sendo reguladas de forma rígida pelas questões do tempo – que obriguem, por exemplo, a reuniões com uma regularidade bem determinada – nem do espaço; pelo contrário, pautam-se por um elevado grau de informalidade em relação a estes dois aspectos. Por último, a colaboração tem um 64 certo carácter de imprevisibilidade, dado constituir um processo aberto, adaptativo e não controlado externamente através da fixação de metas, sendo, pois, permeável ao desenrolar dos acontecimentos e à determinação dos participantes. Analisando igualmente a natureza das relações de colaboração, Boavida e Ponte (2002) sublinham as características anteriores, acrescentando que partem de um interesse comum e são marcadas pela mutualidade, confiança, diálogo e negociação. O trabalho colaborativo de professores assume formas diversas, dependendo dos objectivos que são colocados em jogo. Em seguida, analisam-se formas de colaboração envolvendo professores. Formas de colaboração As relações colaborativas, envolvendo professores com experiências diversificadas, podem assumir formas díspares. A partir do estudo que desenvolveram com professores em início e fim de carreira, sobre o papel da colaboração no seu desenvolvimento profissional, Harris e Anthony (2001) distinguem dois tipos de colegialidade: as “interacções colegiais que podem ajudar a criar um ambiente de trabalho de apoio emocional [emotionaly supportive] e interacções colegiais que verdadeiramente produzem um significativo desenvolvimento profissional” (p. 384). O primeiro tipo, embora importante, especialmente para os professores mais jovens, não é suficiente para o desenvolvimento profissional. Ter um ambiente favorável à colegialidade e à interacção entre professores é condição necessária, mas não suficiente, para o desenvolvimento profissional. Numa relação colaborativa do primeiro tipo, os professores podem ouvir-se uns aos outros, contar as suas dificuldades, fazer uma espécie de catártese em grupo, mas não existe necessariamente um interesse intelectual em abordar os problemas apontados, analisá-los, estudá-los, com o objectivo de os resolver – algo que apenas acontece nas relações do segundo tipo. As relações colaborativas são também tratadas por outros autores. Little (1990) sistematiza as formas de colaboração profissional entre professores em quatro categorias: (i) narrar e procurar ideias; (ii) ajuda e apoio; (iii) partilha; e (iv) trabalho em co-propriedade. A autora adverte que estas formas – a que Clement e Vandenberghe (2000) chamam variantes de colaboração ou colegialidade – “constituem mais do que um simples inventário de actividades. [Pelo contrário], são, fenomenologicamente, formas discretas que se distinguem 65 umas das outras no grau em que induzem obrigações mútuas, exposição do trabalho de cada um ao escrutínio dos outros” (Little, 1990, pp. 511-512). Na primeira forma de colaboração – narrar e procurar ideias –, os contactos entre os professores são “oportunísticos”. Estes adquirem informação e segurança em rápidas trocas de histórias, informais e esporádicas (cf. Stewart, 1997). Na construção destas histórias estão, muitas vezes, interesses pessoais e sociais. Esta forma de colegialidade, em que cada professor preserva a sua liberdade e não se expõe ao escrutínio dos outros, é, segundo Little (1990), característica de uma cultura de colaboração de individualismo e conservadora. Esta autora mostra-se céptica relativamente ao poder que este tipo de colaboração profissional, informal e assente em histórias que veiculam algum tipo do conhecimento profissional dos professores, poderá ter em termos do seu desenvolvimento profissional, ao nível das suas práticas e conhecimentos e, também, nas interacções com os colegas. Esta forma de colaboração assemelha-se “ao apoio emocional ao professor” referido por Harris e Anthony (2001). Little (1990) faz ainda notar que esta sua posição, relativa ao valor destas histórias no progresso profissional, não significa que desvalorize a sua importância no estudo do conhecimento profissional dos professores. A segunda forma de colaboração – ajuda e apoio – é, segundo Little (1990), talvez aquela que os professores mais esperam de outro colega – ajuda para a resolução de um caso difícil. A ajuda não deve, no entanto, corresponder a uma interferência na livre escolha do colega ajudado. Esta ajuda aos professores pode ser prestada por colegas mais experientes ou por entidades externas à escola. A autora adverte que muita desta ajuda é prestada segundo uma lógica de racionalidade técnica, através de conhecimentos didácticos previamente codificados e prontos a usar pelos professores. Esta forma de colaboração é, do ponto de vista do poder, claramente assimétrica e uni-direccional; normalmente do especialista, que pode ser um outro professor mais experiente, para o professor que solicita ajuda e apoio. Na sua perspectiva, nesta concepção de colaboração persiste também uma postura de um certo individualismo por parte dos professores. A terceira forma de colaboração – partilha – corresponde a um intercâmbio de materiais, métodos e troca de ideias e opiniões. Na medida em que os professores expõem, perante os outros, os seus materiais e as suas ideias, isso representa uma concepção de colaboração menos privada e mais pública (Little, 1990): 66 Tornando os materiais habituais do seu trabalho [na sala de aula] acessíveis aos outros, os professores expõem as suas ideias e intenções aos outros. (...) Exibindo exemplos seleccionados do seu trabalho ao escrutínio de toda a escola, os professores comunicam as suas expectativas dos seus alunos e deles próprios; também proporcionam uma concretização [da actividade de ensinar], que posteriormente serve de ponto de partida para a discussão. (p. 518) A autora lembra que esta partilha pode ocorrer segundo formatos diferentes, envolvendo um número variável de professores, com a revelação ou não de uma fatia importante do seu trabalho, em momentos mais ou menos informais, e ter um carácter obrigatório e normativo ou, pelo contrário, corresponder a um acto de auto-iniciativa dos professores. Esta forma de colaboração vem estabelecer uma ruptura com o clima de não interferência que caracteriza as culturas de ensino, a que a autora chama de “tradicionais”. A sala de aula continua a ser, em grande medida, para o bem e para o mal, um bastião inviolável da actividade docente (Sanches, 1995). Fomentar um clima de partilha, em que os professores sintam confiança suficiente para se exporem, afigura-se como um caminho rico de potencialidades para o seu desenvolvimento. A última forma de colaboração proposta por Little (1990) – trabalho em co-propriedade – assenta na visão de encontros entre professores “firmados na responsabilidade partilhada para o trabalho de ensinar (interdependência), na ideia de uma autonomia colectiva, no apoio às iniciativas e liderança dos professores no que respeita à prática profissional e na afiliação ao grupo, fundadas no trabalho profissional” (Little, 1990, p. 519). Esta forma de colaboração implica uma organização de recursos, como o tempo ou espaços, para a concretização efectiva de determinadas tarefas. O trabalho colectivo de professores pode passar pela planificação de um conjunto de tarefas realizadas por todos ou pela definição de um conjunto de critérios base que orientem a acção independente de cada um nas suas aulas. O trabalho interdependente assenta na deliberação colectiva, através da negociação. Nesta medida, a colaboração ou a colegialidade, não pode ser confundida com um entrave ao exercício da autonomia (Sanches, 1995). Pelo contrário, o exercício da determinação individual no seio de um grupo de professores, passa pela liberdade e livre expressão das ideias, rumo a uma forma de autonomia colectiva (Little, 1990). A autora completa esta ideia, ao argumentar que aquilo a que chama autonomia colectiva “não implica consenso de pensamento ou uniformização da acção” (p. 521). 67 No estudo conduzido por Clement e Vandenberghe (2000), estes autores propõem-se investigar a influência da autonomia e da colegialidade de professores dos primeiros anos de escolaridade no seu processo de desenvolvimento profissional. O estudo, realizado com 94 professores, segundo uma orientação qualitativa, sugere que nas escolas narrar histórias e procurar ideias é entre os professores uma forma de colegialidade e colaboração importante. Os autores esclarecem que embora essas “histórias tenham a característica de facilitar pequenas conversas, o seu valor simbólico não pode ser subestimado” (p. 88). Sublinham ainda que a narração de histórias traduz uma forma significativa de comunicar preocupações e dificuldades a outros. Neste mesmo estudo, Clement e Vandenberghe (2000) encontram também formas de colaboração correspondentes à ajuda e apoio e à partilha; em alguns casos, essa “partilha de ideias conduziu ao trabalho em comum. Começando por uma responsabilidade partilhada, os professores trabalharam em comum em projectos” (p. 88). Uma experiência colaborativa envolvendo professores e investigadores foi desenvolvida na zona de Málaga (Espanha), em dois projectos de investigação-acção (Pérez et al., 1998). Os autores referem que a colaboração dos professores com os investigadores existe, por parte dos primeiros, a expectativa de que os investigadores “lhes apresentem novas perspectivas radicalmente diferentes das deles e a detecção de erros no seu trabalho que os possam ajudar na mudança” (p. 248). Esta expectativa dos professores, relativamente ao trabalho colaborativo, está fortemente condicionada pela relação que se tem estabelecido entre professores e académicos, entre escolas e universidades. Num outro trabalho, Santos (2000) estudou um grupo de professoras no contexto de um trabalho colectivo. A autora sublinha que este se inscreve numa cultura de colaboração livremente assumida pelos participantes: Este trabalho em colaboração existe por decisão expressa dos seus membros, não tendo de nenhuma forma sido imposto por qualquer órgão superior da escola, ou qualquer estrutura do sistema. Surge como resposta a um problema partilhado por todos os seus membros. (...) Existe, deste modo, uma motivação interna sentida por todas. (p. 651) A autora aponta factores que podem ter facilitado o exercício da autonomia e da colaboração: a existência de tempos comuns para as professoras se poderem encontrar e o reconhecimento e a valorização do trabalho conjunto realizado. Santos (2000) assegura ainda que, neste caso, os tempos em comum não surgiram espontaneamente nem traduziram um 68 incentivo da direcção da escola às práticas colaborativas, mas resultaram de uma aspiração e de uma necessidade do grupo, que assim decidiu trabalhar. As várias formas de colaboração apontadas exigem dos professores diferentes graus de envolvimento e implicam, algumas delas, considerável dispêndio de tempo. Por isso, parece fundamental que os órgãos de gestão das escolas proporcionem aos professores tempo em comum, para que eles, caso o desejem, possam interagir com os seus pares, numa interacção que vá para além das conversas superficiais e rápidas de sala de professores. Porquê a colaboração profissional de professores? A colaboração entre professores parece ter-se tornado numa ideia mágica, solução para todos os problemas que afectam estes profissionais, as escolas e a Educação (Hargreaves. 1998). Que qualidades são então reconhecidas às relações colaborativas que envolvem professores? Quais as consequências, para as escolas, para os alunos e para os próprios professores, do trabalho colaborativo? Diversos autores (Clement e Vandenberghe, 2000; Hargreaves, 1992, 1998; Krainer, 1996, 1999, 2001; Little, 1990) analisam estas questões, avançando com algumas possibilidades de resposta. Defender a colaboração entre professores parece ser uma ideia coerente com a perspectiva da aprendizagem de inspiração interaccionista. Recorde-se que para Blumer (1998), o significado das coisas emerge como consequência da interacção social que cada um mantém com o seu próximo (fonte do significado). Também Little (1990) assume que as interacções entre estes profissionais são geradoras de uma compreensão mais profunda das suas práticas, através da reflexão que é proporcionada, tendo efeitos sobre a acção diária dos professores. Hargreaves (1992, 1998) refere-se às potencialidades das relações colaborativas e colegiais como estratégia de desenvolvimento dos professores. O autor assinala que aquelas relações “conduzem este desenvolvimento para além da reflexão pessoal e idiossincrática, ou da dependência em relação a peritos externos, fazendo com que os professores aprendam uns com os outros, partilhando e desenvolvendo em conjunto as suas competências” (Hargreaves, 1998, p. 209). Para Hargreaves (1998), a colaboração parece ser também uma resposta compensadora face aos problemas que a sociedade pós-moderna em que vivemos – muito volátil e rápida nas 69 mudanças que opera – vai colocando à escola. Esta resposta vai na linha da que outras organizações sociais vão dando, face a problemas da mesma índole: Hoje em dia, a colaboração é proposta amplamente como sendo a solução organizacional para os problemas da escolaridade contemporânea, bem como uma solução flexível para as mudanças rápidas e uma maior capacidade de resposta e de produtividade por parte das empresas e das outras organizações em geral. A colaboração na tomada de decisões e na solução de problemas é uma pedra angular das organizações pós-modernas. (Hargreaves, 1998, p. 19) A intensificação das relações colaborativas entre professores decorre, para este autor, da natureza do trabalho dos professores e da insuficiência de alguma ciência educativa em dar uma resposta satisfatória àqueles problemas. A falência da ciência aplicada à Educação ou as limitações da racionalidade técnica apontadas por diversos autores (Hargreaves, 1998; Schön, 1983, 1987, 1993; Zeichner, 1992), impele os professores a procurarem formas de se organizarem que facilitem o seu trabalho. Hargreaves (1992) aponta neste sentido, considerando que grande parte dos apelos ao desenvolvimento daquilo a que chama de “culturas de colaboração” entre os professores, nas escolas, assenta no argumento relativo à redução da incerteza do trabalho dos professores: Pese embora o facto de a incerteza ter sido desde sempre uma qualidade universal do ensino, o colapso da certeza científica e da sua base de conhecimento supostamente segura (por exemplo, dos métodos de ensino de sucesso comprovado) promete intensificar ainda mais a sua influência. (Hargreaves, 1998, p. 19) Face a uma situação de incerteza decorrente de uma reorganização curricular, como foi o caso das professoras estudadas por Santos (2000), a constituição de um grupo de trabalho funciona como um factor adicional de segurança e autonomia profissional. Esta ideia de constituir pequenas comunidades de professores, sediadas no local de trabalho, em que estes “podem trabalhar juntos, fornecer apoio mútuo, oferecer feedback construtivo, desenvolver objectivos comuns e estabelecer limites que apresentem desafios” (Hargreaves (1998, p. 19) é extremamente poderosa, se partir de um anseio dos professores – como aconteceu com as professoras que participaram no estudo de Santos (2000). Hargreaves (1998) coloca algumas reservas relativamente à forma como estas ideias sobre o trabalho colaborativo estão a ser propaladas no seio do professorado, de que é sintomático o título de um dos capítulos do livro Os professores em tempos de mudança e que 70 é: Colaboração e colegialidade artificial – Chávena reconfortante ou cálice envenenado. A este respeito, o autor discorda da utilização da colaboração decretada para a promoção das reformas educativas, através de normas centralizadas e para o controlo que, por esta via, é exercido sobre os professores: Se a colaboração e a colegialidade são consideradas promotoras do crescimento profissional e do desenvolvimento das escolas a partir de dentro, também são largamente encaradas como formas de assegurar a implementação das mudanças introduzidas externamente. O seu contributo para a implementação das reformas curriculares centralizadas constitui, a este respeito, um factor crucial. (p. 209) O autor distingue, pois, culturas de colaboração daquilo a que chama de colegialidade artificial, vista como meio de um crescente controlo administrativo e intelectual sobre os professores. Esta última forma de colegialidade é caracterizada por ser: i) Regulada administrativamente – nesta medida não se trata de uma relação que decorra do exercício da autonomia dos professores, mas, pelo contrário, resulta de uma imposição administrativa; ii) Compulsiva – as formas de trabalho em colaboração que resultam de imposição externa, com um carácter obrigatório, tendem a desenvolver nos professores formas de resistência que os levam a criar rotinas que minimizem o facto de não terem determinado este trabalho; iii) Orientada para a implementação – esta forma de colegialidade artificial está vocacionada para a execução de ordens ou determinações externas ao grupo, que podem ser oriundas dos órgãos de gestão das escolas ou das estruturas do topo da hierarquia do sistema, como as Direcções Regionais ou mesmo o Ministério da Educação; iv) Fixa no tempo e no espaço – esta forma de colaboração é pouco flexível em termos dos espaços e do tempo em que se realiza, facto que decorre do seu carácter compulsivo e regulado administrativamente. Por norma, os professores juntam-se com uma periodicidade rígida, haja ou não motivos pertinentes para o fazer; v) Previsível – estas relações de colaboração são extremamente previsíveis quanto aos seus resultados – embora, por vezes, possam advir efeitos perversos – facto que resulta da sua própria organização em termos de espaços e tempo e do controlo administrativo que sobre elas é exercido. Nesta linha, o autor adverte ainda para a possibilidade destas medidas que visam, às vezes, com a melhor das intenções, incrementar a colaboração entre os professores e entre 71 estes e outros profissionais, poderem constituir uma forma de limitar, condicionar e constranger o seu trabalho. Esta forma de colaboração pode ser encarada como uma limitação ao exercício da autonomia do professor, uma vez que alinha por um padrão normalizador da forma de pensar e agir dos professores – neste sentido, colegialidade tem um valor antinómico a autonomia. A este propósito, Hargreaves (1998) defende que: Impulsos bem intencionados no sentido de criar culturas de colaboração e de expurgar o isolamento e o individualismo dos professores das nossas escolas correm o sério risco de eliminar a individualidade entre os professores e, com ela, a criatividade discordante que pode desafiar os pressupostos administrativos e constituir uma poderosa força de mudança. (pp. 19-20) Em suma, e pelo facto de a colaboração e a colegialidade poderem ter concretizações diferentes, consubstanciando algumas delas formas de controlo administrativo dos professores, a apreciação do seu contributo para o desenvolvimento profissional deve ser realizada com cuidado, evitando proclamações generalizadas das suas virtudes. Síntese A colaboração tornou-se uma ideia central no campo da Educação, especialmente no domínio da formação de professores. Em contraponto à colaboração surgem frequentemente os conceitos de colegialidade e cooperação. No entanto, todos estes conceitos traduzem sobretudo diferenças de grau dentro do mesmo fenómeno, pelo que se afigura preferível falar de relações colaborativas de natureza e grau distintos. Para além da diversidade conceptual e terminológica, existe um apreciável consenso em torno da ideia de colaboração como um processo que envolve pessoas que trabalham estreitamente em conjunto na base de um interesse ou de um objectivo comum, resultando benefícios para todos os participantes. A colaboração é, por natureza, um processo dinâmico que tira partido da diferença e da diversidade de percursos profissionais dos actores nele envolvidos, valorizando as suas experiências e os seus conhecimentos. Ao contrário da chamada colegialidade artificial, que tem um carácter compulsivo e é controlada administrativamente, a colaboração profissional é marcada por emergir de forma espontânea, partir da identificação de problemas que afectam um determinado grupo profissional, assumir um carácter voluntário, ser orientada para o 72 desenvolvimento profissional dos participantes, ter um elevado grau de imprevisibilidade em relação ao seu desenrolar e ser difundida no tempo e no espaço. Admitindo que a colaboração abarca uma diversidade de processos interactivos entre professores, é pertinente distinguir as formas que traduzem uma forte interacção cognitiva e reflexiva e, portanto, contribuem para um efectivo desenvolvimento profissional dos participantes, das que representam um simples apoio emocional. Entre as formas de colaboração entre professores podemos também distinguir entre narrar e procurar ideias, ajuda e apoio, partilha e trabalho em co-propriedade, sendo que da primeira para a última se observa uma interdependência crescente entre os participantes, que se traduz na definição de objectivos mais claros e em trabalho comum mais exigente e prolongado no tempo. O fomento da colaboração entre os professores tem sido apontado com alguma insistência como um meio privilegiado para fazer face à imprevisibilidade e incerteza das situações do quotidiano, permitindo uma compreensão mais profunda dessa realidade e facilitando, assim, o seu trabalho. No entanto, devemos estar atentos para os efeitos negativos da colegialidade artificial, devendo haver algum cuidado acerca do modo como se estabelecem estas formas de trabalho. Assim, será prudente ponderar cada forma de colaboração em função do controlo exercido, do modo como os professores decidem participar, dos objectivos formulados e da forma de organização e concretização dos projectos. Autonomia profissional de professores Origem e enquadramento do conceito A análise do conceito de autonomia coloca um conjunto de dificuldades que derivam, por um lado, da sua utilização numa multiplicidade de contextos e áreas temáticas, e, por outro, da sua utilização pouco consistente por diversos autores, por vezes, no mesmo trabalho (Little, 1990; Sanches, 1995). Sanches (1995) acrescenta outras dificuldades na clarificação do conceito de autonomia: dificuldade em delimitar com clareza os seus contornos, falta de coerência interna, ocultando conceitos próximos, e a inexistência de uma teoria da autonomia profissional. Face a todas estas dificuldades, parece pertinente voltar às origens do conceito, procurando as raízes históricas do termo. 73 Segundo Machado (1995), a palavra autonomia deriva do francês autonomie e esta do grego autonomía, vocábulo que pode decompor-se em autos (por si mesmo) e nomos (lei, norma). Assim, etimologicamente, autonomia significa direito de se reger pelas próprias leis, independência, auto-governo ou auto-determinação. Neste sentido, autonomia significa obediência a uma lei que é imanente à pessoa, isto é, a sua origem é interna e não externa (Sanches, 1995; Vieira, 1998). O aparecimento do termo entre os gregos surge intimamente ligado ao contexto da época e às relações difíceis entre as diferentes cidades-estado, nomeadamente Atenas e Esparta. O exercício da autonomia começa, pois, segundo Sanches (1995), por ser um aliviar do espartilho militar e político exercido por Esparta sobre Atenas. Nesta acepção, autonomia começa por ser independência; no entanto, a independência, embora condição necessária à autonomia, não se torna, por si só, suficiente, pois da falta de controlo externo pode passar-se para a ausência de qualquer controlo ou determinação – imprescindível ao exercício da autonomia, pela criação de regras e leis próprias. Esta autodeterminação pressupõe que a pessoa tome decisões ponderadamente, ou seja, analise as situações com que se depara no seu dia-a-dia à luz de um conhecimento sólido, envolvendo capacidades de pensamento reflexivo. Sanches (1995) defende, antes de mais nada, a autonomia como um direito e uma “característica essencial do ser humano, atributo de individuação que permite à pessoa tornar-se entidade única e distinta de outras pessoas nas opções que toma, nas significações e nos fundamentos axiológicos da praxis [itálico no original], na condução da vida pessoal e social” (p. 46). Esta forma de actuação da pessoa autónoma leva-a, em cada momento, a ajustar a sua forma de agir às novas situações, gerando novas regras de funcionamento, novo conhecimento que resulta de um processo de abstracção da experiência. Agir desta forma opõe-se a um agir heterónomo, em que a pessoa coloca o controlo da situação fora de si. Desenvolvendo esta ideia, Sanches (1995) distingue acção autónoma de acção heterónoma: A acção autónoma diferencia-se da acção heterónoma em dois aspectos essenciais: a capacidade de escolher, mesmo quando as alternativas são limitadas, e a flexibilidade de adaptação. Não há acção autodeterminada quando se prefere repetir o comportamento rotinizado embora haja outras alternativas que podem conduzir a melhores resultados e à realização das finalidades desejadas. (pp. 44-45) Um agir profissional heterónomo assenta no seguimento de procedimentos e princípios de uma forma que tende a ser acrítica e algo ritualizada. Os profissionais, no caso os 74 professores, que se comportam deste modo, agem perante os problemas colocados pela acção diária como se eles não existissem ou introduzindo unicamente pequenas alterações aos seus procedimentos habituais para que alguma das suas rotinas possa ser executada. O trabalho dos profissionais que se regem por conhecimentos provenientes da investigação de orientação positivista, numa lógica de racionalidade técnica, caracteriza-se por uma forma de agir rígida e padronizada. As leis de actuação são geradas de fora para dentro da profissão e não existe verdadeira autodeterminação, nem verdadeira autonomia, uma vez que estes profissionais, face aos problemas da prática que não podem ser enquadrados no modo de actuação normalizado, ficam à espera de “novas leis”, que alguém de fora – um especialista na área – virá apresentar. O exercício da autonomia revela-se, pois, com maior acuidade na resolução de problemas profissionais, a grande maioria do âmbito da Didáctica (Santos, 2000). Perante um problema, o professor pode continuar a ter a mesma acção automática que antes ou, pelo contrário, pode então optar por formular um problema e tentar resolvê-lo. Diz Sanches (1995) a este propósito: A autodeterminação também sofre restrições quando, numa situação problemática inesperada, a pessoa age automaticamente e não faz uso (ou não procura) da informação existente; ou porque factores emocionais impediram uma outra escolha e um uso flexível da informação; ou, ainda, porque se preferiu permanecer ao nível da acção habitual, embora existissem opções mais eficazes para resolver os problemas. (p. 45) A flexibilidade nas formas de actuação, por oposição à rigidez, é uma característica chave da autonomia da pessoa, desde que sirva a sua adaptação autodeterminada às situações que está a viver. Neste sentido, flexibilidade significa capacidade da pessoa encontrar novos caminhos e novas formas de actuação face aos problemas com que se depara na sua vida e na sua profissão. A procura de novos caminhos não é algo que ocorra no isolamento de cada um, mas resulta de um processo de construção social, com os outros; não é imposto nem pela pessoa nem pelos outros (Pérez et al., 1998). Esta questão remete para um conjunto de conceitos que se relacionam com o de autonomia, sendo que alguns deles são tomados como equivalentes ou mesmo sinónimos, e outros, como tendo características antinómicas: individualismo, individualidade, colegialidade e colaboração. Que relações mantêm estes conceitos com o de autonomia e como se relacionam entre si? 75 Situando a discussão no campo da autonomia profissional de professores, diversos autores assinalam o uso extensivo e, por vezes, pouco consistente destes conceitos (Clement e Vandenberghe, 2000; Hargreaves, 1998; Little, 1990; Sanches, 1995). O conceito de individualismo é discutido por Hargreaves (1998), procurando que o seu sentido não se restrinja a isolamento profissional, pois assim assume um carácter amplamente negativo. O autor esclarece que “quando falamos de individualismo, estamos a referir claramente, não uma única coisa, mas antes um fenómeno social e cultural complexo que possui muitos significados, nem todos necessariamente negativos” (p. 193). Assim, sublinha que o individualismo pode ser associado à autonomia, à privacidade, ao desenvolvimento pessoal ou à dignidade humana. Procurando avançar na compreensão do conceito de individualismo, Hargreaves (1998) distingue, no caso dos professores, três categorias: (a) individualismo constrangido; (b) individualismo estratégico; e (c) individualismo electivo. A primeira forma – individualismo constrangido – ocorre quando os professores trabalham sós e isso resulta de constrangimentos administrativos que desencorajam ou impedem mesmo outra forma de proceder. Este tipo de individualismo, que se aproxima muito do isolamento profissional, impõe-se aos professores em resultado do próprio isolamento das escolas – muitas vezes de sala única ou professor único, como ainda hoje é frequente no 1.º ciclo do ensino básico em Portugal – ou da estrutura escolar de tipo celular, em que os professores desenvolvem as suas práticas por entre paredes que parecem intransponíveis, ou da ausência de horários compatíveis, ou ainda de locais que permitam o seu encontro (cf. Pérez et al., 1998). O individualismo estratégico, de modo diferente do anterior, resulta de uma opção deliberada do professor em seguir padrões de trabalho individualistas, em resposta às contingências quotidianas do seu ambiente de trabalho (Hargreaves, 1998). Esta forma de individualismo, embora não seja sinónimo de acção autónoma, representa uma determinação maior das práticas profissionais, embora ainda muito centradas na sala de aula, em resultado do trabalho e pressões crescentes a que os professores têm estado sujeitos (Sanches, 1995). Por último, o individualismo electivo, ao contrário dos dois anteriores, não resulta de uma resposta à força das circunstâncias e dos constrangimentos que emergem da situação ou de uma opção estratégica em termos de optimizar tempo e energias dispensáveis ao exercício da actividade profissional, mas surge como uma forma preferida de se estar e agir profissionalmente (Hargreaves, 1998). A opção do professor por um modo de trabalho 76 individual, mesmo em circunstâncias em que a colaboração profissional é possível e mesmo encorajada, deve ser respeitada, uma vez que é reflexo da sua história de vida, da sua biografia e da socialização no seio da profissão (cf. Little, 1990). Esta última forma de individualismo é aquela que mais fortemente pode ser associada à autonomia, uma vez que o professor tende a tornar-se autoregulado e a determinar o seu modo de agir. O individualismo surge muitas vezes embricado à individualidade, mas Sanches (1995) tem o cuidado de os distinguir, afirmando que a “expressão da sua [do professor] individualidade profissional [é] distinta de individualismo ou de isolamento” (p. 46). Enquanto que o individualismo, como se acabou de apresentar, está muito ligado ao trabalho realizado sem a participação de outros, a individualidade conecta-se com o direito de o professor expressar uma forma própria de estar na profissão, ou seja, uma forma de exercer a sua autonomia profissional, promovendo, desse modo, a construção da sua própria identidade profissional. Ao debruçar-se sobre estes dois conceitos, individualismo e individualidade, Hargreaves (1998) subscreve a perspectiva segundo a qual o individualismo está mais ligado ao isolamento e à atomização social, enquanto a individualidade pressupõe a independência e a realização pessoal. Uma vez que o termo individualismo está fortemente conotado com um sentido negativo, ocultando por isso os seus aspectos mais interessantes, parece ser preferível adoptar como mais viável, ao falar de autonomia, o conceito de individualidade (Hargreaves, 1998; Sanches, 1995). O exercício da individualidade e da autonomia profissionais parece, para alguns, poder colidir com as ideias de colegialidade e de colaboração profissionais. Sanches (1995) admite essa possibilidade – embora não a subscreva – de alguns pensarem “que a autonomia pode ser entendida como valor antinómico da colegialidade” (p. 41). Ao distinguir a autonomia individual da autonomia colectiva, Little (1990) descarta essa possível relação de antinomia, considerando que a autonomia pode exercer-se em contextos de individualidade ou no seio de grupos, sendo que a participação nestes últimos não implica obrigatoriamente o coarctar da autonomia devida ao trabalho do profissional. Há, no entanto, formas de trabalho que, por vezes, e de forma algo abusiva, passam por colaborativas, que representam uma redução do espaço da individualidade do professor. É a esta realidade que Hargreaves (1998) se refere quanto utiliza a expressão colegialidade artificial. Para o autor, essa é uma forma de trabalho imposta administrativamente aos professores, constituindo, por essa via, um entrave ao 77 exercício da autonomia profissional, uma vez que pode “eliminar as oportunidades de expressão da independência e de tomada de iniciativas” (pp. 200-201). Para evidenciar este argumento, apresenta a perspectiva de um professor (P), com quem trabalhou, que vê em algumas formas de colaboração embaraços ao exercício da sua autonomia profissional: P – O trabalho em equipa está a ser cada vez mais encorajado. Em todas as escolas. I – Acha que isso é bom? P – Desde que permitam que a criatividade individual modifique o programa. Mas se quiserem tudo ao pormenor, tudo idêntico – não, penso que isso seria desastroso porque vai-se apanhar pessoas que nem sequer pensam, que se limitam a recostar-se e a navegar ao sabor das ideias dos outros, e acho que isso não é bom para ninguém. I – Neste momento, sente que esse espaço lhe é dado? P – Com [o meu colega de equipa], sim. Sei que com algumas das outras pessoas daqui, eu não (...) eu dava em maluco. I – Como seriam as coisas (...)? P – Basicamente (...) controladas. Eles iriam querer (...) em primeiro lugar, estariam as suas ideias e eu teria de encaixar no seu estilo de ensino e teria de trabalhar no tempo que era deixado livre nos seus horários. Acho que ninguém devia ser obrigado a trabalhar dessa forma. (Hargreaves, 1998, p. 201) A compreensão do conceito de autonomia requer que se identifiquem os seus elementos constitutivos e o papel que jogam no desenrolar da acção autónoma. O conhecimento destes elementos contribui para a edificação da estrutura da acção autónoma e, deste modo, entender-se porque é que algumas pessoas são mais autónomas do que outras ou porque é que em determinados contextos as pessoas agem de um modo mais independente e determinado. Sanches (1995), apoiada em diversos autores, aponta diversas componentes da acção autónoma: (a) princípios e valores pessoais; (b) confronto crítico; e (c) contexto de autonomia. A primeira componente funciona como uma espécie de substracto que joga “em interacção axiológica com o que se pensa que se deve desejar” (p. 47). A segunda componente permite à pessoa antecipar as consequências de uma determinada opção que se faz relativamente às consequências de acções alternativas – liga-se, pois, com a capacidade que permite agir ponderadamente, racionalmente e reflexivamente. A terceira componente respeita ao contexto em que a pessoa tem que funcionar e prende-se com o impacto do ambiente e das instituições no processo de tomada de decisões, logo no exercício da acção autónoma. Estes três elementos dão corpo à acção autónoma, segundo uma estrutura triádica, que funciona em 78 cada momento, de uma forma interactiva, permitindo a tomada de decisões de forma independente (Sanches, 1995). Em suma, a autonomia profissional dos professores é um processo de crescimento na profissão, que conjuga as vertentes individual e social, através do qual o professor toma em mãos o curso da sua acção. É, pois, um processo compatível com formas de trabalho colaborativo, desde que este último decorra num clima de liberdade e respeito pelas posições individuais de cada um. A inserção dos professores em redes colaborativas, em que estes se envolvem activamente, representa um sinal inequívoco de autonomia profissional, pois conceber a autonomia de uma forma redutora conduziria a uma proliferação de mentes-ilhas isoladas a funcionarem, autonomamente, segundo “legislação própria”. Fases da carreira e autonomia O desenvolvimento profissional dos professores ao longo da sua carreira é um processo continuado, feito de avanços e recuos. Como evolui a autonomia profissional dos professores ao longo da carreira? Será possível estabelecer padrões que de algum modo possam ajudar a compreender a vida profissional dos professores e o seu exercício da autonomia? Alguns autores procuraram caracterizar as fases da carreira dos professores, sendo que a autonomia é uma das componentes dessa análise (Huberman, 1992, 1995). No início da carreira, existe uma certa tendência para acções heterónomas, uma vez que os professores são levados a imitar os colegas, principalmente aqueles que são mais experientes. Nesta fase, a que Huberman (1995) chama de entrada na carreira, existe uma grande dependência em relação aos outros, nomeadamente no período de estágio profissional, em que estes profissionais parecem ser induzidos em práticas que lhes dizem pouco. Esta primeira etapa do ciclo profissional tem lugar durante os primeiros 2-3 anos de carreira e inclui duas fases (sobrevivência e descoberta). A sobrevivência diz respeito ao choque/confronto do professor com a realidade, a um tactear constante, a uma preocupação consigo próprio e a um desfasamento entre ideias e situações práticas. A descoberta traduz o entusiasmo inicial dos professores principiantes, a experimentação que levam a cabo em contextos que tendem a assumir como deles. O autor refere que as duas fases podem ser simultâneas, ou uma delas ser dominante em relação à outra. Esta primeira etapa da carreira dos professores é caracterizada por um baixo nível de autonomia profissional, principalmente 79 no caso da sobrevivência. Durante o período de descoberta, o professor, tendo em vista a definição das “suas leis” e da sua autodeterminação, passa por um período de experimentação. A entrada na carreira é um período de exploração, após o qual se segue, entre os 4 e os 6 anos de carreira, a fase da estabilização que representa a escolha de uma identidade profissional, sendo também o período em que os professores se comprometem, com um carácter mais definitivo, com a sua carreira. É, normalmente, a altura em que os professores se efectivam. Este período coincide também com a aquisição de conhecimentos e competências que permitem ao professor ter um domínio maior da sua profissão – tanto dentro como fora da aula – o que conduz a sentimentos de maior segurança, permitindo maior autonomia profissional. A fase seguinte – diversificação ou experimentação –, correspondendo a um período de tempo longo (7-25 anos de carreira), em que os professores se lançam num conjunto de experiências novas, tanto na sala de aula – novos materiais, outras tarefas, outras metodologias de ensino – como no desempenho de outro tipo de tarefas na escola, essencialmente de carácter administrativo. Este período é caracterizado por um elevado empenho na profissão e a busca de novos desafios, respondendo ao receio de cair em situações de rotina. No mesmo período, alguns professores entram numa fase de questionamento, resultante de um sentimento de crescente de rotina. Outros professores evoluem directamente para esta fase sem terem passado pela experimentação inovadora. A saída do questionamento pode ser a serenidade e o distanciamento afectivo ou conservadorismo, que ocorre por volta dos 25-35 anos de carreira. A fase da serenidade e distanciamento afectivo, a que pode também chegar-se, segundo Huberman (1995), por via da fase da diversificação, representa um período em que os professores se sentem com menos ânimo e, por vezes, com menos capacidade para desempenharem o seu trabalho, mas também com uma atitude de serenidade. Um outro grupo de professores evolui para uma atitude de lamentação constante e frequentemente tornam-se mais conservadores, mais individualistas e menos abertos ao grupo. A última fase da carreira – desinvestimento – pode assumir duas facetas consoante a fase anterior da carreira (sereno ou amargo). O primeiro corresponde a um desinvestimento profissional simples, enquanto que no segundo existe uma clara ruptura com o sistema e uma consequente marginalização/isolamento do professor. 80 Ao longo da carreira, nas diversas fases, à medida que exercita a sua capacidade critico-reflexiva e encontra condições favoráveis, o professor vai atingindo níveis de reflexão mais elevados. De forma concomitante, o professor tem condições para o exercício da autonomia, que podem ser ou não aproveitadas. No entanto, Sanches (1995) sublinha que “ser professor autónomo não obriga a ser diferente dos outros professores, mas implica, sem dúvida, o exercício da reflexão crítica sobre se deseja continuar a regular a sua acção profissional em função de padrões, princípios e valores que são de outros” (Sanches, 1995, p. 51). Neste percurso dos professores ao longo da carreira, a autora distingue dois níveis de autonomia profissional: (a) a autonomia profissional básica; e (b) a autonomia profissional plena. Enquanto que a autonomia básica é individual, privada e fechada, a autonomia plena é pública, flexível e aberta ao questionamento das práticas, por si e pelos outros, e aos efeitos transformadores da reflexividade crítica (Little, 1990). A autonomia básica “pode tornar-se hegemónica; isto é, afasta alternativas de inovação, restringe-se a uma legitimidade interna, reprodutora dos saberes adquiridos, fundamenta-se em critérios de funcionalidade prática, torna-se conservadora e pragmática” (Sanches, 1995, pp. 52-53). Esta autonomia corresponde à autonomia individual, tal como a concebe Little (1990), e a um trabalho independente na sua relação com os outros. De outro modo, a autonomia plena “expõe-se a uma legitimidade interdependente, alargada ao exterior; alimenta-se de uma visão holística do trabalho profissional, social e é politicamente perspectivada; vivifica-se através de um processo dialéctico entre pensamento e realidade” (Sanches, 1995, p. 53). Enquanto que a primeira autonomia pode conduzir ao isolamento profissional, a segunda, pelo contrário, leva os professores a procurarem os outros, a exporem-se, a arriscarem (cf. Little, 1990). Da mesma forma que esta autora utiliza o conceito de “autonomia colectiva”, Sanches (1995) liga a autonomia plena ao estabelecimento de interacções: “[a autonomia plena] estabelece uma relação crítica com os saberes e as crenças e concepções e valores pessoais, relação essa enriquecedora da identidade profissional; e, nesta medida, abre as portas a culturas de ensino de colaboração e colegialidade” (p. 53). Também Santos (2000), no estudo que realizou com três professoras em torno da temática da resolução de problemas profissionais, aponta como resultado do trabalho realizado “uma concepção colectiva de autonomia, que se traduz em tomadas de decisão que contrariam certos aspectos do programa, nomeadamente alterando a organização dos conteúdos programáticos” (p. 688). 81 A autonomia básica, que Sanches (1995) associa ao período de estágio profissional, formação inicial e indução, embora também se possa manter em alguns professores durante grande parte da carreira, apresenta, pois, as seguintes características: • Repertório mínimo de competência profissional; • Práticas de heteronomia: imitação de modelos pedagógicos; • Ênfase na improvisação; • Aprendizagem por ensaio e erro; • Desenvolvimento da auto-eficácia para ensinar; • Conhecimento prático fundamentado em critérios pragmáticos (p. 52). Por seu turno, a autonomia plena, que a autora associa à partilha colegial de saberes pedagógicos, à actualização profissional e ao conhecimento profissional, caracteriza-se por: • Reflexividade crítica sobre as práticas pedagógicas; • Auto-conhecimento do modo pessoal de ensinar: competência crítica; • Produção dos efeitos desejados nos alunos; • Experimentação de alternativas pedagógicas; • Realização das finalidades profissionais pessoais; • Consciencialização das necessidades de actualização profissional; • Uso de vários modos de conhecer; • Tolerância intelectual em relação a outros modos de saber e de pensamento; • Construção e testagem de teorias subjectivas de acção pedagógica; • Contextualização política, social e cultural do ensino e da profissão (p. 52). Embora colocadas em sequência, nem sempre os professores assumem uma autonomia plena nas suas diversas cambiantes; alguns poderão permanecer a um nível de autonomia básica. O exercício da autonomia é influenciado pelos contextos em que o profissional exerce a sua actividade docente, pelo que o professor pode revelar-se nesta faceta ou, pelo contrário, ser submergido pela situação em que está envolvido. As próximas linhas serão dedicadas à analise do contexto na construção da autonomia profissional por parte dos professores. Contextos de autonomia O exercício da autonomia é função de aspectos pessoais, como a capacidade critico-reflexiva, mas também de factores de índole social e contextual. Estes factores são de 82 extrema importância, na medida em que a acção da pessoa ocorre em situações devidamente enquadradas no tempo e no espaço, e que envolvem, de um modo mais ou menos directo, outras pessoas. Esta natureza social da autonomia é particularmente importante no caso dos professores, já que a sua actividade é eminentemente interactiva e exposta ao relacionamento com outras pessoas. Analisando a questão dos contextos, Sanches (1995) foca o enquadramento da sala de aula e o espaço mais alargado da escola. A autora defende que o contexto da sala de aula é, para os professores, o nicho da autonomia, uma espécie de último refúgio: A sala de aula é tida, por alguns professores, como santuário onde só os iniciados nos ritos de ensinar e aprender podem (ou devem) ter acesso. A aula transforma-se, então, em espaço social de e para a autonomia, território onde se consubstanciam e se confrontam valores, experiências e saberes, concepções, interesses e motivações tanto de professores como de alunos. Espaço de autonomia para ensinar e aprender, na aula se acolhe, respeita e potencia a individualidade dos seus actores. (Sanches, 1995, p. 54) Os professores têm, por norma, uma elevada reserva em abrir a sua sala de aula aos outros, permitindo com dificuldade a reflexão sobre o que aí se passa (Clement e Vandenberghe, 2000; Little, 1990; Sanches, 1995). Apesar da sala de aula poder constituir-se como uma arena da autonomia, nem sempre esse potencial é exercido pelos professores. A privacidade da sala de aula é também apontada por Clement e Vandenberghe (2000). Estes autores revelam que a “importância que os professores atribuem à manutenção desta individualidade é legitimada a partir da necessidade que sentem para estabelecer uma relação didáctica e pedagógica com os seus alunos” (p. 89). Para os professores, esta “atitude de independência em relação a normas e regras provindas dos espaços de colegialidade” (Sanches, 1995, p. 54) é sancionada por uma cultura que promove o individualismo. No entanto, urge perguntar: Que características das nossas escolas e da própria organização do sistema educativo convidam ou implicam mesmo a autonomia entre os professores? Será a escola um contexto neutro ao exercício da autonomia profissional ou, pelo contrário, colocará escolhos a essa mesma autonomia? E quanto aos contextos de formação de professores, que apelo fazem à sua autonomia? Na tentativa de compreender as características contextuais que podem favorecer a autonomia dos professores na escola, Sanches (1995) destaca ao nível organizacional: (i) flexibilidade versus rigidez; (ii) controlo versus não controlo; e (iii) 83 acessibilidade versus inacessibilidade. Por norma, as estruturas escolares são formais, pesadas e pouco flexíveis, não respondendo em tempo útil às necessidades de individuação e autonomização por parte dos professores. Os mais jovens sentem, de uma forma que às vezes chega a ser brutal, alguma dessa inflexibilidade (Huberman, 1995), facto que os obriga a serem iguais e a regerem-se por padrões de conduta que muitas vezes estão longe de serem os seus. Nas escolas, o controlo pode ser sentido a vários níveis, desde logo pela estrutura central do Ministério da Educação e, depois, pelas Direcções Regionais de Educação, Conselhos Executivos, Conselho Pedagógico e Grupos/Departamentos disciplinares. Tal como adverte Sanches (1995), “quanto mais elevado é o grau de formalismo e de controlo, mais reduzidos são os graus de autonomia da acção pedagógica” (p. 57). Por último, a acessibilidade respeita à possibilidade de o professor participar activamente na construção da escola que é sua, exercendo os seus direitos democráticos e profissionais. Síntese O professor tem de tomar múltiplas decisões no exercício da sua actividade docente. Estas podem ser ditadas externamente, podem seguir sistematicamente rotinas ou, pelo contrário, podem resultar do seu raciocínio pedagógico, através da reflexão e com apoio no seu conhecimento profissional. Esta segunda perspectiva traduz o agir autónomo – por oposição ao agir heterónomo – que se caracteriza por afastar a determinação externa (pela imposição, por outros, de modos de agir e pensar) como a determinação interna redutora (pelo seguimento acrítico de rotinas, mesmo quando elas parecem mostrar-se desadequadas). Nas discussões sobre a autonomia profissional é usual falar-se em individualismo e individualidade, conceitos que não devem ser vistos como sinónimos. Enquanto a individualidade se liga ao exercício de uma forma de estar na profissão, já o individualismo se refere a um modo de trabalho apartado dos outros. O individualismo, que em alguns casos se confunde com isolamento profissional, pode resultar de uma opção profissional do professor ou, pelo contrário, corresponder a uma reacção, mais ou menos constrangida, face ao contexto de trabalho. A autonomia, que se distingue claramente do individualismo, é assim uma forma de assumir a sua individualidade. A autonomia é, por vezes, apresentada por oposição à colaboração ou à colegialidade. No entanto, ela é tanto uma condição do trabalho individual como do trabalho colaborativo. 84 Enquanto que no trabalho individual se trata de autonomia individual e independente, no trabalho colaborativo emerge a autonomia colectiva, de natureza interdependente, resultado da negociação e do diálogo entre os intervenientes num determinado grupo. Em oposição à autonomia surgem certas formas de colegialidade ligadas a uma imposição administrativa, de carácter compulsivo, que limitam ou impedem mesmo a sua expressão. No desenvolvimento da acção autónoma emergem, pois, elementos de natureza individual, incluindo princípios, valores e capacidade reflexiva, e elementos de natureza relacional, como o contexto e o ambiente de trabalho. Por exemplo, no que respeita ao contexto das escolas, aspectos como a flexibilidade, o controlo ou a acessibilidade têm grande influência no desenvolvimento da autonomia profissional, principalmente nos professores mais jovens. Ao longo da carreira, os professores passam por diversas fases. Neste percurso profissional, tendem a buscar formas mais avançadas de trabalho de natureza colegial, pautadas pela experimentação de alternativas pedagógicas, por maior reflexividade crítica e pela atenção à aprendizagem dos alunos. O percurso profissional surge, pois, como um caminho rumo à autonomia. 85
Download