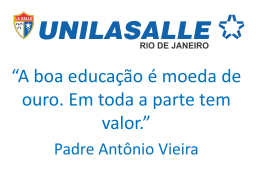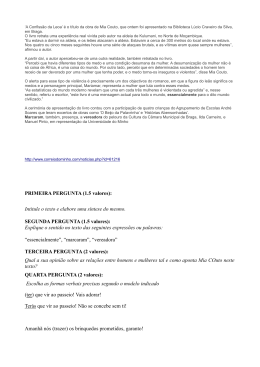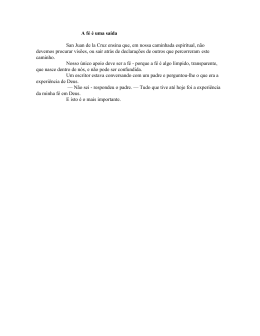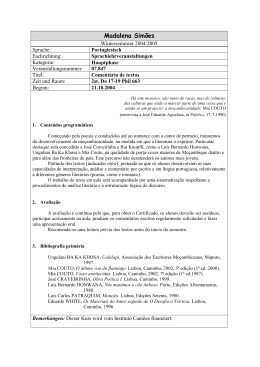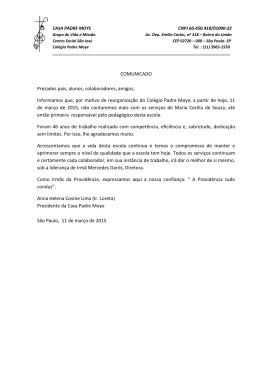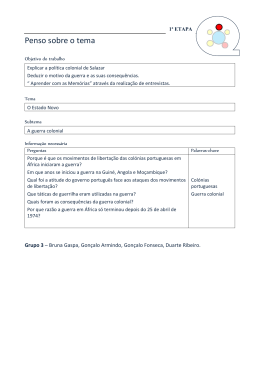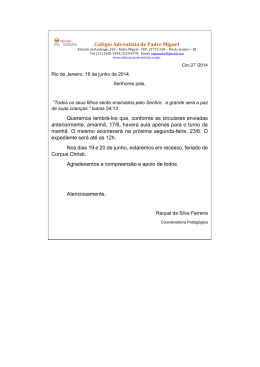Anais do I Simpósio de Linguística, Literatura e Ensino do Tocantins ISBN: 978-85-63526-36-6 416 11 a 13 de Novembro de 2013 – UFT/Araguaína –TO RELIGIÃO E COLONIZAÇÃO EM MIA COUTO Maria Perla Araújo Morais (UFT) [email protected] As políticas adotadas nas colônias portuguesas ultramarinas buscavam reforçar a autoridade colonial, ao se basearem, entre outros aspectos, em ações discriminatórias, responsáveis por criar um espaço em que era natural a exploração da mão de obra da população nativa e em que valores e crenças dessas comunidades fossem vistos como algo que deveria ser suplantando. Cedo o projeto colonial dos portugueses se aliou aos interesses da Igreja Católica, a ponto de a cada território conquistado enviarem comitivas de missionários para agirem como agentes evangelizadores. Nesse sentido, a Igreja funcionava como mais um mecanismo de controle e de exclusão social, pois impulsionava a separação entre os “assimilados” e os “indígenas” e ratificava, quer seja pela língua que adotava (o português), quer pelo arcabouço doutrinário judaico-cristão que apresentava, o poder colonial. A relação com essa instituição nas colônias será bastante tensa, sobretudo no período de independência de Moçambique. Próximo a esse momento, em 1940, a Igreja assinaria a Concordata e o Acordo Missionário com a República Portuguesa. Esse documento seria responsável por algumas manobras da Igreja frente ao Estado Salazarista. Dava, ainda, aos arcebispos e bispos residenciais de Moçambique o estatuto de oficiais do governo com direito à remuneração oferecida por Portugal. A Igreja ficou incumbida de oferecer os quatro primeiros anos de educação à população africana. As relações, portanto, entre Estado e Religião se estreitaram. (ARAÚJO, 2000) Mas, diante da independência de alguns países africanos, a Igreja sentiu a necessidade de constituir um clero africano dentro de Moçambique. Isso implicou na criação de seminários e na oferta de maior escolarização para os nativos. Não estaria longe a criação da Igreja Católica Nacional/Moçambicana que, segundo o professor Luís Benjamin Serapião, foi responsável por trazer à luz questionamentos acerca da orientação colonial da instituição: Realização Apoio Anais do I Simpósio de Linguística, Literatura e Ensino do Tocantins ISBN: 978-85-63526-36-6 417 11 a 13 de Novembro de 2013 – UFT/Araguaína –TO Em 1976, O Cardeal Mazzoni com a bênção do Papa Paulo VI veio participar na reunião do clero moçambicano que teve lugar em Guiua, Inhambane (26 de Agosto de 1974). Esta conferência foi muito importante na história da Igreja Católica de Moçambique por ter rompido oficialmente com a Igreja colonial, e dado início à Igreja Nacional/Moçambicana. Nesta reunião, os sacerdotes insistiram na identidade do clero e do povo moçambicano. Rejeitaram o conceito do “homem novo” imposto do exterior como, por exemplo, o sistema colonial que insistia em portugalizar os moçambicanos. Os sacerdotes queriam manter a moçambicanidade genuína. Esta atitude custou-lhes muito caro, por que os que rejeitavam abertamente o conceito colonial do “homem novo” eram presos e postos nas cadeias. Este foi caso do Padre Domingos Ferrão de Tete e outros. (SERAPIÃO, 2012) Há, ainda, bastante controversa sobre os rumos dessa Igreja Nacional. Uns a acusam por manter as mesmas estruturas coloniais e racistas do tempo português; outros veem nela um dos capítulos da independência colonial. Sobre o papel da Igreja Católica no território colonial moçambicano, temos dois textos contemporâneos: o conto, “Entrada no céu”, do livro O fio das Missangas, e o romance O outro pé da sereia, ambos de Mia Couto. O escritor procura captar nas duas narrativas a orientação colonial da Igreja Católica e contrapôr a isso seu questionamento pós-colonial. O conto “Entrada no céu” mostra a história de um rapaz, que, à primeira vista, está em seus últimos momentos de vida, realizando uma confissão a um padre. Sabemos desse interlocutor por meio dos diversos vocativos que são citados no texto: Se faça-me o favor, senhor padre, me diga: (…) (COUTO, 2009, p.77) Porque o que acontece, caro Excelentíssimo Padre, (…) (COUTO, 2009, p.78) - Quero ser santo, senhor padre. (COUTO, 2009, p.79) Esse padre tem nome: Padre Bento. Duplamente abençoado pelo nome, era ele o responsável pela catequese do jovem que narra a história. A ironia do nome confirma-se ao longo da narrativa, já que padre Bento não era muito afeito a escutar ou explicar as dúvidas que o narrador tinha na catequese: Nada é repetível, tudo é repetente? Era o que eu perguntava na catequese. E mais buscava, em clareza: -A vida, Santo e Deus, tem segunda via? O padre Bento não queria nem escutar: só a dúvida, em si, já era desobediência. (COUTO, 2009, p.77) Realização Apoio Anais do I Simpósio de Linguística, Literatura e Ensino do Tocantins ISBN: 978-85-63526-36-6 418 11 a 13 de Novembro de 2013 – UFT/Araguaína –TO Nítido está, nessa passagem, o confronto de culturas, no que concerne ao aspecto religioso. O conto parece se passar em um ambiente colonial, período em que estavam chegando ao solo africano não só os portugueses como todo o seu sistema representativo, dentre eles a religião católica, por isso a menção à catequese. O padre do conto institui a imagem do colonizador que desconhece o diálogo cultural. A diálogo, prefere um monólogo obtuso, por isso interpreta a dúvida do protagonista como sinônimo de desobediência. Entretanto, esse rapaz quer “ressignificar” o que aprende na catequese. Por isso, a interrogação e o jogo de linguagem no começo do parágrafo: “Nada é repetível, tudo é repetente?”. É um jogo sutil, mas muito refinado se pensarmos que o “repetível” poderia fazer menção à maneira como a vida é (sem repetição, porque única) e o “repetente” apontaria para como somos nessa vida: “pecadores”, aqueles que não aprendem com lições. O rapaz, portanto, comporta-se, nessa reescrita de Mia Couto, não como uma página em branco, mas como uma identidade que tenta articular seu mundo ao novo que se apresenta para ele (principalmente ao mundo cristão). Nessa ressignificação, vários aspectos da linguagem e da cultura do europeu branco e cristão são desarticulados. A começar pela estatuto da fala. Quem fala no conto é o africano. O padre, salvo um único discurso direto, é silenciado. Há, por isso, um falso diálogo, bem à maneira de subverter uma ordem colonial. O conto é estruturado num falso diálogo de um jovem que relembra seu passado de catequese e que agora, adulto e no momento crucial da sua vida, quer um espaço para debater o que aprendera com o Padre. A narrativa, pela forma como foi construída, assemelha-se bastante a um livro de um escritor por quem Mia Couto tem declarada afinidade: Grande Sertão: veredas, de Guimarães Rosa. (ROSA, 1986) Em todos os momentos do conto, o padre é tratado com ironia, porque o que ensina é uma maneira de o africano se anular. Embora saibamos que há nesse procedimento algo inerente à religião, que desvaloriza o mundano para uma valorização ao extremo do reino dos céus, esse discurso, adaptado à visão etnocêntrica europeia, produziria, em território africano, um indivíduo duplamente espoliado: -Quero ser santo, senhor padre. E o senhor se ria. Que santo não podia. E porquê? Porque santo, dizia, o senhor, é Realização Apoio Anais do I Simpósio de Linguística, Literatura e Ensino do Tocantins ISBN: 978-85-63526-36-6 419 11 a 13 de Novembro de 2013 – UFT/Araguaína –TO uma pessoa boa. -E eu não sou bom? -Mas santo é uma pessoa especial, mais único que ninguém. -E eu, Padre, sou especialmente único. (COUTO, 2009, p.79) No conto de Mia Couto, a um força aculturante do colonizador, percebemos a resistência quando o escritor opta por deixar claro o diálogo desencontrado entre culturas. A linguagem em Mia Couto aponta para essa impossibilidade, para essa desarticulação dos dados europeus na realidade africana: Se faça-me o favor, senhor padre, me diga: cuja essa entrada no Paraíso é à moda da raça, ou das cláusulas de sermos um zé-alguém? Os pretos como eu, salvo sou, apanham licença? Ou precisam pagar umas facilidades, encomendar um abreboca nalgum mandante? (COUTO, 2009, p.77) Nesse momento, há uma tentativa de tradução que só evidencia o desencontro, a diferença, mesmo que estejam falando o mesmo português. Na tradução de um sistema de representação português, desloca-se o sentido para o real concreto com o qual o narrador tem contato. À síntese integradora entre os dois sistema representativos, Mia Couto prefere o espaço da tensão dos contrários, marcado pela diferença cultural. É na realidade concreta, marcada pela exclusão e preconceito, que o narrador se fixa, porque o mundo metafórico a que o padre se referia, para o narrador, será apenas uma extensão da vida no mundo real. O imaginário colonial português, intermediado pela religião católica, confronta-se com a tradução africana. O narrador quer entrar no céu, mas não sabe como, porque o padre fabrica incertezas que funcionam como sistema de exclusão. A angústia do narrador, seu mal-estar, é a condição que o sistema de representação colonial impõe a esse indivíduo. O colonialismo coisifica o africano, aniquilando-o como cidadão, como sujeito. Nesse sentido, embora fale, o narrador não tem nome, é só uma categoria narrativa. Em relação à história e ao discurso rememorativo, o narrador inverte esse desejo colonial. Transporta para o mundo ao qual está acostumado a fala do padre, por isso suas dúvidas quanto ao que deve fazer para entrar no céu. Pauta-se no mundo concreto em que é excluído e silenciado para entender esse reino: Aquilo lá, nos porões celestiais, requer devida licença. E mais eu perguntava: quem executa essa triagem, à entrada do paraíso? Um encartado porteiro? Um Realização Apoio Anais do I Simpósio de Linguística, Literatura e Ensino do Tocantins ISBN: 978-85-63526-36-6 420 11 a 13 de Novembro de 2013 – UFT/Araguaína –TO tribunal com seus veneráveis julgadores? (…) (COUTO, 2009, p.77) Exemplo: a pessoa pode sair directamente da aldeia para o céu? Assim, sem passar devidamente pela capital, nem estar documentado com guia de marcha, averbada e carimbada nas instâncias? (COUTO, 2009, p.78) O narrador, nessa passagem, reproduz o sistema colonial no céu. Portanto, se não tem espaço na terra, também seria impossível entrar no céu. A não ser que fosse por uma sorte ou por um engano, como acontecera com ele em outra situação especial: o baile do Ferroviário. Nesse baile, espaço proibido por questões raciais para pessoas como o narrador, é confundindo com um empregado do bar e consegue entrada. Seu interesse não era tanto a entrada, mas quem encontraria lá dentro: a mulata Margarida, por quem era apaixonado. O narrador reflete se no céu também não poderia contar com a sorte e ser confundido com a criadagem. Entrar por sorte, por engano, é entrar pela porta dos fundos. Não é ser reconhecido como merecedor do céu. Por isso, nesse pensamento, embora possa ser visto como uma tradução do céu católico, o narrador acaba reproduzindo o mesmo sistema de exclusão observado na vida da qual quer fugir. No baile, ele é humilhado e expulso do lugar, mas não é isso que o entristece definitivamente. O golpe final é a falta de interesse de Margarida, que não se compadeceu com a humilhação sofrida pelo narrador. Até o amor aparece colonizado. No final da história, sabemos por que o discurso do narrador é de memória: ele está morrendo e, ao que parece, suicidou-se. Sua conversa com o padre são seus últimos suspiros, por isso também sua preocupação com o céu. Termina o texto num outro baile, o dos sonhos, em que seria recepcionado por Margarida de braços abertos. Nesse fim, Mia Couto deixa claro sua aversão à sorte, ao engano para que alguém usufrua de qualquer bem, até o da entrada no céu. Nessa outra vida que vai, paradoxalmente ao que acontece com o narrador, se descortinando no final do texto, não há céu, inferno, santos, só o amor. Por isso, afirma: “A vida, sim, tem segunda via. Se o amor, arrependido de não ter amado, assim o quiser.” (COUTO, 2009, p.80). Mia Couto subverte a exclusão colonial, a morte em vida por uma vida na morte: o sonho e o amor se realizando no fim da narrativa. Em outra obra de Mia Couto, O outro pé da sereia, o romancista também se dedica a um estudo sobre o diálogo religioso entre portugueses e moçambicanos. Esse romance apresenta-se dividido em dois tempos: um que diz respeito a uma história que estaria acontecendo em 1560 e Realização Apoio Anais do I Simpósio de Linguística, Literatura e Ensino do Tocantins ISBN: 978-85-63526-36-6 421 11 a 13 de Novembro de 2013 – UFT/Araguaína –TO outro que narra acontecimentos referentes a 2002. No século XVI, encontramos uma viagem do jesuíta D. Gonçalo da Silveira, personagem que realmente existiu, e do padre Manuel Antunes, ambos portugueses, que partem de Goa na nau Nossa Senhora da Ajuda para Moçambique, com o propósito de evangelizar a região. Já na ambientação do século XX, encontramos o relato sobre Mwadia Malunga na tentativa de encontrar na vila de sua infância, Vila Longe, um lugar para uma imagem de Nossa Senhora que seu marido, Zero Madzero, encontrara onde ambos viviam, em Antigamente. As duas histórias, a dos portugueses e moçambicanos, vão se entrelaçando aos poucos, para no final descobrirmos que a mesma santa que Mwadia carrega é a que estava à bordo do navio que levava D. Gonçalo da Silveira e Manuel Antunes. O título do livro, O outro pé da sereia, seria uma metáfora que apontaria para as trocas culturais entre portugueses e moçambicanos. A imagem contraditória de procurar um outro pé em um lugar que não existe pé indica o espaço efêmero e imaginário em que as duas culturas negociam o seu diálogo. A sereia é Nossa Senhora, lida e traduzida à imagem local de Kianda. Na história europeia, a imagem da santa é transportada pelos padres no navio que os leva à região africana. No trânsito entre esses dois mundos, o europeu e o africano, o escravo Nsundi, intérprete dos portugueses e responsável pelo fogo no navio, negocia a existência da deusa das águas na imagem cristã. Por isso, arranca-lhe a perna. Na visão do escravo, ao amputar a imagem cristã, estaria libertando a divindade africana; na visão dos padres, o escravo teria deformado a santa, ao transformá-la em coxa. Imagem e tradução se encontram no discurso pós-colonial de Mia Couto. Esse procedimento de fazer duas realidades se chocarem em forma de questionamento repete-se ao longo do romance. Na história da nau, D. Gonçalo reproduz o discurso eurocêntrico e trata os africanos como diferença a ser cristianizada. Aos poucos, porém, essa visão vai sendo desconstruída, principalmente pelo padre Manuel Antunes. Esse padre escolhera o sacerdócio por motivos alheios à fé. Estava encarregado de fazer o registro da viagem, propósito que é interrompido logo dentro do nau. Manuel Antunes e seus questionamentos tornam-se expedientes corrosivos ao discurso colonial: -Você, caro Manuel, põe na sua ideia a relevância da nossa missão em Monomotapa? Realização Apoio Anais do I Simpósio de Linguística, Literatura e Ensino do Tocantins ISBN: 978-85-63526-36-6 422 11 a 13 de Novembro de 2013 – UFT/Araguaína –TO -É exatamente isso que eu me pergunto, D. Gonçalo: tem sentido tudo isto, D. Gonçalo? -Que perguntas é essa? -Tem sentido irmos evangelizar um império de que não conhecemos absolutamente nada? -Você está cansado e o cansaço é inimigo do bem pensar. -Pois eu nunca estive tão lúcido. Já pensou bem? Estamos descobrindo terras que nunca conheceremos, estamos mandando em gente que nunca governaremos. -Cale-se, peço-lhe que não blasfeme. -Como iremos governar de modo cristão continentes inteiros se nem neste pequeno barco mandam as regras de Cristo? (COUTO, 2006, p.160) Passado e presente, colonialismo e pós-colonialismo, história e ficção estão dialogando por meio desses dois padres. O questionamento lúcido do padre Manuel Antunes é encarado à luz colonial como heresia e blasfêmia. Na pós-colonialidade, sabemos que essa discussão é um olhar crítico em relação à empreitada cristã. A história de Moçambique aqui é ficcionalizada, porque, embora o personagem histórico D. Gonçalo da Silveira apresente-se bem próximo ao discurso colonial, há a existência do padre Manuel Antunes, desconstruindo a empresa evangelizadora. Sobre D. Gonçalo da Silveira, esse personagem histórico presente no romance, sabemos que, em 1556, fora nomeado para as Índias e em 1560 estaria em uma região do sudeste africano a fim de evangelizar o território. Durante o tempo que permaneceu em território africano, o período de sete semanas, converteu e batizou vários chefes, inclusive Makaranga, e nativos. Sua missão consistia, ainda, em subir o rio acima do Manbezi, sempre com o propósito evangelizador. Muitos, inclusive os árabes que residiam nessa região, não aceitaram essa intervenção católica. Silveira foi estrangulado em sua tenda por ordem do mesmo chefe que batizara: Mas o Padre Gonçalo da Silveira guardava no seu coração a vontade e o desejo de ser missionário, desejo que viu concretizado em 1556, ano em que parte numa expedição em direção a Goa. Lá ficou 3 anos, onde também se destacou pela exigência. Essa, causou-lhe alguns dissabores entre os cristãos novos que celebravam as suas festas judaicas à porta fechada. Foi alvo de críticas e escritos deixados nas igrejas. A resposta do Padre Gonçalo da Silveira foi dura e os responsáveis foram chamados à Inquisição. As condições para continuar na Índia estavam cada vez mais frágeis e quando foi aberta uma missão para Moçambique ofereceu-se como voluntário e foi aceite. (FUNDAÇÃO GONÇALO DA SILVEIRA, 2013) Gonçalo da Silveira, portanto, é uma figura histórica ficcionalizada no romance de Mia Realização Apoio Anais do I Simpósio de Linguística, Literatura e Ensino do Tocantins ISBN: 978-85-63526-36-6 423 11 a 13 de Novembro de 2013 – UFT/Araguaína –TO Couto. O escritor dá vida, voz a esse personagem e faz-nos rever os antecedentes e contexto em que Silveira fora assassinato. As condições de sua morte e sua figura são redimidas do silêncio. No história real, ninguém soube ao certo quem o assassinou e não encontraram o seu corpo. A história do romance de Mia Couto só começa quando Zero Madzero encontra uma imagem de uma santa e, ao lado dela, a ossada de uma pessoa. Os ossos, vamos saber durante a narrativa, eram de Silveira. O resgate desse personagem histórico, tão importante para a história do catolicismo na vida moçambicana, acontece na narrativa. As duas histórias da narrativa de Mia Couto se juntam no momento em que, para impressionar Benjamin Southman, Mwadia começa a ler o diário encontrado ao lado dos ossos de Silveira. Silveira, assim como padre Antunes, é um expediente narrativo importante para se refletir sobre o encontro dos dois mundos. Antunes centra-se no questionamento, Silveira na obediência e crença dos ideais evangelizadores. Os dois de formas diferentes tentam estabelecer uma ponte entre portugueses e moçambicanos. Interessante é o fim de cada personagem na narrativa. Padre Manuel Antunes abandona o sacerdócio e vira uma espécie de adivinho local. Ele próprio, portanto, transforma-se no “outro pé da sereia”: “Aprendera a lançar os búzios e ler os desígnios dos antepassados. No terreiro, frente à casa, o português misturava rituais pagãos e cristãos. E procedia como nunca nenhum adivinho antes fizera: em cima de uma esteira colocava a pedra de ara que havia pertencido a Silveira.” (COUTO, 2006, p.313) Já D. Gonçalo da Silveira desiludira-se diante do território que encontrara: muitos mouros, judeus, falsos cristãos convertidos e portugueses cultuados como deuses. É assassinado, porque, diferente de Padre Antunes, seu discurso não cabe ali. Nessas duas narrativas que estudamos, Mia Couto recria no tempo pós-colonial a empresa colonial portuguesa, no que diz respeito ao aspecto religioso, questionando a pretensa universalidade dos sistemas de sentido europeus e oferecendo a eles uma tradução moçambicana. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ARAÚJO, Emílio Américo Lopes de. O contributo da Igreja Católica de Moçambique para o fim do conflito armado entre a Frelimo/Governo e a Renamo: 1979-1992. Dissertação apresentada ao Departamento de História, Faculdade de Letras da Universidade Eduardo Mondlane. Maputo, Realização Apoio Anais do I Simpósio de Linguística, Literatura e Ensino do Tocantins ISBN: 978-85-63526-36-6 11 a 13 de Novembro de 2013 – UFT/Araguaína –TO 2000. Disponível em: http://www.saber.ac.mz/handle/10857/991?mode=full. Acessado em 20/08/2013. COUTO, Mia. O outro pé da sereia. São Paulo, Companhia das Letras, 2006. ____________. O fio das missangas: contos. São Paulo, Companhia das Letras, 2009. FUNDAÇÃO GONÇALO DA SILVEIRA. Site institucional. Disponível em: http://www.fgs.org.pt/pt/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=6 Acesso em: 23/04/2013. ROSA, Guimarães. Grande Sertão: veredas. Rio de janeiro, Nova Fronteira, 1986. SERAPIÃO, Luiz Benjamin. Caso da Igreja Católica em Moçambique. Disponível em: http://macua.blogs.com/moambique_para_todos/2012/08/caso-da-igreja-cat%C3%B3lica-emmo%C3%A7ambique.html. Acessado em 20/12/2012. Realização Apoio 424
Download