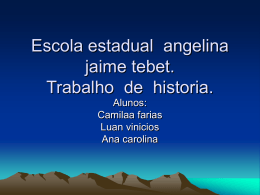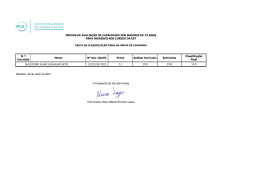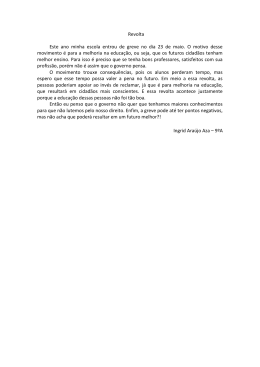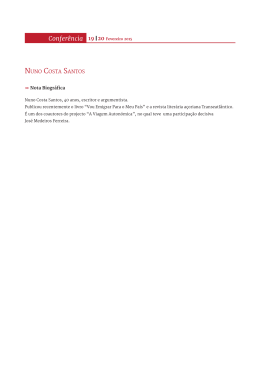NA RUA ÁRABE NUNO ROGEIRO NA RUA ÁRABE CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS D A S R E V O LT A S NO MÉDIO ORIENTE 5 NUNO ROGEIRO 8 NA RUA ÁRABE ÍNDICE GERAL INTRODUÇÃO 15 I. CHOQUE E ESPANTO 19 O PRÍNCIPE E O POBRE 21 DE ROBESPIERRE A LAWRENCE 22 II. SITUAR A REVOLTA: O ECOSSISTEMA HUMANO 29 A ECONOMIA COMO EXPECTATIVA 30 PROCESSOS COMPARADOS 31 III. ALGUNS CASOS DE ESTUDO 33 MAGREBE: O CALDEIRÃO (DO) VIZINHO 34 No enorme deserto 34 Os piratas das dunas 36 As raízes e as causas 39 A revolta civil 42 9 ÍNDICE LÍBIA: O CRIME DO PAI AMARGO 44 Sobre pesos e medidas 44 Os gritos do desespero 47 A força que protege 49 Amigos e inimigos 52 EGIPTO: O MISTÉRIO DA GRANDE PIRÂMIDE 53 Os charutos do faraó 53 De Heliópolis à câmara de Hórus 56 A «cidade dos mortos vivos» 59 «Com ou sem sangue?» 65 Transitar da transição 68 No labirinto dos reformadores 71 O serralho do sultão 73 NA TERRA PROMETIDA: UM DESTINO JORDANO 76 Daguerreótipo de um protesto 76 Chegar sem cegar 78 Maremoto no mar Morto 80 A cidade das águas 82 Encontros e desencontros 83 A hora dos espiões 85 Um jornalista na paisagem 87 Sião e negócio 88 IRÃO: PERSAS DO PUZZLE 90 R., «o moderado» 90 A peregrinação exemplar (entre infernos) 93 Interesses comuns 104 Que pluralismo? 106 Quando a caravana pára 115 Melopeias e meditações 117 10 ÍNDICE XINJIANG: PORQUE ESTÃO NO TURQUESTÃO? 118 A «China islâmica» 118 Bagatelas para um massacre 120 O longo caminho 124 IV. A CAUSA DAS COISAS: PORQUÊ A REVOLTA? 127 CAUSAS IMEDIATAS 127 Patologia política 128 6XEGHVHQYROYLPHQWRHDVÀ[LD 129 A esclerose dos regimes 132 A pobreza e a injustiça 134 A repressão em linha 136 A religião? 138 CAUSAS MEDIATAS OU REMOTAS 143 Velhos e esquecidos: ideais e abandonos 143 Promessas expi(r)adas 145 Pesada herança 146 O culminar de processos sociais 147 A sedimentação ideológica 150 Problemas não resolvidos 151 V. OS «ACELERADORES» DAS REVOLTAS 153 A GUILHOTINA ELECTRÓNICA (E OUTRAS HISTÓRIAS EM REDE) 154 Diz funções 154 Velhas e novas redes 155 À medida do Oriente 158 Os rompedores do bloqueio 159 A (I)MEDIATIZAÇÃO 164 O PAPEL DOS REGRESSADOS E DOS EMIGRADOS 169 ASCENSÃO DE LIDERANÇAS 176 11 ÍNDICE O COMPORTAMENTO DO PODER 179 POSIÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS 181 FACTORES EXTERNOS 186 PROCESSOS SIMBÓLICOS 196 VI. A MÃO QUE EMBALA O BERÇO: REALIDADES 199 E TEORIAS DA CONSPIRAÇÃO IRÃO 200 ISRAEL 203 AL-QAEDA 206 IRMANDADE MUÇULMANA 209 ARÁBIA SAUDITA 213 EUA 215 TURQUIA 222 VII. AS CONSEQUÊNCIAS DAS REVOLTAS 227 TIRANICÍDIOS E PRINCÍPIOS 229 A TEORIA DOS DOMINÓS 233 AS ESPERANÇAS DE REFORMA DEMOCRÁTICA 236 TRANSIÇÃO NEGOCIADA 240 O ESPECTRO DE GOLPES DE ESTADO E GUERRAS PROLONGADAS 244 DESTRUIÇÃO E RECONSTRUÇÃO ECONÓMICA 245 SOBRE NOVOS ESCÓIS 252 NOVOS EQUILÍBRIOS E DESEQUILÍBRIOS REGIONAIS 255 NOVAS CONSTITUIÇÕES 262 ENDURECIMENTO DOS REGIMES 275 ASCENSÃO DE NOVOS ACTORES TOTALITÁRIOS 279 EXPANSÃO 285 CONSEQUÊNCIAS PARA A EUROPA 288 12 ÍNDICE VIII. A REVOLTA ÁRABE E O PROBLEMA DO 297 «CHOQUE DAS CIVILIZAÇÕES» DESDE RATISBONA 297 PENSAR A JIHAD 299 ALIANÇA DAS CIVILIZAÇÕES 302 UM ARTIGO COM SEQUÊNCIA 304 A CIVILIZAÇÃO DA REVOLTA 307 IX. PARA CONCLUIR: QUE REVOLUÇÃO? 311 NOTAS 315 ANEXO: OS PANFLETOS DA PRAÇA TAHRIR 349 13 NUNO ROGEIRO 14 NA RUA ÁRABE I . C H O QU E E E S PA N TO No novo Conceito Estratégico da NATO (CEN), aprovado com pompa e circunstância em Lisboa, em Novembro de 2010, não há uma única referência à possibilidade remota de uma revolta árabe. Pode sempre dizer-se que o CEN precisa de ser válido daqui a dez anos e que a revolta árabe pode já não o ser nessa altura. Ou que os meios securitários do Ocidente estavam a olhar para outras direcções há oito meses. Mas não só o Ocidente. No último número de 2010 do LQÁXHQWHEROHWLPUXVVRInternational Affairs, espécie de órgão RÀFLRVRGR0LQLVWpULRGRV1HJyFLRV(VWUDQJHLURVGH0RVcovo (o ministro Sergei Lavrov é o presidente do Conselho Consultivo), o embaixador iemenita na Federação Russa podia ainda prever, não a revolução, mas «um país à beira do desenvolvimento». Mohammed al-Hilali achava, por exemplo, que o discurso do Presidente Saleh, de Maio desse ano, era visionário e «assegurava a estabilidade nacional» (sic). Poucos 19 NUNO ROGEIRO meses depois de o texto ser publicado com chancela russa, o Iémen ardia em fogo rápido. Mudando de continente e de âmbito, também a clássica Foreign Affairs americana, no seu último número de 2010, tinha SRXFDRXQHQKXPDSUHYLVmRGDUHYROWDiUDEHGRÀPGRDQRH do início de 2011. Michael Crawford e Jami Miscik, em «The Rise of Mezzanine Rulers», advertiam para a emergência, no Médio Oriente e no Sul da Ásia, de actores subestatais que criavam um novo patamar de poder entre os dirigentes tradicionais e o povo. Porém, se dissecarmos o artigo, vemos que é mais sobre um fenómeno emergente na última década do que uma visão do futuro próximo. Trata-se de referir o desaÀRTXHFRORFDPVREUHWXGRDR'LUHLWR,QWHUQDFLRQDORVSRGHres de facto em Estados em crise, falhados ou multipolares, da Somália ao Paquistão, passando pelo Líbano, pelos territórios palestinianos e pelo Iraque. Hezbollah, Talibãs, LeT, Al-Qaeda, Hamas, subestados que controlam partes de territórios ou SRSXODo}HVRXLQÁXHQFLDPGHVWLQRVORFDLVRXFRQWHVWDPD autoridade, o alcance e a administração dos governos centrais. Mas algumas obras incisivas e visionárias alertavam, de há algum tempo a esta parte, para o potencial insurgente dentro do islão. É o caso do último livro de Graham Fuller, que se tornou famoso na CIA e no Departamento de Estado norte-americano, em 1979, ao advogar o diálogo com forças moderadas do Irão, pouco tempo depois da revolução que levou à queda do xá. Fuller refere três elementos que podem reavivar a violência no mundo muçulmano: a existência de movimentos de contestação a poderes despóticos, questões pós-coloniais mal resolvidas e a luta pela libertação nacional ou resistência a ocupantes estrangeiros. O primeiro problema, como é óbYLRHVWiQRFHUQHGDUHYROWDHPFXUVRGHVGHRÀQDOGH 20 NA RUA ÁRABE Conselho de Fuller aos decisores americanos: «Conduzir a política nacional no Médio Oriente como se o islão não exisWLVVHª2FRQVHOKRSRGHSDUHFHUXPDSURYRFDomRPDVVLJQLÀFD apenas, como explica o autor, que «a vasta maioria dos problemas na região pode ser abordada e resolvida sem o recurso ao islão como explicação ou factor operativo». Ou seja: sem que o islão obceque, tolha, sirva de pretexto ou de fantasma. Não se olha também para a geopolítica da União Europeia pelo crivo GDLQÁXrQFLDGD,JUHMD&DWyOLFD$SRVWyOLFD5RPDQD O p ríncipe e o p obre A princesa Rania da Jordânia tem qualquer coisa de actriz, PRGHORIRWRJUiÀFR&LQG\&UDZIRUGVHJXQGRRVFRQKHFHdores) e activista social. Na conversa que tivemos em Lisboa, foi sobretudo a última que falou. Explicou que não se podem colocar todos os regimes e sociedades árabes no mesmo saco (o da minimização das mulheres, por exemplo) e aludiu ao frágil equilíbrio político jordano de uma monarquia pequena, governada por um escol ocidentalizado, cercada por vizinhos poderosos, belicosos ou frágeis (Israel, Síria, Líbano), com uma população maioritariamente estrangeira ou não autóctone, e uma difícil relação com alguns sectores do mundo muçulmano, devido a ser uma das faces do islão que fez a «paz dos bravos» com Israel, vista como «capitulação» pelos críticos. «É verdade que o seu marido, o rei Hussein, nas últimas horas de vida do rei Hussein, se disfarçou de pedinte e andou pelas ruas, confundido com o povo, para saber o que este pensava dele?» Perguntei isto com a perfeita noção do risco. A história corria como boato insistente, dentro dos meios 21 NUNO ROGEIRO selectos de Amã, entre serviços secretos, jornalistas e coPXQLGDGHGLSORPiWLFD0DVQXQFDIRUDFRQÀUPDGDHPERD verdade. Rania respondeu-me com naturalidade: «Sim, é verdade. Achou que seria uma boa maneira de tomar o pulso às pessoas e ver em que estado se encontrava o nosso regime.» Esta ideia de uma conduta política baseada no entendimento do espaço comum, de moral estatal derivada da empatia, SRGHWHUVHGX]LGRÀOyVRIRVVHGLPHQWDGRURPDQFHVKLVWyULcos sobre soberanos bondosos, mas raramente saía dos reinos da efabulação. Em Amã, o rei que ama passou de mito a prática. Mas não é seguro que possa esperar pairar sobre a revolta das ruas, sem medidas suplementares a essa espécie de ternura de estadista. Tal como em outros regimes pessoais relativamente benignos, mais ou menos enraizados na tradição (o caso de Marrocos vem à tona), o romantismo entronizado não é, por si mesmo, um seguro de vida1. De Ro be s pi e rre a Law re nc e Para estudar as revoluções, é preciso desenterrar Crane Brinton? Não, mas ajuda. O ilustre historiador de Harvard, falecido pouco depois do Maio de 68, entrou na galeria dos observadores de distúrbios e golpes comparados, por um pequeno e penetrante ensaio publicado três décadas antes da sua morte. Chamava-se Anatomia da Revolução e continuava a sua importante obra de análise do jacobinismo. Ali se procurava comparar uma série de revoluções (Inglesa em 1642-1651, Francesa, Americana e Russa), tentando decifrar traços comuns, movimentos semelhantes, grandes linhas de força e, obviamente, diferenças essenciais. 22 NA RUA ÁRABE A força do livro está, desde logo, no desprendimento cientíÀFRQR©PDTXLDYHOLVPRªHPVHQWLGRWpFQLFRGHVFREULURPHcanismo do relógio, sem julgar), na ausência de ira e paixão pelo estudo destas grandes turbações humanas. Vem depois a aguda noção das revoluções como «processo histórico» e não VLPSOHV©PRPHQWRª)LOPHQmRIRWRJUDÀD%DQFDUURWDHFRnómica e política, reivindicações revoltosas, dúvida do poder, ensaio de repressão ou atraso do processo, tomada do trono, reinos de terror e virtude, luta entre radicais e moderados, terror, arrefecimento do processo, Termidor e ditadura pessoal: Cromwell, Bonaparte, Estaline e a excepção americana. Excepção que, no entanto, levou ao fortalecimento do governo federal acima dos Estados e do Presidente acima das reclamações de governo de gabinete. Excepção que deriva de uma guerra que foi mais de libertação nacional ou colonial do que revolucionária. Brinton mostra que as dúvidas, desmoralização, deserções – incluindo as forças de segurança – nos regimes em crise se associam à determinação dos descontentes. E prova que HVWHVQmRVmRGHVFODVVLÀFDGRVVRFLDLVRXOHJL}HVGHPLVHUiveis, mas pessoas de todas as categorias, espécie de mosaico da sociedade insatisfeita. E mostra ainda que as aspirações espirituais (cidadania, dignidade, voto, liberdade) podem ser tão ou mais importantes que as preocupações económicoÀQDQFHLUDV$HVSHUDQoDYDOHPDLVGRTXHDPLVpULDVHEHP que a libertação da miséria seja também um objectivo político. Por outro lado, o autor explica que o momento crucial de mudança dá-se quando o regime falha na repressão ou na WHQWDWLYDGHFDSWDURVUHYROWRVRVTXDQGRDIRUoDpLQVXÀFLHQWH ou exagerada, provocando revoltas ainda maiores, e quando o diálogo e as concessões propostas têm, fortemente, o cheiro 23 NUNO ROGEIRO a fraqueza. Outro ponto de transformação: a passagem da lealdade dos intelectuais para a área da rua. Depois de um período de lua-de-mel, a revolução gira, em geral, dos moderados para os extremistas e pode seguir-se um período de purgas, vinganças e retaliações de uns grupos em relação aos outros. Este tempo pode ser antecedido de um «governo dual», em que centristas e radicais disputam, partilham ou co-gerem o poder. O triunfo temporário dos radicais deve-se a uma série de factores, incluindo a melhor organização, o espírito de missão, o descomprometimento – pelo menos aparente e na linguagem – com o antigo regime e porque os moderados aparecem sempre como um meio-termo, incapazes de ganhar adeptos entre a velha ordem e a nova. Quanto ao arrefecimento revolucionário do Termidor – usando sempre a experiência francesa – Brinton explica-o por uma série de factores, incluindo a necessidade de segurança, a frustração e a desilusão das massas e dos militantes, a falta de progresso material, o excesso de arbitrariedade e os banhos de sangue e a ascensão de novas estruturas técnicas de direcção, racionalizadas ou baseadas no poder pessoal e nas visões de um tirano. Muita água passou debaixo das pontes, entretanto. Brinton já não viu as revoluções do Leste Europeu, a queda das DXWRFUDFLDVFRPXQLVWDVRÀPGR[iGD3pUVLDDUHYROWDiUDbe. E muito foi entretanto escrito sobre o fenómeno revoluFLRQiULRQD&LrQFLD3ROtWLFDHGLVFLSOLQDVDÀQVUHDOoDQGRVH as obras de Chalmers Johnson, Ted Robert Gurr, Samuel Huntington, Alain Badiou e Theda Skocpol, por exemplo. Por outro lado, a comparação do processo a um relatório 24 NA RUA ÁRABE clínico, com sintomas, febre, agravamento, etc., é uma metáfora poderosa, mas precisa de ser tomada em muitos sentidos literários. E há a questão dos dados e das estatísticas, que precisam de ser estudados antes de estabelecermos um modelo comparado. De qualquer maneira, é tentador reler Brinton à luz do que se passa no mundo árabe. Em quase todos os movimentos encontramos elementos estudados pelo tradicional historiador americano. Os mesmos fenómenos, o mesmo estado mental febril, as mesmas personagens e intérpretes, as mesmas ambiguidades e fraquezas do poder, as mesmas ousadias, avanços e recuos dos militantes. Não havia então internet, mas rotativas e correios a cavalo, cartazes e pelourinhos (cf. infra, «A guilhotina electrónica»). Porém, a última imagem das massas numa praça, do ponto de vista do guarda do palácio que pergunta se deve premir o gatilho, é a mesma, certamente. Apesar do tom desprendido, Brinton parece sempre céptico em relação aos benefícios da revolução quando comparados com os malefícios e os resultados a longo prazo, que considera mínimos se comparados com revoluções tecnolóJLFDVUHOLJLRVDVHFLHQWtÀFDVFRPJXHUUDVHPRYLPHQWRVGH secessão. No entanto, o autor reconhece a energia envolvida nas revoltas e a capacidade de mobilização positiva de áreas sociais e políticas antes alienadas ou reprimidas. Até porque só se julgam as revoluções pelo ponto de chegada e não pelo ponto de partida2. Houve no século XX outra revolta árabe (cf. infra), nascida da eclosão dos nacionalismos e da militância sectária, por todo o Médio Oriente ocupado pelos impérios e sobretudo pelo trono otomano. O acelerador histórico foi, na época, a larga campanha de guerra subversiva e não convencional franco- 25 NUNO ROGEIRO LQJOHVDFRPXPSXQKDGRGHHVSHFLDOLVWDVRÀFLDLVHVROGDGRV de escol a enquadrar milícias, guerrilhas, sabotadores, insurrectos, legiões cavalgando camelos e cavalos, atacando pelo deserto, fugindo para montanhas, destruindo vias férreas e praticando ousados golpes de mão. Os mais novos conheFHPDKLVWyULDSHODÀJXUDPtWLFDGH7(/DZUHQFHLawrence de Arábia, imortalizado no cinema por Peter O’Toole (bastante mais alto, carismático e arrebatador do que a personagem original). Mas quem se fascine com os paralelismos, pode encontrar fantasmas de Lawrence nos elementos do SAS britânico e do COS francês, enquadrando a turbamulta GHUHYROWRVRVFRQWUD.DGKDÀTXHYLSDVVHDUFRPRWXULVWDV em Tobruk e na fronteira com o Egipto. A revolta de 1916 era, essencialmente, uma campanha de autodeterminação nacional, em que os colonizados se levantavam contra o império. Mas havia muitos elementos da presente turbação, com o crescimento de uma nova geração de combatentes – civis, militares e paramilitares – dispostos a reconstruir o mundo num ponto crucial da terra. E os mais letrados não se esquecem da desilusão de LawUHQFHQRÀOPHGH'DYLG/HDQTXDQGRDVVLVWHjVGLYLV}HVQR SDUODPHQWRiUDEHDFDEDGRGHFULDUHjVGLVFXVV}HVLQÀQGiYHLV sobre a melhor maneira de governar o novo mundo. Chegados ao poder, os revolucionários, cuja especialidade era o desmantelamento, precisavam de construir. Dividiram-se logo leões e raposas, moderados e iracundos, candidatos a fuziladores e potenciais vítimas dos pelotões de fuzilamento, chanceleres e oradores, eminências pardas e tribunos da plebe. $UHYROXomRFRPLDRVVHXVÀOKRV2VVHXVÀOKRVFRPLDP a revolução. 26 NA RUA ÁRABE Os que querem novas legislaturas, de Tunes a Damasco, de Bagdad ao Líbano, do Cairo a Bengazi, pensarão certamente nestes paralelos, mesmo sem ter lido Crane Brinton e sem ter visto David Lean e o seu resplandecente guerreiro das sombras3. 27 NUNO ROGEIRO 28
Download