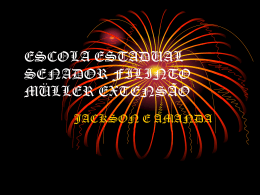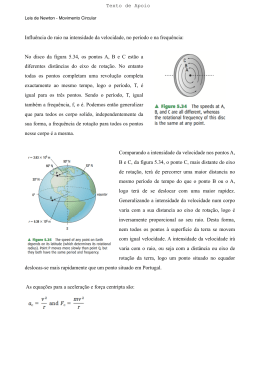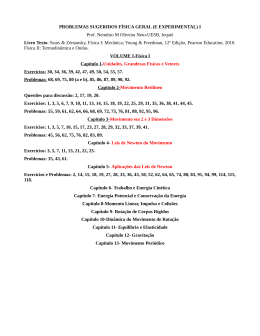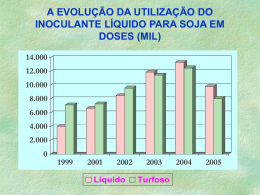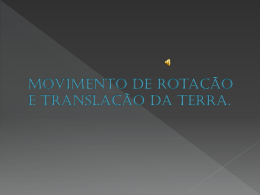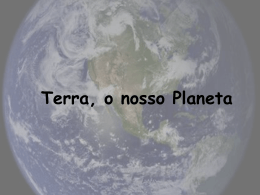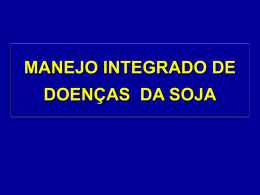ADUBAÇÃO VERDE E ROTAÇÃO DE CULTURAS EM SISTEMAS DE PLANTIO DIRETO: opções para regiões de clima sub-tropical Leandro do Prado Wildner. Eng.Agr. M.Sc. em Agronomia Epagri/Cepaf, Chapecó, SC. E-mail: [email protected] Palavras-chave: adubos verdes, cobertura do solo, culturas de inverno, culturas de verão. A adubação verde e a rotação de culturas são práticas de conservação do solo conhecidas desde milhares de anos atrás. Os chineses há mais de 2000 anos já utilizavam o tremoço para recuperar as terras cansadas pelo cultivo. Mas foram os romanos que deixaram registros importantes sobre o uso destas práticas. Marco Terêncio Varro, no documento “Rerum rusticarum” (Séc. I d.C.), numa alusão aos adubos verdes, referiu-se a algumas plantas que ....”também devem ser plantadas, não tanto pelo retorno imediato, mas tendo em vista o ano seguinte pois, cortadas e deixadas sobre o solo, elas o enriquecem”. Mais tarde, Lucius Junius Moderatus Columella, no documento “De re rustica” (Séc. II d.C.), comentou que ... “Uma vez derrubada a vegetação natural, as árvores cortadas pelo machado param de nutrir sua mãe com sua folhagem. Entretanto, podemos colher safras maiores se a terra for reavivada por uma adubação freqüente, oportuna e moderada”; mais adiante, no mesmo documento Columella comentou que ... “a mais usada para esse fim era o tremoço, o primeiro entre os legumes pois exige um trabalho mínimo, custa mínimo e, de todas as culturas que são semeadas, é a mais benéfica para a terra. Ela oferece um excelente fertilizante para terras aráveis e vinhedos cansados. ela brota mesmo em solo exaurido”. Para mostrar a consciência sobre a sustentabilidade da agricultura que já havia naquele tempo, Varro, ainda, deixou registrado que ...”A agricultura é uma ciência que nos ensina que culturas devem ser plantadas em cada tipo de solo, e que operações devem ser feitas para a terra produzir os rendimentos mais altos, perpetuamente” (Conway, 2003). Entretanto, a mensagem mais direta deixada pelos romanos, sobre o tema rotação de culturas, foi a seguinte: “SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS”, significando “Agricultor consciente continua a realizar rotações”. No Brasil os primeiros relatos sobre adubação verde foram realizados por Dutra, em 1919, no trabalho intitulado “Adubos verdes: sua produção e modo de emprego”. Neste trabalho o autor destaca o efeito melhorador dos adubos verdes e que o sucesso da prática estava ligado ao estudo de cada espécie e a sua escolha em função das condições naturais do local de cultivo e da cultura que se quer beneficiar com o seu cultivo. Após este trabalho inicial, inúmeros outros foram realizados nos anos subseqüentes, até o início dos anos 60, avaliando a introdução de espécies, comportamento edafoclimático e efeito sobre as propriedades químicas do solo e o rendimento das culturas em sucessão ou rotação. Todas as espécies avaliadas e recomendadas eram espécies de clima tropical, mesmo sendo cultivadas no inverno, em São Paulo. (Miyasaka, 1984). Na região Sul, algumas poucas iniciativas de cultivo de adubos verdes estavam polarizadas entre áreas livres de geadas, nas quais alguns agricultores cultivavam adubos verdes de verão, em especial a mucuna (introduzida e cultivada com informações de São Paulo), e em áreas de colonização européia (em especial a italiana, na Serra Gaúcha; mais tarde no Oeste Catarinense e Sudoeste e Oeste do Paraná) que costumavam fazer o “verdejo” do solo, com o cultivo de algumas plantas de inverno, com destaque para a ervilhaca “vica” comum. No período de 1977 a 1981, numa iniciativa pioneira do IAPAR e da GTZ, cerca de 100 espécies de plantas tropicais e sub-tropicais, incluindo algumas variedades dessas mesmas espécies, foram avaliadas em 8 localidades do Paraná, durante o período de outuno-inverno, para estudar a adaptação às condições edafoclimáticas das diferentes regiões e selecionar as espécies mais indicadas para cobertura verde e proteção do solo. Dentre as diversas espécies estudadas foram identificadas 14 adaptadas às condições climáticas do Paraná. Entre elas cita-se: tremoços (branco, azul e amarelo), ervilhaca comum e peluda, serradela, chícharo, centeio, aveia preta, azevém, nabo forrageiro, colza, espérgula e girassol. As espécies selecionadas permitiram amplas possibilidades de escolha para promover a cobertura do solo e enriquecer as rotações de culturas, melhorando, assim, os sistemas de produção vigentes. Os resultados pioneiros do efeito de plantas de cobertura mostraram que, na média de 2 anos, a soja plantada após aveia preta produziu 770 Kg/ha a mias em comparação com a média de todas as outras alternativas testadas. A aveia preta e o nabo forrageiro foram as melhores coberturas antes do feijão enquanto que o tremoço e a ervilhaca comum promoveram os maiores aumentos de rendimento do milho. (Derpsch et al., 1984). Maiores informações podem ser obtidas em Derpsch & Calegari (1985), Paraná (1989) e IAPAR (1998). Em Santa Catarina os trabalhos de avaliação de adubos verdes iniciaram a partir de 1979, na Estação Experimental de Urussanga. No entanto, foi a partir de 1981 que os trabalhos de avaliação de espécies de adubos verdes de inverno e verão nas diferentes condições edafoclimáticas do estado começaram a tomar corpo. Só no Centro de Pesquisas para Agricultura Familiar foram avaliados cerca de 200 materiais diferentes (espécies, cultivares e materiais coletados em propriedades). Até o momento foram realizados ensaios de avaliação de adubos verdes em 7 regiões distintas caracterizadas por clima, solo e culturas que vão desde as fruteiras, passando pelos grãos, até as hortaliças. Parte significativa dos materiais avaliados veio do projeto inicial do IAPAR (Bulisani et al., 1993). A partir das informações geradas pelo IAPAR, pelas informações dos projetos próprios, das iniciativas da extensão rural e dos próprios agricultores e, posteriormente, de ações conjuntas pesquisa-extensão foi possível desenvolver sistemas de manejo do solo adaptados às condições edafoclimáticas e sócioeconômicas dos agricultores de algumas regiões do estado tais como o cultivo mínimo do milho com ervilhaca, cultivo intercalar da mucuna com milho, o sistema plantio direto para milho e feijão, cultivo mínimo e plantio direto da cebola, o sistema plantio direto de hortaliças (SPDH) para tomate, pimentão, moranga e o SPD para o fumo. Os adubos verdes recomendados para as diferentes regiões de Santa Catarina são publicados, anualmente, em boletim técnico de avaliação de cultivares (Wildner et al., 2005). No Rio Grande do Sul, mesmo não se tendo conhecimento de um trabalho coordenado no estado para a avaliação edafoclimática de espécies de adubos verdes realizado no mesmo período que no Paraná e em Santa Catarina, vários trabalhos/projetos individuais foram e estão sendo realizados pelas Universidades (UFRGS, UFSM, UFPel, UPF) e pelas instituições de pesquisa (FEPAGRO, FUNDACEP) e de extensão rural (EMATER-RS), com o objetivo de estudar o manejo da fitomassa produzida e sua incorporação aos sistemas de produção das principais culturas, em especial em SPD. Em 1998, a FEPAGRO implantou uma rede de trabalho de avaliação de adubos verdes em 7 de suas unidades localizadas nas diferentes regiões edafoclimáticas do estado. Os resultados deste projeto podem ser encontrados em (Barni et. al, 2003). Passada a fase de introduções e avaliações das espécies com potencial para adubação verde, o momento atual é de busca de novos materiais genéticos das espécies já selecionadas, mais produtivas (quantidade de fitomassa – MS/ha), de ciclo vegetativo adequado às regiões de cultivo e, ainda, resistentes ou tolerantes a pragas e doenças. Exemplo disso são os novos materiais genéticos de aveiapreta (EMBRAPA 29 – Garoa; IAPAR-61 Ibiporã, entre outros), tremoço azul (IAPAR-24 Vila Velha), guandú anão (IAPAR-43 Aratã), ervilha forrageira (IAPAR 83), centeio (IPR 89), cevada forrageira (IPR 93), nabo forrageiro (Sileta Nova; nabo pivotante), crotalária juncea (IAC-1 e IACKR-1), trigo mourisco (IPR-91 Bali e IPR-92). Já por outro lado, lamentavelmente, o que se percebe é a perda de materiais genéticos crioulos. O resgate deste tipo de material genético é um dos principais trabalhos realizados por instituições e ONGs ligadas aos temas agroecologia e agricultura familiar. Para melhorar a performance dos adubos verdes, estão sendo estudadas novas épocas de semeadura, sistemas consorciados de adubos verdes e de adubos verdes com culturas econômicas, densidade de semeadura e, inclusive, sistemas de adubação com adubação da cultura econômica sendo antecipada em cobertura no adubo verde. No Rio Grande do Sul o nabo forrageiro, em semeadura antecipada, e a crotalária juncea, em semeadura retardada, por exemplo, estão sendo chamadas de culturas intercalares, pois desenvolvem-se de fevereiro a junho e são manejadas para cobertura do solo em SPD de trigo. O papel dos adubos verdes Os impactos do cultivo dos adubos verdes nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, no rendimento das culturas, na renda da propriedade e sobre o meio ambiente como um todo, são, de um modo ou outro, já conhecidos. Cabe então, discutir e promover novos estudos com relação ao modo como os adubos verdes devem ou podem se inserir nos sistemas de produção das principais culturas e, em especial, naquelas que já são cultivadas em sistema plantio direto (SPD). A recomendação técnica, de domínio público, para o cultivo dos adubos verdes, antes do início do SPD propriamente dito, diz respeito à recuperação física, química e biológica do solo que deverá ser submetido ao novo sistema. Para tanto, é indiscutível e indispensável a recuperação dos níveis de matéria orgânica do solo, na maioria dos casos. Somente será possível promover aumento dos níveis de matéria orgânica, promover a reestruturação (agregação) e aumentar a atividade biológica do solo pela adição de consideráveis quantidades de PALHA e RAÍZES ao sistema. Nesta fase devem ser recomendados adubos verdes com alto potencial de produção de fitomassa (parte aérea), com elevada relação C/N (que garanta manutenção da cobertura do solo por um período longo, e/ou, até mesmo, para incorporação ao solo, num primeiro momento) e que possua sistema radicular agressivo e volumoso (para garantir incorporação do material orgânico em profundidade e promover a agregação do solo). A recomendação recai sobre as gramíneas de inverno representadas, em especial, pela aveia preta (Avena strigosa, Schreb) e o centeio (Secale cereale L.) No entanto, alternativas de verão tais como o milheto, o teosinto ou, até mesmo, o próprio milho, podem ser utilizadas para esta finalidade. Quando o sistema plantio direto alcançar a fase de estabilização, após 3 ou 4 anos de recuperação das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo degradado, é possível começar a alterar a estratégia de cultivo dos adubos verdes, incluindo no esquema de rotação de culturas espécies que, além de prover o solo de cobertura para controle da erosão, influenciem direta e/ou indiretamente as culturas sucessoras de valor econômico ou plantas de crescimento espontâneo com potencial de causar prejuízos econômicos às culturas. No primeiro caso são indicadas, em especial, as leguminosas, capazes de fixar o nitrogênio do ar e incorporá-lo ao solo (ervilhaca comum, ervilhaca peluda e tremoço). Outra alternativa possível de uso é o nabo forrageiro (Raphanus sativus var. oleiferus) capaz de promover o aporte de grandes quantidades de nitrogênio ao solo, além do cálcio e do magnésio (Fiorin, 1999). Rotação de culturas A rotação de culturas, conhecida desde a antigüidade, foi empregada com ótimos resultados ao redor do mundo, até a 2ª Grande Guerra. A partir de então, devido à grande demanda por cereais, algumas culturas passaram a ser cultivadas intensivamente na forma de monocultura. O trigo e a soja, por muitas décadas, formaram a dobradinha das principais culturas de sequeiro na região sul. Técnicos e produtores, erroneamente, no início, denominavam esta alternância de “rotação trigo-soja”, quando, na verdade, não passava de uma sucessão de duas monoculturas, uma de inverno e outra, de verão. O cultivo do trigo em larga escala, sem respeitar a rotação de culturas provocou a ocorrência de vários problemas, em especial os de ordem fitossanitária. Os agricultores esperavam que o lançamento de novas cultivares ou a melhoria nas recomendações de adubação e calagem pudessem reverter este quadro. Como isto não foi suficiente, de forma isolada, foram iniciados estudos em outras áreas, entre as quais a rotação de culturas cujos resultados preliminares geraram perspectivas positivas (Santos et al., 1987). Alternativas de inverno Várias culturas foram introduzidas para avaliação como alternativas de cultivo de inverno no Sul do Brasil desde a década de 70. A EMBRAPA-Trigo, desde 1979, vem introduzindo espécies de inverno com possibilidade de servir como alternativas ao trigo. A colza, o linho, a aveia, tremoço, ervilhaca e a serradela mostraram-se com potencial para rotação para controle das doenças radiculares do trigo. Mas, apesar de tecnicamente viáveis, inicialmente, a maioria das alternativas identificadas acabaram não tendo o sucesso esperado. Problemas fitossanitários, de produção de sementes, de infraestrutura para transporte, beneficiamento e armazenamento, carência de políticas de apoio, preço mínimo e mercado, acabaram por inviabilizar o cultivo de algumas espécies. A colza, hoje denominada de canola, apesar de todo o apoio recebido pelo setor cooperativo (Cotrijuí, em especial, no RS, e OCEPAR, no Paraná), acabou, também, sendo abandonada. O interesse em algumas espécies novas ou já estudadas voltou, em especial, sobre aquelas com potencial forrageiro (para ser cultivada em um sistema de integração lavoura-pecuária, como a aveia e o centeio) ou também como matéria-prima para alimentos alternativos (farinhas integrais de aveia ou centeio) ou como culturas com potencial de produção de óleo (para produção de biodiesel, como o nabo forrageiro, a canola e o linho). Detalhes podem ser obtidos em Santos (2001). Rotação de culturas para o trigo A identificação dos melhores esquemas para rotação de culturas para o trigo tem por objetivo reduzir o potencial de inóculo de organismos causadores de podridões radiculares e de manchas foliares. A rotação de culturas é o método mais eficiente e econômico para quebrar o ciclo biológico dos organismos causadores destas patologias, uma vez que, até o momento, não existem cultivares resistentes e o uso de fungicidas no solo é inviável economicamente. No final dos anos 80, Santos et al. (1987) recomendavam os seguintes esquemas de rotação de culturas para trigo: 1. Três anos sem trigo: a área de cultivo deveria ser dividida em quatro partes, utilizando um esquema de rotação do qual participassem outras 3 culturas não susceptíveis às doenças radiculares (aveia preta ou branca para produção de grãos; linho ou colza; uma leguminosa: ervilhaca, tremoço, serradela); 2. Dois anos sem trigo: a área de cultivo deveria ser dividida em 3 partes, utilizando um esquema de rotação com outras duas culturas não susceptíveis às doenças radiculares (aveia preta ou branca para grãos ou linho ou colza. uma leguminosa: ervilhaca, tremoço ou serradela). Maiores informações a respeito podem ser obtidas em Santos & Reis (2001). Atualmente a Comissão Sul Brasileira de Pesquisa de Trigo (Reunião da Comissão..., 2005) recomenda: 1. A rotação de culturas com espécies não susceptíveis à podridão comum e ao mal-de-pé, de modo que o tempo mínimo de intervalo de cultivo do trigo, na mesma área, seja de um inverno, mesmo em SPD; 2. Em áreas nas quais não tenham ocorrido doenças radiculares, poderá ser cultivada uma segunda safra de trigo, voltando , posteriormente, ao esquema de rotação de rotação estabelecido, se e somente se: a- tenha sido obtido retorno econômico na safra anterior; b- tenha havido efetivo controle de doenças da parte aérea e da semente; c- em caso de frustração, esta tenha sido causada por fatores não controláveis tais como granizo, geada, seca, excesso de chuva, etc.; e, d- seja em áreas com solos de níveis elevados de fertilidade. Esquemas de rotação de culturas, incluindo espécies com potencial de produção de óleo, podem ser encontradas em Santos & Reis (2001). Rotação de culturas para a soja Atualmente, para estabelecer/definir um sistema de rotação de culturas para a soja, assim como o é para o trigo, deve-se, também, dar especial atenção ao manejo das doenças. Nos casos em que os patógenos se mantém viáveis, livres no solo como Rhizoctonia solani (tombamento de plântulas e morte em reboleira) ou viáveis por longos períodos, como os esclerócios de Sclerotinia sclerotiorum (podridão branca da haste), deve ser dado prioridade à rotação de culturas. O milho e o sorgo são indicados para rotação com soja por não serem hospedeiros dos mesmos patógenos. Já o girassol e o tremoço não são recomendados para compor um esquema de rotação em razão da susceptibilidade a Sclerotinia sclerotiorum e Diaporthe phaseolorum f. sp. meridionalis (cancro da haste), respectivamente (Reunião de Pesquisa...., 2005). Resultados de pesquisa indicam como regra geral o suo de sistemas de produção de grãos ou sistemas mistos (integração lavoura-pecuária) nos quais a soja é antecedida pelo cultivo de gramíneas para grãos (trigo, triticale, cevada ou aveia branca) e o milho ou sorgo precedidas de leguminosas no inverno (vica, serradela, etc.) ou de forrageiras de inverno com gramíneas + leguminosas (aveia preta + vica pastejados ou outras associações). Os principais sistemas de rotação indicados para o cultivo de soja no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, segundo resultados da Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul (2005), são: 1. Trigo/soja e ervilhaca/milho ou sorgo; 2. Trigo/soja e aveia preta+vica/milho; 3. Triticale/soja e ervilhaca/milho; 4. Trigo/soja, aveia branca/soja e ervilhaca/milho; 5. Trigo/soja, colza/soja, cevada/soja e ervilhaca ou serradela/milho; 6. Trigo/soja, trigo/soja, aveia branca/soja e ervilhaca/milho ou sorgo. Considerações finais O cultivo dos adubos verdes de inverno possibilitou a viabilização de vários sistemas de rotação de culturas nos quais são cultivados trigo, soja e milho. Nos últimos anos os adubos verdes com potencial forrageiro ou as forrageiras com potencial para adubação verde/cobertura do solo também possibilitaram a viabilização de sistemas integrados lavoura-pecuária. É importante registrar que o cultivo dos adubos verdes deve obedecer às orientações gerais usadas para o cultivo de qualquer cultura econômica. A rotação de culturas, em especial, deve ser realizada para evitar que o cultivo de determinada espécie de adubo verde seja inviabilizado em razão da incidência de pragas e doenças. Em função dos resultados animadores dos estudos que estão sendo realizados com novas espécies, em especial as de verão (Petrere, 2000), espera-se dentro de pouco tempo viabilizar novos esquemas de rotação de culturas, não só para as tradicionais milho, soja e trigo, mas também para culturas de maior densidade econômica como é o caso das hortaliças. Referências bibliográficas BARNI, N. A. et al. Plantas recicladoras e de proteção do solo, para uso em sistemas equilibrados de produção agrícola. Porto Alegre: FEPAGRO, 2003. 84p. (BOLETIM FEPAGRO, 12). BULISANI, E.A.;COSTA, M.B.B.da; MIYASAKA, S.; CALEGARI, A.; WILDNER, L. do P.; AMADO, T.J.C.; MONDARDO, A. Adubação verde nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. In: CALEGARI, a.; MONDARDO, A.; BULISANI, E.A.; WILDNER, L. do P.; COSTA, M.B.B. da (coord.); ALCÃNTARA, P.B.; MIYASAKA, S.; AMADO, T.J.C. Adubação verde no Sul do Brasil. 2ed. Rio de Janeiro: AS-PTA, 1993. p.57-206. CONWAY, G. Produção de alimentos no século XXI: biotecnologia e meio ambiente. Trad.Celso Mauro Paciornik. São Paulo: Estação Liberdade, 2003. 375p. DERPSCH, R. & CALEGARI, A. Guia de plantas para adubação verde de inverno. Londrina, IAPAR, 1985. 96p. (Documentos IAPAR, 9). FIORIN, J.E. A rotação de culturas e as plantas de cobertura do solo. Cruz Alta: FUNDACEP/FECOTRIGO, 1999. 8p. (FUNDACEP. Informativo Fundacep, v. 6, n. 1) IAPAR – Instituto Agronômico do Paraná. Plantio Direto: pequena propriedade sustentável. Org. Moacir Roberto Darolt, Londrina, IAPAR, 1998. 255p. (IAPAR. Circular, 101). MIYASAKA, S. Histórico de estudos de adubação verde, leguminosas viáveis e suas características. In: FUNDAÇÃO CARGILL. Adubação verde no Brasil. Campinas: Fundação Cargill, 1984. p.64123. PARANÁ. Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Manual Técnico do Subprograma de Manejo e Conservação do Solo. Curitiba, 1989. 306p. PETRERE, C. Importância de sistemas de rotação de culturas e reciclagem de nutrientes no Sistema Plantio Direto. Cruz Alta: FUNDACEP/FECOTRIGO, 2000. 5p. (Fundacep, Informativo Fundacep, v.7, n.1) REUNIÃO DA COMISSÃO SUL-BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO (37:2002:Cruz Alta, RS). Indicações técnicas da Comissão Sul-Brasileira de Pesquisa de Trigo: trigo e triticale – 2005. Cruz Alta, RS: FUNDACEP, 2005. 162p. REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL (33:2005:Passo Fundo). Indicações técnicas para a cultura da soja no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina 2005/2006. Passo Fundo; Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 2005. 157p. RUEDELL, J. Plantio direto na região de Cruz Alta. Cruz Alta: FUNDACEP/FECOTRIGO, 1995.134p. SANTOS, H. P. dos. Espécies vegetais para sistema de produção no Sul do Brasil. In: SANTOS, H. P. dos; REIS, E.M. Rotação de culturas em plantio direto. Passo Fundo: Embrapa-Trigo, 2001. p. 133179. SANTOS, H. P. dos; REIS, E. M.; VIEIRA, S. A. & PEREIRA, L.R. Rotação de culturas e produtividade do trigo no Rio Grande do Sul. Passo Fundo: EMBRAPA-CNPT, 1987. 32p. SANTOS, H. P.dos; REIS, E. M. Rotação de culturas em plantio direto. Passo Fundo: EmbrapaTrigo, 2001. 212p. WILDNER, L.do P.; ALEXANDRE, A.D.; ALMEIDA, E.X.; MONDARDO, E.; LAVINA, M.L.; PEREIRA, J.C.; RECH, T.D. Espécies vegetais para proteção do solo. In: EPAGRI. Avaliação de cultivares para o Estado de Santa Catarina 2005/2006. Florianópolis,, 2005. p.64-69. (EPAGRI. Boletim Técnico, 127). Palestra apresentada e publicada nos Anais do 10º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha “Integrando Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente”. Uberaba, MG, 08 a 11 de agosto de 2006.
Download