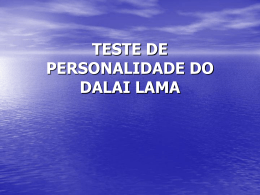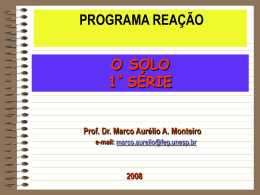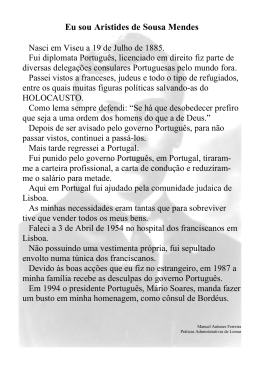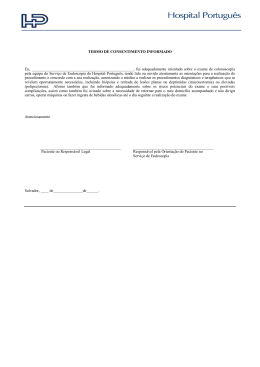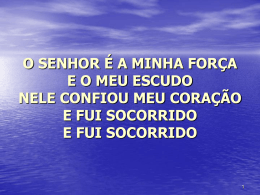À memória de meu pai, que me ensinou a gostar de cães, a respeitá-los e a compreendê-los. Recordando todos os cães que encheram de desinteressado afecto os dias da minha vida. A todos aqueles que sabem que o acto de abandonar um cão, ou outro animal de companhia, revela uma das piores formas de cobardia e de indesculpável baixeza moral. «Todos estamos sós no coração da Terra trespassado por um raio de sol; e de repente anoitece.» Salvatore Quasimodo (1901-1968) «Porque será que ao ver um cão perdido atravessar uma das nossas tumultuosas ruas me estremece o coração? Porque será que ver esse animal ir e vir, farejando o mundo, assustado, desamparado por não encontrar o seu dono, me causa esta piedade tão cheia de angústia?» Émile Zola Que dia é hoje? Há quantos dias aqui procurámos abrigo, talvez da chuva, talvez do frio, talvez dos medos sem nome e sem rosto que povoam a noite? Devias ser tu a velar por mim, mas sou eu que fico de vigília, temendo que me privem da tua companhia, que é a única com que ainda conto, e é sempre tão terna e tão envolvente. Vá, dorme descansado, que amanhã, uma vez mais, nada teremos para fazer, a não ser deambular pela cidade em busca de coisa nenhuma, passeando a nossa liberdade de seres indocumentados e sem compromissos de nenhuma espécie. O nosso único compromisso é ir vivendo, eu por ti e tu por mim, como se fôssemos mosqueteiros com um lema romântico para honrar. Que dia será hoje? Parece-me que ontem foi domingo, porque havia muito poucos carros na cidade, mesmo muito poucos, e senhoras de idade a entrar e a sair da igreja, ali ao fundo da rua. Fui perdendo a noção do tempo, de tal maneira que nem relógio tenho. Perdi-o, roubaram-mo, deitei-o fora? Sei lá que destino lhe dei, e já foi há tanto tempo. Zanguei-me de vez com o tempo e agora tenho-o de sobra. O tempo nunca perdoa, nem esquece quem o subestima. Durante alguns anos fui sabendo o que se passava no mundo pela leitura dos jornais que conseguia retirar dos contentores para improvisar uma cama ao anoitecer. Mas tinha sempre notícias com muito atraso. Alguns dos conflitos militares de que elas falavam já estavam resolvidos quando eu as lia e os mortos de que os anúncios necrológicos exibiam os nomes e fotografias velhas de muitos meses já deviam ter caído no esquecimento dos parentes, dos colegas e dos amigos. Eu conheço bem os mecanismos e as regras que regem o esquecimento. Eu próprio teci, em vida, a teia do esquecimento em que me quis perder, farto de tudo e de todos, exausto de mim e de um tempo que deixou de ser meu. Eu morri para esse tempo, e ele para mim. Dormes serenamente ao meu lado e às vezes tenho a certeza de que sonhas, não consigo imaginar com o quê, porque se te acelera a respiração e porque é grande a agitação que te faz tremer as pálpebras. Se calhar também eu sonho como tu, mas nunca me lembro daquilo que sonho, principalmente quando a bebida acrescenta um esquecimento ao outro esquecimento e tudo se torna vazio e distante como uma cisterna perdida no meio de um tórrido deserto longínquo, espécie de oásis afundado no coração das areias. Evito pronunciar o teu nome, porque mal o ouves arrebitas as orelhas e acordas, aguardando instruções para te pores em movimento, sempre ao meu lado, ou atrás de mim, como um oficial às ordens, diligente, leal e dedicado. És inexcedível nessa plena entrega. Quando te fui buscar ao canil onde te aguardava a injecção letal, passados os dias regulamentares da espera gerida pelo veterinário, o meu primeiro impulso foi chamar-te Zola, por ser o nome de um escritor que li quando era novo e que reli muito mais tarde. Mas depressa desisti, pois neste mundo dos sem-tecto nem afecto um nome assim só iria causar perplexidade e colar à minha testa o rótulo de «intelectual», um pouco infame e provocatório entre mendigos. Ninguém aqui tem nada que saber quem sou, de onde vim, se tive ou não família, se fui leitor de muitos ou poucos livros. Isso faz parte da vida que morreu comigo antes de me perder nesta vida, que em parte escolhi e em parte me foi imposta. Há dimensões que nunca podem nem devem misturar-se nem confundir-se. Foi assim que optei por te chamar Lobito, recordando os dois anos passados na guerra em Angola e uns dias de licença, com aquela que era então a minha mulher, nas areias limpas e ardentes da praia da baía Azul, perto dessa cidade que a guerra poupara. Talvez não acredites, mas mesmo em guerra uma pessoa pode sen- tir-se feliz, desde que não esteja a combater e seja jovem e saiba que as coisas tristes e amargas não hão-de durar sempre. Muitas vezes voltei para a frente de combate e vi matar e vi morrer, mas muito pior foi a morte interior que o desencanto me trouxe com o passar dos anos e que me transformou em soldado deste exército de espectros em que nem patente tenho e que anda cosido com as paredes para ninguém ver os rostos que tem e para não correr o risco de ser reconhecido por algum companheiro de outras guerras, de outras paragens, de outras andanças. Haverá situação mais triste do que alguém como eu aproximar-se de um homem da sua idade e ele, depois de apurar a visão, fazer questão de saber: «Desculpe, mas você não é o não sei quantos que foi meu colega no liceu, ou meu alferes na tropa e que morava ali para as bandas de Alvalade, ou de Campo de Ourique ou do raio que o parta?» E nessa altura que resposta se há-de dar, que conversa se pode manter? Que fingimento ardiloso se pode engendrar para se poder ficar em paz? É por isso que os soldados deste exército de espectros andantes deixam crescer a barba, no caso de serem homens, enfiam chapéus muito largos e desbotados que lhes ocultam parte do rosto e emagrecem tanto que ninguém se atreve a remexer no magma ainda fumegante da memória para tentar descobrir de onde conhece aquela cara, aquele olhar, aquela característica inclinação da cabeça. Vá, dorme descansado, que esta noite sou eu que fico de sentinela, não vá algum skinhead tentar roubar-te ou mesmo matar-nos com as pancadas certeiras de um taco de basebol. Por vezes, é esse o ponto final que nos traz o sossego tantas vezes cobiçado. Digo bem: ponto final, o último que conta depois de tudo ter ficado escrito, e dito, e feito, e sonhado, e traído. Para te receber como dádiva e te livrar de uma morte certa, tive de me esmerar. Ninguém oferece um cão de raça abandonado a um sem-abrigo, muito menos um canil municipal, onde se acha preferível dar uma injecção letal a um bicho quase cachorro do que entregá-lo aos cuidados de quem não tem casa nem existência civil. Eu estava desesperado para ter companhia, e a única a que verdadeiramente aspirava era à de um cão, depois de ter morrido a linda Flora, uma cadela pastora-alemã que me acompanhou durante mais de cinco anos e acabou envenenada com herbicida colocado pelos funcionários dos jardins municipais nos canteiros onde costumava procurar ossos para roer e pedaços de comida deitados fora pelas crianças e pelos velhos. Vi-a agonizar e enxuguei as lágrimas da dor e da perda na manga do casaco sujo, num beco onde o sol sempre se recusara a entrar, caprichoso como faz questão de ser quando o confrontam com a obscuridade. Agora sentia-me só e precisava de quem pudesse partilhar comigo a minha solidão. Disseram-me que havia um cão labrador, de pêlo preto, que andava perdido e que ninguém viera reclamar. Tratei eu de desempenhar esse papel. Fiz a barba, procurei, entre os meus farrapos, os socialmente mais aceitáveis e fiz de conta que tinha emprego, filhos a crescer e uma casa para te acolher com dignidade e conforto. Tudo mentira, pura e engenhosa mentira. Estratagema de uma alma solitária. A única coisa verdadeira era o desejo que eu sentia de te salvar a vida e de fazer com que tu me ajudasses a salvar a minha. Sim, digo bem, salvar a minha, pois há momentos em que alguém como eu, ao dar-se conta de que tudo deixou de fazer sentido, olha para uma linha de caminho-de-ferro, para as águas mansas do Tejo ou para o rodado de um autocarro da Carris e não tem dúvidas de que essa é a maneira mais prática de atingir com eficácia total o fim da viagem. É certo que causa algum transtorno, porque há sangue, porque há gente que fica em estado de choque, porque há senhoras grávidas que se põem a vomitar receando um aborto espontâneo, porque há pesadas formalidades a cumprir, porque o corpo não sai dali até chegar, circunspecto e hirto, o delegado de saúde, porque depois há gente que permanece no passeio, à distância, com o corpo já oculto sob um lençol amarrotado, a tricotar ficções sobre a causa ou causas do «tresloucado acto». Até parece que os estou a ouvir: «Eu por acaso conhecia-o. Não aguentou a fuga da mulher com um colega do emprego e decidiu acabar com tudo. Ainda pensou em matar os dois, mas acabou por pôr assim termo à vida.» Merda de vida, acrescentaria eu. Vida de cão, diriam os imaginativos ficcionistas do passeio público. A verdade é que o mundo está cheio de escritores frustrados. Toda essa gente, gentinha e gentona está a transbordar de histórias para contar e dá o que tem e o que não tem para ter espectadores e ouvintes que as escutem, sobretudo se foram fruto da mais rebuscada e mórbida invenção. Lembro-me de um dia, antes dos dias desta vida que hoje levo, em que uma equipa de reportagem da televisão quis saber pormenores sobre um ajuste de contas num bairro que se traduzira na morte de um dos contendores. Um velho saído de uma taberna em perfeito estado de lucidez tratou de inventar uma história completamente desligada da realidade. Ele não conhecia nem a vítima nem o agressor, mas encontrava-se em estado de pura ficção e decidiu construir, ali mesmo, uma história, um enredo, um verdadeiro guião policial, talvez por sempre ter sentido essa vocação e nunca ter tido coragem para a realizar ou porque a sua solidão era tamanha que sentiu necessidade de a povoar com personagens acabadas de arrancar à monotonia de uma vida feita de copos de tinto, jogatina de dominó, contas por pagar, mulher com mioma a dilatar-lhe a barriga como numa gravidez tardia, filho drogado e próstata mais inchada que uma meloa no pico do Verão. Conheci muito bem essas vidas e os seus protagonistas e fartei-me delas, deixei de me enredar nas suas malhas pegajosas e envenenadas pela baba da inveja e da pequena intriga e acabei por construir a minha própria ficção, um imenso monólogo com duas personagens, uma que fala e outra que ouve com os olhos húmidos de ternura e compreensão. E foi assim que tu entraste pé ante pé na minha vida, com o teu corpanzil de cão possante mas dócil e incapaz de acrescentar uma ponta de hostilidade ao ladrar sonante e imprevisível. Tive de preencher papéis e de prometer que cuidaria de ti com atenção e carinho. Atenção e carinho terias tu de sobra no canil municipal se não me tivesse dado para te ir salvar, porque aí estavam uma seringa e uma agulha à tua espera para libertarem a cidade e o mundo de mais uma boca para alimentar, vítima do abandono com que donos sem escrúpulos presenteiam quem só nasceu para lhes dar todo o amor que tem para dar, oferenda de ternura num mundo já esquecido de como se faz quando se ama ou se tenta amar. Depressa te habituaste à sonoridade do nome que escolhi para ti. Agora chamavas-te Lobito, embora nada tivesses de lobo nem de pequenez que justificasse o diminutivo. Eras Lobito porque eras, e os miúdos na rua começaram a gostar do teu nome e a chamar-te assim por tudo e por nada, sem tu lhes ligares grande importância, porque sabias que era junto de mim que devias estar, por eu ser tudo para ti – teu dono, teu amigo, teu confidente, fonte de alimento e de calor. É verdade que ainda me fugiste umas duas ou três vezes porque a miudagem queria pôr à prova, com a sua nem sempre inocente crueldade, a tua fidelidade a este dono pobretanas e sem tecto, misto de Charlot e de profeta dos esgotos. Mas acabaste por voltar ao fim de uns minutos, envergonhado com a transgressão, orelhas descaídas e rabo a abanar, implorando clemência, como se isso fosse preciso, como se eu estivesse em posição de te punir por teres usado a liberdade infantil de quem corre atrás de um assobio, de um nome familiar ou até do voo ziguezagueante de uma borboleta de cores exóticas. Continuo a perguntar todos os dias: que dia será hoje? E pouco me interessa saber o dia certo da semana ou a data exacta do mês, porque já não existe nada que eu deseje recordar ou celebrar. Não tenho aniversários para festejar, contas para pagar no limite do prazo ou outras de qualquer espécie, mortos para chorar. Tive mas deixei de ter. Tive-os mas apaguei-os da minha vida, ou seja, da memória em que arquivei e desarquivei tanta coisa vivida, sofrida e depois para sempre esquecida. É doce e amarga a liberdade de quem vive uma vida assim. Não tem encargos, não tem deveres definidos, não tem sequer um nome que se possa acreditar que é autêntico, e toda a sua existência cabe em dois grandes sacos de plástico que o acompanham para todo o lado, espécie de simulacro de mobília para encher a assoalhada única de todas as angústias. O resto é pura ficção, isto é, pode ser inventado por quem quiser criar uma história, ou mesmo um enredo sombrio, para aquela personagem saída sabe-se lá de onde, vinda de uma caverna, de um turbilhão de névoa ou de um livro inacabado. Às vezes apetece-me desafiá-los a fazer apostas, desde que uma parte do bolo seja para mim. Há quem jure que eu cumpri uma longa pena de prisão e que depois não fui aceite nem pela família, nem pela empresa onde trabalhava. Há quem garanta que enlouqueci porque a minha mulher fugiu com um brasileiro rico e eu acabei na valeta sem ter coragem para reassumir a minha verdadeira e antiga identidade. Há quem jure que sou um jornalista infiltrado entre os sem-abrigo para fazer a reportagem da sua vida e depois escrever um livro e ganhar um prémio valioso. Nada digo que possa contrariar essas fantasiosas versões, porque as pessoas não conseguem viver sem as suas ficções, sem as suas ousadas fantasias. Se lhes desse para escrever, o mundo ainda tinha mais escritores do que aqueles que já reclamam esse pomposo estatuto. – Acorda, Lobito, que hoje temos visita da Polícia, que deve andar à procura de algum larápio que se escondeu no meio desta gente de bem. Lobito acorda, sacode o pêlo, lambe-me as mãos e depois põe-se a ladrar com o seu vozeirão de guardião de quinta, embora não passe de um doce guarda de gelatina. – Vamos lá a manter o bicho com trela curta, senão levamo-lo já daqui para o canil e de lá já não sai vivo. A ameaça do agente é mesmo para levar em consideração, porque o medo torna esta gente mesquinha e fá-la puxar pelos galões, já que não tem mais nada por que possa puxar. – Cala-te, Lobito, que estes senhores são a lei e são todos nossos amigos e protectores. Lobito recomeça a abanar a cauda e deixa subitamente de ladrar. Percebeu com exactidão a mensagem que eu lhe quis transmitir e receou ir acabar os seus dias no canil público onde o fui buscar para lhe dar uma vida na rua, mas toda embrulhada em ternura. Quem deixa de ter uma vida para passar a ter outra corre o risco de ver serem-lhe atribuídas muitas outras vidas, máscaras coladas ao rosto insondável. No ano passado, parou junto de mim um carro luxuoso com motorista, saiu do interior uma senhora de perfume intenso, acompanhada por um homem com ar de detective privado, e observaram-me demoradamente como se andassem em visita a um museu e estivessem defronte da vitrina da iguana. Ela dizia que não tinha a certeza, o homem jurava que só podia ser eu a pessoa que procuravam e o motorista mantinha-se em silêncio, embora fosse o único que parecia ter certezas sólidas no meio de tantas e tão exuberantes dúvidas. Nunca cheguei a perceber o que tentavam ver em mim, se um ladrão que assaltara uma casa rica, se um falsário que enganara a senhora perfumada, se o marido que em tempos a abandonara e agora estava na hora de regressar a casa, por via da solidão que a fustigava. Ainda temi que, depois deles, viesse a Polícia para me interrogar e me acarear com uma testemunha qualquer, mas tudo ficou por ali, sem sequelas nem novas incursões na minha triste intimidade sem tecto. Daquela conseguira escapar. Algo me diz que hoje é sexta-feira e que as férias estão à porta, porque as pessoas andam muito agitadas e apressadas e porque o ar está mais quente e perfumado. Lobito também anda de cabeça perdida com o cio de algumas cadelas, mas sabe que não se pode afastar muito de mim, ciente que está do seu papel de cão de guarda sem abrigo de um sem-abrigo que o guarda. Nunca me hão-de ouvir a perguntar na rua a quem quer que seja: «Desculpe, que dia é hoje?» ou «Tem horas que me diga?» Fazer perguntas dessas é dar sinal de que se sente a falta dessa outra vida e de que ainda se deixou nela alguma tarefa inacabada, alguma exaltante missão por cumprir. Ora não é, definitivamente, esse o caso. Eu bati com a porta e saí, ou melhor, fui saindo, deixei-me ir saindo, mas com a determinação de não querer nunca regressar. O pior é quando se sai e se deixa a porta aberta para o regresso, quando se continua a passar de vez em quando pela rua onde se viveu, a olhar para a porta e para as janelas, a ver quem está no café da esquina a beber a bica e a ler o jornal à mesa do canto. Quem sai para uma outra vida parte de vez para o exílio. É como a longa viagem de Ulisses, mas esse, quando regressou, só foi reconhecido pelo cão. Quem sai, ainda que permaneça na mesma cidade, tem de mudar de aspecto, de território, de hábitos. Torna-se clandestino. Ninguém parte para uma outra vida dobrando somente a esquina e ficando a meia dúzia de quarteirões, exactamente igual ao que era antes da partida. Isso é o que fazem os loucos, não o que fazem os sem-abrigo, os que perdem a casa, o tecto, o afecto e renunciam a tudo – aos amigos, aos familiares, a uma história longamente construída. O sem-abrigo que fica por perto não é um sem-abrigo. É somente um ameaço, um simulacro, uma vaga aproximação, um fingimento inconsequente. Parti de vez para longe de mim e do que fui, e ninguém pode dizer com segurança que me avistou aqui ou ali, porque passei a ser outro, perdi a minha identidade em troca de identidade nenhuma, porque eu sou eu mais um cão chamado Lobito, e nenhum daqueles com quem como uma sopa quente da caridade pública ou privada nas noites de invernia tem a veleidade de saber quem sou ou quem fui. Eu sou o que já foi e já não é. Sou o que deixou de ser, e não há filho, mulher, colega ou camarada de armas em guerras passadas que
Baixar