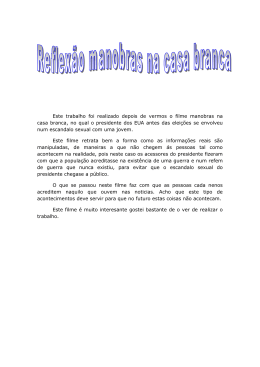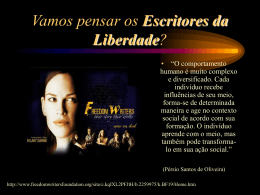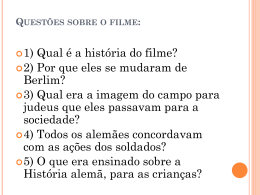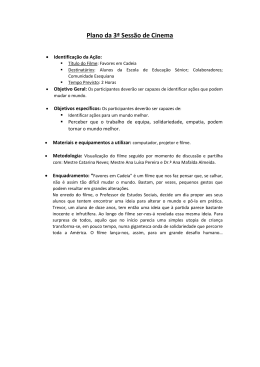A IMAGEM QUE FALTA de Rithy Panh _ 15 de Dezembro de 2015 sinopse Nascido em 1964 no Camboja, o realizador Rithy Panh viveu de perto as atrocidades cometidas pelo regime Khmer Vermelho, liderado pelo ditador Pol Pot durante os anos de terror em que esteve no poder, entre 1975 e 1979. Nesses quatro anos terríveis, em que 1,7 milhões de cambojanos pereceram de exaustão, tortura e malnutrição, Panh viu morrer toda a sua família. Assim, com base na sua própria autobiografia, intitulada "The Elimination: A survivor of the Khmer Rouge confronts his past and the commandant of the killing fields", o realizador junta imagens de arquivo, fotografias e clipes de propaganda do Partido Comunista e recria a sua história pessoal, que é também um trecho importantíssimo da História do seu país. Para representar os familiares e outros prisioneiros dos campos de trabalho forçado, são usadas centenas de bonecos de barro cuidadosamente esculpidos e pintados por Sarith Mang, que seguem a acção narrada em francês pelo actor cambojano Randal Douc. Um filme sobre resiliência e memória que foi nomeado para o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro e venceu o Prémio do Júri na secção "Un Certain Regard" do Festival de Cannes. Festivais e Prémios: Festival de Cannes – Prémio Un Certain Regard Óscares – Nomeado para Melhor Filme Estrangeiro European Film Awards 2013 – Nomeado para Melhor Documentário Título original: L'image Manquante (Camboja / França, 2013, 90 min.) Realização: Rithy Panh Argumento: Rithy Panh, Christophe Bataille Música: Marc Marder Fotografia: Prum Mesa Som: Eric Tisserand Montagem: Rithy Panh, Marie-Christine Rougerie Produção: Catherine Dussart Estreia: 3 de Abril de 2014 Distribuição: Leopardo Filmes Classificação: M/12 Um cinema que não desiste das imagens João Lopes, Cinemax Rithy Panh é um notável cineasta cambodjano que, trabalhando a partir das suas próprias memórias, continua a percorrer a história do sangrento regime dos Khmers Vermelhos — "A Imagem que Falta" é a mais recente proeza da sua invulgar filmografia. No texto sobre "A Imagem que Falta" (distribuído no Festival de Cannes de 2013), Rithy Panh começa por lembrar o impulso que o levou a conceber o seu filme: "Existem tantas imagens no mundo que passámos a acreditar que já vimos tudo. Pensado tudo. Há muitos anos que procuro uma imagem que falta. Uma fotografia tirada entre 1975 e 1979 por Khmers Vermelhos quando estavam no poder no Cambodja. É claro que por si só uma imagem não pode provar o assassínio em massa, mas leva-nos a pensar, encoraja-nos a meditar, a registar a História. Procurei-a em vão em arquivos, no meio de documentos, nas aldeias do meu país. Hoje sei que essa imagem deve estar perdida e que, na realidade, eu não estava à procura dela; não seria isso obsceno e insignificante? Então, eu criei-a." Cineclube de Joane 1 de 5 São palavras contundentes que, antes do mais, nos colocam perante a dimensão trágica da experiência pessoal do cineasta. Nascido em Phnom Penh, em 1964, ele viveu sob o jugo da ditadura sangrenta dos Khmers Vermelhos (1975-1979), tendo sido mandado para um "campo de " onde, devido às condições do dia a dia, a começar por uma deficiente alimentação, e às mais diversas formas de repressão, viu morrer os pais e todos os membros da sua família. Ora, Rithy Panh é um genuíno cineasta. Que é como quem diz: tem respostas cinematográficas para os dramas humanos e conceptuais que o seu trabalho envolve. E o ponto de partida do seu filme é, no mínimo, invulgar. Ou seja: tendo em conta que o próprio regime impôs drásticas limitações no registo de imagens, como representar a repressão dos Khmers Vermelhos? Pois bem, a resposta de "A Imagem que Falta" envolve a vontade de contrariar a própria limitação que o título evoca, não desistindo das imagens e dos seus peculiares poderes: Rithy Panh recorre a pequenos bonecos de barro para "reconstituir" as actividades quotidianas dos campos de prisioneiros, num registo que, num certo sentido, num misto de candura e contundência, acaba por intensificar o dramatismo inerente às memórias. Trata-se, assim, de assumir o documentário como um género que não deve recear a aplicação de assumidos artifícios, de acordo com uma lógica — estética e ética — em que a passagem de testemunho para as novas gerações, em nome do mais intenso humanismo, é o factor decisivo. Foi isso mesmo que Rithy Panh explicou ao jornal "The Phnom Penh Post", depois de ter ganho o prémio da secção "Un Certan Regard", em Cannes — aqui fica o registo dessa entrevista. Rithy Panh lembra-se Luís Miguel Oliveira, Público de 3 de Abril de 2014 O regime dos Kmers Vermelhos suprimiu a humanidade. É a derradeira “imagem” que este filme procura recuperar. Em 1975, quando os Khmers Vermelhos entraram em Phnom Penh, Rithy Panh era um garoto de onze anos, filho de uma família da classe média urbana. O que a seguir aconteceu à sua família aconteceu a centenas de milhares de outras famílias cambojanas: foram expulsos de casa e enviados para um campo de trabalho, para servirem de mão de obra escrava no mesmo passo em que eram “reeducados”. Rithy Panh perdeu a família nos campos dos Khmers Vermelhos, e ele próprio deve a vida a ter conseguido escapar alguns anos mais tarde, então já um jovem adolescente. Não custa nada imaginar que tudo isto seja experiência que não se esqueça. E se Rithy Panh tem trabalhado por diversas vezes a memória do período do terror dos Khmers Vermelhos, incentivando o debate na sociedade cambojana, este é o filme em que o faz de modo mais autobiográfico. É o filme em que “se lembra”, é o seu amarcord. A “imagem que falta”, mencionada no título, tem também este sentido: é a imagem da sua família e a imagem da sua infância, a imagem que o filme, de forma bastante inesperada e singularmente tocante, tenta recuperar. Quem conheça outros filmes de Rithy Panh sobre o terror do regime de Pol Pot, e nomeadamente o espantoso S21, a Máquina de Morte dos Khmers Vermelhos (sobre a prisão central do regime, onde se torturaram e mataram incontáveis cambojanos, e onde Panh promovia um inacreditável reencontro entre vítimas e torcionários), talvez comece por estranhar esta carga emotiva que a autobiografia traz (afinal de contas não há assim tantos exemplos, nem para o Holocausto, de cineastas que tenham podido contar a experiência do seu sofrimento), e ainda mais o modo figurativo que o realizador escolheu para a reconstituição - pequenos bonecos de argila pintada, que representam as personagens em sucessivos diaporamas retratando as mais diversas situações, sobretudo no campo de trabalho mas também antes dele (a casa familiar, que como Rithy Panh explica em entrevista foi o lugar de onde o filme partiu). Mas é evidente que também esses bonecos são “imagens”, “imagens que faltam”, e do confronto entre a gravidade dramática, de que são investidos pela narração, e o seu aspecto de brinquedos de crianças nasce muito do poder do filme: é um “faz de conta” construído sobre memórias dolorosas, uma mise en scène (e quer desenho do espaço quer os movimentos de câmara, que geram toda a “animação” propriamente dita, lembram às vezes o estilo do checo Jiri Trnka) que Cineclube de Joane 2 de 5 une um destino pessoal a um trajecto colectivo, quase como num melodrama clássico, a que nem falta um apropriadamente elaborado trabalho sobre a música, a música popular cambojana mais tradicional ou mais “pop” que se ouvia em 1975 e rapidamente se deixou de ouvir. Por tudo isto, e ao pé de um filme como S21, A Imagem que Falta é o single de Rithy Panh, o filme com “refrões” que acolhem e enleiam o espectador a partir de procedimentos quase clássicos. Não espanta que tenha sido o seu filme com maior divulgação internacional, incluindo mesmo uma nomeação para o Oscar de melhor filme estrangeiro: é um filme caloroso, apesar de todas as desgraças que narra. Conduzi-lo da maneira irrepreensível como o faz já seria mérito suficiente, mas o grande atributo do filme está na capacidade de integrar esta narração autobiográfica numa estrutura bastante complexa, a que não escapa, no seu centro, uma reflexão - sempre as “imagens que faltam” sobre a propaganda do regime Khmer Vermelho, e particularmente sobre as imagens produzidas por ela, na maior parte destruídas ou desaparecidas. É portanto também um filme de e sobre “imagens-arquivo”, um longo ensaio, ou antes uma sucessão de curtos ensaios, sobre imagens precisas, imagens dos campos, imagens de Pol Pot e outros altos funcionários do regime, imagens que na origem propunham a sua própria, tresloucada e inflexível, mise en scène da realidade. E o que nelas Rithy Panh procura, reinterpretando-as, “perfurando-as”, é sempre aquilo que elas suprimiam: a humanidade, derradeira “imagem” que este filme procura recuperar, a primeira “imagem” que os Khmers Vermelhos negaram. ENTREVISTA A RITHY PANH Contra uma máquina de morte, um cinema do lado da vida Por: Luís Miguel Oliveira, Público de 4 de Abril de 2014 "A Imagem que Falta", de Rithy Panh, mergulha num buraco negro: o período em que os Khmers Vermelhos se apoderaram do Camboja, e de que desapareceram demasiados vestígios. Fazê-los viver, diz o cineasta, é um acto de resistência. O cambojano Rithy Panh, que pela primeira vez chega ao circuito da distribuição comercial portuguesa, tem vindo a construir uma obra essencial no panorama contemporâneo. Sobretudo, como é o caso de A Imagem que Falta, na aproximação documental à época de terror que se abateu sobre o Camboja quando os Khmers Vermelhos tomaram o poder no país, em 1975. História de um genocídio, história da submissão forçada de um povo inteiro, A Imagem que Falta concilia a investigação histórica (e em particular a questão arquivística, a busca das imagens “em falta”) com uma dimensão autobiográfica que Rithy Panh ainda não tinha tentado, pelo menos com este fôlego. Porque esta também é a história de Rithy Panh, ele que tinha 12 anos quando foi expulso de casa e, com toda a família, enviado para um campo de trabalho. Uma história contada com figurinhas de barro, que substituem as imagens “impossíveis” — tal como a da sua casa de infância, que não visitava desde 1975, e onde, conforme nos conta em conversa telefónica, este filme começou. Uma parte importante da sua obra tem sido dedicada ao trabalho sobre a memória do período em que os Khmers Vermelhos estiveram no poder no Camboja, mas é a primeira vez que, dentro dessa lógica, encontra uma perspectiva declaradamente autobiográfica. Por que razão? A ideia inicial não era essa. Estava interessado em encontrar as imagens que os Khmers Vermelhos filmaram nos campos de trabalho, com propósitos propagandísticos ou outros, que desapareceram de circulação. O regime deixou muitos ficheiros, muita informação, mas as imagens que produziu desapareceram. Então comecei a trabalhar com antigos operadores de câmara dos Khmers, com o intuito de basear o filme nessas imagens de arquivo, de um arquivo desaparecido. E especialmente nas imagens de uma execução que um dos operadores se lembrava de ter filmado — cena que nunca encontrámos, mas cuja busca me obcecou e acabou por ficar expressa no título. É essa, num sentido muito imediato, a “imagem que falta”. A autobiografia entrou porque certo dia me lembrei de ir visitar a casa da minha infância, em Phnom Penh, aonde já não ia desde 1975, quando toda a minha família foi expulsa de lá. A casa já não era uma casa, era um bar com karaoke e prostitutas. Então, como que para reconstruir esta outra “imagem em falta”, a do mundo da minha infância, pedi ao meu assistente que construísse uma Cineclube de Joane 3 de 5 pequena maqueta da minha casa de acordo com as minhas recordações. E depois pedi-lhe que modelasse umas figurinhas em barro, que me representassem a mim e aos meus familiares. Quando vi os bonecos e a maqueta, o filme mudou na minha cabeça, e decidi contar a história da minha família. Os bonecos suscitam várias emoções. A começar pelo seu aspecto de brinquedos artesanais, que remete logo para uma dimensão infantil... Sim, acho que isso é muito poderoso, e aperceber-me disso foi o que fez o rumo do filme mudar. E há outro aspecto que para mim é importante a respeito das figuras: são feitas de barro, portanto de terra, água, fogo... Vêm dos elementos e acabarão por desaparecer e por voltar aos elementos. Têm uma espécie de vida natural, tal como os seres humanos. E nunca as filma como bonecos animados. Estão sempre estáticas, é a câmara que se movimenta em torno delas. Gera uma impressão de tempo suspenso que também é muito poderosa: tanto evoca uma forma de “eternidade” como um passado inalterável... Talvez um dia faça um filme com actores, não me repugnaria nada contar esta história com actores de carne e osso. Mas isso agora seria demasiado complicado, traria problemas de narração que o uso dos bonecos me permite ultrapassar. E, mais do que isso, julgo, encontrar a distância justa em relação à história. É preciso que se perceba que eu não queria meramente fazer um “filme de testemunho”. E se tenho filmado o genocídio do povo cambojano não me considero um “cineasta do genocídio cambojano”, mas apenas e só “um cineasta”. Não conhecendo muito da cultura cambojana, perguntava-me enquanto via o filme se as figuras lançavam alguma relação com tradições do seu país, ou com algo de culturalmente profundo... Ah mas sim, completamente. Este é país dos templos, como o de Angkor Wat, que deve conhecer. A argila é um elemento de construção antiquíssimo. E em muitos destes templos existem baixos-relevos, alguns bastante intrincados, que contam as mais variadas narrativas, desde cenas de guerra a cenas da vida quotidiana. É uma forma de registo empregue há muito, muito tempo, quase como um documentário artesanal. A presença de figuras deste tipo é corriqueira. É comparável, por exemplo, à das máscaras africanas, são objectos ao mesmo tempo muito banais e muito especiais, porque também são uma forma de comunicação com os espíritos. E no Camboja os espíritos estão por todo o lado, não se pode pensar na natureza sem pensar nos espíritos que a povoam. Essa é uma ligação muito funda: a natureza renasce com os mortos, os seres humanos transportam os mortos com eles. Cineclube de Joane 4 de 5 Outra coisa muito forte no filme é a evocação do tempo pré-Khmers Vermelhos, as imagens da cidade, a descrição de uma vida urbana e familiar perfeitamente normais. São imagens de paz, em todos os sentidos, mas estão feridas, introduz-lhes uma sensação de perda... Queria que essas imagens aparecessem como que congeladas no tempo, inalcançáveis. Para mim, representam a única boa recordação da infância... É muito bonita a cena em que conta como o seu pai decidiu deixar de se alimentar. O filme também é uma homenagem à sua família? Eu acho que demasiadas vezes os filmes sobre crimes de massas se transformam eles próprios em “filmes de massas”, sem indivíduos, sem pessoas. No Camboja houve um milhão e oitocentos mil mortos, um milhão e oitocentas mil vidas destruídas. E isto não é só um número, não é só uma estatística. O morticínio acontece sempre também a uma escala pessoal, há uma escala íntima. Se a ignoramos, se não lhe introduzimos rostos e nomes, estamos a trabalhar na mesma lógica de apagamento que conduz ao genocídio, Estamos a confirmá-lo. Queria fazer o contrário disso, queria ter pessoas, queria dar nomes, sem ser lacrimejante e sem ser voyeur. Através da história da minha família, que também é a minha e é a que eu conheço na pele, tento representar a história de muito mais pessoas, e sobretudo dar conta da dignidade com que milhões de seres humanos enfrentaram a loucura dos Khmers Vermelhos. Falávamos há pouco da evocação do tempo pré-Khmers Vermelhos. Ela passa muito pela banda sonora — pelas canções, por exemplo. Mas de um modo geral o som é sempre muito trabalhado, e vem dele parte fundamental do poder evocativo do filme. Penso que acontece muito o documentário trabalhar mal o som. Quis trabalhar com um músico [Marc Marder] da mesma maneira que é habitual trabalhar com um director de fotografia, por exemplo. Fazer um trabalho tão detalhado e tão rico quanto possível. Utilizámos mais de 40 pistas na gravação. E para as canções, especialmente, trabalhámos uma distorção muito leve, muito subtil, mas que as conduz para um tom metálico, desumano, que para mim representa o tom, o som, do totalitarismo. É como uma marca, uma mancha que ficou naquelas canções. E repare que também utilizámos muitas frases curtas: é uma resposta aos slogans que eram a linguagem dos Khmers Vermelhos. Usámos os mesmos instrumentos que eles utilizaram, mas empregues no caminho inverso. É uma “resistência”? Sente os seus filmes como um “dever”? Detesto a expressão “dever de memória”, prefiro dizer que faço um trabalho sobre a memória, um trabalho de memória, e nesse sentido sim, é um acto de resistência, de resistência contra o apagamento da memória. Mas acho que é perigoso sacralizar a memória, porque de alguma maneira essa sacralização faz-nos perder a vida e a identidade. O que tento fazer é restituir a identidade — das pessoas, por exemplo — e a partir daí fazer viver alguma coisa. Não é a morte que me interessa, é a vida. O cinema deve estar vivo, deve estar do lado da vida. Acha que o genocídio cambojano não é suficientemente conhecido, falado, discutido? Fala-se mais de um tsunami do que de um genocídio. Um tsunami é uma catástrofe natural, uma fatalidade, e isso reconforta-nos, sabemos como falar disso. Um genocídio é mais delicado: é um problema moral, tem a ver com os homens e com os seus actos. E se estamos sempre a dizer “nunca mais” e “não esquecer” e outras fórmulas assim, o certo é que está sempre a repetir-se. Nos últimos cem anos tivemos o genocídio dos arménios, depois o dos judeus, e na minha vida assisti ao do Camboja, ao do Ruanda, à Bósnia, ao Darfur... Se se tivesse falado mais do genocídio arménio, talvez o dos judeus não tivesse acontecido. E se nas escolas cambojanas se tivesse falado mais do Holocausto, talvez o genocídio cambojano não tivesse acontecido. E assim sucessivamente. Mas a verdade é que isto pode estar sempre a começar outra vez. Ainda agora isto na República Centro-Africana muito facilmente pode descambar em genocídio. Mas é em África, e toda a gente se está nas tintas para o que acontece em África... Cineclube de Joane 5 de 5
Download