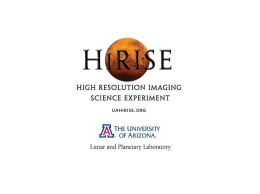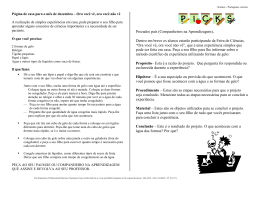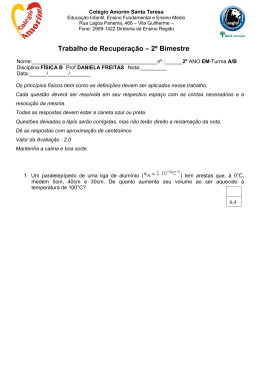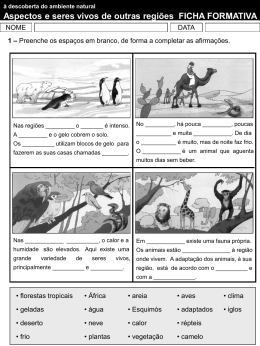Secreto convívio – reflexões sobre o Monumento Mínimo, de Néle Azevedo Num instante preciso, e sob determinado ângulo e iluminação, os monumentos mínimos de Néle Azevedo podem aparecer como fantasmas, vultos translúcidos que o nosso olhar identifica, mas atravessa. No entanto, no momento imediatamente anterior, ou seguinte, ou naquele mesmo segundo, só que de outro ponto de vista, eles podem parecer figuras inteiramente brancas e opacas, subtraídas à concretude do fundo – anti-matéria resistente à porosidade do mundo. Em que pese o caráter essencialmente físico e temporal do trabalho da artista – a importância da experiência dilatada do tempo que é vivida durante os imensuráveis vinte minutos que as suas “esculturas” levam para derreter por completo –, é possível dizer que o seu registro fotográfico – não apenas documental, mas parte complementar do trabalho – alcança grande expressividade na medida em que exponencia a capacidade “natural” da fotografia de congelar o instante. Sintomaticamente, no caso do trabalho de Néle, obra que se esvai no tempo, e é vivenciada por transeuntes ocasionais nos espaços das cidades, o registro fotográfico retém o instante literalmente congelado, isto é, o momento efêmero e para sempre perdido em que o calor ainda não foi capaz de derreter o gelo. Situação atípica em que o calor benfazejo, a temperatura do ar que aquece diariamente os nossos corpos, e nos mantém vivos, surge paradoxalmente como ameaça – intruso que vem dissolver a ordem frágil que ali se havia cristalizado. Associamos normalmente o gelo às idéias de “frieza” e “pureza”, noções que podem ser consideradas opostas e complementares. O trabalho de Néle lida exatamente com essa ambigüidade. Suas figuras de gelo – solitárias ou em pares, debruçando-se em lento lamentar – são entidades quase metafísicas, compungidas diante de um mundo corrompido. Nesse sentido, elas parecem ser o elo frágil com uma existência ainda “pura”, que entrevemos brevemente antes de percebê-la esvairse para sempre, como lágrimas de espanto que voltam ao mundo, e são nossas. Por outro lado, elas parecem ser entidades alheias ao movimento diário das pessoas, aos apelos ordinários da publicidade urbana, e aos encantos mundanos da paisagem. Por isso, na integridade “fria” de sua recusa, essas figuras dão a estranha impressão de ser, em algumas fotos, mais reais do que os humanos, que, escuros, à contra-luz, se apagam em uma espécie de eternidade negativa. Elas, ao contrário, concentradas em seu universo interior cristalino, vivem o contínuo inflar de uma nuvem branca e embaçada dentro dos seus corpos de gelo, como uma espinha dorsal que aumenta à medida que seu contorno exterior definha. Haveria melhor tradução visual para a nossa idéia intangível de alma? Aqui chegamos ao eixo central do trabalho de Néle Azevedo: a morte como ritual, e o luto como transcendência, isto é, possibilidade continuada de vida. Daí a recuperação da noção de “monumento”, cuja origem histórica está ligada aos ritos funerários e sagrados – túmulos e templos. Seus monumentos, no entanto, são mínimos. O movimento que instaura a obra vem menos da necessidade de perenizar uma memória coletiva do que uma experiência individual, daí, também, o caráter artesanal do seu trabalho. No registro ampliado do “lugar” da arte na sociedade contemporânea, o trabalho de Néle se aproxima das questões postas pela arte ambiental, e pela inclusão do expectador como ator de uma vivência presente e efêmera. No entanto, nada mais distante das ações exteriorizadas da land-art americana. Enquanto esta caminha para a engenharia e a indústria, o trabalho de Néle se volta para a fabricação paciente de unidades mínimas, procurando, paradoxalmente, moldar uma matéria evanescente, sublimada. É claro que o seu problema não é formal. Neutro como forma, o molde para as figuras é sempre o mesmo. Por isso é que a artista não extrai conflito expressivo do embate com a matéria. Daí a grande diferença, por exemplo, em relação à obra de Giacometti, com quem compartilha um existencialismo esgarçante e fundamental, e que é, evidentemente, uma matriz importante para o seu trabalho. No entanto, outra comparação – mesmo que por oposição – pode ser, no caso, mais profícua. Penso particularmente nas figuras informes de Henry Moore, de cujas fraturas internas os monumentos de gelo se assemelham quando já estão por um fio. Ocorre que na obra de Moore, a vida ancestral da matéria faz com que seus corpos fetais não consigam nunca se desprender da terra, numa troca intermitente que impede a individuação das figuras. No trabalho de Néle, ao contrário, a configuração fluida e passageira desses “indivíduos” faz com que o drama em questão esteja exatamente na impossibilidade que eles têm de aderir à terra, de deixar rastros, memória depositada. Entre o gelo e o barro, ou a cera – materiais que a artista experimentou –, um abismo de significação se interpõe. Enquanto o mundo aludido por Henry Moore é uterino, anterior à história e à distinção entre espaço e coisa, sujeito e objeto, o mundo onde as figuras de gelo de Néle Azevedo brevemente contracenam é a cidade, o lugar fora da casa e do umbigo maternal, o espaço das relações objetificadas. E a sua cidade é o lugar do cortejo, o palco profano em que indivíduos minúsculos e inanimados dão-se à vida em nobre sacrifício, para que, ao fim, nós sobrevivamos. O sentido trágico do trabalho, aqui, cumpre o seu ritual secreto: um ciclo efêmero mas intenso de vida e morte. Imagem que, em outro registro, poderíamos depreender da observação do trabalho mágico de um fabricante de vidros: a vida é um sopro. Só que, nos recorda Néle, o sopro também evapora. Guilherme Wisnik, Arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), 1998, Mestre em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), 2004, e Sócio do escritório Metro Arquitetos Associados, sediado em São Paulo, desde 2000. É autor do livro Lucio Costa. São Paulo: Cosac Naify, 2001, e publicou os textos: "Memoriais dos projetos", em Paulo Mendes da Rocha, Rosa Artigas (org.). São Paulo: Cosac Naify, 2000; "A arquitetura lendo a cultura", em Um modo de ser moderno Lucio Costa e a crítica contemporânea, Ana Luiza Nobre, João Masao Kamita, Otavio Leonídio, Roberto Conduru (org.). São Paulo: Cosac Naify, 2004; e "Dommed to modernity", em Brazil¹s Modern Architecture, Adrian Forty and Elisabetta Andreoli (org.). London, Phaidon Press, 2004. Foi crítico de arquitetura do jornal Folha de S. Paulo entre junho de 2002 e outubro de 2003, e roteirista do longa-metragem O risco Lucio Costa e a utopia moderna (dirigido por Geraldo Motta Filho), prêmio especial do júri no Festival de Gramado, 2003.
Baixar