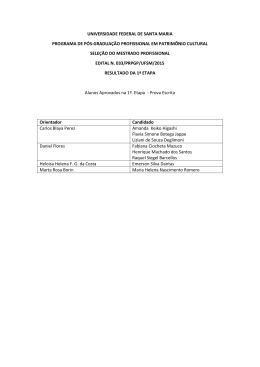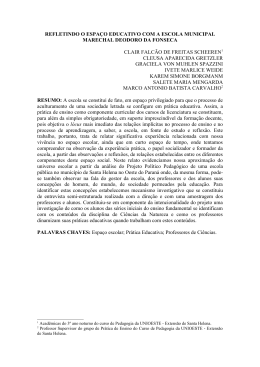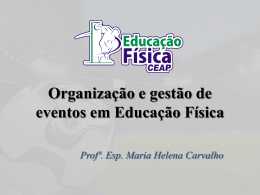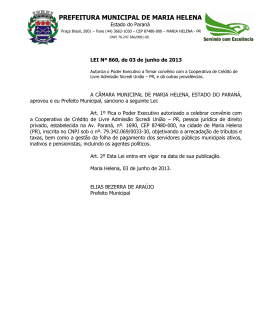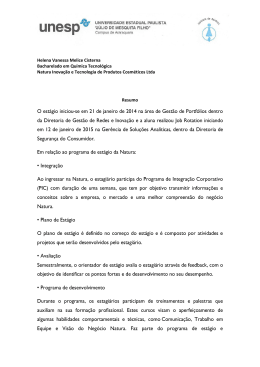HELENA OU O MÉTODO DE DESCOBRIR. Por Guilherme d’Oliveira Martins “Dieu est celui qui est toujours en ruines et toujours en resurrection » (Pascal). Sempre que se estava com Helena, sentia-se um fervilhar permanente de ideias e iniciativas novas. Desse modo foi agindo ao longo de uma vida velozmente vivida. De facto, acreditava na força das palavras e das ideias. E sabia os riscos que corria quando abria um grande debate. Mas estava sempre disposta a correr esses riscos, por entre propostas arrojadas, com uma inesgotável capacidade de espanto e para assumir perplexidades. Helena Vaz da Silva costumava dizer que os seus escritos eram como “pequenas pedras” que ia semeando. Mas, em boa verdade, isso não se passava apenas com os escritos, mas com tudo o que fazia. Foi, assim, sempre semeando pequenas pedras. “Pedras como as do Polegarzinho – do conto da nossa infância – que se deitam para ajudar a reconhecer o caminho; pedras como a que se lança quando se começa a fazer uma casa; pedras brancas e de cor para dar brilho ao nosso dia a dia ou para lhe acentuar os contornos” (Incitações para o Novo Milénio, CNC, 2001, p. 23). O que a preocupava era o facto de hoje se viver “de portas e coração trancado, assestado para o êxito, a imagem, o agradável, o curto prazo”. Para ela, importaria, ao invés, perscrutar os “espaços outros”, os “sinais” e os “profetas de hoje” e criar uma “corrente de resistência” – única forma de resistir à “desintegração, que flui por debaixo do ruidoso tumulto da vulgaridade”. E foi contra essa vulgaridade que Helena sempre levantou a sua voz, ciente das dificuldades, mas acreditando que era possível mudar de algum modo o curso dos acontecimentos, através de ideias novas e de alternativas. Usando uma expressão cara a Ivan Illich, importaria “Inverter as Instituições”. E, como disse o próprio Illich: “As pessoas não têm necessidade unicamente de objectos; têm necessidade sobretudo da liberdade de fazerem coisas entre as quais possam viver, de lhes darem formas de acordo com o gosto próprio e de as porem em prática para se ocuparem dos outros” (Inverter as Instituições, Moraes, 1973, p. 7). Se lermos o que escreveu, mas sobretudo se nos debruçarmos sobre a sua acção, como jornalista, como animadora cultural, como escritora, depressa descobrimos que há uma constante bastante evidente, a da procura de sinais dos tempos, de alternativas e de novas tendências, abrindo novos espaços de criatividade, mas também de descoberta das virtualidades do encontro entre a memória, o património e a inovação. E esse permanente diálogo entre tradição e modernidade foi, aliás, uma constante da sua intervenção cívica e cultural. O seu combate permanente contra a “vulgaridade” obrigava a uma ligação exigente entre a herança cultural e a criação. Helena começou por ser marcada pela família, em especial por seu Pai, Francisco de Mascarenhas Gentil, brilhante advogado, que morreria precocemente quando Helena tinha apenas 9 anos. A personalidade forte do jurista, filho do médico Francisco Gentil, marcá-la-ia profundamente, como homem culto e sensível. E pode dizer-se que as conversas do pai incentivaram uma especial precocidade no conhecimento dos factos históricos e da tradição clássica, fundamento de uma visão aberta, mas seriamente baseada no rigor do conhecimento e numa perspectiva permanentemente renovada de uma temperada e serena erudição orientada para o futuro. O conhecimento histórico iniciou-se, assim, desde cedo no contacto com a vida e segundo uma atitude quase natural e lúdica, mas rigorosa e exigente. Aprendeu a ler com a mãe nas páginas dos jornais. O seu percurso 1 escolar corresponde ao do meio social donde provinha, registando qualidades intelectuais, que se viriam a afirmar ao longo da vida - o Colégio de St. Augustin, de freiras belgas, as escolas das irmãs Escravas e Oblatas. Quando terminou o ensino secundário leccionou Francês e Educação Moral e Religiosa no Colégio das Oblatas, frequentando ainda o curso de Assistente Social no Instituto de Serviço Social. O autodidactismo, sempre completado por uma grande exigência nas leituras e nos contactos pessoais, vai marcá-la desde muito cedo. Uma extraordinária curiosidade e um entusiasmo militante vão caracterizar a entrada da vida activa. Apenas com 17 anos, começou a sua vida profissional na agência de publicidade de Martins da Hora, na mesma secretária onde trabalhou Fernando Pessoa. Aproveita a oportunidade, mas preocupa-se sobretudo em abrir novos horizontes. O tema da opinião pública entusiasma-a, ao lado dos grandes temas desse tempo – os existencialismos, a psicanálise, a psicologia, a evolução dos costumes e das mentalidades, o jornalismo, a evolução política, a renovação religiosa. O encontro com Alberto Vaz da Silva, com quem casa em 1959, abre-lhe as portas do influente grupo cultural da Livraria Moraes e do Círculo do Humanismo Cristão, em que se integram, em torno de António Alçada Baptista, Nuno Bragança, João Bénard da Costa, Pedro Tamen, José Escada, Luís Sousa Costa, Nuno Cardoso Peres e Cristovam Pavia. Sobre esse grupo disse Helena: “Para lá do trabalho em comum que tínhamos (no projecto editorial da Livraria Moraes), chegámos a planear constituir uma comunidade segundo um projecto só nosso, a que chamámos O Pacto” (os depoimentos pessoais de HVS constam de Alberto Vaz da Silva e Fernando Dacosta, Helena Vaz da Silva, Fotobiografia, Editorial Notícias e CNC, 2003). Esse Pacto integraria cinco casais, orientados pelo Padre Manuel Antunes, que planearam comprar uma propriedade, onde seriam construídas casas independentes e espaços comuns, segundo o espírito de pobreza e a lógica cooperativa. A referência às “Grandes Amitiés” de Raissa Maritain, a experiência das comunidades de base e o projecto de Emmanuel Mounier, desenvolvido em Chatenay-Malabry no pós-guerra, inspiraram a ideia de “O Pacto”. Se é certo que o projecto não se concretizou, a verdade é que o grupo criou a revista “de pensamento e acção”, que nasceu em 1963 e a que foi dado o título, da autoria de Pedro Tamen “O Tempo e o Modo” – iniciativa marcante, pela abertura de novos horizontes políticos, culturais, literários e artísticos. Na fórmula de Tamen: “A acção começa na consciência. A consciência pela acção insere-se no tempo. Assim, a consciência atenta e virtuosa procurará o modo de influir no tempo. Por isso, se a consciência for atenta e virtuosa, assim será o tempo e o modo”. Pensamento e acção, eis os termos de uma relação militante e cívica, que ganhava um sentido especial numa sociedade fechada, politicamente bloqueada, dominada culturalmente por um maniqueísmo contra o qual o grupo procura intervir. A revista congregou personalidades de diversas sensibilidades, empenhadas na renovação da vida portuguesa no sentido da democracia: Mário Soares, Salgado Zenha, Jorge Sampaio, Sottomayor Cardia, Vasco Pulido Valente, Manuel de Lucena, Sophia de Mello Breyner, Jorge de Sena, Agustina Bessa-Luís, Ruy Belo, M.S. Lourenço, Eduardo Lourenço, António Ramos Rosa, José Cardoso Pires, Vergílio Ferreira… O sentido desta colaboração é muito mais amplo do que à primeira poderá parecer – pretende partir de uma experiência semelhante à da revista “Esprit” (1932) de Emmanuel Mounier (1905-1950), de colaboração entre crentes e não crentes, católicos e não católicos, mas também realizar a abertura a novos horizontes para além do confronto entre o nacionalismo e o neorealismo. Se o projecto tem uma configuração política evidente, que se inicia com as sequelas da campanha presidencial de 1958, do início da guerra colonial e da crise estudantil, ganha, porém, uma importância cultural de alcance muito significativo, 2 revelando novos valores e novas perspectivas, o que suscita naturais tensões entre alguns dos aliados do grupo, receosos da conciliação com intervenientes na vida cultural não suficientemente demarcados do regime. O que estava em causa, porém, era a necessidade de lançar as bases de uma sociedade de liberdade e democracia, mobilizando o maior número possível de valores. Enquanto a vida política portuguesa sofria profundas alterações no sentido da abertura democrática, considerada necessária, a Igreja Católica vivia um processo de renovação, aberto pela convocação do Concílio Vaticano II pelo Papa João XXIII. O exílio forçado do Bispo do Porto, depois da Carta de 1958 enviada a Oliveira Salazar, e o crescimento de uma corrente de cristãos oposicionistas preocupados com a falta de liberdade, com a situação em África e com a falta de pluralismo, entre os quais a revista “O Tempo e o Modo” tinha uma papel fundamental, levaram a que o aprofundamento das questões religiosas passasse a ser uma questão crucial para o grupo da “Moraes” e de “O Tempo e o Modo”. Em 1965, Helena Vaz da Silva assume a responsabilidade da edição portuguesa da revista “Concilium”, empenhada na renovação do pensamento teológico e na difusão do espírito do Concílio Vaticano II. A Revista Internacional de Teologia foi fundada no próprio ano de 1965 por Yves Congar, Hans Küng, J. B. Metz, Karl Rahner e Edouard Schillebeeckx, tendo agrupado em seu torno teólogos de renome do mundo inteiro. A sua publicação em Portugal permitiu a realização de importantes reflexões e encontros, cujo dinamismo e influência se deveu à capacidade de organização e mobilização da editora. Helena, no ano emblemático de 1968, parte para Paris, para estudar Jornalismo e Sociologia, na Universidade de Vincennes e frequentar o Seminário de Lacan – e assiste aos acontecimentos de Maio. “Foi muito bom que eu tivesse ido, quando vim trazia outra visão, outra calma”. Os temas, as influências, a necessidade de encontrar novos caminhos e alternativas, tudo se mistura e conflui no sentido da compreensão das novas tendências da História e do mundo. Desde os temas da igualdade de género aos novos direitos, passando pela importância da ecologia e das questões ligadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, há um conjunto de preocupações novas que irão animar a intervenção cívica de Helena. Edgar Morin e a complexidade influenciam a sua reflexão. Sentem-se os ecos de Ivan Illich: “o mundo material é um sistema que tem os seus limites e, por definição, não pode suportar um subsistema material sem limites. A acumulação inevitável de resíduos duráveis numa sociedade onde tudo se consome rapidamente, é uma coisa tão evidente que não quero insistir nela. Num certo ponto, o meio físico forjado pelo homem torna-se numa jaula cujo fedor asfixia a natureza” Op. cit., p. 15). Havia que compreender a importância dos limites, limites do progresso e da produtividade. A convivialidade, a relação entre as pessoas, deveria tornar-se o critério fundamental para a criação humana… No regresso, Helena organiza dois importantes números temáticos de “O Tempo e o Modo”, com grande sucesso – “Deus, O Que É?” e “O Casamento”. Quer no plano religioso, quer no domínio da vida quotidiana havia que compreender a nova realidade e as novas tendências. Sobre Deus põe em confronto crentes, agnósticos, ateus, e o resultado é uma abordagem arejada e muito interessante, para além das considerações costumeiras ou dos lugares comuns. E sobre o casamento, presenciamos o anúncio e o debate sobre as novas tendências e paradigmas, num contexto de pluralismo e de diversidade, numa sociedade aberta que se engendra, apesar de politicamente a liberdade não existir. Os números temáticos, organizados como livros, tiveram como objectivo iludir a vigilância apertadíssima da censura sobre a revista “O Tempo e o Modo”. E a verdade é que houve surpresa geral, perplexidade, mas um inusitado interesse sobre estes dois números, que 3 representaram momentos fundamentais no exercício da liberdade de pensamento numa sociedade bloqueada. O número sobre o Casamento foi, aliás, apreendido e impedida a sua circulação. “…O problema não é acreditar ou não acreditar em Deus – dizia Helena com João Bénard da Costa no pórtico do número sobre o tema -, não é ele existir ou não existir (o que é uma outra maneira de formular a primeira afirmação), é sermos capazes de ir vendo a que é que cada um chama Deus e porquê e a que é que cada um não chama Deus e porquê. Eis o que nos parece poder interessar. Que condicionamentos culturais, que motivações psicológicas, que disposições do espírito, que fantasmas levam alguém a ter um Deus e a dar-lhe uma forma particular, e a alterá-la ao longo das suas próprias alterações – eis o que nos pareceu devermos procurar”. Por outro lado, no mesmo número, Helena afirmava no seu depoimento pessoal: “…eu pensava que as leis da indissolubilidade ou da fidelidade se justificavam por serem ‘leis de Deus’ e que, por isso, os mecanismos humanos a elas se tinham de conformar. Descobri depois que elas só são leis de Deus quando começam por ser leis dos homens porque afinal ‘a glória de Deus é o homem vivo’”. A crise da Livraria Moraes e de “O Tempo e o Modo” e a insustentabilidade da “Concilium” pela pressão conjunta da censura e das desconfianças eclesiais, fazem HVS afastar-se das actividades que desenvolvera nas revistas e na editora. Sem parar, e depois de, num intervalo, ter tido responsabilidades na empresa turística da Quinta da Balaia (Algarve), ingressou no recém-criado jornal “Expresso”, onde de novo se impôs pelo carácter inovador e aberto dos temas que propõe e das pessoas que entrevista. Faz-se jornalista. É o tempo da profissional motivada pelos ventos de liberdade e sempre pela necessidade de abrir novas alternativas. Lembramo-nos da imagem da jovem jornalista nas imediações do RAL-1, aquando dos acontecimentos de 11 de Março de 1975. A história iase fazendo desses acontecimentos surpreendentes e inesperados de uma revolução que se desenvolvia aos olhos de toda gente. HVS vai dirigir os programas políticos e sociais da RTP, depois colabora como “free lancer” nos principais órgãos de informação, e entra em 1977 na ANOP (Agência Noticiosa Portuguesa), para chefiar a área da cultura. Em 1978, assume a direcção e a propriedade da revista “Raiz e Utopia”, fundada por António José Saraiva, Carlos Medeiros e José Baptista, e imprime uma orientação inconformista virada para os grandes debates europeus do momento, bem simbolizada na secção “Abriu em Portugal”. “Não é tanto o 25 de Abril da ‘nacionalização da banca’ ou da ‘consolidação das liberdades democráticas’ que procuramos, mas, através dele e para além dele, é o entrever do que, em cada pessoa, terá sido a ruptura com atavismos e servidões ancestrais, desabrochar de uma vontade de fazer passar por si a revolução: no seu corpo e no resto. Hoje, dos jovens que se lançaram à vida e se furtaram à ‘família’, no que ela tem de castrante. Amanhã, das mulheres que ganharam o direito à palavra e, com ele, a muito mais. Outro dia, dos homossexuais que ousaram dizer (até a si) que o eram. E outro dia e outro irá sendo aquilo que os encontros nos forem proporcionando, com pessoas que, sós ou em grupo, vão lentamente minando os tabus da sociedade em que vivem porque acreditam que há uma forma de vida em que a claridade é rei” (“Raiz e Utopia”, nº 1, Primavera de 1977, p. 150). “Lembro-me de uma frase de Malraux – dizia Helena: ‘A liberdade, não sei o que é, mas sei o que é a libertação’. Penso que é muito neste sentido que nós funcionamos. Nós não acreditamos tanto nessa coisa estática que se chama ‘liberdade’, acreditamos mais nessa coisa dinâmica a que se chama ‘libertação’. Existe sempre uma libertação a fazer em todos os minutos. Como a libertação nunca acaba, a Utopia provavelmente nunca chegará, quer dizer, nunca há o momento em que se diz ‘aqui está a Utopia’. Mas a Utopia começa no momento em que a pessoa inicia esse processo de libertação que nunca pára” (“R. e U.”, 4 nº 3-4, Outono-Inverno 1977, p. 16). E é nesta perspectiva que HVS lança uma nova visão da realidade e da resolução dos problemas sociais, económicos e culturais. A dimensão pessoal obriga a rever métodos e objectivos – antecipa-se a necessidade de compreensão dos limites, de entendimento da ligação entre ecologia e economia, de consideração da sociedade de rede, de articulação entre a raiz (“a crítica”) e a utopia (“o futuro”). Daí a tónica na ideia de “libertação”, como processo interminável, como método da descoberta permanente, como ligação entre o real, a crítica e o futuro. “A gente não define o caminho. ‘El camino se hace caminando’, a gente põe-se a caminho e o caminho faz-se fazendo. No fundo (salienta Helena) eu acho que é isso mesmo. Insisto que o que nos poderá definir fundamentalmente é uma atitude, e essa atitude pode ser, por vezes, apenas inverter a maneira de olhar determinadas situações. Gilliard dizia que um poço, se se olha de baixo, passa a ser uma torre” (Ibidem, p. 20). Como diz o poema de António Machado, “caminante, no hay camino, se hace camino al andar” e o método obriga à procura permanente, à cidadania activa e à ligação entre herança e modernidade. No entanto, essa atitude de abrir novas pistas, ligava-se também ao restabelecimento de uma relação saudável com Portugal. Nuno Bragança di-lo, aliás, em diálogo com Helena: “A relação dos portugueses com Portugal é muito estranha. Estão todos de acordo em dizer mal de Portugal – e isto é uma constante que já vem de há muitos anos -, todos recusam um Portugal que obviamente existe porque eles são como são. As pessoas em Portugal têm a tendência para culpar os outros de defeitos que elas próprias também têm” (“R. e U.”, nº 3-4, cit., p. 107). E, como Nuno Bragança ainda referia nesse diálogo muito interessante sobre “Directa”: “O passado de uma nação é como o passado de uma pessoa; quanto mais remoto ele é, mais importante pode ser. Só quando uma pessoa – ou uma nação – se conhece a si própria, se pode assumir, e então escolher” (Ibidem, p. 110). Interessará, por isso, nessa relação entre passado, presente e futuro, “encontrar o passado que está presente no presente”. Eis a chave desse diálogo entre a raiz da crítica e a utopia orientada para o devir. Leia-se a magnífica colecção da revista “Raiz e Utopia”, em especial graças ao impulso de Helena Vaz da Silva, e a cada passo percebemos que há uma genuína procura de novos caminhos e de novos métodos nessa ligação extremamente curiosa entre tradição e radicalidade. Interroga-se o que ficou depois de Maio de 1968, fala-se dos diversos movimentos italianos de renovação da política, investiga-se o que se passa nos sistemas prisionais, lê-se autores como Castoriadis, Lefort, Glucksman, Garaudy, Thibaud, Edgar Morin, Sciascia ou Lourenço… A Helena quase nada passa despercebido do que ocorre no mundo das ideias e dos movimentos alternativos, sempre com a preocupação de abrir o maior número possível de portas e de caminhos… Esse era o método que usava… Em 1979, HVS é eleita Presidente da Direcção do Centro Nacional de Cultura (CNC), num momento em que não poderia continuar o que caracterizara a associação no tempo da ditadura (em que não havia muitos espaços de debate). Inicia e desenvolve uma acção em prol da divulgação, do estudo e da preservação da língua e da cultura portuguesas, lançando os “passeios de Domingo”, debates, colóquios, cursos livres, uma base de dados sobre o património, diversas publicações e o ciclo “Os Portugueses ao Encontro da Sua História”. Como disse Maria Calado: “ao lançar os passeios de Domingo introduziu-se em Portugal a prática dos itinerários culturais como forma de conhecimento e valorização do património histórico e da criação artística e cultural contemporânea”. Mas Helena não pára. Em 1980 é Vice-Presidente do Instituto Português de Cinema e conhece Marguerite Yourcenar, de quem se torna amiga e tradutora das suas obras. Edgar Morin e Yehudi Menuhin, Marguerite Yourcenar são, aliás, referências fundamentais do círculo de afectos e de referência intelectuais e éticas de Helena Vaz da Silva. Em 1987, integra o Conselho Consultivo da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 5 Portugueses e de 1989 a 1994 é Presidente da Comissão Nacional da UNESCO, mandato que coincide com o de Federico Mayor como director-geral da organização, o que permitiu a Portugal exercer um papel decisivo no Ano Internacional dos Oceanos, na Expo 98 e realizar em Lisboa a Reunião Inter-Regional sob o tema “A UNESCO para o Século XXI”. Não é, aliás, possível fazer a história da organização no mandato de Mayor sem uma referência especial a Helena (e manda a justiça citar ainda Mário Ruivo, decisivo em algumas decisões da organização nesse período, em especial no domínio científico e no dos Oceanos). Havia uma ligação muito forte entre o Director-Geral e a Presidente da Comissão portuguesa, em especial no tocante à necessidade de lançar pistas novas, que permitissem a revitalização de uma UNESCO mais actuante, de dimensão universalista, que se constituísse em factor activo de uma “cultura de paz”. Em 1992, é membro do Conselho de Orientação para os Itinerários Culturais do Conselho da Europa e em 1994 foi eleita deputada ao Parlamento Europeu pelo PSD, exercendo um mandato muito marcante: “consegui pôr Portugal na agenda dos agentes culturais europeus e pôr a cultura na agenda da Europa”. Basta lermos as intervenções, as conferências, os estudos e os relatórios que fez durante o mandato no Parlamento Europeu para percebermos o carácter pioneiro da sua intervenção nos vários domínios em que esteve envolvida. O estudo que elaborou sobre a cooperação cultural na Europa a pedido do Comissário João de Deus Pinheiro (de Janeiro de 1994) é muito significativo. Aí questiona o alcance do então artigo 128º do Tratado (depois, 151º), invocando a responsabilidade cultural atribuída à União Europeia e afirmando: “é claro que a Cultura, para a Europa, deixou de ser acessória para se tornar estrutural e estruturante” (Qual Europa?, I, edição da autora, 1996, p. 33). No Parlamento afirma: “o artigo 128º, que trata da cultura, para ser eficaz, deve ser melhorado e isso deverá ser feito na Conferência Intergovernamental. Uma revisão do Tratado que não tenha por base a dimensão cultural da construção europeia não pode ser levada a sério e, tal como hoje já não se põe em dúvida a importância dos estudos de impacto ambiental, eu espero que num futuro breve, o mesmo aconteça com o impacto cultural” (Op. cit., p. 103). Daí a necessidade de abandonar a regra da unanimidade e de reinterpretar o princípio da subsidiariedade. Nesse mesmo sentido, propôs que a política cultural da União Europeia se exercesse em diferentes níveis, simultâneos e complementares – articulando-se com as políticas de educação, de juventude, de migrações, orientadas para as populações rurais - e desenvolvendo-se em áreas como: a preservação da memória comum no âmbito do Património Cultural (Arquitectura, Livro, Bibliotecas, Arquivos e Museus), o incentivo à criação artística, o desenvolvimento das redes no campo da comunicação, a realização de acções emblemáticas no domínio da imagem e do audiovisual, e a concessão de reforçada atenção nos domínios da formação profissional e do turismo. Daí a necessidade de adopção de medidas concretas, a começar pela cooperação com a UNESCO e o Conselho da Europa e a continuar na criação de uma Agência Europeia de Cooperação Cultural, envolvendo acções não só quanto à Conservação e Restauro do Património Cultural, mas também à Educação para a Democracia, em especial considerando as novas democracias do centro e do leste da Europa. Por outro lado, haveria que incentivar o Mecenato Europeu, as associações e instituições culturais de âmbito europeu, a mobilização dos cidadãos europeus, dos intelectuais (carrefours roulants) e dos jovens, as redes de iniciativas e de protagonistas da sociedade civil, o reforço das componentes culturais na aplicação dos fundos estruturais e a projecção das culturas europeias noutras regiões do mundo. Haveria ainda lugar a iniciativas concretas como a criação de um “banco de dados” multimédia sobre informação cultural, o desenvolvimento de itinerários culturais transnacionais, exposições, prémios, apoio às redes de bibliotecas e arquivos e à mobilidade de escritores e 6 artistas. Longe de um relatório burocrático, o que encontramos neste texto é a frescura das ideias e das iniciativas, sem perda de rigor e da sensata consideração do que seria realizável. A política do património cultural, centrada na integração, no conhecimento e na acção, deveria, assim, ser articulada, como factor de coesão territorial, de integração social e de desenvolvimento sustentável, dentro das fronteiras e para além das fronteiras. E um novo conceito de fronteira constituía uma das preocupações de Helena, ciente de que hoje a cultura tem de ser vista como um factor de aproximação e não de separação, na linha do que defende um grande amigo seu, Jacek Wosniakowski. Daí a importância da criação de um quadro que permita a convergência dos ordenamentos jurídicos, de redes de bancos de dados, de sistemas de arquivos compatíveis, de catálogos partilhados, do uso do multilinguismo, do desenvolvimento de itinerários culturais e da co-produção de multimédia sobre a história e o património partilhados. Por isso, o património cultural (na acepção ampla que veio a ser adoptada na Convenção-Quadro do Conselho da Europa, adoptada em Faro em 27 de Outubro de 2005, sobre o valor do património na sociedade contemporânea, tributária do pensamento de Helena Vaz da Silva e da sua acção) deve estar no coração da construção europeia, não podendo ser visto separadamente da sociedade de informação e exigindo o desenvolvimento de um conceito aberto e dinâmico de património comum europeu. Se a política cultural foi uma preocupação permanente na intervenção de HVS no Parlamento Europeu, e onde quer que estivesse, não passa despercebida a amplitude de temas que trata nas suas intervenções (Educação, mobilidade, turismo, sociedade de informação, deslocalização de empresas, saúde pública, combate contra o cancro e SIDA, acções contra a droga, programas comunitários Televisão sem fronteiras, Media, Sócrates, Leonardo, Raphael, Ariane e Caleidoscópio)… Pode dizer-se que nada há de fundamental que escape à sua atenção e disponibilidade. Naturalmente que a comunicação e a educação permanente constituem temas de eleição nas preocupações permanentes da deputada europeia, mas sente-se, a cada passo, a preocupação de lançar pistas novas ou o que designa como uma “revolução de mentalidades”. Quanto à igualdade de oportunidades, salienta a importância e urgência de “medidas que criem harmonia na nossa vida quotidiana e lhe devolvam uma dimensão humana que ela está aceleradamente a perder. Essas medidas passam por um novo contrato social que abra aos homens e às mulheres oportunidades de partilharem totalmente tanto a vida pública como a privada” (Op. cit., p. 141). Para tanto, haveria que reorganizar a vida urbana e social para libertar as cidades e os cidadãos para a participação cívica. “A paridade não se proclama, pratica-se”. Aliás, no encontro de Salónica promovido por Nana Mouskouri (18.5.1996), demarcando-se de um discurso feminista, afirma ser fundamental o papel das mulheres no futuro da Europa, “porque as mulheres têm uma experiência do quotidiano concreto e um sentido do real que pode, de modo único, estimular as soluções inovadoras (…) em particular na organização do espaço urbano e dos serviços de proximidade (apoio às crianças, aos doentes e aos idosos), iniciativas que reduzam o stress e aumentem a qualidade de vida; porque as mulheres têm um sentido de futuro e um compromisso vital que lhes permite compreender que as ideias importantes levam o seu tempo para ser aceites. Por vezes o insucesso imediato das mulheres pode ser o preço do seu sucesso a influenciar em profundidade o futuro; porque a sua participação de parte inteira na gestão política, na organização de novos serviços é uma condição de equilíbrio social; e, enfim, porque o estado de pré-catástrofe das nossas sociedades urbanas exige um esforço da parte de todos os que aí trabalham, homens e mulheres” (Qual Europa?, vol. II, 1997, Conferências, pp. 12-13). 7 E há um tema que hoje quase nos surpreende pela clareza de uma premonição, trata-se da relação entre ética, credibilidade e informação, num tempo em que a concorrência e a ânsia do sucesso fácil e imediato põem em xeque a dignidade das pessoas e a verdade dos factos. E Helena quer recuperar as razões que levaram Albert Camus a dizer do jornalismo que é “a mais bela profissão do mundo”. No entanto, a sociedade global em que vivemos caracteriza-se pela crescente localização, com factores de homogeneidade e de desmassificação (do satélite ao computador), num tempo “em que a imagem supera a realidade e a encenação se cola à informação”, criando “uma igualização virtual entre os cidadãos” e uma “crescente exclusão social na vida” (Op. cit., vol. II, ibidem, p. 15). Mas há ainda uma outra e mais grave contradição: é a incompatibilidade proclamada entre qualidade e mercado. Que lugar então para o serviço público? Será a informação um terceiro espaço entre a política e o mercado? Serão a precipitação e a irresponsabilidade (como diz Goldstein) os males do século, concentrados no jornalismo de hoje? Poderá a deontologia impor-se para além dos complexos e traumas? Quando se compreenderá que a ligação exigente entre qualidade e ética tendem a melhorar os resultados económicos de uma empresa de comunicação? E Helena Vaz da Silva sintetiza o seu pensamento em cinco pontos: (a) “a liberdade de informação não é um privilégio dos jornalistas mas um direito do público”; (b) “a qualidade na informação não é um obstáculo ao sucesso comercial mas a garantia da sua subsistência a longo prazo”; (c) “empresários, jornalistas, anunciantes e público não são inimigos, são diferentes protagonistas que se encontram no mesmo barco”; (d) o serviço público deveria ser “garantido pelo Estado, mas exercido por todos os meios de comunicação, públicos e privados”; (e) “os media ganhadores serão aqueles que prosseguirem com a mesma obstinação um triplo objectivo: qualidade, lucro e intervenção cívica”. Com serenidade e independência e formuladas de modo claríssimo, temos as pistas fundamentais para um tema da maior complexidade, que não pode ser tratado a partir de princípios abstractos ou de meras boas intenções. Um outro tema que preocupou Helena foi o da afirmação da sociedade da iniciativa e do risco perante o Estado. Por isso, ao falar de “uma outra Europa”, em Genebra no Euroforum do Centro Europeu da Cultura, fundado por Denis de Rougemont, em Novembro de 1996, recordou a afirmação de Georges Duby: “”L’Europe de la Contre-Reforme, l’Europe de l’État Providence dont on attend tout mais que l’on tient pour un ennemi que l’on gruge et dont il est glorieux de narguer la puissance, l’Europe des pauvres et des privilégiés, des jacqueries, des conspirations, de la fête e du farniente. Cette Europe est celle du Sud. Elle s’étend sur la région où se trouve plus profondément enracinée une des composantes de notre culture, l’héritage de la Rome antique. Alors que dans l’Europe reformée, la protestante, l’Europe du Nord et des îles, de l’habeas corpus, de la liberté de parole, de la loi commune par quoi l’arbitraire de tout pouvoir est contenu, demeure plus vivaces les traits de la vieille culture germanique. Ici la morale n’est pas imposée, elle est intériorisée. C’est l’Europe du civisme». A nova Europa tem de partir destas realidades e da sua complementaridade. Por isso, a reforma tem de assentar numa acção simultânea das instâncias políticas e da sociedade. E, “se a reforma institucional é a ponta visível do icebergue do nosso mal-estar – e também o seu bode expiatório – é na reforma da sociedade – isto é, na sua vitalização – que reside o essencial da resposta. Esta reforma não se decreta por uma directiva, ela própria se consuma, com o concurso indispensável dos intelectuais, dos criadores, dos mediadores e dos professores” (Op. cit., vol. II, ibidem, p. 40). Estamos perante um processo nunca acabado, de uma realidade nova e inédita. “A Europa do futuro, a nossa Europa, tem o mercado por base, a cultura como centro e as pessoas como razão de ser. É a cultura que leva ao desenvolvimento, cria a coesão, reforça as identidades e suscita a inovação. No entanto, não se trata de uma cultura vaga e abstracta, e muito menos do que Jean Monnet nunca disse de refazer a Europa pela 8 cultura, mas de uma construção baseada nas atitudes, nos valores, nos desígnios, nas circunstâncias concretas, numa palavra, nas pessoas e nas comunidades que estas constituem. Em lugar de uma perspectiva centrada num Estado distante e incontrolável, o que importa é reencontrar na Europa, com a sua história e a sua memória, e não num continente mítico e desenraizado, uma relação entre a cidadania e o exercício do poder político que realize a síntese e a mediação entre o norte e o sul, entre a racionalidade e o desejo, entre a responsabilidade e a vontade. Para tanto, a subsidiariedade e a democracia têm de se ligar, não podendo o “projecto europeu” ser uma construção centralizada, burocrática, sem alma, mas sim uma realidade constituída por Estados e povos livres e soberanos, aptos à defesa de interesses e valores comuns. E ouvimos Denis de Rougemont dizer que a alternativa para a Europa é entre a unidade ou o desaparecimento, já que, dividido em nações rivais, não podendo nenhuma delas assegurar a sua defesa, o velho continente seria colonizado. Só a existência de elos federadores muito fortes permitirão impedir a guerra e lançar as bases da paz e do desenvolvimento. “Unir a Europa nas suas diferenças, esse é o grande objectivo comum que se oferece a esta geração” – disse o escritor de Genebra. “É porque a Europa é a memória do Mundo que não deixará de inventar. Continuará a ser o ponto de virulência extremo da criação espiritual, este canto do mundo onde o homem soube tirar de si mesmo as utopias mais transformadoras e mais ricas de futuro, em benefício de todos os outros homens do planeta” (Cf. L’Europe en Jeu, Genebra, 1948). Identidade de várias identidades e de várias culturas, a Europa deverá ainda ser um espaço de diversas línguas e do multilinguísmo. “Se, como é inquestionável, uma cultura nacional – ou regional – se exprime pela língua, é indispensável assegurar que as línguas serão protegidas e estimuladas através do ensino escolar desde o nível básico, da tradução, da edição, da legendagem, da dobragem, da produção audiovisual e multimédia” (Op. cit., II, p. 43). No entanto, para que a diversidade cultural seja preservada, é indispensável que o respeito pelas várias línguas seja garantido plenamente, sob pena de se criarem focos de tensão cultural e política inevitáveis. E estamos a falar da educação, da informação e da comunicação em todos os seus aspectos. “O problema das línguas é um dos mais complexos, mas não é razão para que se continue a fugir de enfrentá-lo. Os ‘clichés’ poderão ter benefícios políticos imediatos, mas a prazo revelarão a sua falácia. Não se defende a Língua defendendo, por princípio, indiscriminadamente todas as línguas. Defende-se a Língua procurando definir medidas para cada situação e implementando-as com decisão, antes que seja tarde” (ibidem, p. 45). Torna-se, assim, necessário trabalhar em sólidas bases científicas e culturais, já que estamos no cerne das políticas de educação e de cultura. E no caso da língua portuguesa (base de várias culturas) o tema é da maior importância, já que estamos a falar de uma língua partilhada por 200 milhões de falantes em quatro continentes. E HVS tinha a consciência perfeita das dificuldades do tema e da sua premência. A palavra “mobilizar” entusiasmava Helena, não por capricho, mas por exigência, se o seu método preferido era o de descobrir, o instrumento por excelência era o de reunir vontades para realizar objectivos e desígnios. Falava, por isso, no ideal de fazer o novo século como o século da Educação. E dizia: “se queremos salvar-nos, assim terá de ser. Mas, para isso, urge uma mobilização geral e em força – que não está à vista”. E o que fazer: “Mobilizar os jovens, mobilizar os professores, mobilizar as colectividades e as empresas em torno de um objectivo comum: afirmar os portugueses como o principal recurso de Portugal” (Ibidem, p. 47). Mas falar de Educação e de qualidade obrigava ainda a referência à ciência, o S da UNESCO, como costumávamos dizer, nos nossos trabalhos desse tempo. “Hoje não é 9 mais possível pensar a investigação científica, nem independentemente daquele que a desenvolve, nem independentemente do fim e das pessoas a que se dirige. Por isso o binómio Ciência e Sociedade – ou Ciência e Democracia – é de tão enorme actualidade” (Op. cit., II, p. 26). Por outro lado, há que compreender que, como alguém dizia, a tecnologia “é como os deuses hindus, é protectora e destruidora ao mesmo tempo”. Ciência, educação, cultura, comunicação constituem, assim, factores essenciais do desenvolvimento humano, a que, ao longo da sua intervenção cívica, atribuiu a maior importância, ciente de que os problemas fundamentais que aí se põem não podem ser solucionados sem audaciosas acções de cooperação, sem instituições de tipo novo, sem supra-nacionalidade, sem a acção mediadora dos Estados-nações e sem a responsabilidade das autoridades e poderes regionais e locais. “É preciso que os Estados europeus cooperem entre si para rentabilizar os esforços e que cooperem com os outros países para contribuírem para o equilíbrio planetário” (Ibidem, p. 27). A partir da Rede Europeia das Cidades dos Descobrimentos, lança um debate amplo e audacioso que designa como “Olhares Plurais sobre a Cidade” e que, em Maio de 2001, na cidade do Porto, pretende, fora do imediatismo da política espectáculo, pôr na ordem do dia a necessidade de humanizar as nossas cidades, de modo a torná-las de novo lugares de segurança, de convívio e de felicidade. E aí afirma: “A Rede não aceita a visão pessimista que crê que as grandes cidades evoluem fatalmente no sentido da ingovernabilidade e que a exclusão é o seu destino. A memória dos bairros, das cidades e das regiões pode ser transformada em acções de lazer que divirtam e eduquem e é a nível da política local que este novo conceito, onde se cruzam turismo, cultura e lazer, pode ver a luz do dia” (Incitações, cit., p. 170). O pensar global, decidir local, a emergência das redes deveriam, assim, dar lugar a uma nova atenção à cidade contemporânea como lugar de “convivialidade”. Para enfrentar o século XXI, importaria pôr no centro a cultura, que o mesmo seria dizer, colocar as pessoas em primeiro lugar. E Helena, ao lado de Morin, de Mayor, de Lourenço, de Wosniakowski, de Vidal-Beneyto, considerava que havia três grandes desafios a que importaria responder positivamente: acreditar na Europa, credibilizar a política, renovando a democracia e adaptar a educação aos novos tempos. Acreditava, por isso, em “uma Europa dos cidadãos no sentido em que a transparência, participação e responsabilização são os caminhos indispensáveis para a cidadania” (Incitações, cit., p. 94). Entendia ainda que deveria adoptar-se uma “política do construtor”, daquele que “constrói para depois de si, (…) apesar dos tempos adversos da sociedade mediática” (Ibidem, p. 99). E na arte de educar valorizava o acto de compreender – “há uma compreensão objectiva – ou intelectual – que identifica o que é diferente de nós e o aceita e há uma compreensão subjectiva – ou afectiva – que se identifica com o que é diferente de nós e o adopta” (Ibidem, p. 106). Razão e afecto deveriam completar-se, e aí está a chave de uma educação para a paz… E sobre o tema da paz, ligado à educação e ao diálogo de culturas, Yehudi Menuhin, ao escrever para o segundo volume de “Qual Europa?” considera-se alma gémea de Helena Vaz da Silva, afirmando que “a erosão do património cultural está a deixar milhares de pessoas vulneráveis e desenraizadas, sem passado, presente ou futuro, sem nada que possam considerar sagrado ou valorizar mais do que a própria sobrevivência e ambições – e que nós deliberadamente negamos o privilégio democrático de uma vida criativa a nós próprios e aos nossos filhos” (Op. cit., II, Uma Europa das Culturas, p. 7). O percurso de Helena é um percurso inacabado, como todos os caminhos, mas é fecundíssimo porque nunca deixou de lançar novas pistas, de propor novos temas e novas diligências. Compreendeu bem o seu tempo e procurou descobrir novas tendências e sinais 10 capazes de ligar tradição e modernidade, liberdade e sentidos de pertença – eis a sua marca inesquecível. Foi autora de várias obras, entre as quais: Helena Vaz da Silva com Júlio Pomar, 1979; Portugal, o Último Descobrimento, 1987; Qual Europa?, I, 1996; Qual Europa?, II, 1997; Qual Europa?, III, 1999; Incitações para o Milénio, 2001. Desde 2000 era membro da Academia Nacional de Belas Artes. No momento em que nos deixou, inesperadamente, quando tudo ainda se continuaria a esperar do seu espírito de luta, a 12 de Agosto de 2002, era Presidente do Grupo de Trabalho sobre o Serviço Público de Televisão. Nunca deixou de estar atenta, de cuidar do presente e de plantar cuidadosamente, cultivando amorosamente o seu jardim, as espécies do futuro. Talvez por isso mesmo gostasse de citar uma afirmação de Picabia, com a sensibilidade do pintor e do artista que tem bem presente que a cultura, a memória e o património, no sentido mais rico e aberto, têm de ser compreendidos com os olhos no futuro: “Moi, je suis du siècle à venir, / du siècle que je ne verrai pas / j’ai l’espoir que ma naissance será demain”. Assim pensava, estou certo, Helena Vaz da Silva, ciente de que os caminhos se fazem com determinação e esperança. Apolinaire diria: “como a vida é lenta e a esperança violenta”… 11
Download